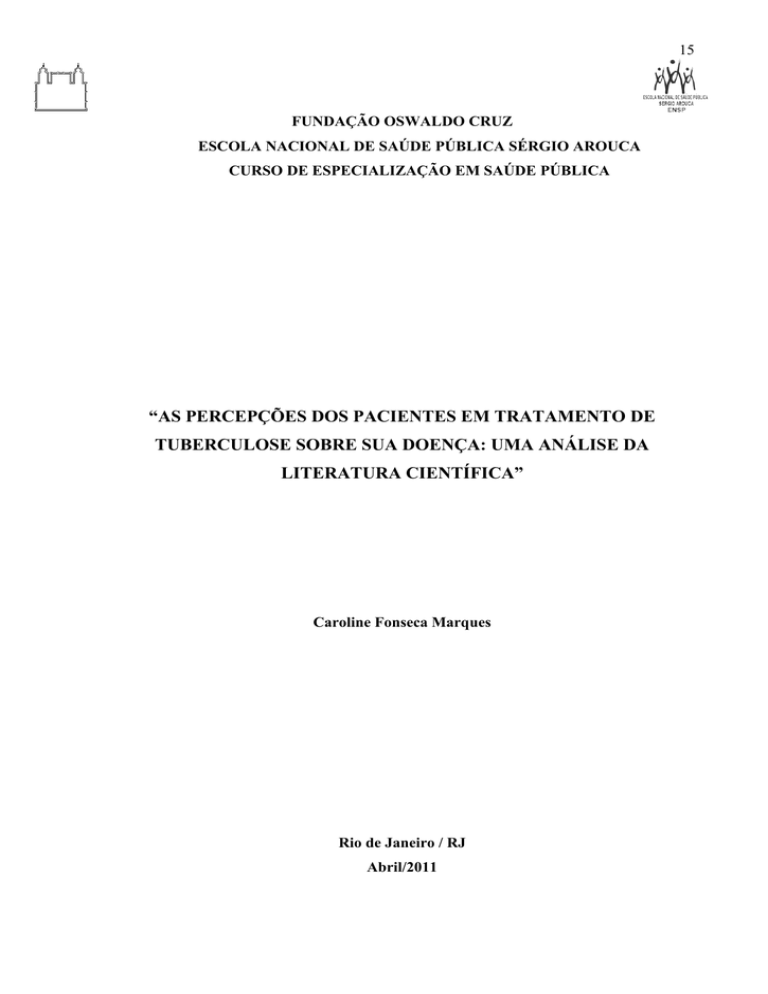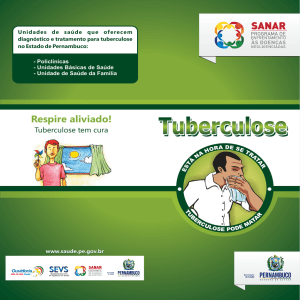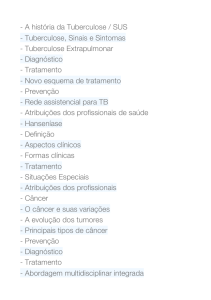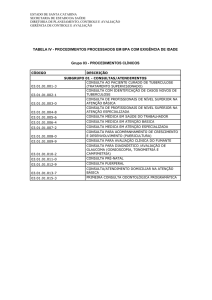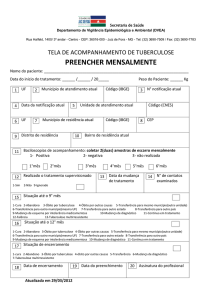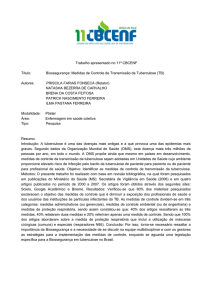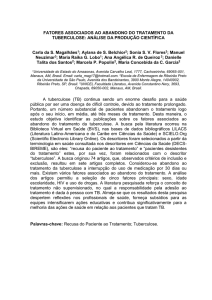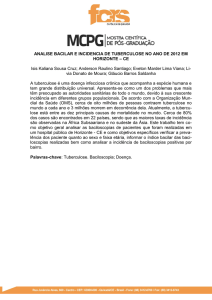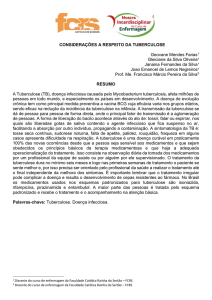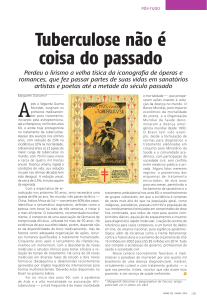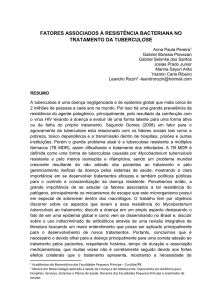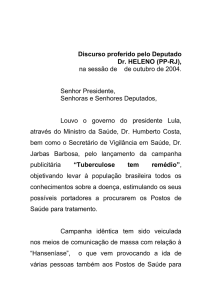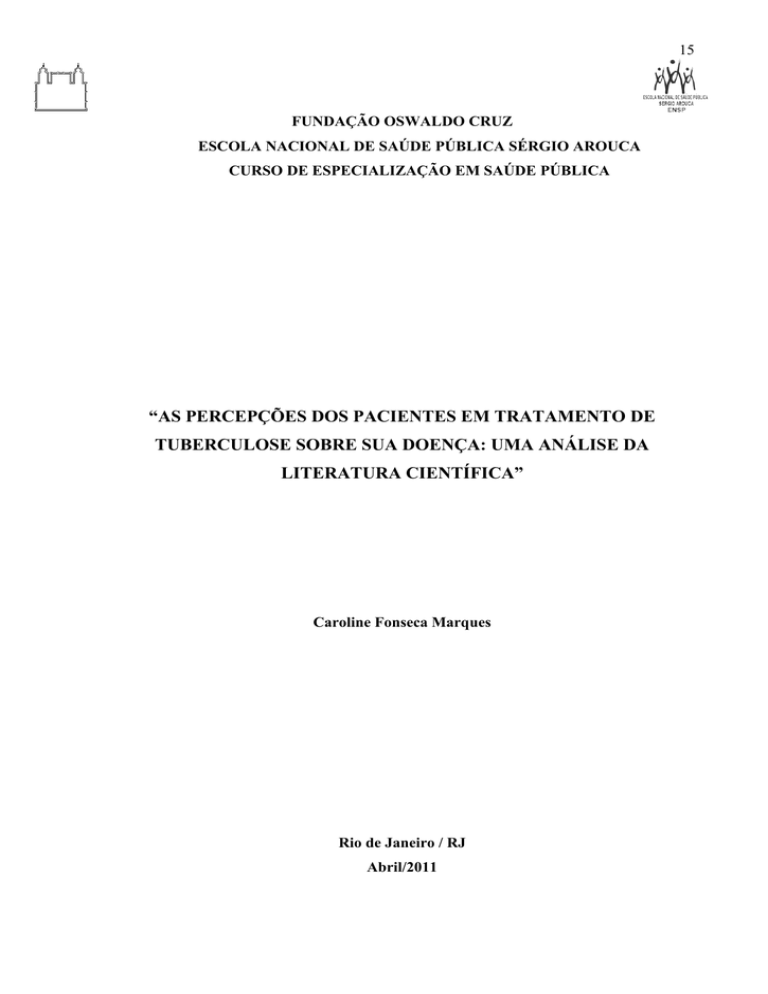
15
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
“AS PERCEPÇÕES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE
TUBERCULOSE SOBRE SUA DOENÇA: UMA ANÁLISE DA
LITERATURA CIENTÍFICA”
Caroline Fonseca Marques
Rio de Janeiro / RJ
Abril/2011
16
“AS PERCEPÇÕES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE
TUBERCULOSE SOBRE SUA DOENÇA: UMA ANÁLISE DA
LITERATURA CIENTÍFICA”
Caroline Fonseca Marques
Trabalho de conclusão de curso
apresentado como requisito parcial
para obtenção do grau de Especialista
em Saúde Pública da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca da
Fundação Oswaldo Cruz.
Orientadora:
Profª Drª em História e Pesquisadora da COC- FIOCRUZ:
Anna Beatriz de Sá Almeida.
Rio de Janeiro / RJ
Abril/2011
17
CATALOGAÇÃO NA BIBLIOTECA
DA COC / FIOCRUZ
M357
Marques, Caroline Fonseca
As percepções dos pacientes em
tratamento de tuberculose sobre sua
doença: uma análise da literatura
científica. / Caroline Fonseca
Marques. – Rio de Janeiro : s.n.
2011.
56 f.
Monografia (Especialização em
Saúde Pública) – Fundação
Oswaldo Cruz. Escola Nacional de
Saúde Pública, Rio de
Janeiro, 2011.
Bibliografia: 56 f.
1.Tuberculose. 2.Percepção.
3.Estigma . 4.Tratamento.
18
AS PERCEPÇÕES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE
SOBRE SUA DOENÇA: UMA ANÁLISE DA LITERATURA CIENTÍFICA
Monografia apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz,
como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Saúde Pública.
BANCA EXAMINADORA
_______________________________________________________
Prof. Drª Anna Beatriz de Sá Almeida
Coordenadora
_______________________________________________________
Profª Drª Mônica Bastos de Lima Barros
1ª Examinador
_______________________________________________________
Profª Drª Laurinda Rosa Maciel
2ª Examinador
Aprovada em: _____________________________
19
DEDICATÓRIA
A Deus meu criador e protetor, por me abençoar em todos os
momentos desta trajetória. Graças a Ele, que me possibilitou chegar
até aqui alcançando meus objetivos. A Ele toda honra, toda glória e
todo louvor!
Ao meu amado esposo Wellerson, que teve tamanha compreensão e
respeito nos momentos intensos pelos quais passei. Agradeço com
profunda ternura e admiração a você meu amor, meu cúmplice.
À minha Família, que sempre acreditou e investiu em mim. Agradeço a
vocês que com carinho e atenção estiveram sempre comigo. Não tenho
palavras, somente amor.
20
AGRADECIMENTOS
À minha querida orientadora Profª. Drª. Anna Beatriz de Sá Almeida por sua
dedicação, empenho e amizade. Agradeço infinitamente sua contribuição para a realização
deste estudo, por acreditar que valeria a pena investir em mim e fazer este sonho se realizar de
forma sublime e grandiosa.
Às Profªs Drªs Mônica Barros e Laurinda Maciel que honrosamente aceitaram
abrilhantar com a vossa presença em minha banca de defesa.
Às Profªs. Drªs Isabel Lamarca e Sandra Venâncio que com grande estima, participou
do início deste trabalho com relevantes contribuições.
Às Profªs. Drªs. Gíssia Galvão e Marina Ferreira de Noronha, coordenadoras do curso
de especialização em saúde pública, por terem participado de forma veemente desta etapa de
minha formação.
A todos os amigos. A minha amiga Marcela que sempre esteve comigo, de longe, de
perto. A Lilian que me apresentou à minha ilustre orientadora. A Ana Carolina pela grande
contribuição. A vocês que me incentivaram a caminhar e seguir rumo à conquista. Agradeço
por tudo, pelo apoio, carinho e atenção.
21
EPÍGRAFE
Diga "33"!
Pneumotórax
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico:
Diga trinta e três.
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...
- Respire.
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
(Manuel Bandeira - Vou-me embora pra Pasárgada e outros poemas. - Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.
p. 2
22
MARQUES, Caroline Fonseca. As percepções dos pacientes em tratamento de tuberculose
sobre sua doença: uma análise da literatura científica. 2011.
p. Monografia (Pós-
Graduação em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Fundação
Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2011.
RESUMO
Trata-se de um estudo que teve como objeto as percepções dos pacientes em tratamento de
tuberculose sobre sua doença. O objetivo geral foi analisar uma amostra de trabalhos voltados
às percepções dos pacientes em tratamento de tuberculose sobre sua doença. A pesquisa
caracterizou-se qualitativa com abordagem quantitativa, utilizando o método de revisão da
literatura científica. As buscas bibliográficas foram realizadas num recorte temporal de 1995 a
2010. Para coleta dos dados realizou-se um levantamento de literaturas completas, indexadas
na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e nas principais bases de dados. No campo de busca
utilizou-se a padronização das palavras-chaves que deram origem aos descritores de assuntos
utilizados na BIREME, selecionando-se um total de 10 artigos. Foram elaborados quadros
para registro e tabulação dos dados, o que permitiu conhecer o panorama geral da produção
científica selecionada e levantar os pontos de análise. Verificou-se a percepção dos doentes
em dois momentos históricos distintos: o primeiro antes de 1950 com concepções negativas,
como medo de morrer devido a não existência de tratamento eficaz para a obtenção da cura e
concepções positivas como, a aura da excepcionalidade romântica da doença na época; e o
segundo momento, ao longo da virada do século XX para o XXI, que mesmo com o atual
controle epidemiológico e tratamento eficaz da doença, a tuberculose continua a inspirar os
temores do passado, como medo, estigma social e representação negativa da doença. A
diversidade e complexidade dos fatores relacionados ao tratamento da tuberculose, como a
obtenção do sucesso terapêutico vai além da eficácia farmacológica, existindo dificuldades
relacionadas ao paciente e sua inserção social, ao tratamento empregado e à operacionalização
do cuidado nos serviços de saúde. Dessa forma precisa-se de subsídios para que os
profissionais de saúde compreendam a experiência dos portadores de tuberculose e possam
trabalhar diversos aspectos da vida social, com o intuito de promover uma assistência à saúde
integral e de qualidade. Assim, espera-se que este trabalho sirva como um instrumento
importante para os gestores repensarem as atuais estratégias de implementação das políticas
públicas de controle e tratamento da tuberculose no Brasil.
Palavras-chaves: tuberculose, percepção, estigma e tratamento.
23
ABSTRACT
This is a study that aimed at the perceptions of patients about their treatment of tuberculosis
disease. The overall objective was to analyze a sample of works related to perceptions of
patients about their treatment of tuberculosis disease. The qualitative research was
characterized with a quantitative approach, using the method of scientific literature review.
The literature searches were performed in a time window from 1995 to 2010. For data
collection was carried out a comprehensive survey of literature, indexed in the Virtual Health
Library (VHL) in major databases. In the search field was used to standardize the key words
that led to the descriptors used in matters of BIREME, on which we selected a total of 10
articles. Tables were developed to record and tabulate the data, which allowed us to know the
overall picture of scientific production and raise the points selected for analysis. There was
the perception of patients in two distinct historical moments: the first before 1950 with
negative concepts such as fear of dying because there aren’t specific drugs for the tratment
and cure; and positive conceptions as the romantic aura of exceptionality of the disease at the
time, and the second time over the turn of for the XXI century, that even with the current
epidemiological control and effective treatment of disease, tuberculosis continues to inspire
the fears of the past, such as fear, social stigma and negative representation of the disease. The
diversity and complexity of the factors related to treatment, such as obtaining successful
treatment goes beyond the pharmacological effectiveness, difficulties related to the patient
and their social integration, the treatment used and the operationalization of health care
services. Thus one needs some subsidies for health professionals understand the experience of
people with tuberculosis and can work various aspects of social life, in order to promote a
comprehensive and qualitative health care. This work will serve as an important tool for
managers to rethink the current strategies for implementing public policies to control and treat
tuberculosis in Brazil.
Keywords: tuberculosis, perception, stigma and treatment.
24
RESÚMEN
Se trata de un estudio cuyo objetivo fue la percepción de los pacientes sobre su tratamiento de
la tuberculosis. El objetivo general es analizar una muestra de obras relativas a las
percepciones de los pacientes sobre su tratamiento de la enfermedad. La investigación
cualitativa se caracteriza por un enfoque cuantitativo, se utilizó el método de revisión de la
literatura científica. Las búsquedas bibliográficas se realizaron en una ventana de tiempo
desde 1995 hasta 2010. Para la recolección de datos se llevó a cabo un estudio exhaustivo de
la literatura, indexada en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) en bases de datos importantes.
En el campo de búsqueda se utilizó para normalizar las palabras clave que llevó a los
descriptores utilizados en materia de BIREME. Seleccionado un total de 10 artículos. Tablas
fueron desarrolladas para registrar y tabular los datos, que nos permitió conocer el panorama
general de la producción científica y aumentar los puntos seleccionados para el análisis. Había
una percepción de los pacientes en dos momentos históricos distintos: el primero antes de
1950, con conceptos negativos como el miedo de morir debido a la falta de tratamientos
efectivos para la enfermedad y concepciones positivas como el aura romántica de la
excepcionalidad de la enfermedad en el momento, y la segunda sobre el cambio de para el
siglo XXI, que aun con el control actual epidemiológica y el tratamiento eficaz de la
enfermedad, la tuberculosis sigue inspirando a los temores del pasado, como el miedo, el
estigma social y la representación negativa de la enfermedad. La diversidad y complejidad de
los factores relacionados con el tratamiento, como la obtención de éxito del tratamiento va
más allá de la eficacia farmacológica, las dificultades relacionadas con el paciente y su
integración social, el tratamiento utilizado y la puesta en funcionamiento de los servicios de
salud. Así, uno necesita un poco de las subvenciones para los profesionales de la salud a
comprender la experiencia de las personas con tuberculosis y puede trabajar varios aspectos
de la vida social, con el fin de promover una atención sanitaria integral y de calidad. Este
trabajo servirá como una herramienta importante para los gerentes de repensar las estrategias
actuales para la aplicación de políticas públicas para controlar y tratar la tuberculosis en
Brasil.
Palabras clave: tuberculosis, la percepción, el estigma y el tratamiento.
25
SUMÁRIO
RESUMO
LISTA DE QUADROS
LISTA DE SIGLAS
Capítulo 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS...........................................................pg15
1.1 -
Etiologia..........................................................................................................pg18
1.2 -
Histórico da Tuberculose..............................................................................pg19
1.3 -
Repercussões psicossociais da tuberculose..................................................pg22
1.4 - Tuberculose no Brasil, anos 1990 a 2000: em destaque o Programa Nacional de
Controle da Tuberculose.................................................................................pg24
Capítulo 2 – ABORDAGENS TEÓRICO–METODOLÓGICAS........................pg29
2.1 - Questões teóricas..............................................................................................pg29
2.2 - Aspectos metodológicos da pesquisa..............................................................pg30
Capítulo 3 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS..........................................pg34
3.1 – Organização do Material................................................................................pg34
3.2 - Discussão dos Dados.........................................................................................pg37
CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................pg51
FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................pg54
ANEXOS
26
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: Distribuição dos artigos publicados em periódicos sobre repercussões
psicossociais da tuberculose nos pacientes em tratamento. Conforme o grupo analítico /
ano, título da obra, autor e titulação autoral........................................pg34
Quadro 2: Distribuição dos artigos sobre a temática das repercussões psicossociais da
tuberculose nos pacientes em tratamento. Conforme o grupo analítico/obra, periódicos e
base de dados onde foram localizados................................................pg36
Quadro 3: Distribuição dos artigos sobre a temática das repercussões psicossociais da
tuberculose nos pacientes em tratamento. Conforme grupo analítico, assunto principal,
temas vinculados, hipóteses e tipologia de fontes................................. pg37
Quadro 4: Distribuição dos artigos sobre a temática das repercussões psicossociais da
tuberculose nos pacientes em tratamento. Conforme o grupo analítico, papel / percepção
do
paciente
no
tratamento,
papel
do
profissional
de
saúde
e
conclusão
principal.....................................................................................................................pg44
27
LISTA DE SIGLAS
ACS - Agente Comunitário de Saúde
AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
BAAR-Bacilos Alcóol Ácido Resistentes
BCG- Bacilo de Calmet – Guérin (Vacina)
BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde –
Biblioteca Regional de Medicina
BVS - Biblioteca Virtual em Saúde
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa
CNCT- Campanha Nacional contra a Tuberculose
CRHF - Centro de Referência Hélio Fraga
DAB - Departamento de Atenção Básica
DEVEP- Departamento de Vigilância Epidemiológica
DGSP - Diretoria Geral de Saúde Pública
DNPS- Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária
DNT - Divisão Nacional de Tuberculose
DOTS - Tratamento Diretamente Observado
E - Etambutol
Et - Etionamida
H - Isoniazida
HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana
IPT - Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose
LILACS -Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
MEDLINE - Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica
MESP - Ministério da Educação e Saúde Pública
OMS - Organização Mundial de Saúde
PACS - Programas de Agente Comunitários de Saúde
PAS - Programação Anual de Saúde
PAVS - Programas das Ações de Vigilância em Saúde
PN- DST/AIDS - Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmitidas / AIDS
PNCT - Programa Nacional de Controle da Tuberculose
28
PND - Plano Nacional de Desenvolvimento
Portal CAPES - Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior
PSF - Programa de Saúde da Família
R- Rifampicina
RHZE- R – Rifampicina; H- Isoniazida; Z – Pirazinamida; E- Etambutol (Atual esquema)
RIP – R- Rifampicina; I- Isoniazida e P- Pirazinamida (Antigo esquema)
S - Estreptomicina
SciELO – Scientific Electronic Library on Line
SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SMS - Secretaria Municipal de Saúde
SNT - Serviço Nacional de Tuberculose
SNVS - Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
SUS - Sistema Único de Saúde
SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde
TB - Tuberculose
TS - Tratamento Supervisionado
UBS - Unidades Básicas de Saúde
Z - Pirazinamida
29
Capítulo 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ainda hoje, a tuberculose se apresenta como um problema de Saúde Pública merecedor de
atenção especial. Um terço da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose
(100 milhões por ano), ficando a tuberculose em 108ª posição em incidência no mundo.
Destes, oito milhões desenvolverão a doença e dois milhões morrerão a cada ano, sendo ainda
hoje a maior causa de morte por doença infecciosa em adultos (BRASIL, 2006).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil apresenta 46 mil casos novos
em 100 mil habitantes por ano (WHO, 2008). Sobretudo em alguns estados, se destaca o Rio
de Janeiro pelos mais de 23 mil casos confirmados em 2007, sendo a região Sudeste uma das
responsáveis pelo maior número de casos. Desta forma, a tuberculose apresenta a sétima
posição em gastos com internação no Sistema Único de Saúde (SUS) por doenças infecciosas
e a primeira causa de morte em pacientes com AIDS (BRASIL, 2008).
Ressalta-se que ultimamente o Brasil vem ocupando a 19ª posição entre 22 países que
apresentam casos de tuberculose e encontra-se na 104ª posição em relação ao coeficiente de
incidência. Uma estimativa feita pelo Banco Mundial relata que a tuberculose vem crescendo
em mortalidade desde 1997, e continuará crescendo até 2020 em relação às outras doenças
infecciosas nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2006).
Outra questão bastante preocupante relaciona-se com o crescente número de
abandono do tratamento da tuberculose, sendo esta uma das principais causas de
multirresistência do bacilo e falência de tratamento. Vislumbra-se que tal ocorrência pode
estar relacionada com problemas operacionais dos serviços de saúde, e ainda com o modo de
agir dos profissionais, que precisa continuamente estar fundamentado no resgate da
humanização do cuidado, no qual o profissional de saúde realiza escuta solidária, identifica as
necessidades manifestadas pelo doente, e com ele define as melhores estratégias de cuidado
na perspectiva de ser o tratamento da tuberculose um processo de co-responsabilização
(PEREIRA, 1998).
Em uma perspectiva histórica, no final do século XVIII, a tuberculose era
representada como “doença romântica” na época do Romantismo literário. Já no final do
século XIX e início do século XX, a doença era vista como um “mal social” firmando-se no
decorrer do século XX, apresentando-se de forma significativa no imaginário social por meio
30
de uma forte auréola estigmatizante. No Brasil, a percepção da tuberculose como doença
social, firmou-se a partir de meados do século XX, estando presente no discurso médico,
respaldado pelos dados estatísticos e sendo associada às precárias condições de vida
(FERNANDES, et al; 1993).
Em decorrência disso, ao longo do século XX, foram surgindo formulações e
implementações de políticas de controle da tuberculose. A partir das décadas de 40 e 50, a
descoberta da quimioterapia antibiótica específica foi um marco importante para o tratamento
da tuberculose, pois alterou o perfil epidemiológico, a ação institucional e o conhecimento
científico, além de repercutir nas representações sobre a doença (FERNANDES; et al, 1993).
Contudo, a tuberculose ainda é deferida, na maior parte dos casos, por preconceito, fator de
condicionamento social, que tem provocado sentimentos negativos em relação à doença.
(VAZ, 1996).
A partir do exposto, decidiu-se desenvolver este estudo que teve como objeto de
investigação as percepções dos pacientes em tratamento de tuberculose sobre sua doença.
Cabe informar que o interesse em desenvolver um estudo sobre a temática das repercussões
psicossociais da tuberculose nos pacientes em tratamento, parte da minha própria experiência
obtida através do projeto de extensão universitária: “Ações de enfermagem na prevenção e
controle da tuberculose” desenvolvido em um Centro Municipal de Saúde localizado no
Município do Rio de Janeiro, no qual, na qualidade de acadêmica de enfermagem atuei como
bolsista. Esta experiência permitiu apreender que os pacientes do programa de Tuberculose
convivem com uma multiplicidade de percepções e sentimentos, além de lidar com o corpo
fragilizado e ressentido pelos sinais do adoecer e pelas dificuldades que permeiam o seu
percurso de vida, de adoecimento e de cura.
Neste sentido, definiu-se como questão-base do estudo a seguinte problemática:
“Quais as percepções dos pacientes em tratamento de tuberculose sobre sua doença?”
Partindo deste princípio, e com intuito de apropriação do objeto de estudo, foram
definidas algumas questões norteadoras:
- Que percepção os pacientes em tratamento de tuberculose tem sobre sua doença?
- As concepções sociais da doença podem influenciar no comportamento dos pacientes em
tratamento de tuberculose?
31
- As percepções e as concepções dos pacientes acerca do seu tratamento podem interferir na
continuidade do mesmo?
- A atuação das equipes de saúde e o Programa Nacional de Controle da Tuberculose
influenciam no tratamento?
Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo geral analisar uma amostra de
publicações voltadas às percepções dos pacientes em tratamento de tuberculose sobre sua
doença e como objetivos específicos: identificar publicações voltadas às percepções dos
pacientes em tratamento de tuberculose sobre sua doença; especificar as categorias de análise
utilizadas pelos autores dos trabalhos analisados e analisar e comparar as diferentes
percepções apresentadas.
O desenvolvimento deste estudo torna-se relevante uma vez que busca contribuir com a
área da assistência, trazendo subsídios e discussões aos profissionais de saúde, em especial
aos enfermeiros, com o intuito de que possam realizar alianças entre a prática científica do
fazer saúde com práticas educativas em saúde, assumindo deste modo, um papel significativo
ao possibilitar aos pacientes o papel de se constituírem protagonistas da sua história. Segundo
Certeau (2008), o conceito de sujeito histórico se vincula à capacidade dos homens e das
mulheres, independente da situação social que se encontrem, metaforizarem a ordem
dominante. Neste sentido, uma vez conhecendo e refletindo sobre as percepções e os
sentimentos dos pacientes acerca da vivência da Tuberculose, espera-se colaborar para que os
profissionais de enfermagem possam apropriar-se de uma assistência humanizada e
específica, resultando na qualidade e, por conseguinte na eficácia das ações profissionais e do
tratamento.
Para o campo da pesquisa, também este estudo torna-se bastante relevante,
contribuindo através do uso de ferramentas de análise de literatura, por meio de quadros
analíticos e de comparação entre os textos selecionados, e da análise de forma indireta, a cerca
da percepção dos pacientes em tratamento de tuberculose sobre sua doença, configurando um
levantamento amplo de saberes importantes para a assistência ao paciente, bem como para o
enriquecimento científico e prático dos profissionais de saúde.
1.1- Etiologia
32
A doença é causada por uma bactéria denominada Mycobacterium tuberculosis ou
bacilo de Koch, em homenagem ao seu descobridor Robert Koch (1843-1910), médico
patologista e bacteriologista alemão.
A transmissão ocorre de uma pessoa para outra através de gotículas de saliva expelidas
quando uma pessoa bacilífera (aquela que libera bacilos ativos) tosse, espirra ou canta,
contaminando o ar, até por horas. Quem esteja próximo pode inalar (respirar) estas gotículas e
ficar infectado. Cada indivíduo bacilífero é capaz de transmiti-la para até 15 pessoas por ano.
Dessa forma, as pessoas do convívio têm alto risco de se infectarem (BRASIL, 2010).
A infecção se inicia quando o bacilo chega aos alvéolos pulmonares e pode atingir os
nódulos linfáticos através da circulação sanguínea indo para tecidos mais distantes. Pode
acometer vários órgãos como: rins, intestino delgado, ossos, etc. Nos adultos é mais freqüente
a forma pulmonar e cerca de 90% dos casos se iniciam nos pulmões (BRASIL, 2010).
Na tuberculose pulmonar, a maioria dos casos é assintomático ou com sintomas
discretos, como anorexia, fadiga e irritação. Os sintomas podem se assemelhar aos da gripe e
resfriado, com: febre, tosse seca, sudorese noturna e emagrecimento. Geralmente, a doença se
torna ativa depois de anos de infecção quando na ocorrência de alguma baixa imunológica
(BRASIL, 2010).
Em uma primeira infecção, as lesões podem regredir espontaneamente através da
absorção do processo inflamatório, da fibrose e das calcificações das lesões. Mas em alguns
casos, ocorre a reativação dos focos primários, caseificação progressiva (necrose do tecido) e
cavernização, caracterizando a tuberculose crônica. Tendendo à progressão dos nódulos da
primeira infecção principalmente em pessoas que convivem com portadores de tuberculose
bacilíferos (BRASIL, 2010).
A principal forma de diagnosticar a infecção pulmonar é através do exame de escarro.
Os casos ocultos (não bacilíferos) podem ser descobertos através de radiografias (abreugrafia)
e do teste cutâneo (prova de tuberculina ou teste de Mantoux). Em 2002, o tratamento básico
era composto por três antibióticos: Rifampicina(R), Isoniazida(H/I) e Pirazinamida(Z/P) e
chamava-se RHZ/RIP, com duração mínima de seis meses para atingir a cura, sendo que com
dois meses de tratamento, o paciente tornava-se não bacilífero (BRASIL, 2010).
33
Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), juntamente com
o seu Comitê Técnico Assessor reviu o sistema de tratamento da tuberculose (TB) no Brasil.
Baseado nos resultados preliminares do II Inquérito Nacional de Resistência aos
medicamentos anti-TB, que mostrou o aumento da resistência primária à Isoniazida (de 4,4
para 6,0%), introduziu-se o Etambutol como quarto fármaco na fase intensiva de tratamento
(dois primeiros meses) do esquema básico (RHZE). Essa recomendação e apresentação
farmacológica são as preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e utilizadas na
maioria dos países, para adultos e adolescentes. Para as crianças (abaixo de 10 anos),
permanece a recomendação do Esquema RHZ. (BRASIL, 2010).
A profilaxia da doença é feita através da vacina BCG (bacilo de Calmet-Guérin), que
previne somente contra as formas extra-pulmonares, também chamadas miliares (BRASIL,
2010).
1.2- Histórico da Tuberculose
A tuberculose é uma doença presente na humanidade há muito tempo; as primeiras
evidências da sua presença foram constatadas em múmias do período neolítico (7000-3000
a.C.) encontrados na Alemanha. Sendo descrita ao longo do tempo por Hipócrates, pelo Egito
Antigo e pela Roma Antiga. No século XI, os árabes suspeitavam de seu caráter transmissivo
e na Renascença, século XVI, foi descrito sua forma de transmissão. Devido aos seus altos
índices de mortalidade na Europa no século XVIII, foi denominada Peste Branca. A bactéria
responsável pela doença foi identificada, em 1882, por Robert Koch (GOMES, s/d).
Até a descoberta do agente etiológico, atribuía-se à tuberculose uma origem
hereditária. Com a nova organização social, resultante do processo de industrialização, criouse um ambiente favorável à sua transmissão. Devido às precárias condições de vida dos
operários, a tuberculose assumiu o papel de patologia transmissível e de caráter social
(ALMEIDA, 1994).
A terapêutica para a tuberculose no século XIX era o tratamento higieno-dietético.
Este tinha como hipótese a cura espontânea do doente quando em condições favoráveis,
manifestadas por uma boa alimentação e repouso. Sua indicação abrangia o isolamento dos
pacientes, viabilizadas por meio da criação de sanatórios e preventórios (FERNANDES, et al;
34
1993).
No final do século XIX e início do século XX, a tuberculose era considerada a maior
causa de morte no Rio de Janeiro e se encontrava sem assistência por não ser prioridade do
Estado, assim as elites médicas tomaram para si esse encargo (NASCIMENTO, 2002). A
tuberculose só passou a fazer parte das prioridades do governo quando as epidemias de febre
amarela, varíola e peste regrediram. Nesse contexto, em 1902, a Diretoria Geral de Saúde
Pública (DGSP) determinou sua notificação compulsória e que os doentes deveriam ser
submetidos ao isolamento em sanatórios para o tratamento. Em decorrência desta mobilização
surgiu a Liga Brasileira Contra a Tuberculose (LBCT), que mais tarde viria a ser chamada de
Fundação Ataulpho de Paiva (FAP) para combater a alta mortalidade imposta pela
enfermidade e conscientizar a população quanto às medidas de prevenção. Função que
também passou a ser dividida com o Estado quando este assumiu, de certa forma, a
responsabilidade pelo controle da moléstia, no início da década de 1920. Já em 1930 no
contexto da Reforma Carlos Chagas, com a criação do Departamento Nacional de Saúde
Pública (DNSP), instituíram-se vários órgãos, dentre os quais, a Inspetoria de Profilaxia da
Tuberculose. (NASCIMENTO, 2002).
Ainda nos anos 30, Getúlio Vargas no comando federal, reforçou a intervenção oficial
nas instituições privadas e públicas, com a expansão o aparato governamental, inclusive na
esfera da saúde coletiva (BERTOLLI FILHO, 2001). A criação do Ministério de Educação e
Saúde Pública (MESP), em 1931, inseriu-se na determinação do novo governo em redefinir a
imagem em que o Brasil possuía frente às potências internacionais. A presença de múltiplas
endemias e epidemias que minavam a população impôs a criação de uma ação sanitária cujo
principal objetivo foi revitalizar as formas de normatização e manutenção da capacidade
produtiva do proletariado. Sob o lema de que a saúde se construía em um dos “direitos
básicos do cidadão brasileiro”, a Assembléia Nacional, reunida em 1934, pontificou que
caberia ao Estado zelar pelas condições sanitárias do país intervindo nos momentos
epidêmicos e, sobretudo desenvolvendo ações educativas de prevenção às enfermidades
(FONSECA, 2007).
A atuação do Estado no controle da tuberculose foi intensificada no final dos anos 30
com a Reforma Capanema. Na década de 1940, com a Reforma de 1941, foram criados vários
serviços dentre os quais o Serviço Nacional de Tuberculose (SNT) (FONSECA, 2007). A
Campanha Nacional contra a Tuberculose (CNCT) foi criada em 1946. Esta última assumiu
35
como proposta a expansão da estrutura hospitalar e sanatorial, trazendo a idéia da
interiorização e uniformização do atendimento, a normatização das ações de saúde e a
formação de recursos humanos (FERNANDES et al, 1993).
Ainda nesta década foram definidas as prioridades da FAP, antiga LBCT, para o
tratamento da tuberculose, tais como: a propaganda, vulgarização e emprego de todas as
medidas de profilaxia social e individual, bem como de ensinamentos de preceitos higiênicos,
no sentido de limitar a extensão e a devastação da tuberculose; a assistência aos tuberculosos
que frequentavam os consultórios médicos, fornecendo-lhes alguns medicamentos essenciais,
alimentos aos mais necessitados, e outros recursos possíveis em cada caso particular; a
educação profilática antituberculosa dos doentes e de suas famílias, no sentido de impor a
noção do contágio e dos meios de evitá-lo; e a vigilância sanitária no domicílio e junto à
família dos tuberculosos a que assistir no intuito principal de evitar a contaminação dos que
os rodeiam e de surpreender a tempo uma infecção inicial (NASCIMENTO, 2002).
Além disso, desde meados dos anos 1950 com a descoberta da quimioterapia
antibiótica específica foi ocorrendo uma queda dos índices de mortalidade da doença, mas
causou o surgimento de bacilos resistentes às drogas, sendo a resistência superada pelo
aprofundamento dos estudos. Com a comprovação da eficácia desses quimioterápicos
(estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida) na cura da tuberculose, ao
longo das décadas de 1950 e 1960, o tratamento passou a ser primordialmente ambulatorial,
sendo iniciado um processo crescente de desativação dos sanatórios e hospitais destinados à
tuberculose (FERNANDES et al, 1993).
Na década de 70, foi criada a Divisão Nacional de Tuberculose (DNT) e a
implementação do já referido Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT),
contido no II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Este Plano foi compreendido na
Lei n° 6.151, de 04 de dezembro de 1974 que dispõe sobre o II PND, para o período de 1975
a 1979; concernindo no desenvolvimento urbano, controle de poluição e preservação do
meio-ambiente. A Lei declarava ser necessário reconhecer que a poluição da pobreza, ou seja,
a deficiência das condições básicas de saneamento e controle biológico indispensáveis à saúde
das populações de baixa renda constituía-se em uma prioridade. Uma das metas era realizar,
até o final da década, o progresso nesse sentido, eliminando as endemias da pobreza. Tal
política atuaria em três áreas principais: política de meio-ambiente na área urbana; política de
36
preservação de recursos naturais do país e política de defesa e proteção da saúde humana
(BRASIL, 1974).
A consolidação do uso dos antibióticos, ao lado das medidas profiláticas e da
simplificação do diagnóstico, levou a uma mudança no perfil epidemiológico da doença com
uma queda acentuada no índice de mortalidade. Nesse sentido, em 1976, a DNT transformouse em Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária (DNPS), passando a se ocupar também de
outras pneumopatias de interesse da Saúde Pública. Para dar suporte técnico-científico a esta e
à CNCT foi criado, em 1986, o Centro de Referência Hélio Fraga (CRHF), no RJ. Entre suas
responsabilidades estavam previstas a realização de cursos de especialização e a incorporação
dos funcionários que trabalhavam na CNCT (FERNANDES et al; 1993).
Recentemente, de acordo com o Ministério da Saúde o Brasil registra, por ano, cerca
de seis mil mortes, e em 2008 teve 46 mil casos confirmados. Dessa forma a tuberculose,
infelizmente, ainda permanece na agenda de prioridades enquanto moléstia a ser combatida,
com sua devida importância (BRASIL, 2008). Assim, a tuberculose faz parte da história da
sociedade brasileira, que se somou ao conjunto de fatores de retardo do desenvolvimento
social e econômico do país, desde o início da colonização, repercutindo no sofrimento
psicossocial humano determinado pela doença (HIJJAR, 2007).
1.3- Repercussões psicossociais da tuberculose
Em aspectos sociais, a tuberculose vem sendo caracterizada como uma doença
reemergente e negligenciada, levando seus portadores a viverem a experiência do preconceito
ou até mesmo isolamento social; isto é devido ao fato da doença estar ligada a situações de
miséria ou pobreza, aglomerações, má–alimentação e falta de saneamento básico; deve-se
também, pela falta de conhecimento da população acerca da cura, tratamento e formas de
prevenção, bem como problemas operacionais dos serviços de saúdes, sendo assim, a
tuberculose é uma doença carregada de estigmas negativos (VAZ, 1996).
Para Sontag, a doença é como uma metáfora que consiste em dar a uma coisa o nome
de outra: “As metáforas contribuem para a estigmatização de certas doenças, como por exemplo, a
tuberculose, que isolava a pessoa doente da comunidade, sendo encarada de modo sentimental, uma
identidade deteriorada, um mal incurável.” (2007: 81).
37
Segundo Goffman, a palavra "estigma” representa algo de mal, que deve ser evitado,
uma ameaça à sociedade, isto é, uma identidade deteriorada por uma ação social. Cria-se um
modelo social do indivíduo e, no processo das nossas vivências, nem sempre é imperceptível
a imagem social do indivíduo que criamos; essa imagem pode não corresponder à realidade,
denominando-se de uma identidade social virtual.
O termo estigma e seus sinônimos ocultam uma dupla perspectiva: Assume o
estigmatizado que a sua característica distintiva já é conhecida ou é
imediatamente evidente ou então que ela não é nem conhecida pelos
presentes e nem imediatamente perceptível por eles? No primeiro caso, estáse lidando com a condição do desacreditado, no segundo com a do
desacreditável (GOFFMAN, 2008:14)
O estigma estabelece uma relação impessoal com o outro; o sujeito não surge como
uma individualidade empírica, mas como representação circunstancial de certas características
típicas da classe do estigma, com determinações e marcas internas que podem sinalizar um
desvio, mas também uma diferença de identidade social. Goffman conceitua a informação
social como uma representação social do sujeito, com suas características mais ou menos
permanentes, contrapostas aos sentimentos, estados de ânimo e à intenção que o sujeito pode
ter em dado momento. São signos que o sujeito transmite para o outro através da expressão
corporal. O autor também denominou "social” a tal informação, que pode ser de freqüência
acessível e recebida de forma rotineira (GOFFMAN, 2008).
A identidade social estigmatizada destrói atributos e qualidades do sujeito, exerce o
poder de controle das suas ações e reforça a deterioração da sua identidade social, enfatizando
os desvios e ocultando o caráter ideológico dos estigmas. A sociedade impõe a rejeição, leva à
perda da confiança em si e reforça o caráter simbólico da representação social segundo a qual
os sujeitos são considerados incapazes e prejudiciais à interação sadia na comunidade.
Fortalece-se o imaginário social da doença e do "irrecuperável", no intuito de manter a
eficácia do simbólico (GOFFMAN, 2008).
De acordo com Ruffino Netto (2002: 53), define-se genericamente o tuberculoso como
“um homem histórico, concreto, que preenche um lugar no tempo e no espaço, concepção articulada
ao entendimento da saúde e da doença como fenômenos explicados pelas relações globais ao nível da
realidade social concreta.”
Assim, o indivíduo acometido por tuberculose, tem uma imagem negativa da doença e
conseqüente sentimentos negativo da mesma, no que concerne à realidade social, tais como:
38
medo, insegurança, vergonha, angústia, ansiedade, mágoa, culpa. O medo geralmente é mais
freqüente, pois o indivíduo sente receio de transmitir a doença para a família, de sofrer
preconceito, de ser desprezado; sente medo também de tossir, de escarrar, do corpo rejeitar o
remédio, de perder a vitalidade, de ter seqüelas, enfim de morrer (VAZ, 1996).
O preconceito, fator de condicionamento social, bem como os problemas operacionais
dos serviços de saúdes tem provocado tais sentimentos, determinando desse modo, o
abandono de tratamento, que é uma dos principais causas de multirresistência do bacilo e
falência do esquema RIP (VAZ, 1996).
Cabe ressaltar que historicamente antes da década de 50 do século XX, a percepção
era de medo e a doença era tida como incurável e a elite da época, negava a presença da
moléstia em seu meio social e os pobres sentiam-se mais rejeitados. De acordo com
BERTOLLI FILHO (2001: 25) “quando a mortal enfermidade invadia os lares burgueses, o
fato era protegido pelo absoluto sigilo familiar, pois tal doença seria castigo de Deus devido a
uma vida desregrada, culpabilizando o doente”.
Já, a partir da década de 50, os avanços científicos trouxeram novos meios de
diagnóstico e técnicas de tratamento, que vieram questionar conceitos até então “aceitos”,
caracterizando intensas discussões a respeito da tuberculose, promovendo mudanças
significativas no entendimento e nas representações e percepções sociais sobre a doença, tanto
para a população como para o doente, cabendo destacar a diminuição, a redefinição e não a
extinção de tais representações (FERNANDES, et al, 1993).
1.4- Tuberculose no Brasil, anos 1990 a 2000: em destaque o Programa Nacional de
Controle da Tuberculose
Passando por vários contextos históricos, a tuberculose teve um crescimento notório
que vem percorrendo ao longo dos anos no Brasil, sendo um importante problema de saúde
pública. Desse modo, o Ministério da Saúde, em 1999, definiu a tuberculose como prioridade
entre as políticas governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando
metas para o alcance de seus objetivos, aprimorando o PNCT inserido na atenção básica, para
visar à intensificação das ações de controle da tuberculose. Regido por um Manual de
Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil voltado para os profissionais de
39
saúde da rede básica, tais como médicos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes
comunitários de saúde (BRASIL, 2006).
O PNCT está integrado na rede de Serviços de Saúde, é desenvolvido por intermédio
de um programa unificado, executado em conjunto pelas esferas federal, estadual e municipal.
Está subordinado a uma política de programação das suas ações com padrões técnicos e
assistenciais bem definidos, garantindo desde a distribuição gratuita de medicamentos e
outros insumos necessários até ações preventivas e de controle do agravo. Isto deveria
permitir o acesso universal da população às suas ações (BRASIL, 2006).
As ações de controle da tuberculose no Brasil têm como meta diagnosticar pelo menos
70% dos casos esperados e curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados e reduzir o
abandono do tratamento a menos de cinco por cento. O conjunto de metas a serem alcançadas
é: expandir a cobertura do tratamento supervisionado para os 315 municípios prioritários
(2006 = 86%); informar sobre desfecho de 100% dos casos diagnosticados (2006 = 75%);
oferecer teste anti-HIV para 100% dos adultos com TB (2006 = 70%) e reduzir para 70.000 o
número de casos novos de TB até 2011. Como metas globais foram consideradas: reduzir, até
o ano de 2015, a incidência para 25,9/100.000 hab. e a taxa de prevalência e de mortalidade à
metade em relação a 1990. Além disso, espera-se que até 2050, a incidência global de TB
ativa seja menor que 1/1.000.000 habitantes por ano (BRASIL, 2010).
O SUS pressupõe a hierarquização das ações de saúde com distribuição das
competências pelas três esferas da administração pública: o federal, o estadual e o municipal.
O Ministério da Saúde organizou-se a partir de secretarias, diretorias, coordenações e
programas. O PNCT encontra-se situado hierarquicamente dentro do Departamento de
Vigilância Epidemiológica (DVEP), que por sua vez integra a Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS) (BRASIL, 2010).
Os gestores municipais juntamente com o gestor estadual, devem agir de forma
planejada e articulada para garantir a implantação da estruturação da rede de serviços de
saúde para identificação de sintomáticos respiratórios; organização da rede laboratorial para
diagnóstico e controle dos casos; garantia de acesso ao tratamento supervisionado e/ou autoadministrado dos casos; proteção dos sadios; alimentação e análise das bases de dados para
tomada de decisão (BRASIL, 2010).
40
Dentre as várias estratégias para estender o PNCT a todos os municípios brasileiros,
estão à expansão e a consolidação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e do
Programa de Saúde da Família do MS, em parceria com as prefeituras municipais (BRASIL,
2010). As atribuições das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS de todos os municípios
do país no PNCT de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) são:
Identificar entre as pessoas maiores de 15 anos que procuram o serviço, sintomáticos
respiratórios (pessoa com tosse e expectoração por três semanas ou mais), fazer o
diagnóstico de tuberculose, iniciar o tratamento, acompanhar os casos em tratamento, dar
alta aos pacientes;
Identificar entre as crianças que procuram os serviços de saúde, aquelas portadoras de
pneumopatias e outras manifestações clínicas sugestivas de tuberculose, e encaminhá-las a
uma unidade de referência para investigação e confirmação do diagnóstico;
Acompanhar e tratar os casos confirmados nas UBS;
Aplicar a vacina BCG;
Coletar material para a pesquisa direta de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR) no
escarro. Caso a unidade básica de saúde não possua laboratório, identificar um laboratório
de referência e estabelecer um fluxo de envio do material;
Realizar a prova tuberculínica quando necessário;
Realizar exame anti-HIV (anti- Vírus da Imunodeficiência Humana) quando indicado,
devido a grande associação da tuberculose com AIDS (Síndrome da Imunodeficiência
Humana);
Dispor de estoque de medicamentos específicos para os doentes inscritos no programa de
tuberculose (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol, Estreptomicina,
Etionamida);
Fazer tratamento supervisionado na unidade de saúde ou no domicílio quando indicado –
Tratamento Diretamente Observado (DOTS);
Manter o Livro de Controle de Tratamento dos Casos de Tuberculose com informações
atualizadas acerca do seu acompanhamento, baciloscopias e critério de alta. Essas
informações devem ser enviadas mensalmente ao primeiro nível informatizado do SINAN
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação), seja o distrito sanitário, nos
municípios maiores, ou para a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) (BRASIL, 2009);
Informar a SMS acerca dos casos atendidos e situação de encerramento (resultado do
tratamento) desses casos;
Realizar trimestralmente estudo de coorte dos casos acompanhados para a análise do
resultado do tratamento;
41
Fazer uma programação anual para o PNCT, juntamente com a Vigilância Epidemiológica
do município, estabelecendo metas a serem atingidas;
Fazer visita domiciliar quando necessário;
Treinar os recursos humanos da unidade básica de saúde;
Realizar ações educativas junto à clientela da unidade de saúde, bem como na
comunidade;
Divulgar os serviços prestados tanto no âmbito do serviço de saúde como na própria
comunidade.
Dentre os desafios do PNCT, (BRASIL, 2006) estão:
Melhoria do sistema de informação;
Descentralização, ampliação do acesso e expansão da cobertura do programa para toda a
rede básica;
Construção de consensos e normalização de conceitos;
Ampliação do TS/DOTS com qualidade;
Articulação com o Fundo Global, com o Programa Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis/ Aids (PN-DST/Aids), com o Departamento de Atenção Básica (DAB) e
outras instituições governamentais e não governamentais;
Manutenção da priorização no controle da TB (política e recursos);
Ampliação da Parceria Brasileira contra a TB;
Ampliação da participação da Sociedade Civil e do controle social;
Protagonismo internacional.
É importante ressaltar que segundo a Programação das Ações de Vigilância em Saúde
(PAVS) é elencado um conjunto de ações para subsidiar a Programação Anual de Saúde
(PAS) das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para o alcance de metas do Pacto pela
Vida e demais prioridades de relevância para o SNVS, eleitas pelas esferas Federal, Estadual
e Municipal. Assim, o Pacto pela Vida tem como uma das prioridades o fortalecimento da
capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, e com ênfase na tuberculose, a
meta para o biênio 2010/2011 é:
42
- 2010: 40% dos casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura de escarro
realizado; 90% de casos novos de tuberculose com situação de encerramento informada; 70%
casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera em tratamento diretamente observado; 70%
de contatos de tuberculose pulmonar bacilífero examinados.
- 2011: 60% dos casos de retratamento de tuberculose com o exame de cultura de escarro
realizado; 95% de casos novos de tuberculose com situação de encerramento informada; 80%
casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera em tratamento diretamente observado; 90%
de contatos de tuberculose pulmonar bacilífero examinados (BRASIL, 2009).
Cabe relembrar que esta programação é de âmbito nacional, envolvendo todos os entes
federados, e que, as mesmas devem priorizar estas ações no período de sua gestão. O que se
almeja com esta programação é que todas as ações acima citadas sejam desempenhadas
adequadamente em sua totalidade (BRASIL, 2009).
43
Capítulo 2 - ABORDAGENS TEÓRICO – METODOLÓGICAS
2.1- Questões teóricas
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem quanti-qualitativa.
Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa preocupa-se com um nível de realidade,
aprofundando-se no mundo dos significados, das ações e das relações humanas. Permitindo
conhecer o que pensam os indivíduos sobre suas experiências, suas vidas e seus projetos,
privilegiando o conteúdo da percepção e do individual.
Novamente recorrendo a Minayo (2010), a pesquisa qualitativa em saúde engloba a
pesquisa social, que envolve vários tipos de investigação que tratam do ser humano em
sociedade, de suas relações e instituições, de sua história e de sua produção simbólica. De
acordo com a autora (2010: 204) “a pesquisa social em saúde, envolve todas as investigações que
tratam do fenômeno saúde/doença, de sua representação pelos vários atores que atuam no campo: as
instituições políticas e de serviços e os profissionais e usuários.”
Já a pesquisa quantitativa, segundo Santos e Gamboa (1995), é a que se considera
como objetivo da ciência social, o encontro de regularidades e relação entre os fenômenos
sociais, tendo como principal instrumento o modelo, que apresenta uma versão simplificada
da estrutura ou do comportamento de um sistema.
No campo da história, recorreu-se em Certeau (2008) e em outros teóricos (utilizados
pelos autores de alguns dos artigos analisados) que discutem o papel do sujeito histórico no
processo de construção das suas trajetórias e percepções de mundo inseridas nos contextos
históricos em que vivem. Segundo Nascimento (2006: 100), “a abordagem utilizada sobre as
representações sociais da doença, ganha originalidade ao promover o entendimento do fenômeno
patológico para além de sua conceituação médica, descrevendo-o como objeto histórico socialmente
construído.”
44
2.2- Aspectos metodológicos da pesquisa
Para o alcance dos objetivos foi utilizado o método de revisão da literatura científica
que, de acordo com Roman e Friedlander (1998), tem como finalidade sintetizar resultados
obtidos em pesquisas relativos a um tema ou a uma questão específica, de forma sistemática e
ordenada, com o intuito de contribuir para o conhecimento desse tema ou questão.
Santiago (2006) e Lakatos (1995) enfatizam que essa metodologia nos permite
conhecer as contribuições culturais ou científicas do passado, aproximando o pesquisador do
que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto.
A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito
sobre certo assunto. Mas, propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou
abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Ao fazer uma releitura do
que foi produzido pode-se visualizar aspectos que de outra forma passariam
despercebidos, como pontos obscuros ou lacunas do conhecimento. Além de
ser um reforço paralelo no referencial teórico e na análise de sua própria
pesquisa (Lakatos, 1995 pg. 91).
As buscas bibliográficas foram realizadas privilegiando um período de 10 anos de
2000 a 2010, porém foram encontrados três artigos de períodos anteriores, que nos levaram a
redefinir o recorte temporal para 1995 a 2010. Devido ao fato de se trabalhar com textos
completos disponíveis em base de dados, não se tornou necessário encaminhamento do estudo
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição.
Para coleta dos dados realizou-se um levantamento de literaturas completas, indexadas
na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas seguintes Bases de Dados: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde / Centro Latino-Americano de Informação em
Ciências da Saúde – Biblioteca Regional de Medicina (LILACS/ BIREME), Scientific
Electronic Library Online – Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (SCIELO), além da
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online - Sistema Online de Busca e
Análise de Literatura Médica (MEDLINE - Pub Med – bases de citações biomédicas) através
do portal de periódicos (PORTAL CAPES).
45
No campo de busca, utilizou-se a padronização das palavras-chave que deram origem
aos descritores utilizados na BIREME, a saber: tuberculose, percepção, estigma e
tratamento. Os descritores de assuntos podem ser entendidos como um vocabulário
estruturado, que são utilizados na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de
congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais.
Devido a uma grande quantidade de publicações encontradas, englobando áreas de
conhecimentos diversificados e com pouca relevância para o trabalho aqui apresentado, fez-se
necessária uma pesquisa com a combinação de descritores de assuntos, a fim de refinar ainda
mais a pesquisa. A partir do índice, foi localizado e selecionado o descritor adequado para
representar o assunto a ser buscado.
Ao realizar a busca literária, foram localizados inicialmente 18 (dezoito) artigos.
Alguns destes artigos inicialmente selecionados não foram incluídos na pesquisa devido à
dificuldade de acesso, e por se apresentarem como publicações incompletas nos periódicos
on-line. Além disso, foram utilizados critérios pré- definidos e considerados no momento da
escolha das publicações para a análise, tais como: texto em língua portuguesa, em decorrência
de opção por se trabalhar com pesquisadores brasileiros, periódicos nacionais e título do
trabalho contemplando o objeto do estudo.
Assim sendo, selecionou-se um total de 10 (dez) artigos que apreciam tema
relacionado com repercussões psicossociais da tuberculose nos pacientes em tratamento.
Deste total, 01 (um) foi localizado na base de dados LILACS, 08 (oito) na SCIELO e 01 (um)
na MEDLINE; citados a seguir, por ordem cronológica das publicações em geral, neste
primeiro momento para melhor compreensão e visualização, sendo estes divididos
posteriormente em dois grupos de momentos distintos no capítulo das análises:
1PORTO, A.A.; NASCIMENTO, D.R. “Tuberculosos e seus itinerários”. História,
Ciências, Saúde-Manguinhos, vol.1, nº. 2: 100-117, Rio de Janeiro, nov. 1994-fev.1995.
2GONÇALVES H.; COSTA, J.D.; MENEZES, A.M.B .“Percepções e limites: visão do
corpo e da doença”. Physis: Revista de Saúde Coletiva v.9 n.1: 151-173 Rio de
Janeiro jan./jun. 1999.
3BERTOLLI FILHO, C.‘Antropologia da doença e do doente: percepções e estratégias
de vida dos tuberculosos’ História, Ciências, Saúde — Manguinhos VI (3): 493-522 nov.
1999-fev. 2000.
46
4BERTAZONE E.C.; GIR, E. “Aspectos gerais da sexualidade dos portadores de
tuberculose pulmonar atendidos em unidades básicas de saúde de Ribeirão Preto-SP” Rev.
Latino-Am. Enfermagem v.8 n.1: 120-140 Ribeirão Preto jan. 2000.
5VENDRAMINI, S. H. F.” O tratamento supervisionado no controle da tuberculose em
Ribeirão Preto sob a percepção do doente” Rev. Latino-Am. Enfermagem v.9 n.1: 78-106
Ribeirão Preto jan.2001.
6LIMA, M.B., et al. “Estudo de casos sobre abandono do tratamento da tuberculose:
avaliação do atendimento, percepção e conhecimentos sobre a doença na perspectiva dos
clientes (Fortaleza, Ceará, Brasil)” Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(4): 877-885 julago, 2001.
7NASCIMENTO, D.R.” As pestes do século XX: tuberculose e AIDS no Brasil, uma
história comparada” Cad. Saúde Pública vol.22 no. 2: 96-123 Rio de Janeiro Fev. 2006
8PÔRTO, A.A. “Representações sociais da tuberculose: estigma e preconceito” Rev.
Saúde Pública v.41 supl.1: 100-120 São Paulo set. 2007
9SÁ, L.D. et al. “Tratamento da tuberculose em unidades de saúde da família: histórias
de abandono” Texto contexto Enfermagem. v. 16 n.4: 80-114 Florianópolis out./dez. 2007.
10SOUZA, S.S.; SILVA, D.M.G.V.; MEIRELLES, B.H.S. “Representações sociais
sobre a tuberculose” Acta paul. enferm. vol.23 no. 1: 112-130 São Paulo 2010.
Em sequência, foi realizada a seleção e a pré-análise dos textos. Ressalta-se que os
textos foram selecionados a partir da leitura prévia dos resumos e posteriormente se decorreu
a apreciação dos trabalhos na íntegra analisados e discutidos no capítulo três. Foram
elaborados quadros para registro e tabulação dos dados identificados, que foram analisados
quanti-qualitativamente, e comparados entre si, o que permitiu conhecer o panorama geral da
produção científica selecionada e levantar os pontos de análise (Quadro 3 e Quadro 4).
A discussão e análise dos dados estão apoiadas na análise de conteúdo, que segundo
Bardin (1997), consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e
cuja presença ou frequência de aparição podem significar algo para o objetivo analítico
escolhido.
O autor assevera que o método:
É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não), que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1997, p. 42).
47
Em consonância com o método, foram relacionadas às categorias estabelecidas pelos
autores dos artigos para identificar as diferentes percepções encontradas nos pacientes em
tratamento de tuberculose sobre a sua doença (ver Quadro 4 no capítulo 3).
48
Capítulo 3 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Ao analisar as publicações sobre o tema das repercussões psicossociais da tuberculose
nos pacientes em tratamento, buscou-se vislumbrar a percepção dos clientes em dois
momentos históricos distintos: O primeiro, antes de 1950, quando o tratamento existente era a
terapia higieno-dietética e algumas intervenções cirúrgicas tais como o pneumotórax ; e o
segundo, ao longo da virada do século XX para o XXI, com um contexto de discussões acerca
dos esquemas de tratamento, da resistência das drogas e da avaliação do PNCT. A título de
melhor compreensão da analise comparativa das percepções dos pacientes tuberculosos em
tratamento foi designado dois grupos analíticos: o primeiro, codificado como (G1), referente
ao contexto anterior a 1950 acerca da Tuberculose, e o segundo ao contexto do final do século
XX e início do século XXI, codificado como (G2).
3.1 - Organização do material
Elaborou-se o Quadro 1, que apresenta o Grupo Analítico, ano da publicação, título da
obra (codificado de “A-J”), as citações e as titulações autorais.
Quadro 1
Grupo -Ano
G1 - 2000
G1 - 2006
G1 - 2007
G1 - 1995
G2 - 2000
G2 - 1999
G2 - 2001
G2 - 2007
DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS SOBRE
REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DA TUBERCULOSE NOS PACIENTES EM TRATAMENTO
TÍTULO/OBRA
Autor
Titulação Autoral
Antropologia da doença e do doente: percepções e
estratégias de vida dos tuberculosos (A)
As pestes do século XX: tuberculose e AIDS no Brasil,
uma história comparada (B)
Representações sociais da tuberculose: estigma e
preconceito (C)
Tuberculosos e seus itinerários (D)
Bertolli Filho, C.
Doutor em Ciências
Professor de antropologia
Nascimento, D.R.
Doutora em História
Pôrto, A.
Doutora em Saúde Coletiva
Pôrto, A.
Nascimento, D.R.
Doutora em Saúde Coletiva
Doutora em História
Aspectos gerais da sexualidade dos portadores de
tuberculose pulmonar atendidos em unidades básicas de
saúde de Ribeirão Preto – SP (E)
Percepções e limites: visão do corpo e da doença (F)
Bertazone, E.C.
Gir, E.
Mestre em Enfermagem.
Enfermeira e Docente.
Gonçalves, H.
Costa, J.D.
Menezes, A.M.B.
Lima, M.B.
Mello,D.A.
Morais, A.P.P.
Silva, W.C.
Sá, L.D.
Souza, K.M.J.
Nunes, M.G.
Palha, P.F.
Nogueira, J.A.
Villa, T.C.S.
Souza, S.S.
Silva, D.M.G.V.
Meirelles, B.H.S.
Vendramini,S.H.F.
Mestre em Antropologia.
Mestre em Epidemiologia.
Doutora em Epidemiologia.
Estudo de casos sobre abandono do tratamento da
tuberculose: avaliação do atendimento, percepção e
conhecimentos sobre a doença na perspectiva dos
clientes (G)
Tratamento da tuberculose em unidades de saúde da
família: histórias de abandono (H)
G2 - 2010
Representações sociais sobre a tuberculose (I)
G2 - 2001
O tratamento supervisionado no controle da tuberculose
em Ribeirão Preto sob a percepção do doente (J)
Professora de Enfermagem
Secretária Estadual
Professora de Saúde Pública
Professora de Enfermagem
Doutora em Enfermagem
Mestranda em Enfermagem
Pós-Doutor em Enfermagem,
Doutora em Enfermagem
Professora Livre Docente
(REVER)
Doutoranda em Enfermagem
Doutora em Enfermagem
Doutora em Enfermagem.
Mestre em enfermagem
49
A análise do referido quadro permitiu a identificação de 04 (quatro) artigos que
designam o primeiro momento histórico da TB (G1), representado 40% do total de 10 (dez)
artigos selecionados, e os outros 06 (seis) fazem referência ao segundo momento histórico da
TB (G2), representando, portanto 60% das obras. Este percentual nos sugere que dentro da
amostra trabalhada, o número de trabalhos de cunho mais histórico e o de trabalhos do campo
da saúde pública é quase equivalente.
De acordo com o período em que os artigos foram publicados, notou-se que da
totalidade, dois artigos foram realizados nos anos 90, enquanto os demais, oito, que
representam um número mais expressivo, foram realizados a partir do ano 2000, podendo este
incremento na produção científica estar relacionado à crescente busca por conhecimentos e
necessidade de estudos nesta área, visando uma melhor contribuição da Saúde Pública no
controle e tratamento dos pacientes com tuberculose.
A análise do referido quadro possibilitou a apreensão de que dois autores se
destacaram por apresentarem mais de uma publicação sobre o referido assunto. Pôrto e
Nascimento são autoras de um artigo em conjunto, e um artigo individual cada uma. Tal
evidência aponta para a responsabilização e comprometimento profissional com o incremento
de novos saberes científicos, por meio da publicação de pesquisas relacionadas com a
temática.
No âmbito de apreciação das titulações acadêmicas dos autores, a maioria se enquadra
na profissão de enfermagem, nas categorias de professor, mestre, doutor e pós- doutor,
apresentando 50% do total das publicações, enquanto que as demais autorias se enquadram
principalmente nos campos da antropologia, epidemiologia e história. Esse retrato nos indica
a multiplicidade dos campos de especialização dos autores, revelando o quanto a
interdisciplinaridade pode ser uma ferramenta importante na elaboração das políticas públicas.
Com a finalidade de enriquecer o trabalho, foi elaborado outro quadro (Quadro 2), no
qual foram demonstradas as obras segundo seu tipo de circulação em periódico e a base de
dados na qual foi indexada como publicação científica on-line.
50
Quadro 2
DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS SOBRE
REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DA TUBERCULOSE NOS PACIENTES EM TRATAMENTO
Grupo / Obra
Periódicos
LILACS
MEDLINE
SCIELO
G1- A
G1- B
G1- C
G1- D
História, Ciências, Saúde – Manguinhos
Cad. Saúde Pública
Rev. Saúde Pública
História, Ciências, Saúde – Manguinhos
x
x
x
x
G2- E
G2- F
G2- G
G2- H
G2- I
G2- J
Rev. Latino – Am. Enfermagem
Phisis: Revista de Saúde Coletiva
Cad. Saúde Pública
Texto contexto enferm.
Acta Paul. Enferm.
Rev. Latino – Am. Enfermagem
x
x
x
x
x
x
A partir da análise do quadro exposto, se pode evidenciar que, dentre os periódicos em
que se encontraram publicados os trabalhos, se destacaram os seguintes: História, Ciências,
Saúde – Manguinhos, Cadernos de Saúde Pública e Revista Latino- Americana de
Enfermagem, os quais apresentaram cada um 20 % do total das publicações. Dentro das suas
áreas específicas (história, saúde pública e enfermagem), estes periódicos têm alta
conceituação (A1, A2 e A2, respectivamente) no Qualis Periódicos da CAPES.
Quanto às bases de dados, nas quais foram indexadas as publicações, observou-se que
apenas um trabalho foi encontrado indexado na base de dados LILACS, e também um na
MEDLINE, enquanto que oito artigos foram evidenciados na base SCIELO. Cabe ressaltar
que a SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em
Linha) é um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na
Internet, especialmente desenvolvido para responder às necessidades da comunicação
científica nos países em desenvolvimento e particularmente na América Latina e Caribe1 .
1
O Modelo SciELO é o produto da cooperação entre a FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo, BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, instituições
nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação científica e editores científicos. A metodologia
SciELO permite a publicação eletrônica de edições completas de periódicos científicos, a organização de bases
de dados bibliográficas e de textos completos, a recuperação de textos por seu conteúdo, a preservação de
arquivos eletrônicos e a produção de indicadores estatísticos de uso e impacto da literatura científica. Também
inclui critérios de avaliação de revistas, baseado nos padrões internacionais de comunicação científica e os textos
completos são enriquecidos dinamicamente com links de hipertexto com bases de dados nacionais e
internacionais, como por exemplo, LILACS e MEDLINE.
Fonte: htttp://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=1, acessada em 14/04/2011.
51
3.2 - Discussão dos Dados
Conforme apreendido anteriormente, dos 10 (dez) artigos publicados, quatro foram
inferidos como pertencentes ao Grupo Analítico denominado G1, por apresentarem discussões
que permeiam a época passada da tuberculose, antes de 1950; e os outros 06 (seis), foram
alocados ao segundo grupo, G2, pois trazem em foco o contexto da tuberculose a partir de
1950 até a atualidade. Para melhor entendimento da análise, foi elaborado um quadro
demonstrativo (Quadro 3), que explicita em essência as principais reflexões e discussões
temáticas propostas em cada estudo.
Quadro 3
DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS SOBRE
REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DA TUBERCULOSE NOS PACIENTES EM TRATAMENTO
Grupo
Analítico
Objetivos
Temas
Analisar
a
reação
individual
dos
tuberculosos exilados nas
cidades-sanatórios
paulistas
frente
às
representações sociais que
lhes eram imputadas.
Experiência de
vidas marcadas
eufemisticamente
como "mal-dospeitos".
G1- B
Promover o
entendimento
do fenômeno
patológico
descrevendoo
como
objeto
histórico
social-mente
construído
As representações sociais
da tuberculose focalizando
aspectos associados aos
sentimentos
e
manifestações
contraditórios.
Oferecer subsídios para a
elaboração da imagem
matizada da doença.
Estigmatização
social do doente,
dialogando com
os valores morais
vigentes e com a
organização
social
estabelecida.
G1- D
Tipologia de fontes
vinculados
G1- A
G1- C
Hipóteses
As
imagens
criadas
da
doença
se
adequam,
enquanto
metáforas.
Experiência de se
estar
doente
numa perspectiva
apologética
e
satírica.
Espanto e desalento eram
suscitados não apenas pela
enfermidade que corrompia o
corpo, mas também, pela carga
simbólica que a tuberculose
impunha às suas vítimas e às
pessoas
que
lhes
eram
próximas.
O
medo
do
aniquilamento
dos indivíduos e
da
sociedade
associado
à
transmissibilidade
e incurabilidade
da tubérculose e
da AIDS
Escritos memórialísticos.
As
diversas
formas
de
representação da tuberculose
seriam expressões da vontade
coletiva de reorganização da
ordem social.
Obras poéticas literárias da
época.
O
rigor
do
discurso médico
no tratamento da
doença.
Depoimentos
orais e escritos
Correspondência
e artigos.
Documentos
oficiais,
produção médico-científicas,
matérias
publicadas
em
jornais e revistas da época.
52
G2-E
Analisar o conhecimento
que os portadores de
tuberculose pulmonar têm
acerca da doença e as
experiências vivenciadas
por estes acerca do
exercício
de
sua
sexualidade antes e após a
doença.
Revelar
que
algumas
manifestações
corporais
são percebidas como mais
graves pelos pacientes.
Dificuldade para controlar
a doença devido à
pobreza, à epidemia de
AIDS e a deterioração dos
serviços de saúde.
Podem ocorrer modificações
no
comportamento
e
conseqüentemente
nas
relações dos portadores de
tuberculose pulmonar, após
a manifestação da doença.
Entrevista semi-diretiva
gravada, norteada por um
questionário composto
por questões abertas e
fechadas.
A
percepção
e
a
representação social da
tuberculose interferem na
cura.
G2-G
Identificação de fatores
que
determinam
o
abandono do tratamento da
tuberculose
Características sócio econômicas e culturais
dos
clientes
(atores
sociais);
causas
impeditivas ao tratamento;
conhecimentos
e percepção da doença
pelos clientes.
O método etnográfico de
observação participante,
conjugados
com
as
entrevistas
semi
–
estruturadas e conversas
informais.
Dados epidemiológicos e
questionário
semiestruturado
G2-H
Identificar e
analisar
os
motivos de
abandono do
tratamen-to
da tubérculose
pelos
usuários das
Unidades de
Saúde
da
Família
G2- I
Conhecer
as
representações sociais da
tuberculose de pessoas
acometidas pela doença e
atendidas em um serviço
de referência de um
município
Percepção do doente de
tuberculose sob tratamento
supervisionado
O envolvimento dos
profissionais SF no
desen-volver
de
estratégias para
potencializar
a
adesão
do
usuário ao
trata-mento
da
tuberculose.
O tratamento é difícil, a
tuberculose afasta as
pessoas, a tuberculose
muda a percepção de si.
As
percepções
e
representações do corpo
influenciam a qualidade e a
intensidade da participação
do doente, em diversos
âmbitos da vida social.
Apesar
de existirem drogas eficazes,
a realidade quanto
ao êxito do tratamento
aponta fatores complexos
que intervêm nos resultados,
entre os
quais, a resistência aos
medicamentos, o tratamento
incompleto e o abandono.
As causas do
abandono
estão
associadas ao
doente,
à
modalida-de
do trata-mento
emprega-do e
a dos serviços
de saúde.
Investimentos em relação ao
controle da tuberculose têm
sido importantes, porém são
insuficientes, considerando
a evolução da doença no
Brasil.
Entrevistas
estruturadas
Não há adesão do doente ao
tratamento No PNCT e
existem
dificuldades
enfrentadas pelos doentes
relacionadas à assistência e
aos serviços de saúde.
O
prontuário dos
doentes e as fichas
epidemiológicas
de
notificação da doença e a
entrevista
semi
–
estruturada.
G2-F
G2- J
Enfoque da terapêutica
no
tratamento
supervisionado do doente
sob
tratamento
supervisionado
Entre-vistas
com
história oral
temática
semi-
Na análise, como foi citado anteriormente, percebeu-se que dos 10 artigos da amostra
publicados, quatro pertenciam ao primeiro grupo, por estarem relacionados com o período do
início do século XX até a década de 1950; e os outros seis artigos, pertenciam ao segundo
grupo, pois traziam em seus textos a tuberculose nas décadas mais recentes. Para melhor
53
entendimento das análises, os artigos foram denominados como G1, os pertencentes ao
primeiro grupo, e como G2, os pertencentes ao segundo grupo.
O grupo G1 com seus quatro artigos têm como assunto principal de um modo geral
as representações sociais frente à tuberculose no final do século XIX e primeira metade do
século XX, tais como: a imagem matizada da doença a partir de experiências; a reação dos
tuberculosos exilados nos sanatórios frente às representações sociais; a tuberculose como
objeto histórico socialmente; bem como as representações sociais da tuberculose na passagem
do século XIX para o século XX.
O século XX se inicia com um processo de tentativa de desmistificação da tuberculose
e da figura do tuberculoso. O Estado passa a investir um pouco mais em políticas de saúde
pública, ao mesmo tempo em que a doença ganha confins mais dramáticos justamente por
caracterizar aparências evidentes de miséria social. Nesse contexto, a DGSP também
determinou importantes trabalhos voltados para os doentes, surgindo em conseqüência a
LBCT, a atual FAP (NASCIMENTO, 2002).
De acordo com Bertolli Filho, 2001 o tuberculoso é um homem comum, necessitado
de recursos, que habita os centros urbanos e industrializados. A migração da tuberculose para
as classes mais pobres da população com suas descrições mais peculiares – dentre elas o de
degenerescência moral – continuam presentes ao nível da percepção da doença. A questão é
que os traços "negativos" não correspondem simetricamente, os "positivos".
Quanto aos temas vinculados ao assunto principal, o grupo G1 enfoca a sátira, o
eufemismo e metáforas da estigmatização social da doença, tais como: o doente num aspecto
apologético e satírico; a experiência de vida marcada eufemisticamente como “mal-dospeitos”; a estigmatização social e os valores morais vigente da época; além das imagens
criadas como metáforas a situações socialmente indesejáveis (escarradeira em via pública,
tosse...).
Já o grupo G2 traz como assunto principal um momento mais atual da tuberculose,
com temas relacionados à sexualidade do doente, o tratamento supervisionado, o abandono de
tratamento e unidades de saúde da família e de referência de tuberculose, tais como: as
manifestações do corpo que são percebidas como grave; o conhecimento do paciente sobre a
doença e a experiência do exercício de sua sexualidade; a percepção do paciente tuberculoso
54
sobre o tratamento supervisionado; os fatores que determinam o abandono do tratamento da
tuberculose; os motivos do abandono do tratamento da tuberculose nos pacientes de uma
Unidade de Saúde da Família; e as representações sociais da tuberculose em pacientes
tratados num serviço de referência.
Ao falar sobre a questão do abandono ao tratamento, Lima et al (2001: 883) aponta
que:
Os fatores que contribuem para o abandono do tratamento da tuberculose
são: à dinâmica do atendimento e a discussão institucional sobre o serviço de
saúde e o papel desempenhado no controle da tuberculose; à reflexão de que
a tuberculose é uma doença assentada predominantemente em variáveis de
natureza econômica, social e cultural; os conhecimentos dos atores sociais
que percebem e descrevem com clareza a tuberculose em seus diferentes
níveis de complexidade (a doença, sua história natural e social), e à
problemática específica do tratamento.
Tais fatores (em especial, a dinâmica do atendimento, o papel dos serviços de saúde e
o conhecimento dos atores sociais acerca da sua doença) fazem parte dos assuntos principais
de todos os outros artigos deste grupo analítico.
A expressão da tuberculose no Brasil, ao longo do século XX, caracteriza-se por
modificações tão profundas, que quase se poderia dizer não existir uma única forma
nosológica para descrever a doença. A tuberculose, analisada quanto ao seu comportamento
na comunidade, é hoje uma doença diferente daquela conhecida há mais de 50 anos. Apesar
dos esforços de assistência e controle da doença desde o século passado, houve mudanças no
perfil das pessoas acometidas e o surgimento de bactérias resistentes aos medicamentos
utilizados devido ao abandono do tratamento, gerando o desenvolvimento da tuberculose
multirresistente. Além disso, a tuberculose se agrava com o surgimento da co-infecção
TB/HIV, fatores estes que contribuem para dificultar ainda mais o controle da doença e a
relação da tuberculose com a sexualidade.
Ao destacar as mudanças das políticas e das tecnologias acerca da tuberculose,
Gonçalves (1999: 154) ressalta em seu artigo que:
O diagnóstico ganhou recursos tecnológicos; o risco de contágio também se
alterou, a possibilidade de cura tornou-se efetiva, além da implementação do
TS, mas, por outro lado, as pessoas continuam a se sentir discriminadas pelo
preconceito que existe com relação à doença; abandonam o tratamento
55
porque consideram que, muitas vezes, ele traz manifestações piores do que a
própria doença; ou por não compreenderem a relação entre a cura e a
remissão das manifestações, pois se sentem livres dos sintomas nos
primeiros meses sem saber que ainda estão infectados.
Quanto aos temas vinculados ao assunto principal, esses artigos trazem os fatores
que dificultam o tratamento e conseqüentemente a cura na atualidade, tais como: a percepção
e representação social da tuberculose que interfere na cura; a dificuldade para controlar a
doença devida à pobreza; a deterioração dos serviços de saúde; a ação terapêutica no
tratamento supervisionado, e a singularidade do doente; as características sócio-econômicas e
culturais dos pacientes que são causas impeditivas do tratamento; o envolvimento dos
profissionais do PSF em estratégias para adesão do paciente ao tratamento; e por fim o
tratamento que é difícil, pois a tuberculose pode muita das vezes afastar o doente da sociedade
e de seus grupos de convivência mudando a percepção que o doente tem de si próprio.
Com relação às hipóteses, o grupo G1 enfoca o medo e o espanto associados à
incurabilidade e a visão da sociedade como carga simbólica da doença e o rigor do tratamento
do século passado. Tais artigos trazem como hipóteses o rigor do discurso médico no
tratamento da doença; o espanto e o desalento que não são apenas pela doença do corpo, mas
também pela carga simbólica que a tuberculose impunha; o medo e o aniquilamento físico e
moral que são associados à transmissibilidade e a incurabilidade da tuberculose; e as diversas
formas de representação da tuberculose que seriam expressões da ordem social.
Esses autores pressupõem que a doença é temida ainda por ser expressão de algo que é
socialmente digno de censura, bem como por representar o estágio último de miséria humana.
O autor Bertolli Filho (1999: 494) aponta em seu artigo:
O espanto e desalento eram suscitados não apenas pela enfermidade que
corrompia o corpo, mas também, e, sobretudo, pela carga simbólica que a
tuberculose impunha às suas vítimas e às pessoas que lhes eram próximas. A
morte física prometida pela doença tinha como etapa anterior a exclusão
social que, nas confidências pessoais, era declarada como muito mais
sombria e dolorida que os padecimentos físicos produzidos pela infecção.
Nesse sentido persiste no imaginário social e como forma de relação da sociedade com
o doente, o processo de estigmatização da tuberculose e do tuberculoso. Os tratamentos da
56
época em especial a higieno-dietética não ofereciam um tratamento ao alcance de todos e nem
tinham eficácia para todos aqueles que se submetiam ao mesmo, pois existiam vários fatores
que interferiam neste processo, entre os quais a resistência as drogas, os hábitos de vida e a
classe social dos pacientes.
Já o grupo G2 traz como hipóteses os fatores que interferem no tratamento da
tuberculose como as percepções sociais e as dificuldades relacionadas aos serviços de saúde.
Tais hipóteses são: as percepções e representações do corpo que influenciam na participação
do doente em diversos âmbitos da vida social; as modificações que podem ocorrer no
comportamento e nas relações dos tuberculosos após a doença; a não adesão do doente ao
tratamento do PNCT devido às dificuldades relacionadas à assistência e aos serviços de saúde;
os fatores complexos que intervêm no tratamento, como resistência medicamentosa, reação
dos medicamentos no organismo, tratamento incompleto e o abandono; as causas do
abandono que estão associadas ao doente, ao tipo de tratamento e aos serviços de saúde; e os
investimentos no controle da tuberculose que são insuficientes, causando muitas vezes, falta
de medicação e de vários recursos especiais no combate à doença.
Ao trabalhar com a importância do reconhecimento da doença como uma questão
também social Sá (2007: 88) destaca que:
Os profissionais de saúde muitas vezes não compreendem que a tuberculose
não é somente uma doença física, mas que se integra ao viver das pessoas
atingidas. Compreender esta realidade de forma mais ampla certamente
auxiliará numa abordagem mais adequada de cuidados e tratamentos.
A importância da prática dos profissionais de saúde debaterem com os doentes o
tratamento e as preocupações dos mesmos com a sua doença, é a hipótese central do artigo de
Vendramini (2001: 96):
É importante os profissionais da saúde abrirem espaços de discussão com os
pacientes, permitindo que eles expressem seus medos e preocupações, o que
poderá favorecer a superação do próprio preconceito com relação à doença e
ajudá-los a encontrar novas maneiras de lidar com a situação, diminuindo
também a questão do abandono de tratamento.
Quanto à tipologia de fontes, o G1 usou especialmente fontes históricas dentre os
quais: depoimentos, correspondências e artigos da época; os escritos memorialísticos;
documentos oficiais, jornais e periódicos médicos; como também obras poéticas literárias da
época sobre a tuberculose.
57
Defendendo suas tipologias de fontes, as autoras Pôrto e Nascimento (1995: 100)
declararam em seu artigo que “as cartas e depoimentos sinalizam, portanto, a presença de vozes
diferentes num discurso polifônico, uma tentativa de construir a tuberculose em suas múltiplas facetas,
expressões e vivências.”
Assim, essas autoras trazem em seus artigos a concepção da tuberculose que seria
própria de uma sensibilidade marcada como romântica, que se difundia em especial entre
intelectuais e artistas. A doença surge para os poetas como um atributo que os torna
interessantes. Esta forma de expressão parece ter sido o veículo adequado para muitos tísicos
ilustres que procuravam alguma forma de compreensão do mal que os consumia,
compreensão que lhes era negada pelo saber médico da época, a tuberculose romântica
propriamente dita, além da tuberculose como um mal social. Para uma melhor exemplificação
a autora Pôrto (2007: 101) explicita em seu artigo:
Até meados do século XIX, o tuberculoso trazia uma aura de
excepcionalidade, que o colocava aos olhos de seus contemporâneos, numa
posição de certo refinamento. A concepção da tuberculose seria própria de
uma sensibilidade marcadamente romântica, que se difundia em especial
entre intelectuais e artistas. O termo romântico é definido como uma
sensibilidade peculiar de um determinado período histórico, que desde o
princípio do século XVIII "assume o matiz de 'atraente', de ato de deleitar a
imaginação", vindo "associar-se com outro grupo de conceitos, como
'mágico', 'sugestivo', 'nostálgico', e, sobretudo com palavras que exprimem
estados de alma inefáveis, essência da romanticidade.
Já o grupo G2, usou como tipologia de fontes, em todos os seis artigos, a entrevista
semi- estruturada que segundo Minayo (2010), é uma modalidade de abordagem atual que
desdobra-se em vários indicadores considerados essenciais e suficientes e em tópicos que
contemplem a abrangência das informações esperadas. Neste sentido, Bertazone (2000: 124)
afirma que “como tipologia de fontes foi utilizada a entrevista semi-diretiva gravada, norteada por um
questionário composto por questões abertas e fechadas, após a concordância dos entrevistados,
mediante a assinatura de um termo de consentimento”.
Os artigos, em seu conjunto, utilizaram o método etnográfico de observação
participante, com entrevista semi-estruturada e conversas informais com questões abertas e
fechadas; os prontuários dos doentes e as fichas epidemiológicas de notificação da doença; a
natureza epidemiológica descritiva e sociológica interpretativa; e as entrevistas com história
oral. Souza (2010: 105) destaca em seu artigo que “os dados que foram obtidos através de
entrevistas semi-estruturadas e a análise foi efetuada sob a ótica da análise de conteúdo, tendo como
58
referência a teoria das representações sociais.”
A análise dos artigos que adotaram estes métodos foi efetuada em sua maioria com
base na análise de conteúdo categorial temática. Conforme Bardin (1997: 43):
A análise é subdividida nas seguintes etapas: pré-análise (transcrição das
entrevistas, leitura do material, com registro das impressões sobre a
mensagem); exploração do material (as entrevistas foram lidas várias vezes,
com a sua codificação e com uma reorganização dos códigos, e elaboração
das categorias que convergiram para o tema central); e tratamento dos
resultados obtidos e interpretação (os dados foram discutidos e interpretados
à luz do referencial teórico com apreensão do significado das falas dos
sujeitos do estudo).
Ainda analisando e discutindo os dados, foi elaborado um quadro demonstrativo
(Quadro 4), que aponta em essência as fundamentais ponderações e discussões temáticas
apoiadas pelos autores dos artigos no que concerne a percepção do paciente no tratamento, o
papel do profissional de saúde e conclusão principal.
Quadro 4
Grupo
analítico
G1-A
DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS SOBRE
REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DA TUBERCULOSE NOS PACIENTES EM TRATAMENTO
Papel/ Percepção do paciente
Papel do profissional de saúde
Conclusão
A exclusão social nas confidências
pessoais era declarada como sombria e
dolorida. Os tuberculosos recorriam à
produção de diários, poesias, contos e
romances como forma de expressão de
suas angústias.
O medo do aniquilamento
físico e moral dos
indivíduos e da sociedade
como um todo, associado
ao caráter de
transmissibilidade e
incurabilidade da
tuberculose e da AIDS
Especialistas médicos tentavam a
correção dos espíritos e a cura
dos corpos.
Permitiu um maior conhecimento
público das condições de vida dos
tuberculosos e o reforço das
representações sociais.
Deverão ser fortalecidos pelo
imaginário social, o
conhecimento científico e as
estratégias institucionais.
G1-C
O tuberculoso trazia uma aura de
excepcionalidade, que o colocava, aos
olhos de seus contemporâneos, numa
posição de certo refinamento. A
tuberculose também era vista como um
sinal de caráter nobre, genialidade
artística e intelectual, bem como a
expressão de uma individualidade
incomum. Também era vista como um
tabu, um objeto de interdição e seu
sintoma extremo são a estigmatização do
doente e seu conseqüente isolamento.
G1-D
Tentativa de construir a TB
em suas múltiplas facetas.
A TB fazia com que
houvesse um pavor.
A aparência do
doente evoca uma
concepção
espiritualizada da
doença .A
representação
social da
tuberculose começa
a apresentar
mudanças tanto
quanto mais
complexas se
mostra seu
entendimento à luz
da ciência médica.
A literatura médica tratava como
fenômeno patológico,
identificável por um conjunto de
sintomas.
Destacaram-se
elementos de
aproximação e
distanciamento, nas
dimensões do
conhecimento
científico, bem como
nas estratégias
institucionais.
A tuberculose é uma
enfermidade que tem
cura, não havendo
razões para ser uma
doença estigmatizada.
A observação de
freqüentes recaídas,
nesses grupos sociais,
provoca descrença na
possibilidade de cura
da tuberculose. A
doença é temida ainda
por ser expressão de
algo que é socialmente
digno de censura.
Os médicos viam uma
vontade de luta pela
vida e aceitação de si
como doentes.
G1-B
59
G2-E
G2-F
G2-G
G2-H
G2-I
G2-J
Percebem reações
negativas, onde o
medo da parceria
sexual em adquirir a
infecção/doença pode
causar alterações na
sua vida social,
surgindo também
sentimentos positivos
como situações de
aproximação da
família e amigos para
dar mais atenção.
As representações do corpo, se
configuram de forma mais intensa
durante a doença, afetando assim as
suas relações no cotidiano.
A deterioração dos
serviços de saúde é
fator que contribui
expressivamente para o
recrudescimento desta
doença.. É necessário
profissionais de saúde,
como o enfermeiro,
oferecer assistência
sistematizada aos
portadores de
tuberculose pulmonar.
As experiências
vivenciadas estão
diretamente ligadas ao
convívio com os
familiares e o parceiro,
surgindo assim na maioria
sentimentos negativos
devido ao preconceito que
a doença carrega consigo.
O médico aborda o processo
biológico e corporal minimizando sua
atenção ao paciente como um ser
social, tornando-o mais sujeito à
passividade.
Os pacientes abandonavam o
tratamento, pois não estavam com
vontade, não tinham quem os
levassem, não tinham dinheiro para
o transporte, não tinham com quem
ir, não viam resultado no
tratamento, tinham
constrangimentos devido à
exclusão social.
Existem dificuldades
como a falta de
informação e as
representações
negativas
relacionadas à doença
e ao tratamento, os
problemas sociais,
concorrem para que o
doente de TB
abandone o
tratamento.
O adoecer por TB é
percebido como
sofrimento pelo
isolamento social,
pelas dificuldades de
realizarem o
tratamento, pelo
medo do contágio e
pela mudança na
percepção da imagem
corporal.
Os profissionais foram avaliados
como sendo alguns grosseiros e
outros educados.
Eles não cumpriam os horários que
refletiam
na qualidade do exame clínico e na
interação
com o cliente.
Demonstraram diferenças entre doentes
e médicos no processo de adoecimento
e cura, onde os pacientes enfrentam a
doença com preocupações da vida
social, enquanto que os médicos
encaram como um fato corporal e
biológico.
Fatores múltiplos de natureza complexa,
que influenciam para o abandono do
tratamento. É assentada
predominantemente como econômica,
social e cultural.
As disfunções e o enfraquecimento da
auto-estima, expressando
atitudes de resignação em face da
doença.
Observa-se que o vínculo
e o acolhimento são
essenciais para assegurar a
continuidade do
tratamento. É preciso
reorganizar o processo de
trabalho, a fim de que este
desloque seu eixo central
do médico para uma
equipe multiprofissional.
Os pacientes são receptivos às
visitas, tendo interação com os
profissionais de saúde. A doença é
encarada como péssima e
debilitante para o corpo, muito
visível e carregada de estigma pela
sociedade.
O profissional é bem aceito no
tratamento supervisionado, os
pacientes falam de sua doença e de
questões pessoais que envolvem a
doença. Ele é um elemento
facilitador. Porém também é visto
como um elemento fiscalizador.
O envolvimento dos
profissionais do PSF é
importante. Existem
dificuldades
relacionadas à
assistência de saúde. É
importante ressaltar
que, algumas vezes, o
serviço de saúde
abandona o doente,
negligenciando-o.
É visto como parte do serviço de
saúde onde o tratamento é difícil
estando ancorado nas sensações
desagradáveis que os medicamentos
trazem.
As representações da
tuberculose como
sofrimento apontam a
necessidade de promover a
criação de uma rede de
suporte às pessoas com
tuberculose e de trabalhar
preconceitos, medos e
respeito às diferenças.
As fortalezas percebidas foram:
medicação gratuita, cesta básica, vale
transporte e visita domiciliar, isso
permite um vínculo. As debilidades
percebidas foram: fiscalização na
tomada da medicação, e a dependência
do horário da visita. Além de
isolamento social e preconceito que
vem carregado na doença.
60
Conforme os dois grupos divididos anteriormente, os artigos do G1 trazem como
percepções dos pacientes, algumas concepções negativas e positivas, dentre as negativas
tem-se a maioria, tais como: medo de ficar tísico e morrer porque a doença trazia pavor; a
exclusão social era muito mais dolorida que os padecimentos físicos pela infecção; medo do
aniquilamento físico e moral associado à transmissibilidade e incurabilidade da tuberculose e
da AIDS.
Como concepções positivas tinham-se poucas como: a aura de excepcionalidade, na
época, um sinal de caráter nobre, genialidade artística, intelectual e romântica, ao mesmo
tempo em que também havia uma mistura de concepções negativas, como: a doença também
era vista na época como tabu, com estigmatização do doente e isolamento social. Para a autora
Nascimento (2006: 96):
... qualquer moléstia transmissível e incurável reveste-se de grande poder
simbólico e passa a ser interpretada como "calamidade", "flagelo", "doença
contagiosa grave" e "epidemia com grande poder de mortandade",
assumindo características de peste, perpassando os limites impostos pelas
desigualdades sociais, atingindo de forma transversal todos os segmentos da
sociedade como encarnação do próprio mal.
Já os artigos do G2 também trazem como percepções dos pacientes uma mistura
dessas concepções, cada uma em sua historicidade. Como concepções negativas têm-se: a
representação do corpo, como mudanças corporais, é mais intensa durante a doença, afetando
suas relações como o cotidiano; os pacientes abandonavam o tratamento devido a vários
fatores: não tinham vontade, não tinham dinheiro para o transporte, não viam resultado no
tratamento, tinham constrangimento devido à exclusão social; os pacientes tinham
dificuldades devido à falta de informações e representações negativas relacionado à doença e
o tratamento, abandonando o tratamento devido aos problemas sociais; e o adoecer é
percebido como sofrimento pelo isolamento social, pela dificuldade de realizarem o
tratamento, pelo medo do contágio e da mudança da imagem corporal.
As concepções positivas, embora poucas e vindo juntamente com as negativas também
foram expressas, tais como: aproximação da família e amigos para dar mais atenção ao doente
ao mesmo tempo tendo reações negativas como o medo de transmissão para a parceria sexual
61
alterando a vida sexual; e os pacientes também mostraram reações positivas ao serem
receptivos às visitas domiciliares dos agentes de saúde da família tomando a medicação
corretamente, ao mesmo tempo em que tinham reações negativas como o medo de morrer,
sendo encarada a doença como péssima e debilitante para o corpo, muito visível e carregada
de estigma pela sociedade.
Para melhor exemplificar estas percepções a autora Bertazone (2000: 130) ressalta em
seu artigo que:
... os portadores de tuberculose pulmonar não têm conhecimento a respeito
da doença e não sabem como prevenir a mesma. Eles percebem reações
negativas, onde o medo do próprio portador de transmitir a infecção/doença,
bem como o medo da parceria sexual em adquirir a infecção/doença, pode
causar alterações na sua vida social, afetiva e/ou sexual, resultando na
diminuição da freqüência das relações sexuais, afetando assim a sua relação.
Nesta mesma linha de argumentação, Gonçalves (1999: 171) reforça que:
A concepção de que a tuberculose é ainda uma doença carregada de estigma
social avigora as atitudes de resignação dos doentes diante do sofrimento.
Mesmo hoje se compreendendo que a tuberculose tem cura, prevalece, no
entanto, entre os pacientes, o credo no reaparecimento da tuberculose
reforçando a passividade e descrença, além de comportamentos negativos
em relação à doença.
Quanto ao papel dos profissionais de saúde, os artigos do G1 focaram na figura do
médico e das instituições estatais em seus depoimentos, tais como: os profissionais médicos
da época tratavam a doença como um fenômeno patológico, identificável por um conjunto de
sintomas, onde muita das vezes não havia cura e muitos morriam. Por outro lado, os
especialistas médicos tentavam a correção dos espíritos e a cura dos corpos; a medicina tinha
dificuldades para a realização do tratamento que era possível, mas dependiam das condições
de cada paciente, além da existência de uma concepção espiritualizada da doença; e haviam
estratégias das instituições elaboradas pelo Estado e pelas entidades civis para o controle da
doença.
Neste sentido, de acordo com Pôrto e Nascimento (1995: 102):
Antigamente, a categoria doença era vinculada ao campo da história da
medicina e da epidemiologia histórica. Os relatos ocorriam por meio da
elaboração de teorias, teses e doutrinas que se restringiam a descrever as
enfermidades analisadas. Já a epidemiologia histórica tratava as doenças
como entidades naturais, que podiam se espalhar entre as pessoas e trazer
62
assim conseqüências nefastas à população.
Assim, através disso, o corpo era tratado meramente como objeto de estudo, e apenas
era contabilizado epidemiológica e demograficamente. Bertolli Filho (1999: 518) enfoca em
seu artigo que “havia uma desvinculação com a história particular de vida da pessoa e perdia-se a
oportunidade de tentar entender a complexidade das ligações deste indivíduo com a sociedade, a
cultura e o ambiente no qual ele estava inserido”.
Já os artigos do G2 mostraram o papel dos profissionais de saúde, focalizando em
geral os serviços de saúde e a equipe de profissionais de saúde como um todo, como: há a
deterioração dos serviços de saúde, comunicação com ruídos por parte dos profissionais de
saúde, sendo necessário esses profissionais como o enfermeiro oferecer assistência
sistematizada; nos serviços de saúde o tratamento é difícil devido as sensações desagradáveis
que os medicamentos trazem; os profissionais do PSF são importantes, mas há dificuldades
dos serviços de saúde, que abandona e negligencia o doente, o agente comunitário de saúde
(ACS) é primordial, pois ele representa o elo entre a comunidade e a equipe de saúde da
família; alguns profissionais são grosseiros, outros educados, não tinham interação com o
paciente; o profissional é bem aceito no tratamento supervisionado, é um elemento facilitador,
porém também é visto como um elemento fiscalizador; e o médico aborda somente o processo
biológico e corporal minimizando o ser social.
Ao falar sobre a precariedade dos serviços de saúde como fator propiciador do
abandono do tratamento, Sá (2007: 112) afirma que:
O abandono do tratamento da tuberculose também está relacionado ao
trabalho desenvolvido pelos profissionais de Saúde da Família. É importante
ressaltar que, algumas vezes, o serviço de saúde abandona o doente,
negligencia o acompanhamento dos casos, fragilizando as relações
imprescindíveis ao êxito do tratamento e, em conseqüência, o doente deixa
de tomar a medicação. A quebra de um vínculo compromete o sucesso do
tratamento, principalmente quando se trata do agente comunitário de saúde,
pois este profissional que representa o elo entre a comunidade e a equipe de
Saúde da Família, vem sendo reconhecido como um dos mais envolvidos nas
ações do controle da tuberculose na atenção básica à saúde.
O papel dos serviços de saúde atualmente é desempenhado no controle da tuberculose.
Considerado como uma das questões polêmicas e importantes, o campo institucional tem sido
responsabilizado pelo insucesso do tratamento. Snider 1982 enfatizou a importância do
63
acompanhamento decisivo e motivador para o paciente e para a família na aderência ao
tratamento, criando um elo de respeito e confiança. Neste sentido, Vendramini, (2001: 97)
expõem que “a relação de afeto e respeito entre os profissionais de saúde e pacientes estimula o
seguimento do tratamento, diminuindo os casos de abandono e aumentando as possibilidades de cura.”
Quanto à conclusão principal dos autores, os artigos do G1 trazem: os documentos
mostram a tuberculose como “coisa viva” em que os médicos viam em seus pacientes uma
vontade de luta pela vida e aceitação de si; os tuberculosos expõem nas obras produzidas uma
rede de significados, com percepções e estratégias de vida da comunidade dos excluídos (forte
representação social e estigma aos tísicos); em comparação a tuberculose e a AIDS tem
elementos de aproximação nos conhecimentos científicos e popular como a estigmatização e a
exclusão social e de distanciamento nas estratégias institucionais, pois diferentemente da
tuberculose, a AIDS atingiu as classes mais altas, fazendo com que o Estado interviesse com
mais prioridade; e a tuberculose é uma doença que tem cura não havendo razões para ser
estigmatizada, é temida por ser expressão de algo que é socialmente digno de censura, estágio
último da miséria humana, persistindo no imaginário social a sua estigmatização.
Assim, de acordo com os autores dos artigos deste primeiro grupo analítico a
tuberculose inspirava temores, sendo até comparada com a AIDS pela repercussão em que tais
doenças traziam. Durante o século passado a tuberculose também era interpretada nas
expressões literárias, muitas delas preservadas pelo sigilo familiar, pois apesar de ser um mal
romântico e social, era digno de recriminação e preconceito social., fato destacado por Pôrto
(2007: 108):
A descontinuidade da vida saudável com a vinda desta doença mostra-se
particularmente dramática para aqueles por ela acometidos devido às suas
particularidades. Os doentes experimentam não apenas a sensação de
apartamento da vida social, mas, talvez muito mais tragicamente, a de
divergência entre seus corpos biológicos e seus estados de espírito.
Já os artigos do G2 têm como conclusão principal que: há diferenças entre doentes e
médicos no processo de adoecimento e cura, onde os pacientes enfrentam a doença com
preocupações ligadas à vida social e os médicos encaram como fator corporal e biológico; o
vínculo, o acolhimento e a educação em saúde são essenciais para a continuidade do
tratamento e do autocuidado, é preciso deslocar o eixo central do médico para uma equipe
multiprofissional com parâmetros humanitários; as representações da tuberculose como o
64
sofrimento, apontam necessidade de uma criação de rede de suporte às pessoas com
tuberculose e trabalhar preconceitos, medos e respeito. Desta maneira, Lima et al, (2001: 884)
revela a importância do vínculo entre profissionais e pacientes:
É importante que estes profissionais permitam que os pacientes expressem
suas concepções e sentimentos negativos em relação à doença favorecendo a
superação do preconceito com novos modos de enfrentamento de sua
condição.
Também foram explicitados fatores múltiplos que influenciam direta e indiretamente
para o abandono de tratamento, tais como: o campo institucional e a relação de afeto e
respeito entre profissionais de saúde e pacientes, pois a tuberculose é uma doença econômica,
social e cultural, com enfraquecimento da auto-estima e disfunções biológicas; as
experiências vivenciadas estão ligadas ao convívio com familiares e os parceiros, surgindo
sentimentos negativos devido ao preconceito da doença, e a falta de conhecimento a respeito
da relação da doença com a vida sexual; e por fim foram percebidas fortalezas como:
medicação gratuita, cesta básica, vale transporte e visita familiar (vínculo entre os doentes e
familiares), e também foram percebidas debilidades como: fiscalização da tomada da
medicação, isolamento social e preconceito.
Assim, Souza (2010: 121) reforça a necessidade da inclusão familiar como um ponto
positivo ao tratamento e reabilitação do doente:
É necessária a inclusão da família e de outras pessoas próximas, de modo a
favorecer que tenham maior compreensão das formas de transmissão,
permitindo que essas pessoas possam manter suas relações pessoais e
íntimas de forma mais confiante. Além disso, há também a necessidade de
maior divulgação sobre o que é a tuberculose, de como é transmitida, bem
como de suas manifestações iniciais, promovendo tanto sua prevenção como
o diagnóstico mais precoce, contribuindo para uma nova representação
acerca desta doença.
Desta maneira, os autores deste segundo grupo analítico acreditam de uma forma geral
que os profissionais de saúde como um todo devem entender que esta doença se agrega ao
cotidiano dos pacientes abrangidos e que não é apenas uma enfermidade física, com
conjuntura biológica e corporal.
65
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho revelou as percepções dos pacientes em tratamento de tuberculose sobre
sua doença e suas repercussões psicossociais, através da revisão de uma parte da literatura
com seleções das publicações a respeito deste tema, tendo sido especificadas as categorias de
análise usadas pelos autores dos trabalhos analisados, identificando e comparando as
diferentes percepções apresentadas.
Verificou-se com a análise dos dados a percepção dos doentes em dois momentos
distintos: um primeiro momento antes de 1950, quando o tratamento existente era a terapia
higieno-dietética e algumas intervenções cirúrgicas; e um segundo momento, ao longo da
virada do século XX para o XXI em um contexto de discussões acerca do tratamento em geral
e da avaliação do PNCT.
As percepções dos pacientes apresentadas pelos autores dos artigos analisados no
primeiro momento histórico da tuberculose através de depoimentos, correspondências, obras
poéticas literárias da época, foram algumas concepções negativas e positivas, dentre as
negativas tem-se a maioria, tais como: medo de morrer; medo da exclusão social; medo do
aniquilamento físico e moral associado à transmissibilidade e incurabilidade da tuberculose.
Como concepções positivas tinham-se poucas como: a aura de excepcionalidade, na época,
um sinal de caráter nobre e romântico.
Já as percepções dos pacientes apresentadas pelos autores dos artigos analisados no
segundo momento da tuberculose através de entrevistas trazem uma mistura dessas
concepções. Como concepções negativas têm-se a representação do corpo; o abandono do
tratamento devido à exclusão social; o adoecer era percebido como sofrimento pelo medo do
contágio. As concepções positivas, embora poucas foram expressas juntamente com as
percepções negativas como a aproximação da família e amigos ao mesmo tempo tendo
reações negativas como o medo de transmissão para o parceiro sexual; os pacientes também
mostraram reações positivas ao serem receptivos às visitas domiciliares do PSF, ao mesmo
tempo em que tinham reações negativas encarando a doença como péssima e debilitante para
o corpo, muito visível e carregada de estigma pela sociedade, o que influenciou no
comportamento destes pacientes interferindo na continuidade do tratamento.
66
A atuação dos profissionais de saúde no primeiro momento analisado focou-se na
figura do médico e das instituições estatais, onde os médicos tratavam a doença como um
fenômeno patológico, identificável por um conjunto de sintomas, tentavam a correção dos
espíritos e a cura dos corpos; a medicina tinha dificuldades para a realização do tratamento
que era possível, mas com algumas debilidades; haviam estratégias das instituições elaboradas
pelo Estado e pelas entidades civis para o controle da doença.
Já na análise do segundo momento focalizou em geral nos serviços de saúde e na
equipe de profissionais como um todo incluindo o PNCT, com pontos negativos e positivos.
Como pontos negativos têm-se a deterioração dos serviços de saúde, a comunicação com
ruídos por parte dos profissionais de saúde, o abandono e a negligência ao doente pelos
serviços de saúde. Como pontos positivos têm-se que alguns profissionais são educados com
os pacientes escutando e acolhendo; o profissional do PSF é bem aceito no tratamento
supervisionado visto como um elemento facilitador, mas ao mesmo tempo fiscalizador.
Deste modo, considerando as novas feições que a tuberculose vem assumindo não
apenas nos meios científicos, mas no imaginário social, ainda é cedo para saber quais
caracteres da doença serão lembrados quando no futuro se quiser revisitar o momento
presente. Evitar a reprodução de estigmas e a elaboração de novas metáforas para a doença
seria um avanço para a representação da tuberculose. Superestimar o impacto da tecnologia é
injusto para muitas pessoas que anteriormente não puderam ter atendidas suas expectativas
quanto a tratamentos e prevenção que hoje em dia é muito mais apropriado. E mesmo assim,
após o controle epidemiológico da doença, a tuberculose continua a inspirar os temores do
passado, mesmo sendo hoje compartilhados por doenças de grande repercussão como a AIDS.
Ao lado das tradicionais abordagens de intervenção institucional, como o próprio
PNCT, pode-se refletir sobre a contemplação de uma dimensão integradora, na direção da
concepção do modelo de promoção à saúde. A diversidade e complexidade dos fatores
relacionados ao tratamento da tuberculose, como a obtenção do sucesso terapêutico vai além
da eficácia farmacológica, existindo dificuldades relacionadas ao paciente, ao tratamento
empregado e à operacionalização do cuidado nos serviços de saúde. As estratégias de controle
da tuberculose e formas de prevenir o abandono terapêutico são diversificadas. Cabe aos
profissionais da atenção básica à saúde desenvolver o cuidado centrado no trabalho em equipe
e com base nas necessidades da pessoa e das famílias assistidas, estando fundamentado no
resgate da humanização do cuidado. É premente a necessidade dos profissionais de saúde,
67
onde destaca-se o enfermeiro, envidar esforços no sentido de oferecer assistência
sistematizada aos portadores de tuberculose. Dessa forma precisa-se de subsídios para que os
profissionais de saúde compreendam a experiência dos portadores de tuberculose e possam
trabalhar diversos aspectos da vida social, com o intuito de promover uma assistência à saúde
integral e de qualidade.
A sociedade provoca mudanças no comportamento de um indivíduo, sobretudo
quando o mesmo adquire uma doença como a tuberculose. Assim, os portadores desta
enfermidade e seus familiares deveriam receber mais atenção no que diz respeito às
orientações sobre a sua doença, com recursos de cartazes com histórias em quadrinhos; com
uma linguagem mais popular como explicitado no Anexo A, (mesmo este não utilizando
imagens) e menos técnica conforme o cartaz exposto no Anexo B, (pois mesmo fazendo uso
de imagens, a linguagem não foi codificada de forma coloquial) a fim de atingir não só os
pacientes tuberculosos, mas a sociedade em geral, como os estudantes da rede pública e
privada podendo usá-los como irradiadores deste conhecimento para a sua comunidade.
Assim, o desenvolvimento deste estudo é relevante, pois para o campo da pesquisa
contribui através de ferramentas de análise de literatura por meio de quadros analíticos e de
comparação entre os textos selecionados com uma análise indireta dos dados. E para a área da
assistência, contribui para que os profissionais de saúde realizem alianças entre a prática
científica com práticas educativas em saúde. Uma vez que conhecendo as percepções e os
sentimentos sobre a doença que envolvem o paciente, pode-se programar uma assistência
específica, resultando na eficácia das ações do profissional e do tratamento.
Desta forma, espera-se que este trabalho servirá como um instrumento importante para
os gestores repensarem as atuais estratégias de implementação das políticas públicas de
controle e tratamento da tuberculose no Brasil.
68
FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fontes Oficiais:
BRASIL. Lei n° 6.151, de 04 de dezembro de 1974. Dispõe sobre o Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND), para o período de 1975 a 1979. 1974. Disponível em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei_fed_6151-74.pdf. Acesso em: 11 de fev. de
2011.
_______. Ministério da Saúde. DATASUS. Indicadores e dados básicos. 2008. Disponível em:
http://www.datasus.gov.br/idb. Acesso em: 12 de nov. de 2010.
_______. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
[2009?] Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/index. php?name=Tnet. Acesso
em: 10 de nov. de 2010.
_______. Ministério da Saúde. Fundo Global. Situação da Tuberculose no Brasil e no Mundo.
Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 2006. Disponível em:
http://www.fundoglobaltb.org.br/download/Apresentacao_geral_Draurio_Barreira.pdf.
Acesso em: 11 de fev. de 2011.
_______. Ministério da Saúde. Instrutivo Para Preenchimento Da Programação Das Ações De
Vigilância Em Saúde Nas Unidades Federadas – 2010 – 2011 Tuberculose. Secretaria de
Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Brasília, 2009.
_______. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no
Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
Brasília, 2010.
Artigos analisados:
BERTAZONE E.C.; GIR, E. “Aspectos gerais da sexualidade dos portadores de tuberculose
pulmonar atendidos em unidades básicas de saúde de Ribeirão Preto-SP” Rev. Latino-Am.
Enfermagem v.8 n.1: 120-140 Ribeirão Preto jan. 2000.
BERTOLLI FILHO, C.‘Antropologia da doença e do doente: percepções e estratégias de vida dos
tuberculosos’ História, Ciências, Saúde — Manguinhos VI (3): 493-522 nov. 1999-fev.
2000.
GONÇALVES H.; COSTA, J.D.; MENEZES, A.M.B .“Percepções e limites: visão do corpo e da
doença”. Physis: Revista de Saúde Coletiva v.9 n.1: 151-173 Rio de Janeiro jan./jun. 1999.
LIMA, M.B., et al. “Estudo de casos sobre abandono do tratamento da tuberculose: avaliação do
atendimento, percepção e conhecimentos sobre a doença na perspectiva dos clientes
69
(Fortaleza, Ceará, Brasil)” Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17 (4): 877-885 jul-ago,
2001.
NASCIMENTO, D.R.” As pestes do século XX: tuberculose e AIDS no Brasil, uma história
comparada” Cad. Saúde Pública vol.22 no. 2: 96-123 Rio de Janeiro Fev. 2006
PÔRTO, A.A. “Representações sociais da tuberculose: estigma e preconceito” Rev. Saúde
Pública v.41 supl.1: 100-120 São Paulo set. 2007
PORTO, A.A.; NASCIMENTO, D.R. “Tuberculosos e seus itinerários”. História, Ciências, SaúdeManguinhos, vol.1, nº. 2: 100-117, Rio de Janeiro, nov. 1994-fev.1995.
SÁ, L.D. et al. “Tratamento da tuberculose em unidades de saúde da família: histórias de abandono”
Texto contexto Enfermagem. v. 16 n.4: 80-114 Florianópolis out./dez. 2007.
SOUZA, S.S.; SILVA, D.M.G.V.; MEIRELLES, B.H.S. “Representações sociais sobre a
tuberculose” Acta paul. enferm. vol.23 no. 1: 112-130 São Paulo 2010.
VENDRAMINI, S. H. F.” O tratamento supervisionado no controle da tuberculose em Ribeirão Preto
sob a percepção do doente” Rev. Latino-Am. Enfermagem v.9 n.1: 78-106 Ribeirão
Preto jan.2001.
Bibliografia Geral:
ALMEIDA, A.B.S. De moléstia do trabalho a doença profissional: contribuição ao estudo das
doenças do trabalho no Brasil. Niterói, UFF, Dissertação de Mestrado em História, 1994.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edição 70, 1997. 225 p.
BERTOLLI FILHO, C. História Social da Tuberculose e do Tuberculoso: 1900-1950. Rio de
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001.
CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, Vozes: 2008.
FERNANDES, T.M.D.; NASCIMENTO, D.R.; ALMEIDA, A.B.S.; Memória da Tuberculose:
acervo de depoimentos. Rio de Janeiro. FIOCRUZ: Casa de Oswaldo Cruz/ Fundação
Nacional de Saúde: Centro de Referência Professor Hélio Fraga: Coordenação Nacional de
Pneumologia Sanitária, 1993.
FONSECA, C.M.O. Saúde no Governo Vargas (1930-1945): dualidade institucional de um bem
público. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4ª Ed. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 2008.
GOMES,
M.
Tuberculose:
uma
viagem
no
tempo.
[s/d]
Disponível
em:
http://www.pulmonar.org.br/blog/tuberculose/tuberculose-uma-viagem-no-tempo. Acesso em:
09 de nov. de 2010.
70
GONÇALVES, H. “Corpo doente: Estudo acerca da percepção corporal da tuberculose”. In: Doença,
Sofrimento, Perturbação: Perspectivas Etnográficas (L.F. Duarte & O.F. Leal, org.), pp.
105- 120. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1998.
HIJJAR, M.A. et al. “Retrospecto do controle da tuberculose no Brasil” Rev. Saúde
Pública v.41 supl.1 São Paulo set. 2007.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. 3.ed. São Paulo
(SP): Atlas, 1995. UERJ, 2005.
MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa Social: teoria, metodologia e criatividade. (19. ed..)
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. Ed. - São
Paulo: Hucitec, 2010.
NASCIMENTO, D.R. Fundação Ataulpho de Paiva: (Liga Brasileira contra a Tuberculose): um
século de luta – Rio de Janeiro: Quadratim, 2002.
PEREIRA W.S.B. Tuberculose: sofrimento e ilusões no tratamento interrompido [dissertação].
João Pessoa (PB): UFPB/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 1998.
ROMAN, A. R.; FRIEDLANDER, M. R. Revisão Integrativa de pesquisa aplicada à Enfermagem.
Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 109-112, 1998.
RUFFINO NETTO, A. Tuberculose: a calamidade negligenciada. Rev Soc Bras Med Trop.
2002;35(1):51-8.
SANTIAGO, M.M.A., PALÁCIOS, M. Temas éticos e bioéticos que inquietaram a Enfermagem:
publicações da REBEn de 1970-2000. Rev. Bras. Enferm. v.59, n.3, p.349-53, maio-jun,
2006.
SANTOS FILHO, J. C.; GAMBOA, S. S. Pesquisa educacional: quantidade qualidade. São Paulo:
Cortez, p.23,1995.
SNIDER, D. E. Reseña sobre el cumplimiento de las prescripciones en los programas de la
tuberculosis. Boletin de la Unión Internacional de la Tuberculosis, 57:255-260, 1982.
SONTAG, S. Doença como Metáfora, AIDS e suas metáforas - São Paulo: Companhia das Letras,
2007.
VAZ, M. R. C. Conceito e Práticas de Saúde: Ilustrando Através da Tuberculose. Pelotas: Ed.
Universitária/UFPel, 1996.
WHO. World Health Organization. Tuberculosis: incidence of tuberculosis. 2008. Disponível em:
http://www.gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/MDG6TB/atlas.html?indicator=i0&date=2008. Acesso em: 16 de fev. de 2011.
71
ANEXOS
72
ANEXO A
Imagens – cartaz 1 (Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/php/index.php)
73
ANEXO B
Imagens –cartaz 2 (Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/php/index.php)