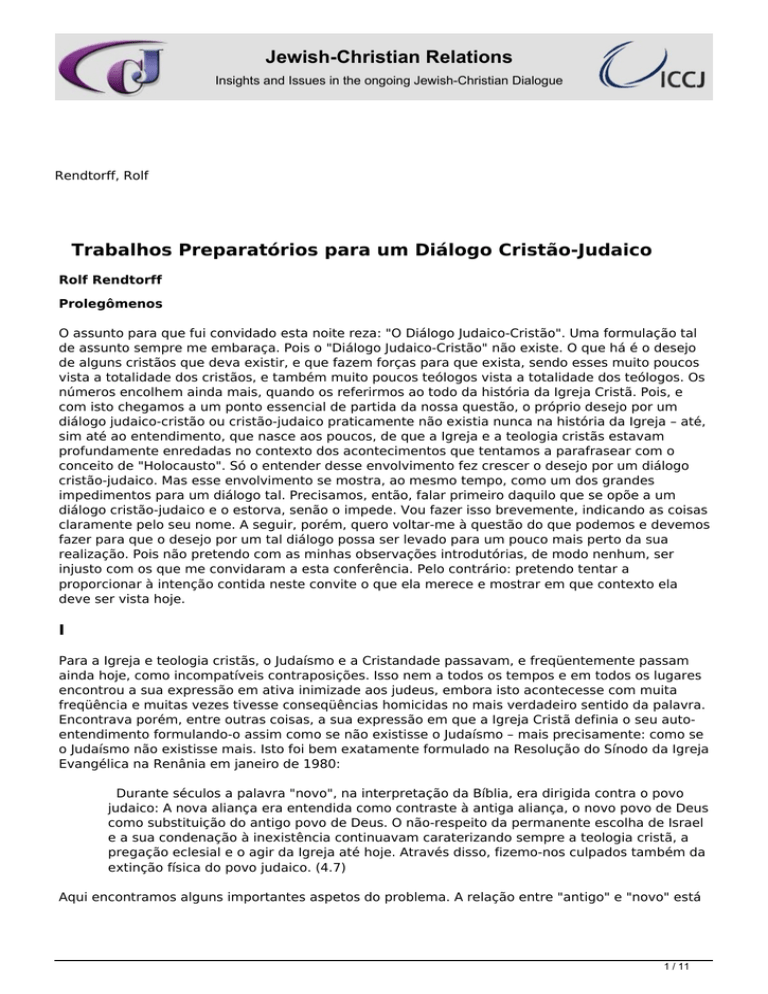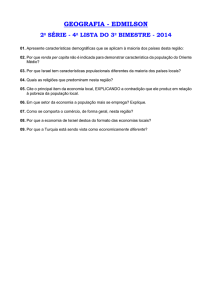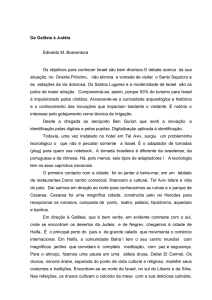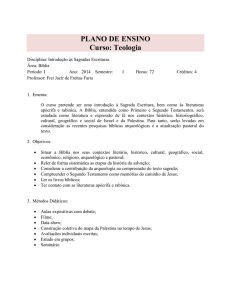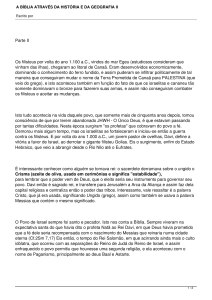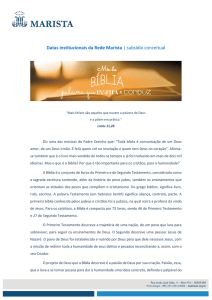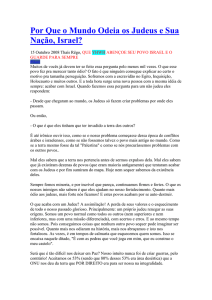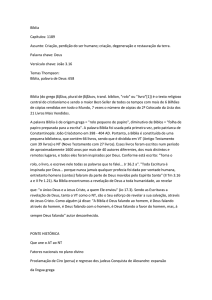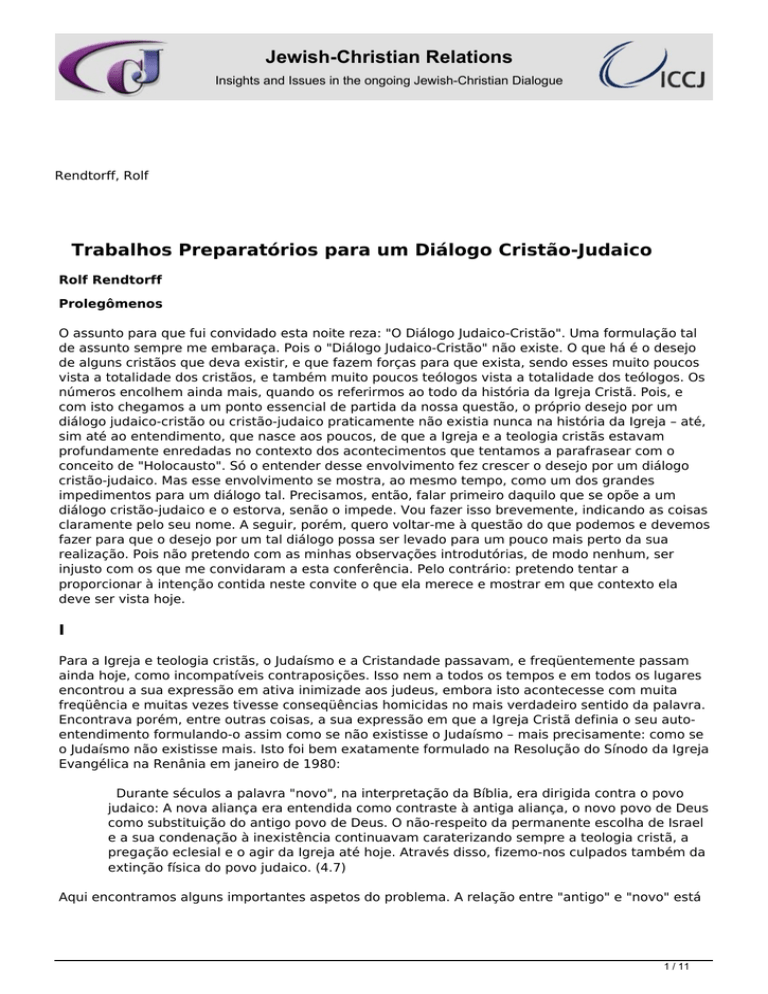
Jewish-Christian Relations
Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue
Rendtorff, Rolf
Trabalhos Preparatórios para um Diálogo Cristão-Judaico
Rolf Rendtorff
Prolegômenos
O assunto para que fui convidado esta noite reza: "O Diálogo Judaico-Cristão". Uma formulação tal
de assunto sempre me embaraça. Pois o "Diálogo Judaico-Cristão" não existe. O que há é o desejo
de alguns cristãos que deva existir, e que fazem forças para que exista, sendo esses muito poucos
vista a totalidade dos cristãos, e também muito poucos teólogos vista a totalidade dos teólogos. Os
números encolhem ainda mais, quando os referirmos ao todo da história da Igreja Cristã. Pois, e
com isto chegamos a um ponto essencial de partida da nossa questão, o próprio desejo por um
diálogo judaico-cristão ou cristão-judaico praticamente não existia nunca na história da Igreja – até,
sim até ao entendimento, que nasce aos poucos, de que a Igreja e a teologia cristãs estavam
profundamente enredadas no contexto dos acontecimentos que tentamos a parafrasear com o
conceito de "Holocausto". Só o entender desse envolvimento fez crescer o desejo por um diálogo
cristão-judaico. Mas esse envolvimento se mostra, ao mesmo tempo, como um dos grandes
impedimentos para um diálogo tal. Precisamos, então, falar primeiro daquilo que se opõe a um
diálogo cristão-judaico e o estorva, senão o impede. Vou fazer isso brevemente, indicando as coisas
claramente pelo seu nome. A seguir, porém, quero voltar-me à questão do que podemos e devemos
fazer para que o desejo por um tal diálogo possa ser levado para um pouco mais perto da sua
realização. Pois não pretendo com as minhas observações introdutórias, de modo nenhum, ser
injusto com os que me convidaram a esta conferência. Pelo contrário: pretendo tentar a
proporcionar à intenção contida neste convite o que ela merece e mostrar em que contexto ela
deve ser vista hoje.
I
Para a Igreja e teologia cristãs, o Judaísmo e a Cristandade passavam, e freqüentemente passam
ainda hoje, como incompatíveis contraposições. Isso nem a todos os tempos e em todos os lugares
encontrou a sua expressão em ativa inimizade aos judeus, embora isto acontecesse com muita
freqüência e muitas vezes tivesse conseqüências homicidas no mais verdadeiro sentido da palavra.
Encontrava porém, entre outras coisas, a sua expressão em que a Igreja Cristã definia o seu autoentendimento formulando-o assim como se não existisse o Judaísmo – mais precisamente: como se
o Judaísmo não existisse mais. Isto foi bem exatamente formulado na Resolução do Sínodo da Igreja
Evangélica na Renânia em janeiro de 1980:
Durante séculos a palavra "novo", na interpretação da Bíblia, era dirigida contra o povo
judaico: A nova aliança era entendida como contraste à antiga aliança, o novo povo de Deus
como substituição do antigo povo de Deus. O não-respeito da permanente escolha de Israel
e a sua condenação à inexistência continuavam caraterizando sempre a teologia cristã, a
pregação eclesial e o agir da Igreja até hoje. Através disso, fizemo-nos culpados também da
extinção física do povo judaico. (4.7)
Aqui encontramos alguns importantes aspetos do problema. A relação entre "antigo" e "novo" está
1 / 11
sendo ostentada em diferentes direções: antiga aliança e nova aliança, antigo povo de Deus e novo
povo de Deus, substituição do antigo pelo novo, contraste entre o antigo e o novo – até a
condenação do antigo à inexistência. Exatamente esta última formulação me parece ser de
importância especial: Pelo não-respeito da sua existência atual, o Judaísmo era condenado à
inexistência. O Judaísmo, para a tradição cristã, pertencia ao passado. Para o presente, não importa
nada; não existe mais.
O confronto de "antigo" e "novo" tem, porém, também o seu lado "agressivo", para dizê-lo uma vez
assim. O novo suplanta o velho; quer dizer: a Cristandade suplanta o Judaísmo. Isso se exprime sob
vários aspetos. De um lado, na doutrina da substituição, da troca do antigo pelo novo. Segundo isto,
a Cristandade substituiu o Judaísmo, respetivamente o Israel bíblico. A Igreja é o "novo Israel".
(Voltarei a isso.) Mas o quê, então, tem sido feito de Israel? A resposta que a teologia cristã dava
através dos séculos muitas vezes e mais muitas vezes, é muito unívoca: Israel foi rejeitado por
Deus. Não quero desdobrar isso agora; as nossas bibliotecas teológicas estão cheias de livros nos
quais essa doutrina está sendo defendida de uma ou outra forma.
Entre a Igreja como o novo Israel escolhido por Deus e o antigo Judaísmo rejeitado por Deus, não
pode haver conversa nenhuma, e muito menos diálogo nenhum. Nesse lugar entra agora,
nomeadamente na teologia protestante, uma outra coisa: a missão aos judeus. É impressionante e
assustador ver como os primeiros pronunciamentos eclesiais depois do Holocausto juntam três
coisas umas com as outras: a confissão de culpa da Igreja por causa da sua co-culpa no Holocausto,
a doutrina da rejeição de Israel e a enérgica exortação para o reforço da missão aos judeus. Aos
mais jovens entre os senhores, esse aspeto da nossa tradição teológica, provavelmente, não é mais
conhecido. Por isso, queria citar algumas frases dum documento que reflete isso
impressionantemente. É o "Wort zur Judenfrage" (‘Palavra à Questão dos Judeus’) no mês de abril
de 1948. Foi resolvido no "Bruderrat der Evangelischen Kirche in Deutschland" (‘Conselho dos
Irmãos da Igreja Evangélica na Alemanha’), a saber dum grêmio que ainda depois e 1945
representava a tradição da Bekennende Kirche (Igreja Confissante) do tempo da luta eclesial. Aí
estava representado quase tudo que então tinha posição e nome eclesiais e teológicos na
Alemanha. Essa Palavra contém a doutrina de substituição e rejeição em forma concentrada – uma
leitura que é hoje não mais que dificilmente suportável! E então segue no trecho final um apelo
para a missão aos judeus:
Levantai perante Israel o testemunho da vossa fé e os sinais do vosso amor com especial
cuidado e zelo desdobrado. Dizei-lhes que as promessas do Antigo Testamento são em Jesus
Cristo cumpridas... Bem sabemos que somos, através da nossa profissão ao Cristo
crucificado, dolorosamente separados daquela parte de Israel que permanece na rejeição do
seu rei... Mas queremos não cansar da súplica por Israel e ficar atentos pelo significado do
sinal do seu destino.
Cito isso para fazer conhecido que, também na primeira fase da nova conscientização depois do
Holocausto, alguma coisa como diálogo entre cristãos e judeus era completamente impensável. Se
judeus entraram no campo visual, era na melhor maneira como objetos da missão aos judeus. Isso
combina com o que foi dito: Do ponto desta vista cristã, Judaísmo atual, teologicamente, não tem
direito a existir. Judeus, no fundo, são cristãos potenciais. Esperam por sua conversão, só que não o
sabem ainda. Por isso, precisamos dizê-lo a eles. Evidentemente, nenhum judeu pode ou quer meterse num "diálogo" tal. Portanto, é o desistir da missão aos judeus uma das fundamentais condições
prévias para qualquer conversa entre cristãos e judeus. Felizmente, isso já aconteceu em âmbito
considerável (talvez menos em Vurtemberga!)
Dos muitos aspetos de todo este círculo de problemas, quero salientar mais um agora, que para nós
nas faculdades teológicas é de especial importância: a relação entre Antigo e Novo Testamento. De
certo modo, refletem-se aqui todos os aspetos mencionados até agora. Existe uma ampla tradição
de teologia bíblica cristã, na qual os teólogos cristãos reivindicam para si o monopólio da
2 / 11
interpretação do "Antigo Testamento". O que é "verdadeiro", conforme essa opinião, não pode ser
dito senão a partir do Novo Testamento, e não pode, dentro da Igreja e teologia cristãs, ser
ratificado ou ter valor senão aquilo que é "verdadeiro" segundo aquele monopólio. Aqui manifestase outra vez o fenômeno da inexistência do Judaísmo para a teologia cristão. Pois em toda essa
discussão, até faz pouco tempo, a questão dum próprio entendimento judaico da Bíblia não tinha
importância nenhuma. E por isso, a relação entre interpretação judaica e cristã da Bíblia quase não
foi tratado. Nomeadamente, não foi posta a questão duma possível continuidade entre o
entendimento judaico e o cristão da Bíblia.
Aqui há, agora, primeiros sinais duma nova reflexão. Nisso, o ensaio do teólogo judaico americano
Jon Levenson joga um papel importante, ensaio esse que saiu em tradução alemã sob o título
"Warum Juden sich nicht für biblische Theologie interessieren" [‘Porquê Judeus não se Interessam
por Teologia Bíblica’] (EvTh 1991). O título não pretendia ser propriamente provocativo. O autor,
porém, pretendia chamar energicamente a atenção para o fato de que a interpretação "teológica"
de textos bíblicos, então também dos do "Antigo Testamento", geralmente estaria sendo feita sob
aspetos cristãos e, portanto, não seria de interesse para judeus. Não quis dizer, obviamente, que
judeus não se interessariam de modo nenhum por uma interpretação teológica do Antigo
Testamento, respetivamente da Bíblia Hebraica; isso mostram as demais publicações dele muito
impressionantemente. Mas sim considerou a interpretação cristã como unilateral, repreendendo os
cristãos por não serem "cônscios da limitação do contexto do seu empreendimento", na medida em
que ignorariam um ramo inteiro da interpretação da Bíblia. Os senhores estão, aqui em Tübingen,
na situação privilegiada de que já receberam notícia dum novo começo tal; pois o colega, o Sr.
Janowski, já se arranjou, na sua preleção inaugural no começo deste ano, pormenorizadamente com
a proposta de Jon Levenson. Na ocasião, esclareceu a mudança fundamental que vai resultar,
quando se entrar nessa questão:
A teologia cristã deve, na questão pela unidade da Escritura..., levar em conta que o Antigo
Testamento, como primeira parte da Bíblia cristã, era antes a Sagrada Escritura do Judaísmo
– e o continua sendo. Como a Bíblia cristã consta de duas partes, cuja primeira parte, como
Tanak, é ao mesmo tempo a Bíblia de Israel, permanece tudo aquilo que for para expor ao
assunto "unidade da Escritura’ exposto ao diálogo com o Judaísmo.
Aqui comparece o Judaísmo como grandeza viva e presente. Não só tinha a primeira parte da nossa
Bíblia cristã como Sagrada Escritura, mas sim a tem ainda. Com esta questão cada interpretação
cristã se deve arranjar – e penso até que deve começar com isso. Pois essa parte da Bíblia já era a
Bíblia de Israel, antes de que o Cristianismo nasceu. E era a Bíblia de Jesus e dos primeiros cristãos,
porque eram judeus. Se fizermos as perguntas a partir do Novo Testamento, como que damos uma
volta ao problema perguntando: Como pode uma parte da Bíblia cristã ao mesmo tempo ser a Bíblia
judaica? Mas a própria pergunta soa inversa: Como a Bíblia de Israel pôde chegar a ser a Bíblia da
Cristandade?
Assim, a questão da relação do Antigo e Novo Testamento leva, afinal, outra vez ao problema do
"esquecimento de Israel" da teologia cristã. Pois não só a Bíblia de Israel existia antes de que
nasceu a Cristandade, mas sim, antes de tudo, existia Israel. Aqui jaz o decisivo começo para a
necessária mudança de pensar visando a relação entre Judaísmo e Cristandade. Devemos começar
com a prioridade de Israel. A existência de Israel não precisa de justificação perante a Cristandade.
Preciso é, sim, descrever explicando como para fora do Judaísmo podia-se desenvolver uma nova
comunidade, que finalmente se separou do Judaísmo, evoluindo para uma "religião" própria.
Penso que nesse lugar devem começar os trabalhos teológicos preparatórios para um diálogo
cristão-judaico.
II
3 / 11
Decisivo nisso é o ponto de partida. Teólogos cristãos tentam, em geral, definir Israel a partir dum
ponto de vista cristão. Aguçado: tentam indicar a Israel um lugar na estrutura do pensamento
cristão ou encontrar para Israel um adequado lugar nessa estrutura de pensar. Mas devemos verter
a questão, para assim dizer pô-la da cabeça aos pés. No começo está Israel. Em Israel surge um
movimento messiânico, provocado pela aparição dum homem denominado Jesus, considerado pelos
seus seguidores como o anunciado salvador escatológico, como o "Messíah". Podemos, no
momento, deixar de lado as questões se Jesus mesmo se considerava como o Messíah e até que
ponto o conceito "Messíah" é apropriado no contexto judaico daquele tempo. Claro está que, depois
da morte de Jesus, havia um número de judeus que se distinguiam dos demais judeus por crerem no
Jesus ressuscitado como o "Cristo". Agora se pode dizer que havia crentes de Cristo, então
"cristãos", mas não havia ainda uma "Cristandade"; pois esses cristãos eram judeus, um grupo
dentro do Judaísmo, uma seita "messiânica", em que o conceito de seita tem sentido puramente
definível, não tendo significado desqualificativo.
A questão agora é: A partir de quando havia uma Cristandade distinguível do Judaísmo? Em At
11,26 encontra-se a anotação de que primeiro em Antioquia os discípulos (matetai) foram
denominados de hristianoi, "cristãos". Isto é obviamente uma retrospectiva ao começo duma prática
comumente em uso no tempo da confecção do texto. Certamente não é por acaso que esse uso se
formou fora da Terra de Israel (resp. Judéia), quer dizer numa área em que certamente a maioria
dos denominados de "cristãos" não eram judeus. Também a disputa de Paulo em Rm 9-11 deixa
claramente entender que o problema do relacionamento dos cristãos aos judeus era discutido numa
comunidade preponderantemente não-judaica, a saber em Roma. Com isso, surge um aspeto muito
essencial o auto-entendimento dessa nova comunidade. De um lado estava, pela pregação dos
apóstolos, inteiramente na tradição judaica, quer dizer, antes de tudo, também na tradição bíblica.
A Bíblia judaica era também a Sagrada Escritura dela. De outro lado, os seus membros não
pertenciam ao povo judaico, e é que exatamente Paulo lhes tinha ensinado que o critério
fundamental da pertencia ao povo judaico, a circuncisão e com isto a obrigação de observar a
Toráh, não valesse para eles. Pertenciam aos etne, aos povos.
Essa é a questão chave para o nosso problema. Pela extensão da mensagem cristã para além da
margem do povo judaico, nasceu uma nova comunidade que não podia mais ser entendida como
um grupo dentro do Judaísmo, e que ela mesma também não se entendia mais assim. Paulo deu a
isso, na carta aos Gálatas, um comentário bíblico muito interessante: "Porque a Escritura previu que
Deus justifica os pagãos (etne) pela fé, anunciou a Abraão de antemão: ‘Em ti serão abençoados
todos os pagãos (etne)’." (Gl 3,8, citado e Gn 12,3par). Agora, então, cumpre-se aquilo que Deus
tinha em mente quando falou a Abraão pela primeira vez. Decisivo nisso é que a salvação chega aos
povos através de Israel. Disso, a Bíblia fala também em outros lugares, assim quando diz, no livro
de Yesayah, do servo de Deus, que será uma "luz para os povos" (‘ôr goyím’ Is 42,6), ou no último
profeta, em Malaki: "Do nascer do sol até ao seu pôr, meu nome é grande nos povos" (Ml 1,11).
Mas como devemos agora definir essa nova comunidade? Com isto, estamos outra vez nas nossas
premeditações iniciais. O que agora não podemos fazer mais é pôr essa recém-nascida comunidade,
a "Igreja", simplesmente no lugar de Israel, como isso acontece com demasiada freqüência na
tradição cristã. Assim, p. ex., fala-se muitas vezes do "novo Israel" opondo este ao "antigo Israel"
que aquele teria supostamente substituído. Nisso dá-se freqüentemente a aparência de como se
tratasse nisso de terminologia bíblica. Entre teólogos, essa aparência ainda é reforçada pelo uso das
fórmulas de ‘Israel kata sarka’ (Israel segundo a carne) e ‘Israel kata pneuma’ (Israel segundo o
espírito), como se trataria aqui dum autêntico par de conceitos neotestamentário. Mas nem o
conceito "novo Israel" nem a expressão ‘Israel kata pneuma’ ocorrem no Novo Testamento, e o
conceito ‘Israel kata sarka’, no único lugar em que ocorre, sem dúvida não tem o significado que lhe
foi atribuído nesse contexto.
É interessante ver como aqui desejoso pensamento teológico produziu formulações que tinham
conseqüências de grande alcance. Defronte disso, é agora a nossa tarefa definir a identidade da
4 / 11
Igreja cristã assim que nisso a identidade de Israel continue guardada. Agora, não somos aqui os
primeiros que tentem isso. Nomeadamente no contexto dos esforços por um diálogo cristão-judaico
este problema, naturalmente, tem sido visto há muito tempo. As primeiras partidas intensivas
houve no quadro do Dia Eclesial Evangélico Alemão (des Deutschen Evangelischen Kirchentages).
Ali existe, desde 1961, uma permanente "Arbeitsgemeinschaft für Juden und Christen" (Grêmio de
Trabalho para Judeus e Cristãos) – aliás, o único grêmio do Dia Eclesial que já tanto tempo trabalha
continuamente. Os resultados dos primeiros Dias Eclesiais foram publicados, e os títulos dos livros
são muito elucidativos para a nossa questão. O primeiro tinha o título de "Der ungekündigte Bund"
(‘A Aliança Não-denunciada’). Aqui expressa-se o entendimento, nascendo aos poucos entre os
cristãos, de que a Aliança, que Deus segundo a visão da Bíblia concluiu com Israel, continua
existindo, e que nós, como cristãos, não nos podemos simplesmente apropriar dela. Mas com isso
põe-se a pergunta de como então a identidade da comunidade cristã possa ser determinada. O
título do volume seguinte era: "Das gespaltene Gottesvolk" (‘O Povo de Deus Dividido’). Aqui,
embora fosse mantida a concepção de que a Igreja seria o povo de Deus, mas como não se
pretendia negar esse título a Israel, surgiu a idéia de que o povo de Deus estaria agora dividido.
Com isso, foi enfatizada a pertença ao mesmo dos judeus e cristãos e, também, visada a
perspectiva duma futura recuperação da unidade agora partida.
Um passo a mais deu, então, o Sínodo renânio de 1980, este que citei já no início. Fez uma distinção
entre "Povo de Deus" e "Aliança".
Cremos a escolha permanente do povo judaico como povo de Deus, conhecendo que a
Igreja, através de Jesus Cristo, está incluída na Aliança de Deus com o seu povo (4.4).
Aqui então, muito conscientemente, o título "Povo de Deus" é reservado para o povo judaico. Ao
mesmo tempo, o conceito de aliança não é considerado idêntico com aquele de povo, mas sim
entendido num sentido mais amplo, assim que possa abranger também a Igreja. É nomeadamente
no tempo recente que esta questão está sendo discutida vivamente. Nisso, antes de tudo, o
conceito de aliança está discutido. Mostrou-se que, a partir da noção dos conceitos da Bíblia
Hebraica, não há caminho direto que conduza à ampliação do conceito de aliança para além da
margem de Israel. O conceito neotestamentário de aliança, por outro lado, não parte imediatamente
da Bíblia Hebraica; sobretudo, nunca significa a comunidade ou um grupo nesta. (Interessante é o
conceito de aliança nos textos de Qumran, para o que o Sr. Lichtenberger chamou a atenção.) O
ulterior desenvolvimento na teologia cristã, aliás, não se atou imediatamente aos partidos bíblicos,
quando se pensar, p. ex., na teologia reformada de aliança dos séculos 16 e 17, ou na ulterior
evolução do conceito de aliança na teologia de Karl Barth.
Assim, resultou aqui um campo para a discussão teológica, campo esse que está totalmente aberto
ainda. O decisivo, porém, é que, nessas tentativas de definição, a prioridade e integridade de Israel
fiquem guardadas. Isto poderia ser um assunto para um diálogo cristão-judaico. No entanto, mostrase nisso logo então que isso, no fundo, não é assunto nenhum para parceiros judaicos de colóquio.
Primeiro, é sem dúvida muito importante para eles chegarem a saber que há cristãos que se
esforcem para superar os velhos clichês e para deixar Israel ser Israel. Mas a questão de como
aqueles queiram agora formular a sua própria identidade cristã e o possam, jaz fora do interesse, e
também da "competência" de judeus.
Aqui se mostra um problema fundamental do colóquio cristão-judaico. Bem no início dos nossos
esforços, o cientista de religião de Jerusalém, Zwi Werblowsky, cunhou uma vez a fórmula da
"assimetria" do colóquio cristão-judaico: Cristãos precisam de arranjar-se com as suas relações ao
Judaísmo, pois isso é parte integrante da sua identidade. Judeus não o precisam, pois o surgimento
da Cristandade não modificou basicamente a questão da sua própria identidade. Isso pertence às
difíceis experiências que cada cristão, que se esforçar para um colóquio com judeus, tem de fazer.
O auto-entendimento cristão não é assunto judaico. Há, certamente, sempre um ou outro judeu que
se meta num colóquio tal. Mas o fazem por amor aos cristãos, pois, na maioria dos casos, são
5 / 11
judeus tais que já fizeram experiências positivas no colóquio com cristãos, e que, portanto, são
dispostos a entrar em problemas especificamente cristãos que não são deles próprios. O Sr.
Janowski, na sua preleção inaugural, mencionou um daqueles que sempre estão dispostos a se
meter em nossos problemas: Michael Wyschogrod. Mas exatamente este é um caso isolado, e ele é
plenamente cônscio disso, e já o disse publicamente. E, naturalmente, há mais alguns outros casos
isolados. Mas também estes nos vão sempre confirmar que esses problemas não são propriamente
os deles.
Por isso, aliás, deve-se antes falar do colóquio ou diálogo cristão-judaico do que judaico-cristão.
Entendo bem que cristãos, engajados nestas questões, querem ceder o passo aos judeus, e não
vejo problema fundamental nenhum nessa formulação. Mas quero fazer consciente que a
necessidade para esse colóquio ou diálogo jaz univocamente no lado cristão.
III
A questão do auto-entendimento cristão é o grande assunto que determina o nosso relacionamento
ao Judaísmo. Mas há, ainda, outro círculo de assuntos que, certamente, muitos acham ainda mais
importante: Jesus Cristo como segunda pessoa da Trindade. Formulo assim de propósito, porque
assim aparecem em primeiro plano os aspetos que são especialmente difíceis para judeus. Não
Jesus como pessoa é o problema, também a questão de Messíah é um assunto discutível, e sobre o
qual é que se discute também entre cristãos. Mas a divindade de Jesus e então, especialmente, a
Trindade são noções que, para judeus, são simplesmente não ratificáveis.
Mas aproximemo-nos a estas questões passo a passo. Primeiro é de grande importância que, desde
o início deste século, existe uma extensa pesquisa judaica de Jesus. Começou com o grande Joseph
Klausner, cujo célebre livro sobre Jesus foi primeiro publicado em hebraico: Yeshua` ha¯Nozri,
Zemanô, Hayav ve¯Toratô (Jesus, o Nazareno, sua Época, sua Vida e seu Ensino); então seguem –
para não mencionar senão alguns nomes salientes: Samuel Sandmehl, David Flusser e, atualmente
o talvez mais importante pesquisador judaico de Jesus, Geza Vermes (natural de Hungria, agora
Oxford). Entre os neotestamentólogos, cristãos ou judeus, existe hoje uma quase completa
concordância de que Jesus era judeu, pensou, viveu e creu como judeu. Mas então se põe a
pergunta: O quê este judeu Jesus tem a ver com a cristologia? Perguntamos Geza Vermes. No seu
livro mais recente The Religion of Jesus the Jew [A Religião do Judeu Jesus] (1993) cita, no capítulo
final, o "Niceno-Constantinopolitano", o grande, fundamental credo cristão de fé do século 4, com a
sua pormenorizada parte central cristológica, e disse a isso:
O Jesus histórico, o judeu Jesus, teria sentido como familiares as primeiras três linhas e as
últimas duas linhas e não teria tido, embora não pensasse teologicamente, dificuldade
nenhuma consentir com elas:
Creio no Deus único, o Pai, o Onipotente,
que tudo criou, céu e terra,
o mundo visível e o invisível...
E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo futuro.>
mas, sem dúvida estaria pasmado (mystified) pelas demais vinte-e-quatro linhas. Estas
parecem ter pouco haver com a religião que pregava e praticava. Mas as doutrinas que
anunciam: o status eterno de Cristo e sua incarnação corporal, a salvação da humanidade
inteira efetuada pela sua crucificação, a sua elevação a seguir e, antes de tudo, a Trindade
em Uno de Pai, Filho e Espírito Santo formam a base pela fé como cujo autor é considerado.
Vermes continua, então, a enfatizar que os fundamentos da fé cristã não se encontram tanto nos
6 / 11
evangelhos e Marco, Mateus e Lucas, mas antes no Evangelho de João e nas cartas de Paulo: "O
Cristo do Paulo e do João com o seu caminho à deificação tem o homem da Galiléia ensombrado e
escurecido." Essa posição, talvez, é mais ou menos partilhada por todos os neotestamentólogos
judaicos. Para eles, Jesus é completa e totalmente judeu – mas exatamente por causa disso não tem
nada com a cristologia, porque cristologia, aliás, jaz além daquilo que judeus possam ou queiram
realizar ou ratificar.
Mas como anda a coisa no lado cristão? Friedrich-Wilhelm Marquardt deu à sua cristologia o título:
Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden (A Profissão Cristã a Jesus, o Judeu). Aqui, então,
entra Jesus, o judeu, na Sistemática Teologia cristã. Marquardt discute as questões tratadas acima,
chegando a um confronto interessante: Compara o "histórico-crítico mínimo da história de Jesus
cristã" com o "sintético máximo da história de Jesus judaica". Embora haja caraterísticas diferenças
metódicas entre ambos, correspondem-se os seus resultados consideravelmente:
Os resultados do mínimo "cristão" são contidos no máximo "judaico"; sob esse aspeto,
evidentemente não há mais diferenças – um grande presente para quem se importa com o
relacionamento judaico-cristão... Todo um sistema herdado de antíteses parece estar caído – pelo
menos na imagem histórica que se tem agora de Jesus e sua proclamação. (I,135)
Isso é, certamente, um primeiro e importante resultado do diálogo cristão-judaico que se vai
preparando. A imagem de Jesus não é ponto básico de controversa. Ao contrário, não raramente
historiadores judaicos de Jesus estão, a partir das suas maneiras de pôr os problemas, dispostos a
ter, da tradição de Jesus dos Evangelhos, mais como "histórico" do que os seus colegas cristãos.
Também no entendimento da "judaicidade" de Jesus, pesquisadores de Jesus judaicos vão mais
adiante que os cristãos. A maioria daqueles está também da opinião de que a Jesus convém um
lugar tudo especial na história da fé judaica.
Mas como vai continuar? No pesar cristão tradicional comparece neste lugar a pergunta pelo
Messíah. Quer-se perguntar os judeus porquê não conheceram que Jesus era "o Messíah". Sim,
ainda mais: "Israel, por ter crucificado o Messíah, rejeitou sua escolha e sua destinação." Essa frase
horrível encontra-se na "Palavra à Questão Judaica" de 1948, que já citei. Para mim e muitos da
minha geração, esse texto é tão horrível também porque eram os nossos professores teológicos
que, naquela época, eram ainda tão longe do necessário entendimento que pudessem dizer tal
coisa, e que até se sentiam obrigados dizer essa palavra.
A segunda parte da frase que acabo por citar, pode ser que muitos não a querem repetir hoje ainda:
que Israel rejeitou a sua escolha e destinação – ou, como o texto reza mais tarde: que Israel foi
repudiado por Deus. Mas o quê é que há com o Messíah? Para muitos cristãos é mesmo de fato
assim que Jesus era o Messíah – e que os judeus não entenderam isso.
Mas agora é que a frase "Jesus era o Messíah" é extremamente problemática em si mesma. Supõe
que "o Messíah" seja um conceito unívoco. Pode ser que seria trazer corujas à Atenas, se quisesse
explicar que, na época de Jesus tinha um grande número de imaginações de Messíah, sendo estas
extremamente diferentes, e que, em vários textos da comunidade de Qumran, fala-se de dois ou
três Messíahs. Além disso: Que quer: Jesus era o Messíah? Era? De onde sabemos disso? E de onde
os seus contemporâneos o podiam saber? Em Geza Vermes se diz que, com toda a variedade das
noções de Messíah no Judaísmo pós-bíblico, dominava univocamente a expectativa do Messíah da
estirpe de Davi, do mashiah ben¯david. Remete, para isso, especialmente para a linguagem de
oração, esta que reflete do modo mais irrefletido as predominantes imaginações. Assim, os salmos
de Salomão do l.º século A. C., que, segundo Vermes, refletem "a ideologia das correntes principais
da religiosidade judaica", esperam o Messíah como "Filho de Davi".
Vê, Senhor, e erige-lhes o seu Rei, o Filho de Davi ... E o cinge de força, que abale os
regentes injustos ... Com bastão férreo esmague todo o seu ser, destrua os ímpios como a
7 / 11
palavra da sua boca ... E deve congregar um povo santo ... Faça servir as nações pagãs sob
o seu jugo ... E deve ser um rei justo, ensinado por Deus ... E não deve haver injustiça
nenhuma no seu meio nos seus dias, pois todos devem ser santos e seu rei o Ungido do
SENHOR (Salmos de Salomão 17s.).
Aqui se mostram claramente reminiscências de textos bíblicos como salmo 2, Isaias 9 e 11 e outros.
Essa, então, era obviamente uma das dominantes – segundo Vermes a predominante – expetativa
de Messíah daquela época, relacionada a tradições bíblicas.
Os discípulos e seguidores de Jesus pensavam obviamente o mesmo. Assim os discípulos
perguntam o ressuscitado: "SENHOR, reerguerás naquele tempo o reino para Israel?" (Atos
dos Apóstolos 1,6). Especialmente elucidativa é a narrativa dos discípulos de Emaús em
Lucas 24. O ressuscitado acompanha incógnito os dois adeptos de Jesus, deixando-os relatar
o que aconteceu. A frase essencial da sua exposição decepcionada e perturbada pelos
acontecimentos é: "Esperávamos que era ele que iria salvar Israel" (v. 21). Mas Jesus os
corrige.
Oh vós tolos, de coração demasiadamente inerte, para crer tudo isso que os
profetas falaram! O Cristo não devia sofrer tudo isso e entrar na sua glória? E
começou com Moisés e todos os profetas, interpretando-lhes aquilo que em toda a
Escritura foi dito dele (vv. 25-27).
Esses discípulos esperavam, então, também um "Messíah" político, que livrasse Israel do jugo
romano. Mas a sua expectativa não se cumpriu. O ressuscitado explica-lhes agora que a sua
imagem de Messíah era falsa. Jesus correspondia a uma outra imagem de Messíah: àquela do
Messíah sofredor. É sumamente elucidativo que aqui, dentro das histórias de Páscoa cristãs, é feita
uma explícita correção da imagem de Messíah. Quando, então, outros judeus, que não pertenciam
ao círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus, também esperavam um tal Messíah político e teriam
sido inteiramente dispostos a reconhecer Jesus como tal, se tivesse removido a alheia dominação
romana – seriam estes repreensíveis porque, depois da morte de crucificação, consideravam essa
expectativa de Messíah como fracassada – justamente como os discípulos no caminho a Emaús?
Podemos aprender dessa história que o entendimento certo da messianidade de Jesus não pode ser
obtido senão a partir da sua ressurreição. Com isso, porém, executamos o passo para fora do
possível contexto que corresponda ao sentido do colóquio com os judeus.
Penso, portanto, que é uma infrutífera e no fundo absurda discussão disputar com judeus sobre se
Jesus "era o Messias" e porque os judeus não reconhecem isto. É que a decisiva razão jaz em que se
trata nisso duma profissão da comunidade pós-Páscoa. Com isso, porém, essa questão subtrai-se da
discussão com aqueles judeus que não pertencem àquela comunidade. Daí será, de resto,
extremamente problemático falar do "Messíah de Israel". O conceito não é bíblico, não ocorre nem
no Antigo nem no Novo Testamento. A isso é equívoco. O Sínodo Renânico o usa, na sua declaração
de 1980, muito enfaticamente:
Professamo-nos a Jesus Cristo, o judeu, que, como Messíah de Israel, é o salvador do
mundo, e que liga os povos do mundo com o povo de Deus (4.3).
O Sínodo, obviamente, entendia o conceito no sentido do Messíah que foi prometido a Israel e que
veio de Israel. Mas, imediatamente, foi entendido num sentido diferente: como Messíah para Israel.
Neste sentido, não é possível na boca de cristãos. Se Jesus, ou qualquer outro, é o Messíah para
Israel, não podem decidir senão judeus. Nós cristãos não podemos cantar senão: "Agora vem,
salvador dos pagãos."
8 / 11
IV
Finalmente, volto agora outra vez à questão da relação do Antigo e Novo Testamento. Nisso, voume concentrar na questão de como nós, como cristãos, devemos ler e interpretar a primeira parte
da nossa Bíblia, que chamamos de "Antigo Testamento".
[Queria aqui inserir uma breve reflexão sobre a correta denominação da primeira parte da
nossa Bíblia. O conceito "Antigo Testamento" está sendo hoje criticado e evitado por muitos,
porque o adjetivo "antigo" pode ser entendido no sentido de "ultrapassado" e, naturalmente,
também freqüentemente o foi. Em todo o caso, é um conceito puramente cristão, que não
chega a ter sentido senão por ser seguido por um "Novo Testamento". Alguns propuseram
falar, em lugar desse, do "Primeiro Testamento"; no entanto, este conceito poderia estar
exposto ao mesmo mal-entendido, porque já segue ainda um Segundo Testamento, e
porque o primeiro sem o segundo poderia ser considerado como incompleto. Por isso, alguns
falam hoje da "Bíblia de Israel". Eu também já usei este conceito, porque me parecia
evidente que nisso o nome "Israel" é usado no sentido bíblico, e porque fica nisso
completamente claro que esta parte da nossa Bíblia já era a Bíblia de Israel antes de que
nasceu a Cristandade. No entanto, penso que não devamos pôr importância demais a estas
questões terminológicas, pois nelas não se decidem as próprias decisões no relacionamento
de judeus e cristãos.]
Isso é, não obstante, um bom ponto de partida para nossas reflexões. A primeira parte da nossa
Bíblia é, ao mesmo tempo, a Bíblia de Israel e permanece a Bíblia de Israel. A nossa interpretação
"permanece", portanto, sempre "exposta ao diálogo com o Judaísmo" (Janowski). Queria, porém, pôr
o acento um pouco diferente. O fato de que a Bíblia de Israel é parte da nossa Bíblia, mantém-nos
continuamente na consciência de que nós mesmos, como cristãos, saímos de Israel. Temos isso já
pormenorizadamente exposto. Agora é para tirarmos disso as conseqüências para o nosso
tratamento da Bíblia.
Acho que podemos, com isso, simplesmente começar dizendo: Lemos a primeira parte da nossa
Bíblia porque estamos dentro da tradição dessa Bíblia. Não precisamos de meios hermenêuticos
especiais para nos procurar acesso à essa Bíblia. Nisso é importante e útil que não tenhamos
dúvidas de que para as pessoas do tempo neotestamentário, para Jesus e seus discípulos, para
Paulo e os evangelistas essa Bíblia era a Bíblia deles – toda a Bíblia deles, não uma primeira parte à
qual algo devesse acrescer. Ponhamo-nos, então, por enquanto simplesmente dentro dessa
continuidade. É nossa Bíblia.
Isso significa que uma interpretação "cristã" da Bíblia não se precisa legitimar por especiais
métodos cristãos de interpretação. Lemos os textos como eles estão aí. Podemos fazer isso, porque
é nosso mundo, o nosso "mundo de fé", pelo qual os textos da primeira parte da nossa Bíblia são
cunhados. No entanto, uma afirmação tal vai contra a tradição teológica de interpretação e também
contra a maioria dos teólogos evangélicos de hoje (aos quais me pretendo agora restringir).
Vou dizer muito brevemente algo referente à dominante tradição de interpretação. As diversas
posições pode-se, simplificando, dividir em três grupos. O primeiro apresenta uma negação radical
da verdade do Antigo Testamento. Pertence às esquisitices da história mais recente da teologia que
dois teólogos, que sob aspeto político e político-eclesial apresentam posições tão diametralmente
opostas como Rudolf Bultmann e Emanuel Hirsch, tinham opiniões quase idênticas a respeito do
Antigo Testamento. O Antigo Testamento é testemunho de fracasso e não compreensível senão
como contra-imagem do Novo Testamento. Podia-se pensar que essa concepção pertencesse ao
passado; mas ela se encontra com expressa apelação a Rudolf Bultmann e Hirsch, no ano de 1993,
em Otto Kaiser, na sua Teologia do Antigo Testamento. Fala do "fracasso de Israel na lei e na
história" e exorta o leitor a entender o Antigo Testamento "contra o teor dos textos ... entender
como promissão" (87). Espero que Kaiser esteja hoje sozinho com essa opinião.
9 / 11
Uma extrema contraposição encontra-se na interpretação cristológica, antes de todos em Wilhelm
Vischer, no seu livro primeiro publicado em 1934, "Das Christuszeugnis im Alten Testament" (‘O
Testemunho de Cristo no Antigo Testamento’). Podia dizer: "Nós, que cremos que Jesus seja o Filho
de Deus, ... e não a Sinagoga que recusou a sua reivindicação de Messíah, somos os herdeiros
legítimos do testamento divino. "Nesse rigor, essa posição está quase não mais apresentada desde
então; todavia, podemos ler em Hans Walter Wolff: "Não podemos, nesses filhos judaicos (isto é na
Sinagoga) ver o testemunho dos seus pais no seu sentido pleno. Assim, não resta senão a pergunta
por aqueles outros filhos, aos que Paulo se dirige como ao Israel de Deus." Aqui, então, o Antigo
Testamento como um todo é considerado tão positivo que os cristãos o reivindicam só para si,
recusando aos judeus todos os direitos a ele.
Por razões de simplicidade e brevidade, resumo agora todos aqueles teólogos num grupo médio que
postulam uma validade parcial dos textos antigotestamentários, em que eles mesmos conhecem e
manipulam as bitolas com as quais verificam essa validade a partir do novo Testamento. O líder de
opinião parece ser, como dantes, Antonius Gunneweg. que depôs a sua concepção já em 1977 na
sua hermenêutica do Antigo Testamento, a qual, na sua essência inalterada, serve de base também
na sua "Biblische Theologie des Alten Testamentes" (‘Teologia Bíblica do Antigo Testamento’).
"Sobre validade e não-validade (do Antigo Testamento) não se pode decidir senão a partir do
cristão, logo na base e debaixo da mão do Novo Testamento." O interessante é que Gunneweg inclui
nisso explicitamente a pesquisa histórica-crítica: O intérprete histósico-crítico (é) teólogo nisto
mesmo que aprendeu e está capacitado a medir o texto na bitola do cristão." Comparáveis
concepções encontram-se em muitas variações, também em Tübingen. Todas têm em comum que
reivindicam possuir uma bitola cristã, a partir da qual possam julgar e avaliar o Antigo Testamento.
Lamentavelmente, devo confessar que não possuo tal bitola. Não vejo possibilidade de "avaliar" o
Antigo Testamento a partir de mim. Também não vejo necessidade para tanto. Não posso imaginar
que um dos autores neotestamentários tenha chegado a ter a idéia de pôr avaliações distintos entre
as partes ou palavras isoladas da sua Bíblia, sua "Escritura". É, antes, um surpreendente fato da
hodierna vista, que a comunidade cristã manteve a Bíblia judaica inalterada como a primeira parte
da sua Bíblia. Não deu, a isso, comentário nenhum de como se a devesse ler.
Certo que, no Novo Testamento, determinados textos do Antigo Testamento foram interpretados e
comentados. Mas isso é um procedimento que já é freqüentemente observável dentro do Antigo
Testamento, e igualmente também no Novo Testamento. Isso significa, então, que há uma linha
contínua de interpretar textos que se estende do Antigo Testamento até dentro do Novo.
Aqui chegamos agora a um ponto em que possamos falar de modo adequado duma interpretação
"cristã" do Antigo Testamento. Isso, ao mesmo tempo, leva-nos outra vez à questão pelo diálogo
cristão-judaico. Como leitores cristãos leremos muito, necessariamente, com outros olhos e com
outras posições de problema do que o fazem leitores judaicos. É que sabemos bem bastante sobre a
tradição judaica de interpretação, desde que estivermos nela interessados. Podemos, então, entrar
numa troca de idéias e experiências, com leitores judaicos da Bíblia, sobre as nossas diferentes
experiências de ler. Podemos, nisso, antes de tudo chegar a saber muito sobre as religiosas e
teológicas tradições do respetivo outro. Mas, num colóquio tal, nunca nos viria a idéia de declarar
certos textos como verdadeiros ou errados. Também a questão de o quê é "verdadeiro", mal
poderia ser posta desta forma num colóquio tal.
Antes de tudo, porém, verificaríamos que há amplos e completamente fundamentais âmbitos na
nossa Bíblia comum, nos quais as nossas interpretações não diferem basicamente. Sempre fico
surpreendido pelo fato de que, em algumas teologias antigotestamentárias, a criação recebe um
lugar tanto para trás. No cânon da nossa Bíblia, ela está absolutamente no início, e também não há
dúvida de que está no início para a fé cristã. Só na base do cânon inteiro da Bíblia é que a profissão
a Deus, o criador, pôde chegar a ser o primeiro artigo da nossa profissão de fé cristã. Se então
continuarmos lendo e chegarmos ao âmbito do acontecimento do Êxodo, evidencia-se
10 / 11
completamente a importância que esse assunto recebeu, p. ex., na teologia cristã de libertação. Em
amplos âmbitos dos profetas, nos salmos ou no livro de Jó, bem como em Coélet, certamente não
precisamos brigar por princípios.
Espero agora formalmente pela aclamação: Mas a lei! Sim, a lei – em que sentido? Queremos dizer
aquilo que está no Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus? Esse pertence à categoria de
"Agravamento da Torá no Judaísmo". Ou aquilo que Paulo falou? Mas é isso tão unívoco? E não é
muito daquilo que se comumente toma como "judaico" nada senão clichê cristão ou, na melhor, malentendido? P. ex. que se poderia ou deveria adquirir a salvação pelo cumprimento dos
mandamentos? Penso que, exatamente aqui, jaz um campo fértil para um colóquio cristão-judaico
ou, a seguir, também judaico-cristão. Nisso, poderíamos cuidadosamente elaborar o que temos em
comum e as diferenças, e certamente as diferenças ganhariam perfil aqui. Mas exatamente nisso
mostrar-se-ia que não se pode tratar de modo nenhum aquilo que seja certo ou errado, mas sim de
eformações (Ausformungen) diferentes da tradição bíblica nas comunidades dos dois lados.
Há muito a fazer, então em trabalhos preliminares teológicos para um diálogo cristão-judaico ou, a
seguir também, judaico-cristão. Penso que isso possa ser um elemento essencial do nosso estudo
teológico nos sentidos estrito e mais amplo e, por isso, só os posso encorajar a comparecer a essa
tarefa.
© Copyright 1996 Rolf Rendtorff. Com benévola permissão do autorConferência proferida no
Evangelisches Stift (Instituto Evangélico) de Tübingen (Alemanha) em 8 de novembro de 1996.
Tradução: Pedro von Werden SJ — Texto alemão
11 / 11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)