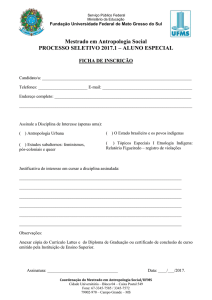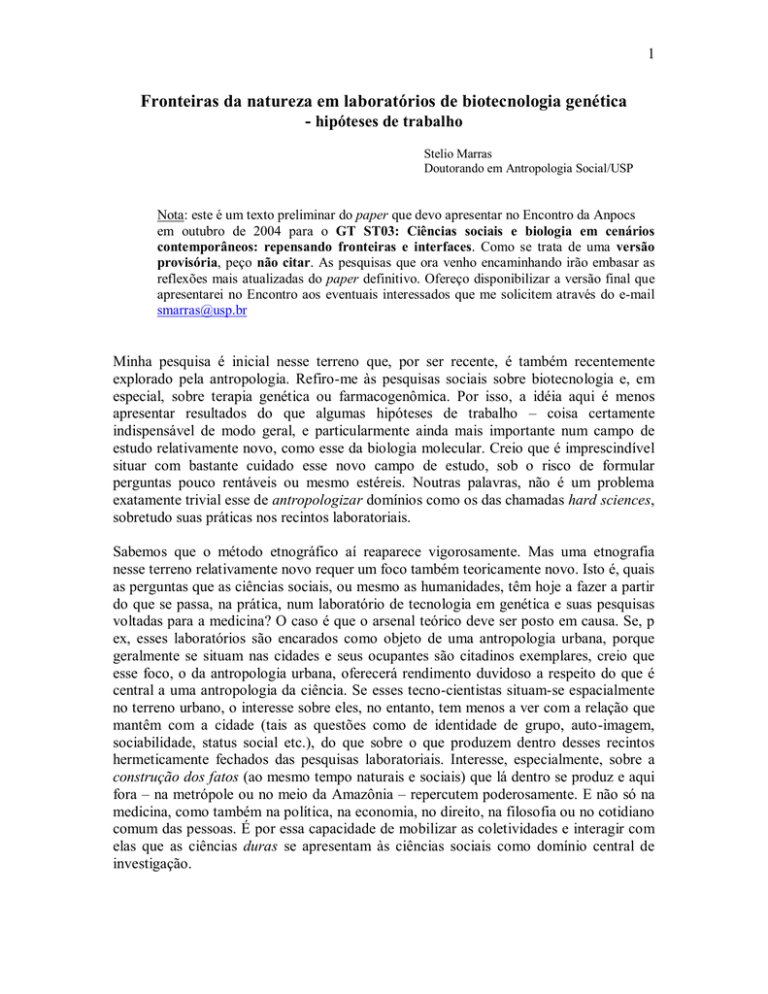
1
Fronteiras da natureza em laboratórios de biotecnologia genética
- hipóteses de trabalho
Stelio Marras
Doutorando em Antropologia Social/USP
Nota: este é um texto preliminar do paper que devo apresentar no Encontro da Anpocs
em outubro de 2004 para o GT ST03: Ciências sociais e biologia em cenários
contemporâneos: repensando fronteiras e interfaces. Como se trata de uma versão
provisória, peço não citar. As pesquisas que ora venho encaminhando irão embasar as
reflexões mais atualizadas do paper definitivo. Ofereço disponibilizar a versão final que
apresentarei no Encontro aos eventuais interessados que me solicitem através do e-mail
[email protected]
Minha pesquisa é inicial nesse terreno que, por ser recente, é também recentemente
explorado pela antropologia. Refiro-me às pesquisas sociais sobre biotecnologia e, em
especial, sobre terapia genética ou farmacogenômica. Por isso, a idéia aqui é menos
apresentar resultados do que algumas hipóteses de trabalho – coisa certamente
indispensável de modo geral, e particularmente ainda mais importante num campo de
estudo relativamente novo, como esse da biologia molecular. Creio que é imprescindível
situar com bastante cuidado esse novo campo de estudo, sob o risco de formular
perguntas pouco rentáveis ou mesmo estéreis. Noutras palavras, não é um problema
exatamente trivial esse de antropologizar domínios como os das chamadas hard sciences,
sobretudo suas práticas nos recintos laboratoriais.
Sabemos que o método etnográfico aí reaparece vigorosamente. Mas uma etnografia
nesse terreno relativamente novo requer um foco também teoricamente novo. Isto é, quais
as perguntas que as ciências sociais, ou mesmo as humanidades, têm hoje a fazer a partir
do que se passa, na prática, num laboratório de tecnologia em genética e suas pesquisas
voltadas para a medicina? O caso é que o arsenal teórico deve ser posto em causa. Se, p
ex, esses laboratórios são encarados como objeto de uma antropologia urbana, porque
geralmente se situam nas cidades e seus ocupantes são citadinos exemplares, creio que
esse foco, o da antropologia urbana, oferecerá rendimento duvidoso a respeito do que é
central a uma antropologia da ciência. Se esses tecno-cientistas situam-se espacialmente
no terreno urbano, o interesse sobre eles, no entanto, tem menos a ver com a relação que
mantêm com a cidade (tais as questões como de identidade de grupo, auto-imagem,
sociabilidade, status social etc.), do que sobre o que produzem dentro desses recintos
hermeticamente fechados das pesquisas laboratoriais. Interesse, especialmente, sobre a
construção dos fatos (ao mesmo tempo naturais e sociais) que lá dentro se produz e aqui
fora – na metrópole ou no meio da Amazônia – repercutem poderosamente. E não só na
medicina, como também na política, na economia, no direito, na filosofia ou no cotidiano
comum das pessoas. É por essa capacidade de mobilizar as coletividades e interagir com
elas que as ciências duras se apresentam às ciências sociais como domínio central de
investigação.
2
Mas não custa insistir que as perguntas que aí devemos formular requerem uma
imaginação – no caso, antropológica – igualmente renovada. É então possível situar um
campo de conhecimento dessa antropologia da modernidade, que não é pós-moderna, e
estender uma linhagem de importantes pensadores como Michel Foucault, Michel Serres
e, mais atualmente, Isabele Stengers, Paul Rabinow e sobretudo Bruno Latour, com seus
science studies que congregam antropólogos, filósofos, sociólogos e historiadores em
torno de uma visão renovada das ciências, a partir do estudo das práticas, uma “ecologia
das práticas” na expressão de Stengers. Mas aqui recuo imediatamente do propósito de
alistar os grandes autores contemporâneos que vêem redefinindo o estudo sobre as
ciências, já que essa lista e suas diversas linhas de pesquisa crescem enormemente, assim
se esquivando a resumos rápidos. Ademais, não é este meu propósito aqui.
É verdade que podemos concordar ou discordar dessas propostas a favor de uma
antropologia da ciência, no sentido de uma antropologia da natureza, mas de toda
maneira creio que já não é mais possível desconsiderar tais reflexões quando nos
aventuramos a descrever práticas, debates e controvérsias em laboratórios e centros de
pesquisa científica. Ou, como no meu caso, descrever e refletir a respeito da elaboração
de medicamentos de base genética para, precisamente aí, reencontrar temas clássicos da
antropologia, tal o que define e relaciona os domínios da Natureza e da Cultura.
Da eficácia simbólica ao efeito placebo: questões trilhadas
Gostaria de traçar rapidamente a origem das questões que venho formulando para o meu
campo em laboratórios de biotecnologia genética voltados para criação de terapêuticas
biomoleculares – como o do Centro de Estudos do Genoma Humano da USP ou mesmo o
Hospital das Clínicas, ligado à mesma universidade, onde alguns grupos de médicos e
pesquisadores têm hoje se dedicado a ensaios clínicos para testar vacinas gênicas
antitumorais. Há também, em São Paulo o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer.
Todos esses centros de pesquisa em genômica integram interesse de campo para minha
investigação que se encontra em fase ainda bastante inicial.
Minhas questões ligam-se diretamente ao final de meu mestrado, quando eu refletia sobre
a ascensão e o declínio de terapias que se utilizavam predominantemente de águas
medicinais para curar, num primeiro momento, toda sorte de moléstias, mas, depois,
apenas algumas doenças, até que fossem relegadas ao antiquário da modernidade médica
e científica, dada a baixa eficácia que passaram a apresentar (e representar) frente ao
surgimento da farmacoterapia.
O que um dia foi uma terapia central para diversas doenças, passou a ser auxiliar, ou no
máximo coadjuvante, com o aparecimento de medicamentos como a penicilina, no bojo
do grande desenvolvimento da farmacologia no pós-guerra. As águas curavam – como as
de Caxambu, no passado – e depois foram paulatinamente deixando de curar. Para
entender esses fenômenos de crédito e descrédito, eu recuperei a exigência maussiana do
“tríplice ponto de vista” na análise do “homem total” – conforme expressões do autor.
3
De fato, Marcel Mauss, em 1936, refletia sobre essa articulação entre o sociológico, o
psicológico e o biológico a propósito das “técnicas corporais” 1 Mauss já sugeria a
invariável dependência mútua dessas três ordens no funcionamento, expressão,
intervenção e modelagem do corpo. Assim, eu podia notar que a resposta de uma
pergunta aparentemente irrelevante sobre tal ou qual gesto corporal dependia da
investigação 1) do aparelho biofísico que opera a materialidade do gesto; 2) do
fundamento social que circunscreve a razão simbólica de tal gesto e o torna útil; e 3) da
mediação da psique subjetiva do sujeito que experimenta o gesto de maneira particular –
assim perfazendo a equação tripartida. Entendi que o estudo de Robert Hertz2 sobre a
“origem das idéias sobre a direita e a esquerda”, e as razões que sustentam a “opção”
generalizada pelo uso preeminente da mão direita, também revelava o caráter inseparável
entre os domínios do sociológico, da mediação da psique e da natureza orgânica. Outros
autores , especialmente ligados à antropologia, pareciam concluir analogamente, mas
sobretudo Lévi-Strauss e seu texto da “Eficácia Simbólica”3 a respeito da solução
terapêutica xamânica para a parturiente cuna.
Também para o caso das águas medicinais que eu estudei, eu podia sugerir semelhante
orquestração entre as disposições naturais, sociais e psíquicas que envolviam,
simultaneamente e em laços misteriosos, sulfetos, índices de ionização, paisagem alpina e
relaxamento moral de um espírito predisposto em períodos de exceção, como o que se
vivia em estações balneárias. Ora, compreender o sucesso das balneoterapias, bem como
sua posterior decadência, dependia do exame dessa orquestração que classificamos, já
tradicionalmente, como “contexto”. Só se entende a eficácia simbólica por esse recurso
heurístico do contexto. De fato, a idéia levistraussiana de eficácia simbólica, se leio
corretamente, distribui o valor da terapia na integração biopsicossocial do mecanismo de
cura. Mas uma terapia que não mais dependesse de efeitos da subjetividade e de
contextos sociais era o que prometia a indústria farmacológica que então, no Brasil,
surgia para substituir antigas modalidades de cura, inclusive científicas, como as que se
serviam de águas medicinais, especialmente as sulfurosas termais, usadas então para
debelar males de lepra, sífilis, tuberculose ou artrites. Grosso modo, as subjetividades
terapêuticas pareciam que finalmente seriam suplantadas pelos avanços do objetivismo
moderno, tecnológico e científico da farmacoterapia. Mas as promessas dos
medicamentos sintetizados em laboratórios encontrariam dificuldades talvez inesperadas
– e que, grosso modo, podemos denominá-las de efeito placebo, essa espécie de
equivalente negativo da eficácia simbólica.
Esse meu trabalho de mestrado terminava apontando para uma antropologia da ciência na
medida em que já esboçava algumas comparações entre a eficácia simbólica (premente
para a terapia das águas) e o efeito placebo, no caso das terapias farmacológicas. O
placebo ou efeito sugestão, ainda antes de se manifestar no paciente comum do mercado,
é a “má razão” (conforme jargão de laboratório) contra a qual se erguem os laboratórios
1
M. Mauss, “As técnicas corporais”, Sociologia e Antropologia. São Paulo, Epu/Edusp, 1974.
R. Hertz, “A preeminência da mão direita: um estudo sobre a polaridade religiosa”, Revista Religião e
Sociedade, São Paulo, número 6, 1980.
3
C. Lévi-Strauss. “A eficácia simbólica” In Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1975.
2
4
chamados contra-placebo na sua faina para sintetizar as moléculas medicamentosas.
Resumindo, eu concluí que, das águas medicinais à farmacoterapia, as relações entre o
simbólico e o material, ao que bem parece, seriam invertidas para uma e outra
modalidade terapêutica. Assim, como a eficácia simbólica da ciência depende de uma
precedente partida material, bastou que essa partida debandasse para outros produtos –
tais os medicamentos de alta elaboração química, como a penicilina de Fleming, esta já
largamente difundida nos anos 1940 — para que as águas se enfraquecessem a um só
tempo simbólica e cientificamente.
De todo modo, em ambos os casos – águas e fármacos – o simbólico e o material agiam
em conjunto. Esta que seria a relação entre a dimensão objetiva e subjetiva da cura, eu a
reencontrei num estudo de Phillipe Pignarre4 sobre a produção de moléculas
medicamentosas nesses laboratórios chamados contra-placebo. Entendi que ali, na fase de
produção de um medicamento-padrão, se reproduzia o mesmo mecanismo da eficácia
simbólica, que portanto incorpora a subjetividade ou o que poderíamos chamar de fatos
não estabilizáveis. Mas a subjetividade, neste contexto laboratorial criado para justamente
eliminar o contexto, não agrega, por isso mesmo, valor. Muito ao contrário, ela não passa,
de novo, de uma “má razão” a ser eliminada por técnicas como “em duplo-cego”,
destinadas a negligenciar não apenas ao paciente, mas também a quem ministra o
medicamento, a natureza da molécula em teste – se o que está sendo testado é já o
medicamento químico ou ainda um “vazio terapêutico”.
O fato é que, a todo custo, o medicamento produzido no laboratório deve alcançar um
estatuto terapêutico genérico, universal. Do contrário, ele não terá lugar no mercado
farmacológico da saúde; nem seu uso alcançará valor de troca. Então, o que também há
de individual no corpo doente – mas, afinal, a doença manifesta-se sempre
individualmente –, sua irredutível especificidade, ou o modo como cada doença evolui
em cada organismo, tal resíduo precisa ser ou cientificamente desprezado, minimizado ou
preferencialmente estabilizado, para que seja possível perfilar, num só tipo, isto que se
intitula como caso clínico. Assim, para que o quadro patológico particular seja tratado
como universal, cumpre pois recrutar doentes que se enquadrem numa ‘formação
gregária’, outra das técnicas dos laboratórios contra-placebo, que consiste na “reunião de
seres humanos doentes até então dispersos” com o intuito de “transformar pacientes
individuais, doentes de maneira específica, em população agregada”5. Cumpre, enfim,
“descontextualizar” o paciente – esta outra operação destinada a livrar o medicamento do
empecilho da sugestão – empecilho este criado por reações subjetivas pronunciadas, além
portanto do “’valor-limiar fixado’”.
Ainda que o ideal e a prática científico-naturalista procure reduzir ao mínimo a função
simbolizante da subjetividade nos processos de cura – e a estratégia científica da
“descontextualização” é aí paradigmática –, mesmo assim essa função se mostra
irredutível. E como, portanto, o trabalho de removê-la de todo se mostra quase sempre
4
Philippe Pignarre.. O que é o medicamento? Um objeto estranho entre ciência, mercado e sociedade. São
Paulo: Ed. 34, 1999. Descobri mais tarde que este autor integra o campo de conhecimento que Latour
denomina de science studies.
5
Pignarre, cit., p. 43.
5
impossível, seu resíduo sempre acaba participando, não raro de maneira decisiva, nos
processos médico-científicos de determinação de diagnósticos e prognósticos. Inclusive
nos laboratórios de fabricação de moléculas medicamentosas, ou sobretudo ali, equipados
que são do mais alto incremento tecnológico, esse resíduo subjetivista acaba por
determinar toda a metodologia exigida para a criação do remédio objetivo, isto é, de uso
universal. Tais metodologias, não custa repetir, são as técnicas voltadas para eliminar a
subjetividade, ou efeito placebo.6 Entre a terapêutica e as causas das doenças (etiologia),
subsiste, na farmacoterapia, isto que Pignarre denomina o “elo intermediário”, eivado de
fatores humanos de dificílima estabilização.
Mas, ao que tudo indica, a grande promessa genômica é a de eliminar, de uma vez por
todas, esse “elo intermediário”, e assim disponibilizar uma terapêutica muito mais eficaz,
na medida exata em que estaria agindo diretamente na causa das doenças. É precisamente
aí que se aloja o foco de minha pesquisa em curso.
Do efeito placebo à Projeto Genoma Humano: questões a trilhar
A ação limitada das moléculas medicamentosas produzidas pela industria farmacêutica é
algo de fato conhecido. Mas seu reconhecimento parece, agora, ganhar muito mais
projeção pública perante as promessas da genômica. É o caso noticiado pela Folha de São
Paulo, em 10/01/04, por exemplo, a respeito da pesquisa de 25 grupos de cientistas, do
Rio Grande do Sul ao Pará, interessados em mapear a tipologia de DNA dos brasileiros
para medir a resposta aos medicamentos. A idéia é coligir dados que permitam expressar
uma forma personalizada de medicina, como selecionar dose e tipo do remédio com base
na química do organismo individual do doente.
"Numa população tão miscigenada quanto a nossa, extrapolar dados de populações
etnicamente mais definidas é perigoso", diz o médico Guilherme Suarez-Kurtz, da
Coordenação de Pesquisa do Inca (Instituto Nacional de Câncer), no Rio de Janeiro. O
pesquisador coordena a rede de farmacogenômica, cujos estudos concluem que a imensa
maioria das dosagens de medicamentos disponíveis no mercado não passam de
simplificações grosseiras, já que elas são calculadas para funcionar na maior parte da
população, mas podem ser excessivas ou insuficientes em diversos casos específicos.
Tal retumbante afirmação, segundo a notícia, se tornou pública através da não menos
retumbante declaração de Allen Roses, chefe do setor de genética da gigante
farmacêutica britânica Glaxo Smith Kline. Segundo ele, mais de 90% dos remédios "só
funcionam para 30% a 50% das pessoas". A superação desta terrível estatística responde
por uma nova promessa: a da terapia gênica. A aposta é que u dos principais fatores que
influenciam a eficácia dos remédios seria o genético. Variantes individuais do mesmo
trecho de DNA poderiam fazer com que o organismo de um doente absorvesse rápido
demais ou muito devagar um determinado medicamento, o que exigiria doses maiores ou
menores. Em alguns casos, seria totalmente ineficaz ou mesmo letal ministrar certo
6
Eu pude experimentar algumas reflexões sobre esse assunto em artigo que publiquei em 2002: Cf. Stelio
Marras: Ratos e homens – e o efeito placebo: um reencontro da Cultura no caminho da Natureza. Revista
Campos, número 2, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do
Paraná (Paraná, 2002, pp. 117-133).
6
medicamento a um segmento da população. O grupo étnico de certo indivíduo teria aí
papel decisivo, já que os povos do planeta estiveram sujeitos a ambientes e doenças
distintos ao longo dos milênios. Assim, se adaptaram a eles por meio de alterações
bioquímicas muito sutis – e no entanto decisivas.
Ora, não se trata aqui da tentativa de eliminar (ou pelo menos estabilizar) o “elo
intermediário” entre fármaco e organismo bio-individual para, assim, alcançar maior
nível de eficácia terapêutica? Teoricamente, a grande promessa da genômica parece ser a
de, finalmente, livrar-se da malquista interação biopsicossocial irredutivelmente presente
nos fenômenos da saúde humana. Lembre-se que tais interações integram fator positivo
para técnicas terapêuticas como as de cura xamânica, conforme a referida pelo estudo
clássico de Lévi-Strauss. Mas integram fator negativo para a sintetização de
medicamentos em laboratórios contra-placebos, conforme o referido estudo de Pignarre.
De fato, a promessa genômica seria a do acesso à causa última das doenças. Noutras
palavras, seria o passo médico-científico definitivo para, de uma vez por todas, livrar-se
do “elo intermediário”, segundo expressão do já referido Philippe Pignarre, sociólogo e
epistemólogo francês que pesquisou os laboratórios “contra-placebo”, lugar onde se
inventa a molécula do medicamento, pilar da ciência médica do século XX. Pignarre
menciona a grande esperança da genômica em eliminar a também já referida "má razão"
que sempre se instala no "elo intermediário" entre o fármaco e a resposta do organismo
individual, razão dos referidos experimentos contra-placebo. A genômica, enfim, atuaria
diretamente na causa das doenças, modificando ou eliminando seu programa de
funcionamento e evolução. Nela residiria, conforme anota Pignarre, o futuro utópico de
“uma época vindoura”, quando finalmente
“não haverá mais nenhum empirismo e na qual se poderá prever o que uma
molécula pode fazer num organismo humano desde sua síntese pelos químicos ou
sua elaboração pelos especialistas em pesquisa genética 7.
Ou seja, residiria na engenharia genética a “promessa naturalista” de eliminar o “elo
intermediário das causas e dos efeitos biológicos”.
“Uma promessa naturalista consiste, segundo nossa definição, em projetar a
invenção de terapêuticas que não mais agiriam sobre um elo intermediário das
causas e dos efeitos biológicos, mas sobre o gene (embora este seja, na maioria
das vezes, apenas um co-fator em numerosas enfermidades). Ela dá a entender,
portanto, que o laboratório do estudo contra-placebo poderia tornar-se inútil. 8
Ao que tudo indica, este “elo intermediário” parece distinguir a terapia química (objeto
da sintetização das moléculas medicamentosas) da terapia genética (objeto dos estudos
genômicos). Para a quimioterapêutica, o medicamento ingerido funciona como o elo para
estimular o organismo a reagir contra a doença. Para a farmacogenética, este elo será
7
Pignarre, P. O que é o medicamento? Um objeto estranho entre ciência, mercado e sociedade. São Paulo.
Editora 34, 1999, p. 18.
8
Idem: pp. 75-6.
7
eliminado, pois a doença seria tratada na própria fonte, os genes e sua dinâmica com as
proteínas, aplicando-se técnicas como a da transgenia, a permutação de seqüências de
DNA entre organismos.
Com efeito, o que creio estar em causa no projeto que começo a desenvolver é,
propriamente, a causa das doenças, tal como revelada pela leitura do código genético.
Trata-se portanto de trazer a discussão das causas, tradicionalmente tratada pela filosofia,
para o âmbito da antropologia. Mas também reconhecer que o estudo sobre as pesquisas
em genética humana se liga intimamente a uma filosofia social (filosofia social tal como
a entende a etnologia ameríndia recente). Ora, penso que abordar uma filosofia social é
retornar ao terreno mais conhecido da antropologia, que é a abordagem epistemológica
dos “modos de conhecer”, os modos culturais de conhecer. Aqui, no caso, o modo
cultural de conhecer a natureza, que é o modo científico, técnico, naturalista, objetivista.
Atacar as causas primeiras das doenças classificadas como genéticas é alvo privilegiado
da pesquisa genômica, e a maior justificativa dos técnicos, cientistas e políticos para se
negociar, inclusive junto à chamada opinião pública, as questões denominadas bio-éticas,
como pesquisa de células-tronco ou clonagem. No entanto, como vamos vendo, a
“promessa naturalista” da genômica parece, ela também, esbarrar-se em fatores que
oferecem enorme dificuldade à estabilização. Neste ponto, cumpre notar a validade
teórica de Latour, já que a prática da objetificação perseguida pelas ciências duras (que é
a purificação, nos termos do autor) acaba produzindo, como por revés, domínios híbridos
(a proliferação, a que se refere Latour) que, como tais, parecem desafiar constantemente
as pesquisas laboratoriais. Evidentemente, os cientistas que trabalham nos recintos,
sabem disso. Mas nós, que queremos pesquisar o trabalho dos cientistas, tradicionalmente
prestamos atenção ou na ciência já construída ou na ciência em construção, esquecendonos de relacioná-las uma à outra. Estaríamos, portanto, também nós, dominados pela
visão monocular moderna, ora vendo um lado, ora vendo outra, mas nunca ao mesmo
tempo. É sobre essa necessidade de estudar os recintos ou envoltórios (enceintes),
sobretudo os matters of concern, contra os matters of fact, que Latour parece claramente
atentar em trecho de entrevista recente que concedeu a mim e a Renato Sztutman9. Diz
ele:
“Na perspectiva de Descola, o naturalismo define um certo modo de identificação.
Ora, isso não é certo no que diz respeito aos modernos, pois isso define apenas o
lado de sua empresa que corresponde à representação oficial que eles têm deles
mesmos, e da qual eles têm necessidade para construir os recintos dos matters of
fact. Mas ao mesmo tempo, no interior desse recinto, que é grosso modo seu
laboratório, eles vivem de uma maneira bastante diferente. Assim, os átomos que
são supostamente dados por uma ontologia naturalista tão exterior a nós, no
laboratório, compreenderão estados ontológicos que vão contradizer largamente a
visão pedagógica e epistemológica oficial. Mas essa contradição, que não é entre
o velado e o revelado, é uma contradição entre o recinto e o que ele permite. Não
é a mesma coisa. É porque eles estão protegidos das conseqüências de sua
9
“Por uma antropologia do centro – entrevista com Bruno Latour”. Revista Mana, outubro de 2004, no
prelo.
8
hibridização que eles são permitidos. Há um problema de recinto. É exatamente
como se nós tivéssemos uma central nuclear, e para fazer essa central nuclear,
para poder fazer reações em seu interior, precisássemos de recintos. Se nos
interessarmos pelos recintos, diremos que os modernos possuem uma ontologia
naturalista – é isso o que diz Descola –, mas se nos interessarmos pelo que se faz
dentro dos recintos, veremos algo muito diferente.”
A crer em Latour, o desafio para as ciências humanas, ou especialmente da antropologia
da natureza, está em relacionar o dentro e fora, o oficioso e o oficial:
“Então, direi, para retomar os termos da questão de vocês, que não se trata aqui de
uma ontologia pura e simples, mas de uma ontologia que ainda não conhecemos
devido à falta de estudos. Mas quando estamos diante de alguns bons estudos –
tal, por exemplo, o belo livro de Ramberger sobre os seres biológicos em um
laboratório contemporâneo –, vemos que a ontologia naturalista de Descola e
Viveiros de Castro não parece descrever muito bem o que se passa nesse
laboratório. Coisas estranhas acontecem com os seres biológicos. Isso não quer
dizer que eles sejam animistas, isso significa que lhes acontecem coisas que
permitem a criação do recinto modernista. Quando se está no recinto modernista,
é possível fazer experiências sobre as ontologias que não se pode fazer quando se
está no terreno do animismo. É essa a diferença crucial, é essa a particularidade do
naturalismo.”10
Ainda para o autor, “esse trabalho ainda nem mesmo começou, apesar de ser
interessantíssimo”. Esse trabalho, enfim, situa-se precisamente no “lugar da ligação entre
a antropologia física e a antropologia cultural”
“Era lá que estava – e ainda está – o futuro, o impacto futuro dos recursos
intelectuais.”11
Creio que é nesse “lugar de ligação” que minha pesquisa pode encontrar ressonância e
rendimento. Não por acaso, esse domínio do “híbrido”, segundo Latour, “é já todo um
mundo da genética”12. Nossas provocações, no entanto, não cessaram aí. Perguntamos se
as descobertas recentes sobre a biotecnologia genômica não insistiriam sobre uma base
biológica certamente universal, que nos reenviaria forçosamente ao mononaturalismo.
Isto é, a já antiga constituição moderna não teria encontrado aí a sua realização?
Novamente, frente a problemas como o caráter múltiplo dos genes e inverossimilhança
dos discursos da universalidade, o campo da antropologia da ciência é convocada para
tratar desses assuntos de fronteira:
“Este é tipicamente o gênero importante de questão, pois estamos aqui no
cruzamento da antropologia física e da antropologia cultural, social. Esse
cruzamento deverá ser, no futuro, o cerne da antropologia. Mas reflexões como
10
Idem
Idem. “Era preciso que os antropólogos se interessassem justamente pelo centro”, conclui Latour.
12
Idem.
11
9
essas não foram praticamente realizadas. Podemos, e aliás há gente que o faz,
saudar a genômica como o grande evento dos últimos vinte anos. Mesmo sabendo
que, hoje, ela se tornou uma espécie de mercado. Podemos efetivamente realizar a
narrativa do modernismo com a biologia. Simultaneamente, há uma proliferação
de definições do gene, das influências dos genes, que reduziu a nada a
universalidade do discurso biológico. Este é tipicamente um problema modernista.
Todo mundo tem o mesmo genoma, estamos todos unidos na mansão da genética.
Sim, mas, simultaneamente, as definições do gene, das influências do gene que
unificavam essa mansão, explodiram em uma multiplicidade de definições. Por
exemplo, muita gente tem síndrome de mongolismo, mas não manifesta o
mongolismo. Pierre Sonigo, que é um grande biólogo francês e que escreveu, no
ano passado, um livro apaixonante sobre o gene, oferece uma definição
completamente oposta. Ele diz que não o gene não é algo que transporta as
informações, mas algo que come. Já não é a mesma coisa. Todas as conseqüências
que você pode tirar de um e de outro para a unificação do comportamento são
diferentes. Evelyne Fox Keller publicou, no ano passado, The century of the gene,
alegando que o discurso sobre a ação do gene é uma pequena fração, agora, do
que se passa na genética. Assim, há aqui [na França] gente que estuda as questões
relativas às doenças que são devidas a um gene, e observamos igualmente
diferenças enormes. Sem falar do fato de que agora um gene é uma empresa, é
uma patente, é um jogo geopolítico enorme como vemos com o caso dos OGM
[organismos geneticamente modificados, os transgênicos]. É por isso que a
relação entre a antropologia física e a antropologia cultural tornou-se tão
interessante de um ponto de vista político. Estamos diante de um lugar de
controvérsias, pois podemos dizer: “Olha, temos razão de fazer antropologia
física, pois agora isso já está unificado”. E, ao mesmo tempo: “Olha, temos uma
rica antropologia social – se assim podemos chamá-la – dos genes, porque a
genética é assunto das mais variadas controvérsias”. Isso é normal, pois não há
uma única maneira de um corpo existir no mundo. Os geneticistas não sabem o
que fazem. O problema do gene é complicado. Um gene é múltiplo e os seus
modos de ação são múltiplos. Não há um só discurso sobre o gene que possa
unificar a genética. A questão de vocês é muito interessante e a minha resposta a
essa questão é justamente a necessidade de se fazer uma antropologia da ciência.
(...) O objetivo da antropologia não é opor o discurso oficial ao discurso oficioso,
mas estudar os dois. E explicar porque o primeiro permite uma parte do segundo
ao mesmo tempo em que impede o seu desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento
da genética está paralisado pelo discurso que não corresponde mais, de modo
algum, àquilo que fabrica o Ser, à ontologia deste ser estranho que é o antigo gene
codificante e informante, algo como a imitação de um livro, algo que se
assemelha à linguagem”13
Interacionismo e outras pistas
Entrar nos recintos, interar-se dos termos, debates e controvérsias científicas, descrever as
práticas laboratoriais – estes parecem ser os principais desafios para uma antropologia da
13
Idem.
10
ciência ou, se quisermos, os science studies. O método antropológico recomendaria que,
para pensar sobre os cientistas, é preciso, antes, pensar com eles – na prática, na ciência
em ação14. Daí que pareça muito mais promissor formular nossas questões a partir das
questões deles. Acredito que esta é, particularmente, a exigência de um campo de
conhecimento fronteiriço por definição.
É assim que, para as minhas questões a respeito das fronteiras ou os limites do
naturalismo nas pesquisas de terapia genética, o chamado “interacionismo” (termo
cunhado no interior dos debates geneticistas) passa a me interessar centralmente.
Vejamos resumidamente no que consiste.
A concepção “um gene, um traço”, segundo a qual cada gene especifica um traço
(comportamental ou não), parece hoje ocupar posição marginal entre os pesquisadores de
genômica. Em seu lugar, a concepção do “interacionismo”, aceita pela maior parte dos
cientistas diretamente envolvidos no Projeto Genoma Humano, indica que “a maioria dos
tipos de comportamento (traços) não possui um corte padrão claro e depende da relação
entre fatores ambientais e múltiplos genes”15. No mesmo sentido, estatísticas e
probabilidades matemáticas que quantificam tendências, como as que distribuem
percentuais genéticos (inatos) e percentuais variáveis (ambientais), mostram-se
igualmente pouco confiáveis.
Portanto, a idéia de um sistema simples de causa e efeito (“um gene, um traço”) é
substituída pela de interações complexas entre diferentes reações bioquímicas deflagradas
por diversos genes influenciados pelo ambiente. Novos métodos e conceitos estão sendo
desenvolvidos para se compreender isto que agora se denomina “genômica funcional”,
cujo objeto, portanto, inclui o estudo da variação natural da seqüência do genoma
humano, abandonando assim o modelo “single-gene” que associava desordens
biomoleculares a um único gene. A intenção é compreender o funcionamento dos traços
complexos a partir da interação entre genética e ambiente. Por ambiente se compreende
tanto o contexto orgânico (como a função das proteínas) quanto os fatores que
presumimos como psíquicos e sociais.
Ao que parece, a idéia de “pré-disposição genética”, por definição, já indicaria os limites
do determinismo natural. Se pré-disposição diz respeito a condicionantes e não a
determinantes, então a passagem do condicionante para o determinante parece, em grande
parte dos casos (mas é preciso mapear os casos, tal como um passo metodológico
preliminar), depender não de fatores dados ou intrínsecos, mas sim pelo que os biólogos e
geneticistas denominam vagamente por “ambiente”. Pois será o ambiente, em interação
com os seres “naturais”, como os genes e as proteínas, um equivalente da eficácia
simbólica em genética?
14
Referência ao livro de Bruno Latour: Ciência em ação – como seguir cientistas e engenheiros sociedade
afora. São Paulo, Editora da Unesp, 2000.
15
Cf. McGuffin, Riley & Plomin, 2001: 1232-1249, apud Guilherme José da Silva e Sá, Uma história de
nós mesmos: considerações sobre o discurso determinista no Projeto Genoma Humano. Rio de Janeiro,
PPGAS/Museu Nacional, tese de mestrado, 2002, p. 64.
11
Ora, o ambiente, esse domínio do instável e variável, parece corresponder ou se
aproximar àquilo que nós mais ou menos entendemos como cultura, fonte que integra a
psique, esta instância própria da subjetividade. Estaremos de volta, em última instância,
àquela concepção maussiana (e, ao meu ver, reiterada na idéia levistraussiana de eficácia
simbólica) segundo a qual os fenômenos humanos, como os da saúde, são
simultaneamente orgânicos, psíquicos e sociais? A genômica, então, conheceria aí seus
limites? Ou é possível estabilizar fatores instáveis por definição, como esses do
“ambiente”, e assim padronizar terapêuticas? Se sim, para quais casos? Quais doenças,
entre as geneticamente determinadas, são passíveis dessa estabilização? Quais não e por
que? É preciso mapear tais doenças e tentar uma classificação segundo esse critério. Os
genes anômalos dependem de uma ativação externa (ambiental) ou se manifestam
independentemente das forças externas? Como se dá essa imbricação em estudos de
caso? Qual o papel das mutações e variações genotípicas?
No mesmo sentido, se a função gênica depende de interação, e a interação é, por
definição, algo sempre arbitrário, isto é, varia social e individualmente, então a eficácia
de uma terapia gênica repousaria em tratamentos individuais de caso. Para cada caso,
uma variação de causa. A noção de natureza, no seu sentido amplo e generalizante, como
o que funda o mononaturalismo ocidental ou moderno, desdobraria-se infinitamente na
pluralidade dos indivíduos? Se é assim (cada corpo, uma natureza), então a idéia do
domos de uma Natureza que subsumia todas as diferenças culturais parece estar
ameaçada.
Ao tentarmos nos livrar das concepções puras da ciência, a jusante, que nos apresenta
seus resultados já acabados e encerrados em caixas-pretas, vamos ao encontro da ciência
em construção, a montante, onde prolifera uma diversidade de sujeitos humanos e nãohumanos – genes, proteínas, instrumentos, cientistas, ambiente – que por sua vez fundam
outra diversidade de questões. Resta empenhá-las.
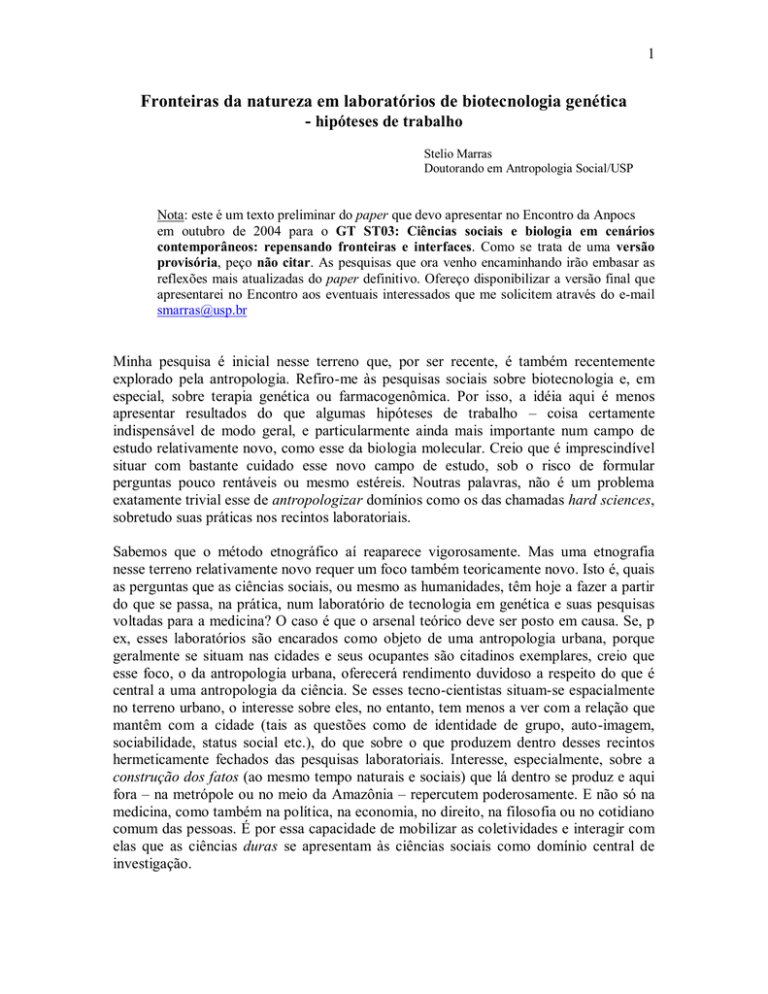










![Antropologia [Profa. Ol via]](http://s1.studylibpt.com/store/data/000329787_1-86f1de23ef4fc8c4b10e2491c0fd4e18-300x300.png)