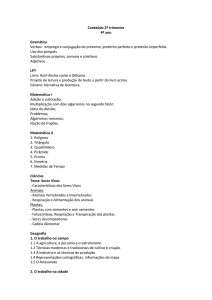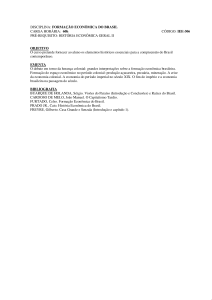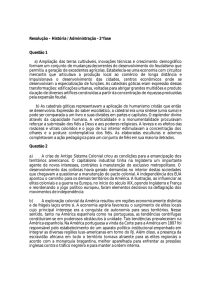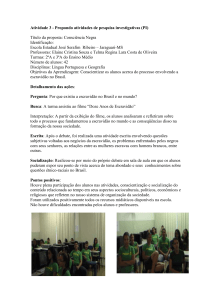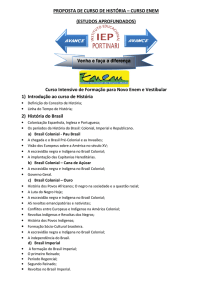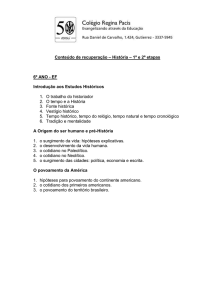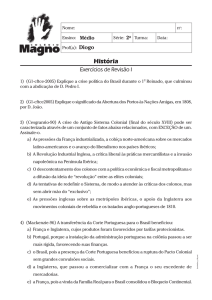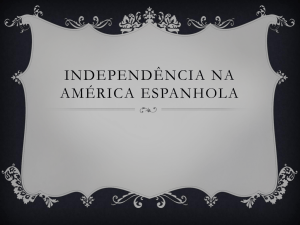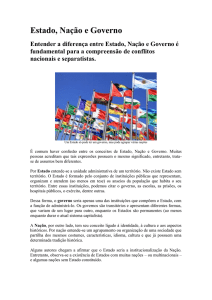Enviado por
common.user8091
Livro 17 - Capitulos da História do Brasil Imperial

CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ REITOR: Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso VICE-REITOR: Prof. Dr. Julio César Damasceno EDUEM - EDITORA DA UNIV. ESTADUAL DE MARINGÁ DIRETORA DA EDUEM: Profa. Dra. Terezinha Oliveira EDITORA-CHEFE DA EDUEM: Av. Colombo, 5790 - Bloco 40 Profa. Dra. Gisella Maria Zanin CONSELHO EDITORIAL Campus Universitário 87020-900 - Maringá - Paraná Fone: (0xx44) 3011-4103 http://www.eduem.uem.br [email protected] PRESIDENTE: Profa. Dra. Terezinha Oliveira EDITORES CIENTÍFICOS: Profa. Dra. Ana Lúcia Rodrigues Profa. Dra. Angela Mara de Barros Lara Profa. Dra. Analete Regina Schelbauer Prof. Dr. Antonio Ozai da Silva Profa. Dra. Cecília Edna Mareze da Costa Prof. Dr. Eduardo Augusto Tomanik Profa. Dra. Elaine Rodrigues Profa. Dra. Larissa Michelle Lara Prof. Dr. Luiz Roberto Evangelista Profa. Dra. Luzia Marta Bellini Prof. Me. Marcelo Soncini Rodrigues Prof. Dr. Márcio Roberto do Prado Prof. Dr. Mário Luiz Neves de Azevedo Profa. Dra. Maria Cristina Gomes Machado Prof. Dr. Oswaldo Curty da Motta Lima Prof. Dr. Raymundo de Lima Profa. Dra. Regina Lúcia Mesti Prof. Dr. Reginaldo Benedito Dias Prof. Dr. Sezinando Luiz Menezes Profa. Dra. Valéria Soares de Assis EQUIPE TÉCNICA FLUXO EDITORIAL Edneire Franciscon Jacob Marinalva Spolon Almeida Mônica Tanamati Hundzinski Vania Cristina Scomparin PROJETO GRÁFICO E DESIGN Luciano Wilian da Silva Marcos Kazuyoshi Sassaka Marcos Roberto Andreussi COPYRIGHT © 2016 EDUEM MARKETING Gerson Ribeiro de Andrade Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, mesmo parcial, por qualquer processo mecânico, eletrônico, reprográfico etc., sem a COMERCIALIZAÇÃO Paulo Bento da Silva autorização, por escrito, do autor. Todos os direitos reservados desta edição 2016 para a editora. Solange Marly Oshima HISTÓRIA E CONHECIMENTO Ivone Bertonha Moacir José da Silva (ORGANIZADORES) Capítulos da História do Brasil Imperial Eduem Maringá 2011 17 HISTÓRIA E CONHECIMENTO Apoio técnico: Rosane Gomes Carpanese Normalização e catalogação: Ivani Baptista CRB - 9/331 Revisão Gramatical: Jeanette Cnop Edição, Produção Editorial e Capa: Carlos Alexandre Venancio Eliane Arruda Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) C244 Capítulos da história do Brasil imperial / Ivone Bertonha, Moacir José da Silva, organizadores.-- Maringá: Eduem, 2011. 108p. : il. 21cm (Coleção história e conhecimento – EAD; n. 17). ISBN 978-85-7628-386-7 1. Brasil – História. 2. História do Brasil imperial. 3. Independência do Brasil. I. Bertonha, Ivone, org. II. Silva, Moacir José da, org. CDD 21.ed. 981 Copyright © 2011 para o autor 1ª reimpressão 2016 - revisada Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, mesmo parcial, por qualquer processo mecânico, eletrônico, reprográfico etc., sem a autorização, por escrito, do autor. Todos os direitos reservados desta edição 2011 para Eduem. Eduem - Editora da Universidade Estadual de Maringá Av. Colombo, 5790 - Bloco 40 - Campus Universitário 87020-900 - Maringá - Paraná Fone: (0xx44) 3011-4103 http://www.eduem.uem.br / [email protected] S umário Sobre o autor > 07 Apresentação da coleção > 09 Apresentação do livro > 11 Capítulo 1 Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias > 13 Ivone Bertonha / Mariane Pimentel Tutui Capítulo 2 História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração > 33 Luís Fernando Pessoa Alexandre / Neilaine Ramos Rocha Capítulo 3 A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos > 57 Moacir José da Silva Capítulo 4 O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica > 73 Suelem Halim de Nardo Carvalho / Itamar Flávio da Silveira Capítulo 5 O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada > 89 Luís Fernando Pessoa Alexandre / Moacir José da Silva 5 S obre os autores IVONE BERTONHA Professora de História do Brasil do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Graduada em História. Mestre em História (UEM). Doutora em História (USP). ITAMAR FLÁVIO DA SILVEIRA Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Graduado em História (UEM). Mestre em Pedagogia (UEM). LUIS FERNANDO PESSOA ALEXANDRE Professor Colaborador do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. Graduado e Mestre em História (UEM). MARIANE PIMENTEL TUTUI Graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá. MOACIR JOSÉ DA SILVA Professor de História Econômica do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Graduado em História (UEM). Mestre em Economia (UEM). Doutor em Engenharia de Produção (UFSC). Pós-Doutor em Administração (USP). NEILAINE RAMOS ROCHA Professora colaboradora do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Graduada e Mestre em História (UEM). SUELEM HALIM DE NARDO CARVALHO Professora Colaboradora do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Graduada e Mestre em História (UEM). 7 A presentação da Coleção A coleção História e Conhecimento é composta de 42 títulos, que serão utilizados como material didático pelos alunos matriculados no Curso de Licenciatura em História, Modalidade a Distância, da Universidade Estadual de Maringá, no âmbito do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que está sob a responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). A utilização desta coleção pode se estender às demais instituições de Ensino Superior que integram a UAB, fato que tornará ainda mais relevante o seu papel na formação de docentes e pesquisadores, não só em História mas também em outras áreas na Educação a Distância, em todo o território nacional. A produção dos 42 livros, a qual ficou sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Maringá, teve 38 títulos a cargo do Departamento de História (DHI); 2 do Departamento de Teoria e Prática da Educação (DTP); 1 do Departamento de Fundamentos da Educação (DFE); e 1 do Departamento de Letras (DLE). O início do ano de 2009 marcou o começo do processo de organização, produção e publicação desta coleção, cuja conclusão está prevista para 2012, seguindo o cronograma de recursos e os trâmites gerais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Num primeiro momento, serão impressos 294 exemplares de cada livro para atender à demanda de material didático dos que ingressaram no Curso de Graduação em História a Distância, da UEM, no âmbito da UAB. O traço teórico geral que perpassa cada um dos livros desta coleção é o compromisso com uma reconstrução aberta, despreconceituosa e responsável do passado. A diversidade e a riqueza dos acontecimentos da História fazem com que essa reconstrução não seja capaz de legar previsões e regras fixas e absolutas para o futuro. No entanto, durante a recriação do passado, ao historiador é dado muitas vezes descobrir avisos, intuições e conselhos valorosos para que não se repitam os erros de outrora. No transcorrer da leitura desta coleção percebemos que os livros refletem várias matrizes interpretativas da História, oportunizando ao aluno o contato com um inestimável universo teórico, extremamente valioso para a formação da sua identidade intelectual. A qualidade e a seriedade da construção do universo de conhecimento desta coleção pode ser tributada ao empenho mais direto por parte de cerca de 30 organizadores e autores, que se dedicaram em pesquisas institucionais ou até mesmo 9 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL em dissertações de mestrado ou em teses de doutorado nas áreas específicas dos livros que se propuseram a produzir. Esta coleção traz um conhecimento que certamente marcará positivamente a formação de novos professores de História, historiadores e cientistas em geral, por meio da Educação a Distância, o qual foi fruto do empenho de pesquisadores que viveram circunstâncias, recursos, oportunidades e concepções diferentes, temporal e espacialmente. Como corolário disso, seria justo iniciar os agradecimentos citando todos aqueles que não poderiam ser nominados nos limites de uma apresentação como esta. Rogamos que se sintam agradecidos todos aqueles que direta, indireta ou mesmo longinquamente, quiçá os mais distantes ainda, contribuíram para a elaboração deste rico rol de livros. Além do agradecimento, registramos também o reconhecimento pelo papel da Reitoria da UEM e de suas Pró-Reitorias, que têm contribuído não apenas para o êxito desta coleção mas também para o de toda a estrutura da Educação a Distância da qual ela faz parte. Agradecemos especialmente aos professores do Departamento de História do Centro de Ciências Humanas da UEM pelo zelo, pela presteza e pela atenção com que têm se dedicado, inclusive modificando suas rotinas de trabalho para tornar possível a maioria dos livros desta coleção. Agradecemos à Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), e ao Ministério da Educação (MEC) como um todo, especialmente pela gestão dos recursos e pelo empenho nas tramitações para a realização deste trabalho. Outrossim, agradecemos particularmente à Equipe do NEAD-UEM: Pró-Reitoria de Ensino, Coordenação Pedagógica e equipe técnica. Despedimo-nos atenciosamente, desejando a todos uma boa e prazerosa leitura. Moacir José da Silva Organizador da coleção 10 A presentação do livro De um alvorecer para outro, de um arrebol para outro, da aurora do século XXI para a do XIX, do Brasil de hoje para o período imperial, tal é o mote destas linhas. Seu fio condutor? – A reconstrução arejada das experiências e dos conflitos dos homens do passado. As novas gerações de historiadores vão paulatinamente expurgando as suas pesquisas de meras presentificações do passado inspiradas em bandeiras, ideologias e militâncias políticas; para elas este livro foi dedicado, com a desmesurada satisfação de tão nobre lida. Capítulos da História do Brasil Imperial é um livro que reúne fontes historiográficas diversificadas: nele a reconstrução do Brasil imperial valeu-se das pinturas de Debret, passando pela mais expressiva literatura coeva sobre os eventos e pelos documentos históricos, até chegar na historiografia convencional especializada naquele período. Este livro se vale da história das ideias para nela cingir novas sementes de reflexão. O capítulo 1 figura como algo primoroso na criatividade do trato com as fontes historiográficas; passa em revista algumas das pinturas de Debret relacionando-as com o ideário de José Bonifácio acerca da nação que aqui desabrochava. Poucos poderão furtar-se a essa excelente leitura, que recria, combinando arte neoclássica e escritos épicos clássicos, a conjuntura de acontecimentos do alvorecer do século XIX, um passado em que os homens colocavam, eles próprios, a natureza da nação moderna como uma questão histórica. O capítulo 2 traz um esboço completo para uma história intelectual acerca da formação da nação brasileira; nele questões abrangentes da sociedade brasileira como, por exemplo, escravidão, abolição e imigração são levadas em conta, num verdadeiro arrazoado, focando como as literaturas coevas e contemporâneas clássicas contextualizaram a origem da nação. De acordo com isso, o ideário de formação da nação foi retomado em momentos distintos, focalizando, por isso mesmo, questões distintas da história brasileira. O capítulo 3 aborda aspectos metodológicos da historiografia acerca do processo da Independência do Brasil. Focaliza a fase marxista da historiografia caiopradiana e examina a sua validade enquanto método interpretativo da História do Brasil Imperial, particularmente do seu processo de Independência. O tema desse capítulo são os 11 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL limites interpretativos do método marxista acerca do processo de Independência, que leva, para o campo da lógica filosófica, questões que por sua natureza pertencem ao da história humana. No capítulo 4 é retomado o pensamento do Visconde de Cairu. Representante da economia política clássica, ele aplicou os seus métodos de análise para a compreensão da nossa história. Esse capítulo figura como imprescindível para uma reflexão sobre o primeiro reinado de D. Pedro I; e isso não apenas por se tratar de um observador coetâneo dotado de grande cultura, erudição e perfil de atuação política nacional, mas principalmente por oferecer o referencial da prosperidade nacional para o entendimento da formação do Império. O capítulo 5 contém uma reflexão sobre o exclusivo metropolitano, de modo a reconstruir o seu significado para a formação do Brasil como nação independente, a partir dos recursos da história comparada; nele é feita uma detalhada distinção entre as colônias greco-romanas nas Idades Antiga e Medieval e as europeias na Idade Moderna. Por meio de tais comparações, esse capítulo levanta subsídios teóricos essenciais para o entendimento amplo do significado do monopólio colonial português, especialmente das implicações da relação colônia-metrópole para o desenvolvimento de ambas. Desejamos a todos uma boa leitura, a melhor das possíveis, a da relativização de nossos próprios referenciais. Ivone Bertonha Moacir José da Silva Organizadores 12 1 Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias Ivone Bertonha / Mariane Pimentel Tutui APRESENTAÇÃO Este capítulo tem como objetivo associar as pinturas históricas do artista cenógrafo Jean-Baptiste Debret aos escritos do estadista José Bonifácio de Andrada e Silva, focalizando a ideia de nação. O artista Debret e o estadista José Bonifácio (uma das figuras mais expressivas da política brasileira durante os anos da Independência), ambos formados sob os cânones do Iluminismo, enfatizam em suas obras as relações escravistas e os encaminhamentos de questões do Estado. Dentro dos referenciais da filosofia iluminista e dos seus compromissos de ofício, produziram obras, no Brasil, voltadas para os ideais de uma nação moderna. A partir dessas premissas, focaremos nossas discussões na análise dos panos de boca1 de Debret, pintor da corte desde D. João, e na ideia de nação do ministro José Bonifácio. Nesta reflexão, podem-se verificar as aproximações entre ambos em suas propostas de igualdade colhidas da teoria iluminista, as quais pela primeira vez incluem os índios e os escravos num projeto nacional. De acordo com isso, este capítulo tem como objetivo explorar os pontos em comum da produção artística expressa nos panos de boca de Jean-Baptiste Debret e no projeto de José Bonifácio de Andrada e Silva em que o político traça os ideais da formação nacional brasileira, durante o período da Independência. A ARTE NEOCLÁSSICA DE DEBRET E A MONARQUIA Considerando a simultaneidade desses personagens, com as experiências que acumularam em instituições políticas europeias e o papel que desempenharam na origem do Estado nacional brasileiro, esta análise situa-se no contexto histórico da queda de 1 Trata-se de uma tela pintada, que nos teatros separava o palco da plateia. 13 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Napoleão Bonaparte, do Congresso de Viena (1815) e da Independência do Brasil (1822). Nesse momento, forças aliadas europeias, alinhadas nas diretrizes políticas do Congresso de Viena, tentavam recuperar suas fronteiras anteriores à expansão imperial e implantar a restauração da ordem monárquica, conforme suas antigas prerrogativas políticas. No cenário das colônias americanas sobressaía o avanço da luta pela emancipação colonial, que se espelhava na Independência dos Estados Unidos (1776) e nos ideais iluministas culminados com a Revolução Francesa (1789). Paralelamente, a capacidade inglesa de sobrepujar o exclusivismo dos monopólios coloniais americanos no comércio mundial atuava no sentido de favorecer os movimentos em favor da Independência, conquistada entre 1811 e 1825. Em diferentes locais, instâncias e funções políticas, Debret e José Bonifácio participaram ativamente na realidade europeia desse período de mudanças, transpondo a marca dessas influências na arte que o primeiro realizou como pintor de história e nas suas famosas aquarelas, que focalizam os escravos nos trabalhos urbanos das ruas do Rio de Janeiro. Instalou-se aqui após o Congresso de Viena de 1815, o qual teve repercussão sobre os rumos da política colonialista portuguesa, conforme sugestão de Talleyrand ao ministro plenipotenciário de Portugal, o Conde Palmella. Convém a Portugal e convém mesmo à Europa toda [...] o enlace entre nossas possessões européias e americanas [...] eu consideraria como uma fortuna que se estreitasse por todos os meios possíveis o nexo entre Portugal e o Brasil; devendo esse país, para lisonjear os seus povos, para destruir a idéia de colônia, que tanto lhes desagrada, receber o título de Reino, e o vosso soberano ser rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil (BANDEIRA et al,, 2003, p. 33). Circunstancialmente, esses dois personagens encontraram-se durante os encaminhamentos políticos em que o Brasil deixava de ser politicamente uma colônia e ganhava o status de reino, com o nome de Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves (1815). Debret, que se manteve próximo ao seleto grupo de artistas patrocinados pela corte napoleônica, veio com a Missão Artística Francesa de 1816. Desde esse período, como pintor de história, dedicou-se à criação de padrões estéticos representativos dos vários momentos políticos da Monarquia no Brasil, até 1831. Junto com esse grupo, Debret figurou entre os precursores da arte neoclássica e do ensino artístico acadêmico, na corte dos trópicos. O estadista, que desembarcou em 1819, ocupou-se de projetos relativos às instituições políticas representativas de uma nação nos moldes modernos, ou seja, dos direitos de cidadania e de igualdade, conforme instituições presentes em sociedades europeias. Jean Baptiste Debret foi um pintor da escola neoclássica, estilo que ganhou expressão no movimento revolucionário francês, e manifestava ideais que 14 elevavam a força política do Terceiro Estado, provenientes dos segmentos burgueses. Era o momento em que, na França, um violento enfrentamento social fizera o Terceiro Estado encontrar no passado greco-romano um modelo ético de comportamento que o colocava como herdeiro – fantasiosamente ou não, pouco importa – de uma longa tradição republicana igualitária (NAVES, 1996, p. 71). Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias O neoclassicismo culminou com a obra em pintura O Juramento dos Horácios, exposta em Paris em 1785, a qual consagrou Jacques-Louis David, pintor da Revolução, primo e tutor de Debret. Essa obra também contou com a participação de Debret, e foi realizada durante a segunda estada de David na Academia de França, em Roma, cidade considerada, naquela época, a Meca dos artistas e da intelectualidade europeia. Nessa tela, segundo Lílian Moritz Schwarcz, a pintura histórica neoclássica não se limitava à forma estética, mas atinge a expressão de um diálogo entre a literatura e a filosofia iluminista e almeja um papel igualado (SCHWARCZ, 2008, p. 91). Na concepção do crítico de arte Ernst Gombrich, o aspecto da associação da arte neoclássica à Revolução Francesa estabeleceu-se a partir do resgate da tradição política e artística greco-romana, porque [...] os homens da Revolução gostavam de se considerar cidadãos livres de uma Atenas ressurgida’, e o modelo, em consonância com a arte grega voltava-se para a descrição moral e também física dessa nova humanidade cidadã. A preocupação em modelar os músculos e tendões do corpo, evocar exemplos heróicos da Antiguidade e, mesmo assim, garantir a simplicidade da obra, eliminando todos os detalhes desnecessários, era o ideal de tais artistas (SCHWARCZ, 2008, p. 57). Da mitologia do mundo da Antiguidade Clássica, apresentada nas suas fontes artísticas, literárias e históricas, o neoclassicismo retira sua inspiração, sob o enfoque das proposições éticas da antiga República. Encontrou na França um dos seus maiores epicentros e ganhou dimensão universal, simbolizando os novos tempos, que valorizavam a igualdade e a cidadania. A arte neoclássica prima pela utilização de formas simples, linhas geométricas, cores vivas, poucas figuras e valorização da natureza. Esse estilo significou também uma ruptura com a tradição barroca e o rococó, alvos de críticas no século XVIII, por expressar o Antigo Regime e privilegiar a representação de personagens, costumes e ambientes identificados com a nobreza e o alto clero. ‘Os tempos eram outros: a base era a rejeição à frivolidade do rococó e o investimento num modelo de arte conectado às virtudes do Estado e aos modelos greco-romanos’ (SCHWARCZ, 2008, p. 61). Segundo o historiador José Murilo e Carvalho, para David a retomada do classicismo, na ascensão revolucionária, exprimia 15 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL [...] uma visão do mundo clássico como um conjunto de valores sociais e políticos. Era a simplicidade, a nobreza, o espírito cívico, das antigas repúblicas; era a austeridade espartana, a dedicação até o sacrifício dos heróis romanos (CARVALHO, 1990, p. 11). Nesse cenário que anuncia a queda do Antigo Regime e a proposta de uma ética cidadã, defensora do patriotismo, é que Jean-Baptiste Debret se desenvolve, nos modernos padrões do estilo artístico neoclássico, sob influência direta de David, considerado o mestre do neoclassicismo. Especificamente, a ascendência de David sobre o jovem artista foi identificada por Rodrigo Naves (1996, p. 47-8) na obra Regulus voltando a Cartago (1791), que conferiu a Debret, naquele ano, o segundo prêmio do concurso de seleção de pensionistas para a Academia Francesa em Roma, patrocinada pelo Estado francês. Debret permaneceu fiel a esse estilo, que no decorrer do processo revolucionário foi se separando dos mitos greco-romanos para expressar os fatos políticos marcantes da atualidade francesa. A morte de Marat (1793) e o Retrato de Maria Antonieta indo para o cadafalso (1793) são obras de David típicas da queda do Antigo Regime, período no qual esse artista conquistou importante ascensão política entre os jacobinos. No período napoleônico, o enfoque neoclássico se voltou para cenas idealizadas na realidade das campanhas militares do expansionismo francês na Europa. Arte e política amalgamaram-se na expressão da ideologia do Estado Imperialista, enaltecendo batalhas, com a figura de Napoleão no centro das telas. Com a queda de Napoleão em 1815, a volta dos Bourbons e o exílio do mestre David na Bélgica, artistas e intelectuais bonapartistas encontraram-se desprestigiados e sem patrocinadores para os seus trabalhos. Para os membros dirigentes do Instituto de França – centro da propaganda política de Napoleão –, o agravante eclodiu num embate com as autoridades inglesas, que exigiam a devolução das obras de arte trazidas da Itália para o Musée du Louvre, durante as conquistas napoleônicas. Joachim Lebreton, Secretário Perpétuo da Quarta Classe do Instituto de França e administrador do Louvre desde 1798, assistente de Vivant Denon, enfrentou Lorde Elgin e o Duque de Wellington com o seguinte discurso: Com efeito, para evitar aquilo que poderia parecer ser-nos pessoal, e reduzindo-nos a um só fato, não são os franceses que arrancaram aos pedaços as esculturas de Fídias dos monumentos de Atenas e transformaram em ruínas os pórticos dos templos violados (DIAS, 2004, p. 311). Os antigos participantes da corte napoleônica, fragilizados nesse ambiente revanchista, buscaram novos locais para se estabelecerem fora da França e mesmo da Europa, onde não sofressem interferência de conflitos dessa natureza. 16 Elaine Dias, ao mencionar carta de 03 de outubro de 1815, de Lebreton, aos diplomatas portugueses, sobre sua intenção de desenvolver um projeto voltado aos ofícios no reino português americano, diz que o remetente refere-se à formação de correntes emigratórias de franceses em direção aos Estados Unidos, ao Novo Reino dos Países Baixos e à Alemanha. No entanto, salienta ‘as dificuldades de emigração para os países americanos de colonização espanhola, em consequência das ‘possessões’ e ‘agitações’ que conturbam esses países’ (DIAS, 2004, p. 306). O único reino europeu que abrigava uma monarquia nos trópicos representava um interessante atrativo a esses grupos, e suas lideranças, atentas, acompanhavam os encaminhamentos da diplomacia exercida por Antônio de Araújo de Azevedo, Conde da Barca, poderoso ministro de D. João. Esse antigo simpatizante da política francesa, desde julho de 1814 empenhou-se em renovar as relações diplomáticas e comerciais com a França, com o propósito de equilibrar a forte influência inglesa, que abarrotava com seus produtos os mercados brasileiros. Tal medida desse forte aliado dos franceses abriu uma nova perspectiva aos grupos pressionados pela nova ordem política em sua terra de origem, os quais mantinham conhecimentos fragmentados do Novo Mundo, propagados pela literatura de viagens. Com a elevação do Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarves (1815), Lebreton manifesta no mesmo documento as condições vantajosas oferecidas por esse novo reino aos oficiais e artesãos especializados, dispostos a contribuir com um progresso que na França se perdia. Acrescenta a influência exercida pelo naturalista Alexander Von Humboldt, que divulgava em Paris sua obra Essai Politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne, em 1811, focalizada numa bem-sucedida experiência dos ofícios realizada pela Academia de Nobles Artes, fundada no México em 1783. Debret, em Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, refere-se às aproximações da diplomacia portuguesa na Europa com membros do Instituto de França. D. Pedro de Menezes, o Barão de Marialva, nomeado em 1815 Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias Ministro plenipotenciário junto à corte de França em Paris, aí organizou um círculo íntimo de homens extremamente notáveis pelos seus conhecimentos e cultura. Entre estes se encontrava o Barão de Humboldt, um dos membros do Instituto de França, que, em 1815, lhe inspiraram o desejo de fundar no Rio de Janeiro uma academia real de belas artes. Daí nossa expedição artística dirigida pelo senhor Lebreton, então secretário perpétuo da classe de belas artes do Instituto de França (DEBRET, 1975, p. 246 apud DIAS, 2004, p. 305). Com objetivo de estabelecer na capital do Novo Reino uma Academia de Ciências, Artes e Ofícios, as negociações entre Lebreton e diplomatas portugueses, com apoio 17 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL de Antônio de Araújo Azevedo, Conde da Barca2, resultaram na vinda de um grupo seleto de artistas, artesãos, assistentes e familiares, liderados por Lebreton. Integravam o conjunto cerca de 40 pessoas, que chegam ao Brasil no veleiro Calphe, em 25 de março de 1816. Entre elas estavam Jean-Baptiste Debret (1768-1848), pintor de história; Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830), pintor de paisagem; Auguste Henry Victor Grandjean de Montigny (1776-1850), arquiteto; Auguste Marie Taunay (1768-1824), escultor; Charles Simon Pradier (1786-1848), gravador. Em 1817 os irmãos Marc e Zépherin associaram-se ao grupo: o primeiro como escultor, e o segundo, escultor e gravador de medalhas. Uma sequência de fatos interrompeu os objetivos dos portadores da ‘civilização’ numa cidade como o Rio de Janeiro, sede do Império, cujas condições físicas estavam mais próximas à de uma vila colonial. A chegada da colônia francesa coincidiu com a morte de D. Maria I e a sucessão do trono do Império, que deveria ocorrer quando finalizasse o luto oficial. A aclamação do novo Rei não se concretizou na sequência natural: foi adiada por causa da instabilidade do Reino, atingido por conflitos, na nobreza lusa, decorrentes da disputa pelos melhores cargos, de gastos militares e de pesadas taxas, advindas das exigências do reaparelhamento do Estado. Nenhuma outra questão se mostrou mais grave, nesse contexto, do que a eclosão, em Pernambuco, de um movimento que ameaçava romper com a Monarquia, para o estabelecimento de uma República. Isto dividiria o país e abalou o encaminhamento dos cerimoniais da coroação do Rei e dos festejos do casamento do príncipe herdeiro, já oficializado na corte austríaca. A principal documentação desse importante movimento com proposta republicana concentra-se em Notas Dominicais, de Louis-François de Tollenare (1908), que desembarcou em Recife, em 1817, como comerciante de algodão. Esse viajante francês acompanhou diretamente tal movimento, liderado em grande parte por clérigos, que influenciaram ‘decisivamente enquanto professores ilustrados do Seminário3, na formação de uma inquieta juventude liberal’ (Viana, 1999, p. 280). Nas províncias do Norte e do Nordeste, segundo Lilia M. Schwartz, as principais mercadorias das praças de comércio locais foram atingidas pelos agravantes de uma recessão, [...] quando se combinavam dois fatores deletérios: a continuada queda no preço do açúcar e do algodão com a alta constante dos preços dos escravos. Como 2 Marialva, Barca e Humboldt seriam, portanto, figuras centrais na criação e composição do projeto de ensino artístico, cujo fator principal era o desenvolvimento dos Ofícios (DIAS, 2004, p. 304). 3 Seminário de Olinda, fundado pelo Bispo D. José de Azeredo Coutinho, instituição que admitia leigos com oportunidade de realização de cursos regulares de humanidades, de lógica, de matemática e de ética. Havia uma cadeira dedicada à física e uma aula de desenho, que se extinguiram desde que ele deixou a diocese de Olinda. 18 se isso não fosse suficiente, o ambiente tornava-se ainda pior diante da má fama do governador, cantada em prosa e verso (SCHWARTZ, 2008, p. 216). A oposição à Monarquia, que chegou a estabelecer temporariamente um governo republicano em Recife, e a possibilidade de perda de um tradicional e importante núcleo de produção da economia mobilizaram forças armadas do Império, concentradas na Bahia e no Rio de Janeiro. O desembarque delas no Recife desencadeou uma repressão exemplar, imprimindo registros políticos e simbólicos de sua presença, sob uma liderança despreparada e dispersa. Soldados membros do regimento de Recife participantes do movimento revolucionário foram perdoados, mas foram obrigados a assistir, desarmados, a cerimoniais de execuções de companheiros. Foram em seguida cercados e, sem nenhum aviso, embarcados para o Sul, para defenderem interesses da Monarquia na Província Cisplatina. Partiram ordens do General Luiz Rego, nomeado governador por D. João, com a finalidade de restabelecer a ordem na Província de Pernambuco (TOLLENARE, 1908, p. 535). O radicalismo repressivo, mobilizando milhares de soldados diante de um movimento já fragilizado e disperso, mais se explica por uma demonstração de força da Monarquia, que se impõe frente às ameaças internas e externas, justificada pela garantia da ordem e da unidade do Império. A essas ações soma-se o apoio político liderado principalmente por segmentos de comerciantes estabelecidos no Rio de Janeiro, fiéis aliados à política joanina desde a vinda da corte. Com a elevação do Brasil a Reino Unido, a cidade do Rio de Janeiro, além de continuar sede da corte, conquistou o status de capital do Império e único reino europeu nos trópicos. Dessas ações de ordem militar e política resultaram novas alianças e o crescimento de apoio à Monarquia, abrindo-se oportunidade para a coroação do rei, evento inédito no Brasil, a ser comemorado com grandes festejos nas ruas e em espaços públicos da capital. Concomitantemente, a sucessão do trono também foi assegurada com a realização do casamento de D. Pedro com a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina4, fi- Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias lha de Francisco I, aliança promovida pelo Marquez de Marialva, que uniu a dinastia dos Braganças a uma das mais tradicionais e poderosas cortes estrangeiras. Ao som do repique dos sinos, a princesa desembarcou em 1817 no Rio de Janeiro, acompanhada dos componentes da Missão Científica, formada por médicos, biólogos, botânicos, pintores e músicos. 4 Sobre Carolina Josepha Leopoldina de Habsburgo, personagem, poliglota, leitora de Camões e Goethe e com desempenho importante na Independência do Brasil, ler BULCÃO, Clóvis. A austríaca que amou o Brasil. Nossa História, São Paulo, ano 1, n. 11, p. 30-33, 2004. 19 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Os artistas neoclássicos franceses Debret, Grandjean de Montigny e os irmãos Ferrez não perderam a oportunidade de demonstrar seus trabalhos, na produção de artifícios ornamentais, com o objetivo de que os cerimoniais e festejos da coroação do Rei e do casamento do príncipe projetassem a Monarquia no melhor estilo artístico. Esse evento somente veio a se concretizar em 1818. O ‘Rio de Janeiro jamais conhecera pompa semelhante, com Debret e Montgny esmerando-se em conceder à decadente corte portuguesa um ar solene e engrandecedor’ (TREVISAN, p. 2009). Com os parcos recursos disponíveis, incansavelmente os artistas fizeram sobressair, nos ambientes públicos da capital do Império, uma decoração inspirada nos mitos e símbolos da Antiguidade Clássica, cujos resultados da arte neoclássica em nada se aproximaram dos efeitos luxuosos antes atingidos em cortes da Europa5. Os ambientes da capital do Império – cujas decorações deveriam elevar a solenidade do momento histórico –, pelas condições de higiene, total ausência de planejamento, violência e em virtude de uma população formada por 79.321 pessoas, das quais 45.6% eram escravos subordinados a trabalhos contínuos6, contribuíram mais para acentuar a contradição dessa arte. Na concepção da arte neoclássica, a cidade ideal deveria abrigar espaços disponíveis ao convívio social próprios à conduta e ao desenvolvimento da civilidade. Rodrigo Naves aprofundou esse significado ao afirmar: Quando David hostilizava a pintura de paisagens e as naturezas mortas, sabia o que estava fazendo. Tratava-se de produzir imagens que antecipassem uma cidade regenerada, lugar de um relacionamento moral entre os homens. Para essa concepção, a arte – forçosamente ética – se constituía em suma e guia da vida urbana (NAVES, 1996, p. 68). No Real Theatro São João, inaugurado em 1813, encontrava-se uma das mais expressivas obras da pintura histórica desse momento da realidade brasileira, que serviu de decoração ao balé apresentado por ocasião da aclamação do rei D. João VI e do casamento de D. Pedro e Dona Leopoldina. 5 Após a morte do Conde da Barca, em 1817, os artistas, sem vislumbrar uma volta imediata para a Europa, acharam-se desprotegidos no Novo Mundo. Com o adiamento do projeto da Academia de Belas Artes, buscaram conquistar espaços na corte, e esse momento representou a oportunidade oportuna para demonstrarem suas experiências artísticas. 6 Mawe, Loocock, as telas de Debret. 20 Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias Figura 1 - Tela utilizada no Teatro da Corte na aclamação de D. João VI. Fonte: <http://www.brasiliana.usp. br/bbd/bitstream/handle/1918/624530129/006245-3_IMAGEM_129.jpg>. A figura 1 refere-se à decoração para o balé histórico realizado no Teatro da Corte, no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1818, por ocasião da aclamação do rei D. João VI e do casamento do príncipe real D. Pedro, seu filho – 1814-39 – Jean-Baptiste Debret (NAVES, 1996, p. 66). Utilizada como pano de boca, essa tela, que separava no teatro o palco da plateia, não tinha mera função de encantar os olhos, conforme tradição de sua origem, porém simbolizava os valores do momento político, com a finalidade de atingir o imaginário popular. No Brasil, o Estado Imperial, centrado na figura de um Rei, representante de uma dinastia europeia decadente, refugiada no mundo colonial, não herdava fatos, nem mesmo remotos, de referências que o glorificassem. Poucas inspirações restavam ao pintor para exaltá-lo. Os recursos do pano de boca concentraram-se numa composição alegórica, na qual D. João VI era a única figura reconhecida na tela. Sobre um pedestal, num plano superior às demais, envolto em nuvens e contornado por mitos trazidos das alegorias da Antiguidade Clássica, o rei centraliza a tela, com a coroa e as cores das vestes que simbolizavam a Monarquia portuguesa. Vicissitudes e confrontações de ordem política entre os artistas franceses e artistas portugueses aqui instalados desde a vinda da corte, com a perda de apoios importantes com a morte do Conde da Barca (1817) e de Lebreton (1819), resultaram no declínio do projeto original, idealizado nos ofícios. A opção entre dirigentes e a colônia francesa limitou-se à inauguração de uma academia, oficializada em 1820, tendo em vista que 21 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL as Artes do Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, são indispensáveis à civilização dos povos e instrução pública de meus vassalos, além do aumento e perfeição que podem dar aos objetos da Indústria, Física e História Natural: Hei por bem estabelecer, em benefício comum nesta cidade e Corte do Rio de Janeiro, uma Academia que se denominará Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, Decreto de D. João VI (apud DIAS, 2004, p. 26). Nessa experiência, Jean- Baptiste Debret torna-se pintor da corte de D. João, cujo papel era criar padrões de representação do Estado, que foi elevado a Reino Unido do Brasil, de Portugal e Algarves (ou seja, o Brasil deixava de ser uma colônia e passava a ser um reino tão significante quanto Portugal), com reconhecimento do Congresso de Viena. Debret, como pintor histórico, retratou os símbolos e a corte portuguesa instalada no Brasil, monarcas sendo aclamados e coroados, eventos do Teatro Real de São João (local onde foi cenógrafo por sete anos, realizando panos de boca e cenários). Porém, sua arte no Brasil ficou marcada e conhecida pela reprodução de cenas de rua do Rio de Janeiro, entre 1816 e 1831, principalmente relativas a atividades desenvolvidas pelos escravos urbanos. Nas palavras de Naves (2004, p. 22), ‘negras e negros parecem procurar nos desenhos de Debret uma maneira de se colocar no espaço, no mundo [...]’, dinamizado pelo seu trabalho. A formação exemplar do neoclássico Debret jamais faria sentido no Brasil, que abrigava uma corte fugida de Portugal, instalada num ambiente urbano precário onde o artista não encontrava inspiração, o que o obrigava a buscar forma adequada de representação numa realidade completamente destoante da que deixara na Europa. Debret ia adquirindo uma melhor compreensão da vida no Brasil ao incorporar em seus quadros traços da sociedade brasileira: escravos e indígenas. De acordo com Naves, em seu ensaio, isso era o que diferenciava uma cidade europeia da do Rio de Janeiro, onde 45,6% da população (num total de 79.321) trabalhavam como escravos. Diante dessas contradições cruciais, Debret, ao desenvolver alternativas para sua produção nos trópicos, encontra uma nova expressão que valoriza a arte: ‘A ‘forma vinha difícil’, bem como parecia complicado simplesmente aplicar modelos externos a uma realidade tão particular’ (SCHWARCZ, 2008, p. 222). Essa experiência no Novo Mundo exigiu novas práticas de trabalho e uma compreensão da sociedade brasileira que Debret, assim como outros estrangeiros, desconhecia, principalmente em relação à escravidão. Dessa forma, a arte neoclássica no Brasil era elaborada num diálogo com os trópicos, segundo o qual tudo causava impacto: o sol, o verde da vegetação, o céu, a mestiçagem da população e os escravos, que em nada pareciam com os atletas gregos. Por isso se observa, na sua arte, que a articulação entre indivíduos e ambiente revela a situação deles na cidade. Segundo 22 Naves, trata-se de ‘ações que não determinam seu espaço, gestos que não encontram desdobramentos’ (NAVES, 1996, p. 86). Nesse sentido, nas obras de Debret no Brasil existem numerosas aquarelas que reproduzem a participação dos escravos no comércio de rua da capital, sede da Monarquia portuguesa. Chama a atenção do artista o trabalho escravo utilizado na venda de frutas, flores, refrescos, aves, doces, carregamento de água, assim como as festividades (Queima do Judas, Dia de Entrudo), entre outras atividades. A litografia e a aquarela eram incomparavelmente mais rápidas do que a pintura a óleo, e a liberdade e a agilidade do traço favoreciam a vivacidade das gravuras e dos desenhos. Essas técnicas eram usadas por serem identificadas com seu objeto. Pouquíssimos estudiosos se detiveram sobre a razão e o significado dessa mudança nas obras do pintor francês. As investidas em outras atividades, principalmente em decorações públicas para grandes eventos, foi consequência das dificuldades que os integrantes da Missão Artística Francesa encontraram quando chegaram ao Brasil, em 1816. O projeto de criação de uma Escola de Ciências, Artes e Ofícios, razão da vinda desses artistas franceses para o Rio de Janeiro, foi prejudicado não só pela instabilidade política decorrente da elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves mas, principalmente, pela morte, em 1817, do ministro Conde da Barca, idealizador dos projetos da Missão. A Escola foi inaugurada somente em 1826, como Academia Imperial das Belas-Artes, instituição onde Debret foi professor de pintura histórica até 1831, ano em que retornou à França (DIAS, 2004). Na figura 1, no quadro Bailado Histórico, observamos a aclamação de D. João VI; percebemos ainda uma relação com os valores artísticos greco-romanos (deuses da mitologia grega contracenando com a realeza portuguesa), e uma retomada da antiguidade clássica e de personagens mitológicos, colocando em ênfase a exaltação da moral, dos princípios físicos e as virtudes, entre as alegorias selecionadas pelo artista. Enquanto Rousseau e Voltaire mudavam o pensamento de uma época, a arte neoclássica modificava a pintura: a antiguidade clássica era imitada e não simplesmente copiada. Nesse momento, logo após a derrota dos republicanos em Pernambuco e a aclamação de D. João como rei em 1818, a Monarquia se tornou hegemônica, e finalmente o Brasil possuía um Rei! No pano de boca, na figura 1, D. João encontra-se no plano central do quadro, na condição de rei absolutista, apresentando uma postura superior entre as alegorias, sendo sustentado por figuras que simbolizam as três nações: Portugal, Brasil e Algarves. Tais figuras, de acordo com Lilia Moritz Schwarcz, atribuíam um ar solene e engrandecedor à corte portuguesa. Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias 23 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Esse momento político no Brasil foi irreversível: mesmo após a volta de D. João a Portugal e os encaminhamentos que culminaram na Independência, Debret mantém a formação neoclássica, seguindo o auge da escola de David e as decorações teatrais, que eram parte da pintura histórica e que assumiram, portanto, nas palavras de Elaine Dias, ‘uma unidade que convence e traduz, por meio da imagem, o contexto político de 1822, os ideais da nova pátria’ (DIAS, 2004, p. 27). DEBRET E BONIFÁCIO: O MOMENTO DA NAÇÃO INDEPENDENTE Uma análise para apreender o sentido dos debates durante o período da Independência, mais a avaliação das fontes historiográficas, a exemplo do pano de boca e dos escritos de José Bonifácio (nos quais o estadista desenvolve seu projeto de nação), oferecem ao historiador um rico material a ser explorado. Nesta oportunidade, procuraremos associar fontes artísticas e escritos oficiais de grande importância à interpretação da sociedade brasileira: o artista da corte, o estadista na exposição de seu ideal, a monarquia constitucional, a natureza abundante, tudo a expressar argumentos construtivos de uma nação moderna e valores inspirados na teoria iluminista. Dentre a extensa obra do pintor, optamos pela ênfase na pintura histórica, em que Debret tinha longa experiência, adquirida na corte francesa de Napoleão. Selecionamos especificamente o pano de boca do Teatro São João (atual Teatro João Caetano), utilizado para a decoração que fez parte da cerimônia de coroação de D. Pedro I como Imperador do Brasil. Nessa pintura alegórica, que reproduz a Monarquia, pretendemos extrair dos elementos da composição da cena os conteúdos e o significado da proposta política para a Nação que despontava. Com o aumento da importância política e artística do Teatro São João decidiu-se que, em 1822, o Imperador D. Pedro I seria também consagrado naquele palco. Para homenageá-lo, Debret foi encarregado da produção de um pano de boca que representasse o Império brasileiro e que ajudasse a construir uma nova imagem do Brasil. A ideia inicial de Debret, aprovada pelo ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, mostrava ‘a fidelidade geral da população brasileira ao governo imperial, sentado em um trono coberto por uma rica tapeçaria’ (DIAS, 2004, p. 26). [...] Bonifácio, porém, exigiu uma modificação: que fossem retiradas as palmeiras que sustentavam o dossel sobre o trono, as quais podiam sugerir um estado selvagem no Brasil, algo que se opunha à ideia de um Império Constitucional. 24 Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias Figura 2 - Tela da coroação de D. Pedro I. Pano de boca executado para a representação extraordinária dada no Teatro da Corte por ocasião da coroação do Imperador D. Pedro I – 1834-39 – Jean Baptiste Debret. Fonte: Debret, Jean-Baptiste. Pano de boca do teatro da corte, 1831. In Voyage pittoresque et historique au Brésil. Litogravura em cores, 16 x 31,7cm. Acervo Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. Segundo Debret, nesse pano de boca pode-se destacar o conjunto representativo dos trópicos, a presença de negros, índios, militares, homens brancos, crianças e plantas típicas da flora brasileira, como a palmeira, a cana-de-açúcar, o café, as frutas tropicais... Conforme NAVES (1996), Debret, no sentido de ultrapassar seu dilema brasileiro, realizou uma arte vinculada à realidade do país mas sem perder de vista a dimensão da postura neoclássica. Foi assim que o primeiro pintor estrangeiro se deu conta do que havia de enganoso em simplesmente aplicar o neoclassicismo à representação da realidade brasileira. Nem reis, nem ricos, pobres, pretos ou brancos ofereciam uma base em que apoiar o formalismo moralizador do movimento neoclássico. E o que pensar dos corpos maltratados circunscritos por uma linha elegante, a transformá-los em romanos idealizados? (NAVES, 1996, p. 71). Jean-Baptiste Debret mostra no pano de boca a mistura das raças no Brasil, numa representação de nação moderna defendida por José Bonifácio, o qual, nesse momento, estava em plena atuação política. A pedido de José Bonifácio, Debret colocou o trono sob uma cúpula sustentada por duas colunas douradas com formas femininas, chamadas cariátides (colunas com a forma de estátuas de mulheres). A sensibilidade do artista não permitiu que as palmeiras desaparecessem do quadro; apenas, foram ‘deslocadas para o fundo da tela na tentativa de afastar a idéia de estado selvagem’ (DIAS, 2004, p. 26). 25 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 26 A liderança política desse momento centrava-se na figura de José Bonifácio de Andrada e Silva, que tinha uma visão própria sobre a escravidão. Bonifácio tornou-se conselheiro do príncipe e desempenhou um papel muito importante, que resultou na Independência do país. Quando terminou o curso de Leis na Universidade de Coimbra, José Bonifácio engajou-se na Academia Real das Ciências de Lisboa, cuja principal função era apontar as causas e soluções da crise político-econômica atravessada por Portugal. A partir de então, ‘[...] sua formação político-intelectual seria guiada, em grande medida, por esta preocupação com a regeneração do Império português’ (SILVA, 1999, p. 245). José Bonifácio de Andrada e Silva, que veio para o Brasil em 1819, após uma ausência de 37 anos, foi uma figura emblemática nesse movimento. Em seus escritos o estadista, formado nos princípios da teoria iluminista, traça seu projeto ideal a ser desenvolvido na política do Novo Estado que se originou nesse momento, com base no que dizia o filósofo Rousseau: ‘Nulo é o direito da escravidão, não só por ser ilegítimo, mas por ser absurdo e nada significar’ (ROUSSEAU, 1973, p. 35). José Bonifácio e Debret, profundos conhecedores da realidade dos principais centros europeus, representam a escravidão, em seus trabalhos, como algo destoante numa sociedade que pretendia equiparar-se às realidades europeias. No pano de boca em estudo Debret deixa transparecer seu ideal de nação ao integrar o índio, os escravos e demais personagens, demonstrando, segundo Elaine Dias, ‘a fidelidade geral da população brasileira ao governo imperial sentado em um trono coberto por uma rica tapeçaria’ [...] (DIAS, 2004, p. 26). A ruptura política e econômica do império luso-brasileiro levou José Bonifácio a refletir sobre a formação da nação brasileira. O estadista apontava em direção da construção de uma nação moderna, com questionamentos ao tráfico e à escravidão, e propôs a incorporação dos índios na sociedade, proposta que foi pioneira na legislação com o fim de incluir os índios num projeto nacional brasileiro. Defendia que a miscigenação era necessária para suprir choques de classes, raças e para construir uma nação homogênea, e assim ele expunha seus ideais de relações de igualdade. Essa política está evidente na ilustração de Debret no pano de boca da figura 2. Observamos os clarins anunciando o Novo Estado, o Imperador coroado e um representante da Monarquia tendo na mão uma tábua de leis. Debret retrata o povo brasileiro unido e também armado, quando se tratava da defesa da pátria, com foices, armas e machados. A mestiçagem simbolizava o futuro do Brasil, assim como José Bonifácio idealizou em seu projeto de nação: sociedade civilizada e homogênea. No desejo de ruptura da era colonial fica evidente, na sua concepção, que: Para emancipar escravos sem prejuízo da sociedade, cumpre fazê-los primeiramente dignos da liberdade: cumpre que sejamos forçados pela razão e pela lei a convertê-los gradualmente de vis escravos em homens livres e ativos (SILVA, 2000, p. 31- 32). Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias Dentro dos princípios da razão, José Bonifácio empregava todos os instrumentos teóricos ao seu alcance que demandassem o fim da escravidão, que era, segundo ele, um crime contra a humanidade e contra a razão, e que barrava não somente o progresso da indústria, mas a própria ocupação do país e a formação nacional. Como parte de seu projeto para o Brasil, José Bonifácio, em sua obra, não hesitou em propor métodos e formas para a civilização dos índios, mesmo que fossem retirados dos exemplos deixados pelos jesuítas, com a condição de que esses métodos não fossem violentos. Seu questionamento central prende-se à violência desencadeada contra os indígenas durante o governo de D. João, que impôs, de forma selvagem, a extinção de qualquer resistência por parte dos indígenas. Essa prática política mostra-se contraditória à concepção de Bonifácio, que os visualiza com capacidade de serem integrados à produção moderna. Bonifácio propunha dar terras aos índios para a formação de sítios, vaciná-los, fortalecer sua constituição física diminuindo a dieta vegetal e introduzindo o uso de carnes. O índio deveria ser incorporado à sociedade e a um mercado de trabalho livre. De acordo com sua proposta, ‘o governo do Brasil tem a sagrada obrigação de instruir, emancipar, e fazer dos índios e brasileiros uma só nação homogênea, e igualmente feliz’ (SILVA, 2000, p. 75). José Bonifácio queria garantir a igualdade das diferentes raças e favorecer, por todos os meios, matrimônios entre índios, mulatos e brancos, para que assim o país entrasse na direção da constituição de uma nação. Segundo as nossas leis os índios devem gozar dos privilégios da raça branca: mas este benefício é ilusório; a pobreza em que se acham, a ignorância por falta de educação e as vexações dos diretores e capitães-mores os tornam abjetos e mais desprezíveis que os mulatos forros. Os juízes e autoridades índias associam-se às vexações dos brancos contra a sua própria raça, porque querem já ser mais nobres, e terem nos brancos patronos e amigos. Uma distinção que está ao alcance dos índios é o sacerdócio (SILVA, 2000, p. 64). José Bonifácio elaborou projetos relativos à extinção, no sentido de combater a escravidão e abrir perspectiva para os libertos; também questionou os latifúndios e propôs que esse segmento deveria receber do Estado uma pequena sesmaria de terra para cultivar. Assim como Debret, Bonifácio também tentava adequar-se à realidade brasileira e moldar seu projeto político nacional às condições da realidade do país, adequando 27 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL seu pensamento liberal à construção do modelo de nação ideal. Elabora sua proposta política no sentido de substituir a violência contra os índios pela civilização, assim como procura encaminhá-la para a extinção da escravidão. José Bonifácio confessava ser amante da liberdade controlada, da Monarquia constitucional, inimigo dos despotismos, contrário à escravidão do negro, favorável à concessão dos votos às mulheres e crítico do latifúndio improdutivo. Desprezava homens servis e bajuladores e aqueles que disputavam títulos de nobreza (COSTA, 2007). Tanto os índios quanto os escravos, apesar de todas as críticas a eles direcionadas quanto ao seu comportamento, para José Bonifácio eram capazes de empregar a razão e de se tornarem titulares de direitos civis e políticos. A nação democrática de Bonifácio não seria criada, mas se desenvolveria com um projeto a longo prazo. No pano de boca referido, esse projeto político nacional também está presente. Vemos D. Pedro I coroado como Imperador do Brasil, e a imagem do monarca absoluto substituída por uma alegoria feminina, com as novas cores do Império; notamos a Constituição em suas mãos, submetendo o governo a uma tábua de leis. Identifica também a Independência do Brasil perante Portugal, ao mostrar uma esfera celeste com a inicial ‘P’ do novo soberano, D. Pedro, coroada e sustentada por gênios alados. Os gênios alados, a figura do governo imperial e as cariátides eram influências próximas de uma arte baseada nos princípios clássicos, as quais compartilham o espaço com a rica vegetação brasileira, composta de algumas palmeiras ao fundo, frutas tropicais e produtos símbolos do comércio, como o café e a cana-de-açúcar (DIAS, 2004, p. 26). A historiadora Lilia Moritz Schwarcz, em ‘As Barbas do Imperador’, transcreve a descrição do próprio Debret sobre o seu pano de boca constante na figura 2: [...] No primeiro plano, à esquerda vê-se uma barca amarrada e carregada de sacos de café e de maços de cana-de-açúcar. Ao lado, na praia, manifesta-se a fidelidade de uma família negra em que o negrinho armado de um instrumento agrícola acompanha a sua mãe, a qual, com a mão direita, segura vigorosamente o machado destinado a derrubar as árvores das florestas virgens e a defendê-las contra a usurpação, enquanto com a mão esquerda, ao contrário, segura ao ombro o fuzil do marido arregimentado e pronto para partir [...] Não longe uma indígena branca, ajoelhada ao pé do trono e carregando à moda do país o mais velho de seus filhos, apresenta dois gêmeos recém-nascidos para os quais implora a assistência do governo [...] Do lado oposto, um oficial da marinha [...] No segundo plano um ancião paulista, apoiado a um de seus jovens filhos que carrega o fuzil a tiracolo, protesta fidelidade; atrás dele outros paulistas e mineiros, igualmente dedicados e entusiasmados, exprimem seus sentimentos de sabre na mão. Logo após esse grupo, caboclos ajoelhados mostram com sua atitude respeitosa o primeiro grau de civilização que os aproxima do soberano. As vagas do mar, quebrando-se ao pé do trono, indicam a posição geográfica do Império (SCHWARCZ, 1998, p. 41). 28 CONCLUSÃO Em ofícios de natureza diferente, esses dois personagens nos deixaram obras nas quais transparecem ideais predominantes durante esse período tão importante da sociedade brasileira, cuja análise enriquece a atual interpretação histórica. Debret veio da França ao Brasil, e Bonifácio, por sua vez, foi do Brasil a Portugal e instalou-se na França durante a Revolução. Após 37 anos, ambos encontraram-se, no Brasil, na elaboração de um projeto nacional. Podemos justificar que as ideias de Debret e Bonifácio têm um denominador comum. Ambos apresentam uma visão de nação moderna quando se preocuparam com a escravidão e com o futuro da sociedade brasileira. Consideram que a permanência das relações escravistas atuaria como um fator destoante na formação de uma nação moderna, pois chocavam-se com as bases de um ‘Império Constitucional’. Segundo os ideais do estadista e do artista, a nação deveria se formar nos princípios da liberdade e dos direitos do homem, abrindo-se como um leque para a cidadania. A incógnita, para os dois, era: ‘como afirmar a imagem civilizada e constitucional dessa monarquia ao lado da realidade escravocrata?’ (SCHWARCZ, 1998, p. 42). A ideia central de formação da nação de José Bonifácio era muito diferente de todo o pensamento iluminista daquele tempo. Sua nação era um ideal a ser instalado a longo prazo, e desafiava o maior dilema da época: a escravidão. Esta análise, que tomou como ponto de partida fontes históricas de natureza diferente – pintura e documentos oficiais –, permitiu vislumbrar novos componentes, importantes à interpretação da Independência do Brasil. Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias Referências ARAÚJO, Ana Cristina. Retrato de um jovem genial. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 2, n. 24, set. 2007. BANDEIRA, J. et al. A missão francesa. Rio de Janeiro: Sextante Artes, 2003. BLADÉ, Rafael. La Estética de la Revolución: el regalo del ‘Ciudadano’ David. Revista Historia Y Vida, Barcelona, n. 480, p. 99-102, mar. 2008. BORGES, Maria Eliza Linhares. Imagens da Nação Brasileira. Locus: Revista de História, Juiz de Fora, MG, v. 7, n. 1, p. 9-26, 2001. 29 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL CARVALHO, José Murilo. A formação das almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. COSTA, Emília Viotti da. De onde vem o mito. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 2, n. 24, set. 2007. DEBRET, Jean-Baptiste. Caderno de Viagem. Texto e organização de Julio Bandeira. Rio de Janeiro: Sextante Artes, 2006. DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Belo Horizonte: Editora da Universidade de São Paulo; Livraria Itatiaia, 1989. t. 1-3. DIAS, Elaine. Pano de boca para a Coroação de D. Pedro I, de Jean Baptiste Debret. Revista Nossa História, Rio de Janeiro, n. 11, p. 24- 27, set. 2004. NAVES, Rodrigo. Debret, o neoclassicismo e a escravidão. In: NAVES, Rodrigo. A forma difícil: ensaios sobre a arte brasileira. São Paulo, Ática, 1996. NAVES, Rodrigo. Três vezes Debret. Revista nossa História, Rio de Janeiro, n. 6, p. 22-26, abril, 2004. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Coleção Os pensadores). SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de D. João. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Construção da Nação e escravidão no pensamento de José Bonifácio 1783-1823. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1999. SILVA, Ana Rosa Cloclet da. De Império a Nação. Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, v. 2, n. 24, set. 2007. 30 SILVA, José Bonifácio de Andrada. Projetos para o Brasil. Textos reunidos e comentados por Miriam Dolhnikoff. São Paulo: Companhia das Letras; Publifolha, 2000 (Grandes nomes do pensamento brasileiro). Bonifácio e Debret: a construção de uma nação independente nos retratos da arte e das ideias SILVA, José Bonifácio de Andrada. Coleção formadores do Brasil. Organização e tradução de Jorge Caldeira. São Paulo: Editora 34, 2002. TOLLENARE, L. F. Notas Dominicais. Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, Recife, 1908. TREVISAN, Anderson Ricardo. A construção visual da monarquia brasileira: análise de quatro obras de Jean-Baptiste Debret. 19&20, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, jul. 2009. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_ jbd_art.htm>. Acesso em: 12 jan. 2011. VIANA, Elizabeth. O espetáculo do Reino Unido. 1999. Tese (Doutorado)-Unesp, Assis, SP, 1999. Fontes e referenciais para aprofundamento temático 1) Analise a figura 1 e comente como os valores históricos da época da aclamação de D. João VI podem ser apreendidos na obra de Debret. 2) Descreva como, na figura 2, o pano de boca da coroação de D. Pedro retrata o povo brasileiro e a realidade daquele período da História do Brasil. 31 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Anotações 32 2 História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração Luís Fernando Pessoa Alexandre / Neilaine Ramos Rocha INTRODUÇÃO O objetivo deste capítulo é analisar as razões que motivaram importantes intelectuais brasileiros a discutir a questão da escravidão no Brasil, no século XIX. Apesar de diferenças pontuais, é possível perceber certa coerência entre os seus discursos. Lembramos que os autores a serem estudados escrevem em períodos diferentes entre si. Poder-se-ia objetar algo a respeito disso; no entanto, ao longo da exposição discutiremos a necessidade desse lapso temporal para a compreensão do tema proposto. Em um primeiro momento, veremos como a questão da escravidão foi abordada por alguns historiadores brasileiros, e a seguir discutiremos as ideias e propostas dos intelectuais do século XIX escolhidos para a nossa análise. Esse procedimento se justifica em decorrência da necessidade de relacionar questões permanentes no pensamento da intelectualidade nacional a respeito do tema e de entender o sentido da formação do Estado nação. A ESCRAVIDÃO COMO FONTE DE VÍCIOS De acordo com Caio Prado Júnior (1987), a nossa formação sócio-histórica pode ser entendida a partir do sentido da nossa colonização. Esse sentido, de acordo com o autor, é explicado pela nossa vinculação a um sistema mercantil cuja origem está no desenvolvimento das forças produtivas europeias a partir dos séculos XV e XVI. Como consequência daquela vinculação, além da própria dependência surgiu um sistema de relações sociais e econômicas que amparou e deu funcionalidade àquela mesma relação: o sistema escravista. Foi sobre a grande propriedade monocultora que o sistema escravista se estruturou. Lá é que se formou também o caráter das nossas relações sociais. Caio Prado 33 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 34 afirma que o ressurgimento da escravidão em Portugal e na América criou novos tipos de relações, que permaneceriam ao longo de nossa formação nacional. Entretanto, ao contrário de outros aspectos que constituem o fundo cultural de sociedades consideradas mais avançadas em termos civilizacionais, a escravidão, por sua vez, exerceria, no caráter da futura nação brasileira, uma pressão no sentido contrário ao desenvolvimento comum dos povos. Essa influência negativa se manifestaria principalmente pela corrupção dos costumes, o que levaria a sociedade brasileira a percorrer o caminho inverso das grandes sociedades. De acordo com Caio Prado, os nossos vícios de origem seriam condensados e vividos em cada campo da nossa organização social. O afastamento entre as camadas livres e cativas da sociedade, ao mesmo tempo em que elas precisavam conviver para fazer funcionar o sistema de produção colonial orientado para o mercado externo, gerou uma situação esquizofrênica, caracterizada pela convivência de grupos antagônicos; daí surgirem laços sociais estranhos, em que a coesão e a dispersão convivem, e em que a unidade necessária para a formação de um país deixa de existir. O autor afirma que tal moral negava as virtudes sociais e que contemporizava e narcotizava qualquer energia criativa e produtiva. Essa moral tinha impregnado a administração, a economia e as crenças religiosas dos homens daquele tempo. Caio Prado afirma que o próprio ressurgimento da escravidão em Portugal e, logo em seguida, na América, consistiu num anacronismo. Para ele, a escravidão moderna não se ligava a tradição nenhuma. Ela apenas restaurava uma prática no exato momento em que já havia perdido a razão de ser, sendo substituída por formas mais evoluídas de trabalho. A escravidão, no seu entendimento, surgira como um ‘corpo estranho que se insinua na estrutura da civilização ocidental, em que já não cabia’ (PRADO JÚNIOR, 1987, p. 270). O ressurgimento da escravidão seria algo como um ‘erro histórico’. Para o autor, ao contrário do que havia se passado no mundo antigo, a escravidão moderna teria vindo desacompanhada de elementos construtivos, a não ser em um aspecto restrito, que o autor chama de ‘puramente material, da realização de uma empresa de comércio: um negócio apenas, embora com bons proveitos para seus empreendedores’ (PRADO JÚNIOR, 1987, p. 271). Por causa desse único objetivo, os povos da Europa teriam posto de lado princípios e normas essenciais em que se fundavam sua civilização e sua cultura. A instituição da escravidão, na visão de Caio Prado Júnior, era um dos principais fatores do ‘naufrágio’ da civilização ibérica: Portugal e Espanha foram os que se lançaram primeiro nessa aventura; foram eles, de acordo com o autor, os países que primeiro se transformaram em suas vítimas. Especialmente no Brasil, a escravidão teria corrompido todas as instâncias da organização social. A colônia, de modo geral, dependia do trabalho escravo para viver. Era uma consequência lógica que o modo de agir e pensar escravista penetrasse nas consciências. Para Caio Prado, os laços mais fortes que poderiam manter a nossa integridade social não surgiram da associação e da solidariedade humanas, que levam à criação de um bem comum. Na colônia, os laços que mantinham a coesão social eram determinados pelos princípios mais rudimentares e primários. Tais vínculos humanos eram todos eles advindos das relações de trabalho e de produção. Nossa coesão social, assim, estaria baseada no princípio da subordinação do escravo ou do semiescravo ao seu senhor. Nossas relações sociais, portanto, teriam como característica primeira a relação de mando e servilismo do regime escravista. Para ele, infelizmente a base do único setor organizado da sociedade colonial vinha da escravidão e das relações que dela derivavam. O setor mais prejudicado era a família, que, sem fonte de virtudes no meio colonial, não poderia disciplinar as pulsões de seus filhos. A família colonial não podia impor ‘freios’ à indisciplina sexual, já que ela estava desprovida da moral necessária para educar na retidão. A escravidão teria estimulado a degradação da unidade familiar ou tal unidade jamais existiu, haja vista o ambiente de corrupção que a cercava. A família, na colônia, teria nascido disforme: ao invés de se constituir em fonte de virtudes, nasceu como fonte de vícios. Para o autor, o que marca o processo de colonização da América portuguesa é a incoerência e a instabilidade no povoamento; a pobreza e miséria na economia; a dissolução dos costumes; a inércia e a corrupção dos dirigentes leigos e eclesiásticos. Naquele verdadeiro ‘descalabro, ruína em que chafurdava a colônia e sua variegada população, que encontraremos de vitalidade, capacidade renovadora?’ (PRADO JÚNIOR, 1987, p. 356). O que marcava a nossa vida colonial era um clima de apatia e preguiça generalizados. O amesquinhamento do vigor dos indivíduos era, então, uma consequência própria do meio: a escravidão provocava uma inversão nas relações sociais e, partindo em giros concêntricos, abarcava todos os campos da vida em sociedade. Esses eram os traços constitutivos do caráter geral da colônia. História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração A ESCRAVIDÃO E O ANTIGO SISTEMA COLONIAL Em ultima instância, para Caio Prado era o antigo sistema colonial que definia o tipo de relações sociais na colônia, pois ele é quem tinha produzido a escravidão. Só a partir de sua instituição ao longo do processo histórico é que poderíamos entender o sentido e a funcionalidade do sistema escravista na América portuguesa. Os 35 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL antagonismos provocados pela escravidão no Brasil teriam sido o resultado de longas e profundas mudanças econômicas geradas no seio da sociedade europeia dos séculos XV e XVI. O historiador Fernando Novais, no seu livro Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial1, afirma que era o sistema mercantilista que dava sentido à colonização. Referenciando-se em Caio Prado, Novais nos diz que o sentido da colonização na América portuguesa era dado pelo novo rearranjo de instituições e poderes na Europa dos séculos XV e XVI. O quadro geral apresentado pelo autor é o de que o desenvolvimento de novas técnicas de produção agrícolas e manufatureiras teriam estimulado o crescimento das cidades e o renascimento da vida urbana, pouco expressiva na Idade Média. A burguesia foi, aos poucos, tornando-se uma classe social influente nos negócios e na política. Tanto é que, nas revoluções europeias posteriores, a presença da burguesia foi importante e, até, decisiva, como o foi na Revolução Inglesa (1648) e Francesa (1789). Na visão de Novais, o mundo ocidental caminhava para a consolidação do capitalismo moderno, realizando, para tanto, um salto gigantesco do modo de produção feudal para práticas verdadeiramente capitalistas. A classe social responsável por essa mudança seria a burguesia, e, como líder daquele fenômeno, ela teria moldado a Europa de acordo com os seus padrões de trabalho, de consumo, de governo, etc. Enfim, o sistema colonial tornou-se um dos principais símbolos e instrumentos do progresso burguês nos quadros da sociedade ocidental. Nesse sentido, a instituição da escravidão viria a atender aos reclamos de um novo tipo de relações econômicas, que envolviam as colônias e as suas respectivas metrópoles. De acordo com o autor, os progressos comerciais que provocaram a transição do feudalismo para o capitalismo moderno estabeleceram uma situação histórica nova, em que a colonização moderna se impôs. Nesse novo quadro, a criação do pacto colonial firmava um contrato entre as colônias e as metrópoles. Esse ‘contrato’ estabelecia que todas as transações comerciais da colônia só podiam ser feitas com a metrópole. Na época moderna, as colônias, de acordo com Novais, serviam aos interesses nacionais de suas metrópoles. Isso valia para a política e para a economia. Os estados nacionais estavam se definindo no concerto europeu. Na ótica mercantilista, o desenvolvimento nacional deveria ser alcançado a qualquer custo, o que significa 1 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1777-1808. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1985. 36 que os interesses individuais pouco contavam quando o que estava em jogo eram interesses maiores, os interesses na nação. Para Novais, na América portuguesa a escravidão atendia àquele interesses. Portanto, para o autor a relação entre o (res) surgimento da escravidão na Europa e na América e o sistema colonial é a de causa e efeito. As novas diretrizes materiais e morais do mundo ocidental estavam sendo reformuladas ou transformadas pelos progressos da burguesia. O sistema colonial necessitou de um tipo de trabalho que fosse adequado às suas exigências (as exigências burguesas), e tal sistema foi a escravidão, apesar de Caio Prado afirmar que a sua instituição foi um anacronismo histórico. Sem fazer um apanhado tão crítico e até pessimista em relação ao sistema escravista na América Portuguesa (entenda-se Brasil Colonial) como o faz Caio Prado Júnior, Novais argumenta que o ressurgimento da escravidão em terras americanas atendeu às novas necessidades econômicas e políticas de uma classe social que saiu fortalecida do período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, a burguesia. Com a política de colonização encampada pelos principais países europeus e com a subsequente instituição da relação comercial metrópole-colônia, aquela classe social consolidou-se ainda mais no campo político e econômico, como que apontando os novos caminhos pelos quais as principais nações do velho continente deveriam trilhar. História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração A QUESTÃO DOS ‘ARRANJOS’ CULTURAIS NO CONTEXTO DA ESCRAVIDÃO O caráter dissolutivo da escravidão também foi objeto de análise de Gilberto Freyre (1998), no seu livro Casa Grande e Senzala. Ele também defendeu a tese de que o sistema escravista era gerador de vícios e de corrupção de costumes – da mesma forma como pensa Caio Prado. Porém, ao longo de sua exposição o autor mostra que a escravidão, apesar dos problemas que gerava, também contribuía para que a colônia tivesse uma relativa estabilidade social e econômica. Fato é que o próprio Caio Prado reconhece, não sem se lamentar, que o sistema de trabalho escravo era o único que poderia – e, deveras, podia – promover uma certa organização no nível das relações de trabalho. Entretanto, essa coesão que o autor apresenta não vinha no sentido de aprimorar os sentimentos mais nobres e elevados dos senhores em relação aos escravos e tampouco fazia nascer no escravo valores cívicos fundamentais para as sociedades cordatas. Para Caio Prado, o que a coesão escravista provocava era o aprimoramento dos níveis de exploração social e econômica. A exploração seria perpetrada pelos senhores em cima dos escravos, com a participação de todas as esferas da sociedade. 37 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 38 Em Casa Grande e Senzala não podemos dizer que a escravidão fosse uma instituição benéfica, porém Gilberto Freyre (1998) vai nos ‘seduzindo’ de modo a conceituar o sistema escravista como o verdadeiro pilar sobre o qual a sociedade, e seus costumes, estavam assentados. Fazendo isso, ele aponta as engrenagens de um corpo de relações que era muito variado e que apresentava em si mesmo uma tendência a amortecer as tensões naturais do sistema. Para falar da escravidão na América portuguesa o autor se reporta aos caracteres fundamentais do tipo social português. Ele faz isso para nos dizer, adiante, que, se a escravidão provocou um antagonismo entre senhores e escravos, livres e cativos, o próprio antagonismo fazia parte da vida do português médio, antes de ele vir para o Brasil. Antes mesmo de ser iniciada a colonização nos trópicos, a situação do povo de Portugal no continente europeu era, no mínimo, curiosa. Dividido entre a Europa e a África, o país recebeu as influências culturais de ambos, realizando em seu território uma fusão conciliatória daqueles dois mundos. Isso, de acordo com Gilberto Freyre, teria acontecido por causa do casamento entre os elementos religiosos e culturais do islamismo com os elementos da cultura católica europeia. Entre um e outro, entre ‘ser África ou Europa’, Portugal acabou ‘resolvendo’ a questão com o princípio da miscigenação e da absorção cultural. O povo português acabou prescindindo de uma marca distintiva – como acontece com outros países –, enquanto a mistura étnica e todos os seus componentes fizeram parte importante de sua história. A indefinição do próprio caráter nacional passou a ser sua marca distintiva. Não que isso fosse um problema. Ao contrário, Gilberto Freyre afirma que os arranjos culturais feitos no reino de Portugal criaram um tipo social que não era nem europeu nem africano. Sua condição de bicontinentalidade, traço da geografia lusa, e o sangue semítico que corria em suas veias ‘prepararam’ os portugueses para a miscigenação nos trópicos. Freyre deu a eles o título de povo ‘mais capacitado’ para a tarefa de fazer uma nova nação ao sul da linha do Equador. A falta de definição de um tipo social específico em Portugal chamou a atenção de alguns pensadores. O crítico e historiador Albrey Bell, citado por Freyre, afirmava que tal imprecisão [...] é o que permite ao português reunir dentro de si tantos contrastes impossíveis de se ajustarem no duro e anguloso castelhano, de um perfil mais definidamente gótico e europeu (FREYRE, 1998, p. 9). Havia, no português, ‘extremos desencontrados de introversão e extroversão ou alternativas de sintonia e esquizoidia, como se diria em moderna linguagem científica’ (FREYRE, 1998, p. 9). Uma definição interessante também aparece no livro A ilustre casa de Ramires2, de Eça De Queiroz. Gilberto Freyre, ao citar uma passagem do texto, diz que o português é História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração [...]cheio de fogachos e entusiasmos que acabam logo em fumo’ mas persistente e duro quando se fia a sua idéia; de uma imaginação que o leva [...] a exagerar até a mentira’ e ao mesmo tempo de um espírito prático sempre atento à realidade útil, de um gosto por se arrebicar, luzir, que vão quase ao ridículo, mas também de uma grande simplicidade; melancólico ao mesmo tempo que palrador, sociável; generoso, desleixado, trapalhão nos negócios; vivo e fácil em compreender as coisas; sempre à espera de algum milagre, do velho Ourique que sanará todas as dificuldades; desconfiado de si mesmo, acovardado, encolhido, até que um dia se decide e aparece um herói (QUEIROZ apud FREYRE, 1998, p. 9). Esses aspectos da cultura portuguesa iriam influir de modo decisivo na própria relação que os colonos teriam com os escravos aqui no Brasil. De acordo com Gilberto Freyre, a relação que os colonos portugueses teriam com os escravos seria marcada por antagonismos, como afirma Caio Prado. No entanto, tais antagonismos seriam resolvidos por certos elementos que, combinados, estabeleceriam uma complexa trama de acomodações sociais. Não que tudo tenha acontecido de modo deliberado, mas o que o autor propõe é que determinadas condições históricas favoreceram a convivência entre os desiguais. As condições, de acordo com Freyre, seriam: a miscigenação, a dispersão da herança, a fácil e frequente mudança de profissão ou residência, o fácil e frequente acesso a cargos e a elevadas posições políticas e sociais de mestiços e de filhos naturais, o cristianismo lírico à portuguesa, a tolerância moral, a hospitalidade a estrangeiros, a intercomunicação entre as diferentes zonas do país. Indo mais além, outras condições existiram, as de caráter natural: ausência de um sistema de montanhas ou de rios verdadeiramente perturbador da unidade brasileira ou da reciprocidade cultural e econômica entre os extremos geográficos. Juntando-se a plasticidade, a mobilidade e a miscibilidade do português ao misticismo e sentimentalismo africano, a colonização do Brasil assumiria tons totalmente originais. No entanto, na visão de Caio Prado, essa ‘originalidade’ não é considerada de modo positivo. Para ele, a escravidão é um fator desagregador das relações sociais, ou melhor, esse fator as impede de acontecer de acordo com os princípios da solidariedade, do bem comum, da mútua consideração, etc. Ao impedir o desenvolvimento de relações sociais sólidas na colônia, a escravidão tirava da sociedade a possibilidade de definir-se por ela mesma nos caminhos da liberdade. 2 QUEIROZ, Eça de. A ilustre casa de Ramires. In: FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. 13. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 9. 39 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL As definições que o autor faz do mundo da colônia decorrem da escravidão. É ela que desagrega e que define. Ela é que afasta os grupos sociais, sejam senhores, escravos ou homens livres, ao mesmo tempo em que os une para atender às necessidades de uma produção colonial ligada aos interesses mercantilistas da metrópole portuguesa. É só em decorrência do sistema colonial que se define, inversamente, o caráter das relações sociais. O fato de a família, por exemplo, nascer como a fonte de vícios ao invés de virtudes não é de responsabilidade, na visão do autor, da própria família, mas do sistema que a gerou. Antes da família, ausente de bases morais, estava a escravidão. Antes da escravidão, o progresso das instituições burguesas, que teriam gerado o sistema colonial. A unidade que Gilberto Freyre propõe em nossa formação colonial só teria existido em função daquelas acomodações sociais entre as duas culturas: a europeia e a africana. Os elementos que as poriam em choque ‘eram amaciados’ por todas aquelas circunstâncias que citamos. Em meio a tantos antagonismos, a conciliação (não deliberadamente) dos contrários teria sido o meio que a sociedade colonial encontrou para sobreviver nos trópicos. A partir dessa ideia Gilberto Freyre afirma que a nossa coesão social teria sido originária da conciliação de antagonismos. Ao contrário do que diz Caio Prado, a escravidão não teria sido apenas fonte de vícios: era ela mesma, combinada com outros elementos, a mola propulsora daquelas relações conciliatórias e originais no Novo Mundo. ANTAGONISMOS E CONCILIAÇÃO NO SISTEMA ESCRAVISTA Oliveira Lima, em seu livro Formação da nacionalidade brasileira3, afirmou que em nosso processo de colonização a mistura de raças teria atuado como elemento definidor de nossa futura nacionalidade. A ideia de coesão social que hoje em dia discutimos e que faz parte de estudos sociológicos e antropológicos teria sido ‘dada’, de modo natural, pelas condições físicas do meio. De modo geral, essa visão de Oliveira Lima (2000) se relaciona diretamente com a visão de Gilberto Freyre, para quem a nossa unidade teria sido gerada a partir da união dos contrários. A escravidão, aliás, teria sido um instrumento poderoso de miscigenação, uma vez que na sociedade colonial os primeiros contatos sexuais que o menino tinha era com alguma escrava. O autor ainda afirma que havia um gosto muito particular entre os homens brancos pelas mulatas. Houve casos em que, na noite de núpcias, o recém-casado precisou sentir o odor da camisola de uma escrava para conseguir se excitar com a sua esposa. Anedótico, porém verdadeiro. 3 LIMA, Oliveira. Formação da nacionalidade histórica brasileira. São Paulo: PubliFolha, 2000. 40 Só a partir desse exemplo já poderíamos afirmar que o português que colonizou o Brasil não se preocupava em manter a sua linhagem, ou o seu ‘orgulho de raça’. Muito pelo contrário, a miscigenação foi importante e até fez parte de uma política de povoamento no início da colonização, em razão da escassa população portuguesa. A questão da miscigenação foi discutida por Sérgio Buarque de Holanda em seu Raízes do Brasil4. De acordo com ele, esse elemento foi muito importante para definir o caráter das nossas relações sociais na colônia. A capacidade de se misturar entre povos diferentes, como Gilberto Freyre já havia discutido, teria sido um elemento poderoso na construção daquela organização social original; além dela, o autor afirma que um História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração [...] conjunto de fatores tão diversos, como as raças que aqui se chocaram, os costumes e padrões de existência que nos trouxeram, as condições mesológicas e climatéricas que exigiram longo processo de adaptação, foi o elemento orquestrador, por excelência (HOLANDA, 1981, p 16). Tais condições teriam favorecido a mobilidade social, estimulando os homens a enfrentar com denodo as asperezas ou resistências da natureza, e criou-lhes as condições adequadas a tal empresa. A escravidão, nesse sentido, foi a instituição que proporcionou aquela miscigenação. Assim como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque acredita que o sistema escravista tenha dado coesão à sociedade colonial. Porém, tal coesão teria sucedido em torno de uma instituição geradora de vícios, e não de virtudes. A mestiçagem teria sido o elemento fundamental para a fixação populacional no meio tropical. De acordo com Sérgio Buarque, esse não teria sido um elemento esporádico, mas, ao contrário, um processo normal. Para ele, teria sido ‘graças a esse processo que eles puderam, sem esforço sobre-humano, construir uma pátria nova longe da sua’ (HOLANDA, 1981, p. 36). No entanto, embora a mestiçagem ocorrida no seio da escravidão fosse importante para o desenvolvimento da colônia, as relações sociais eram problemáticas. É o que o autor discute quando aborda a questão da ‘qualidade’ das relações sociais geradas pela moral das ‘senzalas’. O autor afirma que tal moral negava as virtudes sociais, contemporizava e narcotizava qualquer energia criativa e produtiva. Essa moral tinha impregnado a administração, a economia e as crenças religiosas dos homens daquele tempo. O elemento negro, nesse sentido, ia contra todos os esforços disciplinares de manter a ordem, pois a sua 4 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 14. ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1981. 41 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL ‘suavidade dengosa e açucarada invade, desde cedo, todas as esferas da vida colonial’ (HOLANDA, 1981,p. 31). Gilberto Freyre já havia mencionado, em Casa Grande e Senzala, que a influência da cultura africana ‘amolecia’ a dureza europeia e católica, com o seu misticismo e seu sensualismo islâmico. Esse elemento, para o autor, teria sido um daqueles que atuaram no sentido de evitar o choque mais duro entre as culturas. Era o óleo que destravava as engrenagens colonizadoras de sua inviabilidade. Viável, nesse sentido, seria a conciliação cultural e original nos trópicos. Viável seria a moral das senzalas imperando nas estruturas políticas e sociais controladas pelos portugueses. Era o homem branco tornado lânguido por força das circunstâncias novas que a história trouxe. A escravidão, portanto, além de gerar vícios, também gerava uma nova cultura e uma nova unidade. Tais elementos teriam agido fortemente na formação do caráter do povo brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, no entanto, não acredita que a escravidão gerasse virtudes. Ao contrário, ela era um óbice à construção da nação. A nossa formação colonial teria sido corrompida em suas bases por causa dos defeitos que a escravidão produzira na sociedade. Um desses defeitos seria a inexistência da cooperação entre os indivíduos, pois, em uma sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos (HOLANDA, 1981, p. 30-31). Da confluência das culturas africana e europeia nos trópicos teria surgido uma sociedade de formação histórica singular. Dentre os aspectos da vida brasileira o autor destaca a predominância enérgica do elemento afetivo, do irracional, do passional, e uma espécie de estagnação ou antes uma atrofia das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Isso significava que o Brasil seguia o caminho contrário do que parecia convir a uma população em vias de organizar-se politicamente. Enquanto para Gilberto Freyre era a própria escravidão que ‘proporcionava’ as bases materiais e morais da sociedade colonial, para Sérgio Buarque ela impedia a efetivação de tais bases, embora gerasse aquela coesão social. Assim como Caio Prado afirmou, Sérgio Buarque nos diz que a unidade da colônia era provocada por uma instituição que corrompia todas as instâncias da organização social. DISCUSSÕES SOBRE A ESCRAVIDÃO NO SÉCULO XIX NO BRASIL As discussões em torno da questão da escravidão no Brasil estiveram presentes também em debates importantes no contexto da Monarquia. Pensadores importantes 42 como José da Silva Lisboa (o Visconde de Cairu), José Bonifácio, Joaquim Nabuco e Perdigão Malheiro apareceram seguidas vezes em cena para opinar e refletir sobre tão delicada questão. Levando-se em conta os interesses em jogo e a necessidade de estabelecer os rumos para a nascente nação brasileira, esses intelectuais – assim como outros – notabilizaram-se por suas firmes posições contrárias ao regime escravista. Malgrado houvesse diferenças (poucas) entre eles, houve unanimidade quanto à necessidade imperiosa de questionar os fundamentos, os limites e os erros da prática da escravidão no Brasil. Animados pela concepção iluminista de sociedade e, no aspecto econômico, pela visão da economia política, os senhores cujas propostas principais serão discutidas a seguir eram concordes quanto ao fim da escravidão em terras brasileiras, fosse a abolição imediata ou gradual. Comecemos com Joaquim Nabuco. De acordo com ele, a escravidão era incompatível com o progresso natural das sociedades civilizadas. Para o autor, o sistema escravista corrompia o vigor moral da nação e impedia o pleno desenvolvimento das suas forças morais e materiais. Portanto, seria inviável pensar que um país alcançaria bons níveis de desenvolvimento se, ao mesmo tempo, continuasse a praticar a escravidão. Sendo oposta ao desenvolvimento nacional, a escravidão atacava todas as instâncias sociais como se fosse uma enfermidade que, lentamente, leva o paciente ao quadro terminal. Nesta passagem fica evidente a preocupação do autor em expor os males que o sistema escravista poderia trazer a um país: História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus moldes a exuberante vitalidade do nosso povo durou todo o período do crescimento, enquanto a Nação não tiver consciência de que lhe é indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se apropriou, a obra desta irá por diante, mesmo quando não haja mais escravos (NABUCO, 1988, p. 27). Por uma série de razões a escravidão era perniciosa ao pleno desenvolvimento humano; a principal consequência, porém, no nosso entendimento, dizia respeito aos males que ela poderia gerar aos pilares da Nação. De acordo com o autor, era necessário ‘reconstruir o Brasil sobre o trabalho livre e a união das raças na liberdade’ (NABUCO, 1988, p. 36). Nabuco afirma que a escravidão era incompatível com o nível moral e intelectual a que a sociedade de sua época havia chegado. A instituição do trabalho livre em países mais avançados da Europa, como Inglaterra e França, era entendida como elemento de progresso da civilização. Isso porque a mão de obra disponível havia contribuído para o crescimento das cidades, a industrialização e maiores níveis de prosperidade material e moral. Ademais, a difusão do pensamento iluminista no continente europeu 43 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 44 e nos Estados Unidos havia provocado mudanças econômicas e políticas que levaram ao progresso de seus povos. No Brasil, onde existia uma classe de intelectuais influenciada pelos ideais iluministas para a sociedade – e defensora desses ideais –, ainda se conservavam as estruturas de um edifício já condenado por aquela corrente filosófica. O Brasil, sendo ainda escravista, não poderia concorrer para o aperfeiçoamento de suas instituições e o aprimoramento moral de seu povo. Era necessário incluí-lo naquela corrente civilizacional conhecida pelos países livres e influenciados pela filosofia iluminista – por isso mesmo mais prósperos –, de acordo com o autor. Nabuco argumenta que ao longo de nossa história a escravidão anulou a personalidade do escravo. Naturalmente, um indivíduo sem consciência moral não poderia ser um futuro cidadão, e como se faria a pátria se ela não tinha povo? Como insistir na ideia de nação se o organismo social era desprovido de sangue nas veias? O próprio ideal de pátria acabava sendo inviabilizado. É interessante discorrer sobre essa questão porque, para o autor, a verdadeira nobreza, no Brasil, consistia em fazer trabalhar: em mandar, castigar, oprimir. A autoridade, no contexto da escravidão, é proveniente das posições de mando que ocupam os indivíduos. Se a autoridade vem dessa fonte, os estímulos à instrução acabam sendo muito poucos. Por isso mesmo, Nabuco afirma que a escravidão desestimula a educação e corrompe a verdadeira noção de autoridade. Sendo assim, o nível das aspirações nacionais seria tão ínfimo quanto poderiam ser, inversamente, os altos níveis de abusos de poder e de degradação moral da sociedade. A grande obra da escravidão, nesse aspecto, seria o nivelamento por baixo da condição dos seres humanos: tanto dos que impõem o jugo quanto dos que o sofrem. Enfim, Nabuco afirma que a escravidão, ao enervar-se em todo o corpo social, promoveu a corrupção, mas também ele se corrompeu. Os antagonismos das relações sociais pervertidas determinaram o germe da própria destruição. A massa amorfa de seres débeis produzidos pelo sistema escravista ansiava por mudanças em sua condição. Os grupos sociais urbanos que dependiam da escravidão passaram a sentir-se constrangidos por causa do estágio de letargia e automatismo a que estavam reduzidos os espíritos do país. Sobre as classes sociais, Nabuco afirma que o ‘servilismo as tornou tão fracas, tímidas e irresolutas que elas serão as primeiras a aplaudir qualquer renovação que as destrua, para reconstruí-las com outros elementos’ (NABUCO, 1988, p. 151). O abolicionismo5, considerada sua obra máxima, resumiu todos os pontos que foram atacados por ele na luta contra a escravidão. No momento em que o autor encampou a defesa da abolição, significativos grupos sociais apoiaram a iniciativa. Advogados, médicos, jornalistas e alguns políticos fizeram parte da campanha que foi tomando corpo no país. Também é bom destacar que os Estados Unidos já haviam realizado a abolição há 15 anos (1865) e que as principais nações da Europa, Inglaterra e França tinham trabalho livre e eram informadas culturalmente pelas ideias iluministas. Tais ideias influenciaram os projetos políticos elaborados pela classe letrada nacional. Nabuco era um deles: um dos filhos do pensamento iluminista. Antes dele, José Bonifácio também defendeu suas posições contra a escravidão; ele escreve cerca de cinco décadas antes de Nabuco. Naquele momento, em 1823, discutiam-se propostas sobre os destinos da mais nova nação do continente. A intelectualidade da época acreditava que o Brasil precisava definir-se como Nação. Em uma de suas representações à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, que havia sido instituída após a Proclamação da Independência do Brasil, Bonifácio discorreu sobre os males que a instituição causava ao Brasil. Em primeiro lugar, o autor acredita que não é possível haver Constituição alguma que seja compatível com práticas escravistas. Bonifácio defende que a Carta Magna de um país deve ter um compromisso com a garantia das liberdades fundamentais de todo e qualquer ser humano. No entanto, quão grande contradição haveria no processo político brasileiro se, libertando-se das ‘amarras’ do domínio português, em cuja vigência o tráfico negreiro externo e interno era a nossa principal fonte de mão de obra, ainda continuássemos a preservar a escravatura em nosso território! Bonifácio temia que a escravidão dividisse a sociedade brasileira de modo irreparável. Por isso ele sugeriu que o Estado imperial criasse políticas de reparação daquela situação histórica, com o objetivo de conceder aos escravos, de modo gradual, todas as franquias democráticas. Um país dividido entre livres e cativos ia contra o ideal de unidade e homogeneidade, fundamentais para a existência da nação. Sobre essa questão ele afirma: História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração É da maior necessidade ir acabando tanta heterogeneidade física e civil; cuidemos pois desde já em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrários, e em amalgamar tantos metais diversos, para que saia um todo homogêneo e compacto, que não se esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política (SILVA, 2000, p. 24-25). 5 NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1988. 45 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Gilberto Freyre chegou a comentar, em seu livro Casa Grande e Senzala, que a mestiçagem brasileira teria contribuído para que o povo brasileiro tivesse uma espécie de inclinação natural à liberdade, por mais que tivesse vivido durante três séculos sob o regime escravista. Para José Bonifácio, a mestiçagem seria importante para ‘amalgamar’ ainda mais a sociedade brasileira, para que adquirisse maior homogeneidade étnica e, consequentemente, maior constância e civilidade. Abolir a escravidão seria um dos passos necessários para criar melhores condições de mestiçagem e homogeneidade cultural, uma vez que os limites entre negros e brancos, cativos e livres, estaria superado. A escravidão, ademais, corrompia a virtude e a religião. Em um regime escravista, as famílias brasileiras encontrariam dificuldades em educar seus filhos de acordo com a moral cristã e com os valores mais altos da civilização. Por corromper o sistema de trabalho do país, a escravidão corrompia a própria natureza do trabalho, deixando-o aviltante, pouco nobre. Bonifácio questiona quais seriam os exemplos de honestidade que poderiam vir de um meio em que os valores estavam tão invertidos: E na verdade, senhores, se a moralidade e a justiça social de qualquer povo se fundam, parte nas suas instituições religiosas e políticas, e parte na filosofia, para dizer assim, doméstica de cada família, que quadro pode apresentar o Brasil, quando o consideramos debaixo destes dois pontos de vista? Qual é a religião que temos apesar da beleza e santidade do evangelho, que dizemos seguir? A nossa religião é pela maior parte um sistema de superstições e de abusos anti-sociais; o nosso clero, em muita parte ignorante e corrompido, é o primeiro que se serve de escravos, e os acumula para enriquecer pelo comércio, pela agricultura, e para formar, muitas vezes, das desgraçadas escravas um harém turco. As famílias não têm educação, nem as podem ter com o tráfico de escravos, nada as pode habituar a conhecer a amar a virtude, e a religião (...) E então, senhores, como pode grelar6 a justiça e a virtude, e florescerem os bons costumes entre nós? Senhores, quando me emprego nestas tristes considerações, quase que perco de todo as esperanças de ver o nosso Brasil regenerado e feliz, pois que se me antolha7 que a ordem das vicissitudes8 humanas está de todo invertida no Brasil.9 O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e indústria; e qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem, que conta com os jornais10 de seus escravos, vive na indolência, e a indolência traz todos os vícios após si (SILVA, 2000, p. 27). 6 Crescer. 7 Obscurece, tapa os olhos. 8 Variações de coisas que se sucedem, acontecimentos, sucessos. 9 Grifos nossos. 10 A palavra jornal significa salário diário ou um dia de trabalho. O sentido que o termo pede, nessa citação, é o segundo, ou seja, de quantidade de atividades laborais prestadas ao longo de um dia por um escravo. 46 Ademais, Bonifácio crê que a relação que se estabeleceria entre os proprietários de escravos e os seus cativos seria negativa em termos de valores. É como se a dialética da relação escravista estivesse, aos poucos, deixando menos civilizados os homens livres e exacerbando as más inclinações dos escravos. Desse modo, a instituição escravista contribuiria para que a sociedade brasileira fosse erigida por meio do antiexemplo de uma instituição contrária à ideia de civilização. A relação de vícios proporcionados pela escravidão é sintetizada pelo autor: ‘Tudo porém se compensa nesta vida; nós tiranizamos os escravos, e os reduzimos a brutos animais, e eles nos inoculam toda a sua imoralidade, e todos os seus vícios’ (SILVA, 2000, p. 26-27). Na visão de José Bonifácio, a escravidão era um obstáculo à realização de uma sociedade virtuosa, informada pelos valores democráticos do mundo ocidental. De nada adiantaria existir uma Constituição de caráter liberal se a realidade mostrava a contradição em que estava caindo a nova nação. Para não imergir nessa contradição o autor chegou a propor uma série de medidas no sentido de libertar gradualmente os negros de sua condição de cativos e de os inserir no ‘mundo civilizado’. Na verdade, a Monarquia é caracterizada pelo autor como o sistema que poderia trazer novos ventos de liberdade ao Brasil. Por exemplo, Bonifácio sugere que o estímulo à criação de pequenas propriedades cultivadas por negros escravos seria interessante, isso porque eles poderiam conhecer os frutos do próprio trabalho, acostumando-se, portanto, com a ideia de que o trabalho é algo positivo, por gerar benefícios ao indivíduo e a toda a sociedade. O estímulo aos matrimônios entre os próprios escravos também era uma dos recursos que, de acordo com o autor, poderiam ser utilizados pelo governo. Os casamentos propiciariam a unidade familiar e a construção de sólidos valores. Outra medida seria a criação de Caixas de Piedade destinadas ao cuidado dos escravos, assim como a criação de um Conselho Superior Conservador de Escravos, cujo maior trabalho seria a supervisão da condições de vida dos cativos e de seus progressos sociais. Embora a escravidão fosse aviltante, Bonifácio não sugere a sua abolição imediata. Se isso acontecesse, de acordo com o autor, o Brasil poderia sofrer uma convulsão social parecida com a guerra civil que havia destruído o Haiti. Os escravos e toda a sociedade precisavam se acostumar com a prática do trabalho livre, aos poucos. Como sabem os historiadores de hoje, as mentalidades demoram para mudar, e parece que Bonifácio entendia isso. O Brasil não tinha a experiência de luta pela liberdade que outros países tiveram. Em nosso solo as raízes liberais não existiam. Sendo assim, era necessário ‘lavrar’ o terreno. História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração 47 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Em relação ao valor do trabalho livre para a civilização, outro autor de grande relevância se manifestou: José da Silva Lisboa. José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, assim como Bonifácio, também considerava a escravidão aviltante. Embora ele tenha feito as suas reflexões no contexto da abertura dos portos do Brasil (1808), algumas delas podem dar mais peso à discussão que estamos propondo. De acordo com ele, a liberdade de trabalho era um dos traços das sociedades mais avançadas, sendo a escravidão, por outro lado, instituição que gerava todo tipo de vício. Nessa linha de argumentação, Cairu estabelece, ao longo da história, um paralelo entre o que a liberdade de trabalho produz e o que a sua antítese, a escravidão, também produz. Para ele, quando o trabalho social está sob a direção de tirania doméstica e civil, incalculáveis são os males que daí resultam à civilização e à prosperidade. Segundo Cairu, na escravidão ‘exalta-se o original barbarismo, e a insolência do homem, que antes quer constranger, mandar e oprimir, do que ajustar, persuadir e bem fazer’ (apud ROCHA, 1996, p. 329). Cairu também afirma que no regime escravista os indivíduos habituam-se a operar pelo medo e pela violência, e não pela ‘ilustrada coragem, e legítimo império da razão’ (apud ROCHA, 1996, p. 329). As hostilidades entre ‘o poderoso e o desvalido, o inerte e o industrioso, o adulador e o homem de honra’ (apud ROCHA, 1996, p. 329) trazem como consequência o amortecimento das virtudes. Prosseguindo, diz que os ‘contínuos exemplos de violência e humilhação endurecem os ânimos, e habituam as vilanias’ (apud ROCHA, 1996, p. 329). Por último, Cairu nos diz que onde existe escravidão não há parceria entre cativos e libertos. Isso acontece porque o trabalho da agricultura e demais artes mecânicas é realizado por escravos, e por isso tais tipos de trabalho passam a ser vistos com pouca estima por toda a população livre. José da Silva Lisboa, influenciado pelas ideias da economia política, pensou um Brasil sem escravidão, pois entendia que a liberdade econômica era um direito inalienável do indivíduo e que, colocando à prova as suas energias criativas represadas, os escravos poderiam estimular o nascimento de um portentoso mercado ao sul da linha Equador. O autor partiu do pressuposto de que, em um ambiente de garantida liberdade econômica – o clássico laissez-faire, laissez passer 11–, os indivíduos poderiam atingir os seus objetivos pessoais – não apenas econômicos –de modo muito mais dinâmico e independente do que através das restrições ou subsídios diversos (que não deixam de ser restrições em âmbito geral) vindos do Estado. Considerando tal ambiente de liberdade individual no plano econômico, o autor afirma que a soma das 11 Deixe fazer, deixe passar. 48 atividades localizadas geraria uma quantidade de riqueza e de bem-estar superiores às atingidas através de subsídios estatais ou pela atividade direta do poder público. Cairu propõe a liberdade humana em sua acepção mais ampla – portanto filosófica –, tão defendida pelos liberais europeus em finais do século XVIII e início do século XIX. Ademais, Cairu acredita que as instituições liberais promoveriam um estado de prosperidade que levaria as pessoas a respeitarem contratos estabelecidos, a pagarem em dia os seus impostos e a confiarem mais em si mesmas, uma vez que poderiam escrever o roteiro da própria vida. Portanto, o liberalismo econômico defendido por Cairu poderia, segundo ele, liberar as amarras que prendiam a liberdade, a criatividade e a energia dos escravos. Mas, segundo o autor, não apenas os escravos seriam os grandes beneficiados com a liberdade pessoal (civil) e econômica, e sim todos os outros habitantes do Brasil. Com maior liberdade econômica a riqueza individual e a coletiva seriam maiores, uma vez que a partir da reunião de atividades individuais se teria a riqueza nacional. Uma e outra seriam faces de uma mesma moeda. História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração A CRÍTICA DE PERDIGÃO MALHEIRO À ESCRAVIDÃO NO BRASIL Perdigão Malheiro acreditava que a escravidão feria todos os direitos do homem. Filosoficamente falando, o escravismo ia contra o direito natural defendido pelos pensadores iluministas. Da mesma maneira que Nabuco e Bonifácio, Malheiro defendia o fim da escravidão como meio mais adequado para corrigir essa distorção do caráter nacional. No aspecto econômico, Malheiro afirma que a escravidão não gerava renda, nem estímulos, nem um ambiente de prosperidade. Por isso, segundo ele, é que ela foi condenada pelos autores da Economia Política Clássica. Nesse sentido, ele se aproxima de Cairu. No seu livro A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social 12 o autor mostra como se deu o processo de abolição nas colônias francesas e inglesas e o modo como elas se recuperaram da passageira crise econômica por que passaram. De acordo com Malheiro, o exemplo delas deveria ser seguido pelo Brasil. Ao abordar especificamente os prejuízos causados pela escravidão à sociedade, Malheiro afirma que ela é ‘absolutamente incompatível com as idéias de justiça, políticas, sociais, morais, e religiosas no nosso século [no caso, o século XIX]’ (MALHEIRO, 1976, p. 122). Por outro lado, afirma que os benefícios que a abolição podem trazer a um país são vários: 12 MALHEIRO, Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1976. v. 2. Pte. 3 e apêndice. 49 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL A sociedade lucra igualmente, já pela maior satisfação recíproca entre senhor e escravo, já na paz das famílias, e portanto na ordem pública, já no bem-estar dessas classes, já no resultado econômico em relação à produção, já e muito mais nos grandes efeitos morais, maior brandura dos costumes, progresso e civilização (MALHEIRO, 1976, p. 124). O Estado ganharia com o fim da escravidão. De acordo com Malheiro, aumentaria a renda pública, a imigração, e haveria um maior contingente para ocupar postos no exército e na marinha. De modo geral, tais considerações também estão presentes nas propostas aventadas pelos outros autores. Joaquim Nabuco, por exemplo, concordaria com as posições de Malheiro, já que acreditava que a escravidão degrada o vigor moral da nação. As posições de José Bonifácio também corroborariam as de Malheiro, por pensar que o governo virtuoso era o governo livre, unificado em torno dos valores mais elevados. Cairu estaria no mesmo ‘barco’ dos três, uma vez que ele aposta na ideia de que a maior ou menor riqueza de um país é determinada diretamente pela maior ou menor liberdade econômica de que desfruta o indivíduo que habita nele. Para Malheiro, a inversão da ordem natural provocada pela escravidão complicaria todas as relações públicas e privadas, toda a organização da sociedade, a família, o Estado. Para restabelecê-la o caminho ficaria mais difícil, pois encontraríamos novas relações criadas pela escravidão, novos interesses, e uma sociedade inteiramente diversa. A obra de ‘reforma importa a reconstrução da sociedade livre, isto é, da sociedade única e verdadeira e natural criada por Deus’ (MALHEIRO, 1976, p. 148). A IMIGRAÇÃO COMO FORÇA CIVILIZADORA: OUTRO CAMINHO PARA CONSTRUIR A NAÇÃO Outro autor que consideramos de suma importância para compreender a questão da construção da nação é Tavares Bastos (1976). Como iremos observar a seguir, alguns, ou vários pontos abordados pelos autores acima também fazem parte das elucubrações de Tavares Bastos. No livro Os males do presente e as esperanças do futuro13 o autor faz um verdadeiro apanhado da realidade brasileira, abordando, prioritariamente, os aspectos políticos e administrativos do país. Tavares Bastos escreve em um período em que o Brasil já havia passado pela experiência protecionista da tarifa Alves Branco (1844) e consolidavam-se as estruturas do Segundo Reinado (1840-1889). 13 BASTOS, Tavares. Os males do presente e as esperanças do futuro. 2. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1976. 50 As questões que Tavares Bastos discute dizem respeito à organização institucional do Brasil. Nesse sentido, ele analisa os nossos maiores problemas de acordo com um ponto de vista liberal. Chega, em alguns momentos, a comparar o relativo atraso civilizacional do Brasil com o avanço verificado em outros, como, por exemplo, Estados Unidos da América, Argentina etc. Naquele momento, ele via que a vizinha Argentina recebia mais imigrantes que o Brasil, enquanto os Estados Unidos eram o grande alvo de todos os imigrantes da Europa. Eça de Queiroz, no seu A Imigração como força civilizadora14, afirmou que a América dava novo impulso às forças produtivas e estimulava o processo de capitalização. O emigrante que não encontrava emprego, ou que era perseguido politicamente, enxergava a América como o lugar em que ele poderia encontrar trabalho abundante e liberdade de expressão. Além desses, de acordo com Eça de Queiroz, havia outros grupos que pretendiam vir para o novo continente para enriquecer e ajudar os parentes que ficavam na Europa. De modo geral, a imigração promoveria o intercâmbio cultural, comercial, político e religioso entre as nações, sendo, portanto, instrumento promovedor do progresso e da civilização. Nesse processo, ganhariam tanto o país que acolhe quanto o que ‘envia’. No caso do Brasil, Tavares Bastos procurava mostrar os caminhos que o deixariam mais atrativo para o imigrante. Os obstáculos deveriam ser removidos para que o país fizesse parte da corrente imigratória e prosperasse com isso, como dizia Eça de Queiroz. Em relação à questão da imigração, Tavares Bastos discute de que maneiras o Estado brasileiro poderia estimulá-la. Dizia que para o Brasil criar uma corrente imigratória significativa era necessário muito mais do que criar um sistema de vendas de terras nacionais, como havia sido feito no vizinho do norte. Era preciso que o governo afirmasse as liberdades individuais, as franquezas locais, a descentralização, o ensino popular e todas as outras ‘molas que constituem o mecanismo da democracia moderna’ (BASTOS, 1976, p. 53). Para o autor, o tráfico de escravos deveria ser abolido, pois o trabalho escravo ‘repele o imigrante’. O trabalho do governo, portanto, seria o de formar núcleos coloniais com toda a infraestrutura necessária para atrair o imigrante, dando a ele todas as facilidades. Tavares Bastos sugere que agentes do governo deveriam ser enviados ao exterior para fazer ‘propaganda’ das condições que o país daria ao estrangeiro. História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração 14 QUEIROZ, Eça de. Emigração como força civilizadora. Lisboa: Perspectiva e Realidade, 1976. 51 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Medidas que também poderiam minimizar os obstáculos à imigração seriam: a criação de impostos sobre as terras devolutas – o que obrigaria o cultivo da terra e a contratação –, imposição de taxas sobre a posse de escravos – o que desestimularia o trabalho escravo -, e a criação de sistemas de parceria no campo, o que poderia estimular a riqueza pública e privada e fomentar os vínculos sociais. Além dessas medidas, Tavares Bastos ainda sugeria que o Estado brasileiro deixasse sua legislação mais liberal, promovendo a naturalização do imigrante, as garantias da liberdade de culto e da liberdade individual em sentido lato. Outras medidas, como instituir a instrução gratuita e obrigatória, equilibrar o peso dos impostos, construir ferrovias, estabelecer melhorias nos portos e nas estradas de rodagem, construir mais pontes, instituir um sistema de medidas unificado, etc., fazem parte do rol de propostas do autor. Enfim, a administração pública deveria ser mais eficaz, seguindo o exemplo de países mais avançados. O que Tavares Bastos acaba sugerindo é um verdadeiro plano de civilização nacional, da mesma maneira que José Bonifácio havia lançado tal ideia no início do século XIX. O autor, em sua preocupação com a atração de imigrantes para o Brasil, aventa a hipótese de uma transformação do caráter nacional brasileiro para participar dos progressos que outros países estavam tendo. O seu objetivo civilizacional implicava fomentar um ambiente cultural favorável ao progresso, à inovação, às luzes, à ciência, ao otimismo. Para ele, o Brasil tinha uma missão a cumprir, e para tanto era preciso ter ‘fé nos destinos do nosso abençoado país’ (BASTOS, 1976, p. 105). Seguindo nesse ritmo confiante, pincelou esta citação de Montesquieu: ‘Os países [...] são cultivados, não em razão da sua fertilidade, mas em razão da sua liberdade’ (BASTOS, 1976, p. 104). CONCLUSÃO Depois de expormos o modo como parte da historiografia brasileira discutiu a questão da escravidão, coube-nos analisar o conteúdo e o significado das principais propostas lançadas por parte da intelectualidade nacional no século XIX. Na primeira parte do trabalho, os historiadores brasileiros analisados aqui nos revelam que a questão da definição do caráter nacional brasileiro era da maior importância. Se pensarmos que os autores escrevem na primeira metade do século XX, veremos que há uma relação entre esse tema e a situação política internacional. Em primeiro lugar, a emergência do nazismo na Alemanha e suas consequências trágicas fizeram com que a intelectualidade ocidental se questionasse a respeito dos limites da engenharia social daqueles que defendiam a pureza de raça. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e o início da chamada Guerra Fria, duas alternativas de civilização foram questionadas: a ocidental capitalista e a oriental comunista. 52 Nesse ínterim, representantes do pensamento brasileiro, como Gilberto Freyre por exemplo, ao investigarem as raízes da nossa nacionalidade, descobriram fenômenos originais em nossa formação sócio-histórica que teriam levado à constituição de um povo diferente do anglo-saxônico, teutônico e eslavo. Daí a recorrência, na intelectualidade brasileira, composta por historiadores ou não, de quererem dar ao mundo uma resposta civilizacional diferente para os mesmos problemas: guerras, preconceito, etc. Muitos se perguntaram, baseando-se na história nacional, qual seria a resposta que o Brasil daria a um mundo cujas estruturas seculares estavam sendo questionadas ou destruídas. Qual seria a ‘lição’ que o nosso país poderia oferecer a outros povos? Para descobrir isso seria necessário entender como se deu a nossa constituição enquanto nação e, nesse sentido, seria imperioso discutir o lugar da escravidão nesse processo. Na primeira parte do trabalho destacamos os pontos de convergência e de distanciamento entre os historiadores sobre a questão. Na segunda parte do trabalho procuramos analisar como alguns dos nossos intelectuais trataram o regime escravista ao longo de um processo de consolidação das bases monárquicas no Brasil. No século XIX, o continente europeu passou por uma série de revoluções de caráter liberal e burguês. Voltadas contra o poder absoluto dos monarcas, tais movimentos foram, em sua totalidade, influenciados pelo conjunto da filosofia iluminista cultivada no século anterior. No Brasil, a nossa classe letrada também acabou fazendo parte desse movimento ideológico, seja na proclamação da nossa independência, com José Bonifácio, seja na campanha pela libertação dos escravos, com Joaquim Nabuco. A nossa primeira Constituição, a Carta de 1824, teve caráter notadamente liberal, assim como o conjunto das nossas instituições. A nascente nação dos trópicos, porém, precisava definir que tipo de país seria a partir de então. É nesse contexto que as preocupações quanto ao destino do Brasil se avolumaram, e até o final do século iriam frutificar projetos de nação mais consistentes. A partir do conhecimento das propostas de cada autor foi possível identificar nas críticas à escravidão uma coerência que, com o passar dos anos, só foi aumentando. A par das mudanças de caráter institucional que outros países operavam, alguns intelectuais brasileiros procuraram demonstrar que elas sinalizavam novos tempos para a civilização. A defesa da liberdade colocou-se como o bastião de um Joaquim Nabuco, que, condenando a escravidão, fazia propostas de inserção do Brasil no movimento progressivo das teorias políticas e sociais referenciadas pelos princípios iluministas. Criticar a escravidão – haja vista as diferenças entre a versão da abolição gradual ou repentina presente entre os autores – era o mesmo que participar daquela corrente de História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração 53 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL progresso alimentada pelas aspirações por valores liberais e democráticos que estiveram nas preocupações do dia da intelectualidade ocidental. Discutir a escravidão, pelo que podemos observar, fazia parte de uma tentativa de preparar a sociedade para uma mudança sem precedentes em sua estrutura e seu funcionamento. Era abrir as portas para as novas ideias que haviam aportado da Europa no continente americano. Condená-la e propor soluções era contribuir para forjar um projeto de nação que, se viesse a ser posto em prática, inscreveria o Brasil no conjunto dos países que aceitaram fazer parte dos progressos da civilização ocidental, e ser dele um de seus mais ilustres representantes. Referências BASTOS, Tavares. Os males do presente e as esperanças do futuro. 2. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1976. FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. 13. ed. São Paulo: [s.n.], 1998. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 14. ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1981. LIMA, Oliveira. Formação da nacionalidade histórica brasileira. São Paulo: PubliFolha, 2000. MALHEIRO, Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1976. v. 2. Pte. 3 e apêndice. NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1988. NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 17771808. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1985. PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 20. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 54 QUEIROZ, Eça de. Emigração como força civilizadora. Lisboa, Perspectiva e Realidade, 1976. História intelectual da formação da nação brasileira: escravidão, abolição e imigração ROCHA, Antônio Penalves. José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. São Paulo, Editora 34, 1996. SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil: 1733-1838. Organização de Miriam Dolhnikoff. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. (Grandes nomes do pensamento brasileiro). SOUSA, Octávio Tarquínio de. O pensamento vivo de José Bonifácio. São Paulo: Martins Editora, 1961. Fontes e referenciais para aprofundamento temático 1) De acordo com este capítulo, escreva um pequeno texto explicando o significado da escravidão colonial para a formação do Brasil como nação. 2) Escreva um resumo sobre as principais questões abordadas neste capítulo sobre o tema da abolição da escravidão, em relação com a formação da nação brasileira. Anotações 55 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Anotações 56 3 A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos Moacir José da Silva APRESENTAÇÃO Este capítulo tem por motivação a abordagem do processo de Independência do Brasil, focalizando seus aspectos metodológicos relevantes. Ele pode ser entendido como uma verificação da validade do método marxista para a interpretação da história do Brasil, mormente sobre o seu processo de emancipação política de 1822. Para isso foi escolhida a fase inicial do pensamento caiopradiano, particularmente em razão de sua influência sobre a historiografia posterior. Seria um mero ato de justeza registrar que a obra Política e História em Caio Prado Jr (2008), do historiador Claudinei Mendes, enquanto estudo minucioso e detalhado sobre as ideias caiopradianas, serviu aqui de ponto de partida para as nossas reflexões, de tal maneira que a leitura deste capítulo seria quase imperfeita para aqueles que a desconhecem. Nessa obra são detalhados, com profundo rigor metodológico, as fases e os aspectos distintos do pensamento de Caio Prado Jr. Este estudo focaliza a fase marxista da historiografia caiopradiana e examina a sua validade enquanto método interpretativo da história do Brasil imperial, particularmente do seu processo de Independência. Três pontos, nesse sentido, foram abordados, a titulo de contribuir para a discussão sobre o alcance do método marxista: 1) A ideia de uma base material da história, 2) O desenvolvimento das forças produtivas como fator impulsionador dos eventos históricos, e 3) A luta de classes enquanto método de análise. Tal abordagem pretende identificar os limites interpretativos do método marxista acerca do processo de independência, resgatando documentos e eventos históricos perante os quais os esquematismos filosóficos não fazem senão por deixar pontos lacunares para uma reconstrução isenta do passado. A BASE MATERIAL DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL No contexto da fase marxista da historiografia caiopradiana, as reflexões sobre o processo de Independência do Brasil tiveram como ponto de partida uma base material para os acontecimentos políticos e jurídicos. Todos os eventos e acontecimentos que estiveram de alguma forma ligados ao movimento de Independência seriam 57 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL desdobramentos ocorridos a partir de uma base material. O grito de liberdade de 1822 teria, portanto, uma materialidade, um fundamento material, que, em última instância, seria entendido a partir de um determinado estágio do desenvolvimento das forças produtivas, o qual formaria a infraestrutura das mudanças históricas. Mendes (2008) sintetizou o que seria essa base material da Independência, para Caio Prado: Passando para a análise da sociedade colonial brasileira, Caio Prado observou que ela era reflexo fiel da sua base material, a economia agrária, ou seja, da grande propriedade e da grande exploração rural. Assim como a grande exploração absorvia a terra, o senhor rural monopolizava a riqueza e, com ela, seus atributos naturais, o prestígio e o domínio (MENDES, 2008, p. 92). O Grito do Ipiranga, de acordo com isso, figuraria como sendo um momento em que dado estágio de uma base material teria passado a requerer grandes mudanças superestruturais: Em outras palavras, é a superestrutura política do Brasil colônia que, já não correspondendo ao estado das forças produtivas e á infra-estrutura económica do paiz, se rompe, para dar lugar a outras formas mais adequadas ás novas condições económicas e capazes de conter a sua evolução (PRADO JÚNIOR, 1933, p. 96). A oposição aos interesses da metrópole e os acontecimentos jurídico-políticos ligados à Independência da colônia portuguesa seriam, pois, corolários do estágio das condições econômicas daquele alvorecer do século XIX. Não deixaria de ser judicioso se, antes de investigar se o movimento da Independência foi de fato fruto e contrapartida de um dado estágio do desenvolvimento econômico, portanto uma base material, que se examinasse se seria possível entender a formação ou a transformação de uma sociedade a partir do desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Somente a muito custo calaria a indagação acerca da possibilidade de a base ou o fundamento de uma ordem social poder ser algo material. Na história humana os objetos materiais não podem ter uma existência independente dos homens. Sejam eles ligados às artes ou às atividades produtivas, a sua origem está indissoluvelmente ligada ao conjunto de valores morais e culturais, normas, tradições e costumes do ambiente em que foram criados. Com efeito, o gosto musical dos cidadãos da Grécia fez disseminar o uso da cítara; todavia, em vão se procura em Heródoto (1988) algo exatamente igual ao que ocorria nas regiões da Lacônia. Em Plutarco (2006) observa-se que não apenas a moeda mas também os meios de transporte foram mais aprimorados em Atenas do que na Esparta de Licurgo em virtude do seu maior desempenho comercial. Os inventos, por seu lado, são antes produtos sociais do que objetos materiais; por 58 exemplo, a prensa móvel de Gutemberg teve papel importante na difusão das ideias da Renascença, contudo seu surgimento foi precedido de uma série de transformações nas necessidades e técnicas de comunicação da época. Da mesma forma, o tear moderno: trata-se de uma força produtiva impensável sem a divisão do trabalho. Se recorrermos a Adam Smith (1983), logo veremos o rol de inventos e tecnologias criados pela divisão do trabalho e, dessa forma, por relações sociais: A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos Em terceiro — e último lugar — precisamos todos tomar consciência de quanto o trabalho é facilitado e abreviado pela utilização de máquinas adequadas. É desnecessário citar exemplos. Limitar-me-ei, portanto, a observar que a invenção de todas essas máquinas que tanto facilitam e abreviam o trabalho parece ter sua origem na divisão do trabalho. As pessoas têm muito maior probabilidade de descobrir com maior facilidade e rapidez métodos para atingir um objetivo quando toda a sua atenção está dirigida para esse objeto único, do que quando a mente se ocupa com uma grande variedade de coisas. Quem quer que esteja habituado a visitar tais manufaturas deve ter visto muitas vezes máquinas excelentes que eram invenção desses operários, a fim de facilitar e apressar a sua própria tarefa no trabalho. Nas primeiras bombas de incêndio um rapaz estava constantemente entretido em abrir e fechar alternadamente a comunicação existente entre a caldeira e o cilindro, conforme o pistão subia ou descia. Um desses rapazes, que gostava de brincar com seus companheiros, observou que, puxando com um barbante a partir da alavanca da válvula que abria essa comunicação com outro componente da máquina, a válvula poderia abrir e fechar sem ajuda dele, deixando-o livre para divertir-se com seus colegas. Assim, um dos maiores aperfeiçoamentos introduzidos nessa máquina, desde que ela foi inventada, foi descoberto por um rapaz que queria poupar-se no próprio trabalho (SMITH, 1983, p. 69-70). Smith (1983) observou que a origem da divisão do trabalho está, em última instância, na propensão natural para a troca. Não seria forçoso concluir que se trata de uma relação social que sofre alterações e modificações de acordo com as atividades comerciais e que, por conseguinte, é muito mais geradora do que resultado do desenvolvimento das forças produtivas; em suma, como afirmava Mises (2007), ‘as relações de produção são, dessa forma, não o produto mas, ao contrário, condição indispensável para que as forças produtivas materiais venham a existir.’ (MISES, 2007, p. 110, tradução nossa.). Por fim, não seria demasiado exagero inferir-se que a base da sociedade seria formada muito mais por valores morais, normas e tradições do que por qualquer outra materialidade. As contribuições filosóficas e econômicas de Hume (1986), Smith (1983) e Quesnay (1986) podem ser equiparadas em importância e rigor; com eles, a chamada filosofia da moral ganhou corpo e sistematização científica. Enquanto filósofos da moral, eles mostraram que a base real das relações humanas são valores morais, e que a história, por essa razão, é subjetiva, na medida em que é humana. Seguindo outra direção de raciocínio, essa base moral subjetiva das relações sociais foi 59 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL substituída por uma base material, que passa a determinar direta ou indiretamente o comportamento humano. No que concerne a isso, Mises, na sua obra Teorias e História afirma que, para o marxismo, ‘essas forças tem o poder de dirigir a produção de todos os fatos e mudanças históricas (MISES, 2007, p. 106, tradução nossa.). E mais adiante prossegue ele: Estas forças produtivas materiais compelem os homens a entrarem numa produção de relações que são independentes de suas vontades. Estas relações de produção determinarão a superestrutura jurídica e política da sociedade, assim como todas as religiões, artes e ideias filosóficas (MISES, 2007, p. 112, tradução nossa). Voltando mais diretamente ao tema da Independência, é preciso investigar como foi tratado esse ajuste necessário entre infraestrutura e superestrutura, entre a economia e a política. Ao estabelecer como base material da história do Brasil um dado estágio das forças produtivas, e ao assumir que essas pressionam a superestrutura política colonial rumo a mudanças, Caio Prado Jr foi levado a mitigar, quando não substituir completamente, aspectos fundamentais do processo de Independência. De acordo com isso, a teoria da luta de classes foi aplicada para o entendimento dos desdobramentos do movimento da Independência. Os fatos e eventos históricos já teriam um combustível, o desenvolvimento das forças produtivas; faltar-lhes-ia, apenas, um motor: ei-lo, o antagonismo de classes, o mote da próxima seção. INDEPENDÊNCIA E LUTA DE CLASSES NO BRASIL Ao conceber a natureza da colonização, Caio Prado Jr (1933) salientou a importância da formação da classe dos grandes proprietários, que teria, segundo ele, papel decisivo nos conflitos que levariam à Independência do Brasil. A teoria da luta de classes expressa um sincretismo teórico herdado de Hegel (1992), Comte (1977) e Marx (1978). O método das ciências naturais, da observação direta dos eventos, aplicado à história humana mostra que ela se desenvolve por meio de conflitos, e que esses caminham numa direção predefinida, de acordo com as leis da dialética. Quando métodos apropriados para a observação dos fenômenos da natureza são aplicados para a explicação da história, ocorre que muitos de seus aspectos são obscurecidos, e meias verdades podem ser tomadas como regra geral. Um primeiro ponto que poderia servir de norte para muitas pesquisas acerca da história do Brasil é a falta da distinção entre castas e classes. Na aplicação da teoria marxista para a explicação do processo de Independência do Brasil, Caio Prado Júnior (1933) tomou o regime de capitanias e de sesmarias como sendo a base real para a formação de uma grande classe social. 60 Inicialmente valeria retomar a definição de classe e de casta, de acordo com a língua portuguesa. Para o verbete ‘classe’, o dicionário Michaelis ( WEISZFLOG, 2007) traz os seguintes significados: A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos Classe: sf (lat classe) 1 Grupo de pessoas, animais ou coisas com atributos semelhantes. 2 Cada um dos grupos ou divisões de uma série ou conjunto. 3 Categoria, ordem, ramo, seção. 4 Categoria de indivíduos fundada na importância ou na dignidade dos seus empregos ou ocupações; hierarquia. 5 Categoria de coisas fundada na qualidade, preço ou valor. Já o conceito de ‘casta’ tem uma conotação bastante diferente: Casta: sf. 1 Cada uma das classes hereditárias nas quais é dividida a sociedade na Índia, de acordo com o sistema fundamental do hinduísmo. Cada uma tem um nome e costumes peculiares que restringem a ocupação de seus membros e suas relações com os membros das outras castas. 2 Qualquer classe social distintamente separada das outras por diferenças de riqueza, posição social ou privilégios hereditários, profissão, ocupação ou costumes particulares. Não se pode deixar de aceitar que as acepções dos termos classe e casta remetem a uma expressiva diferença conceitual: enquanto classe concerne à semelhança de atributos, casta remete a uma união mais forte, a algum laço real entre esses atributos. Para que o método marxista pudesse se tornar interpretação da história brasileira e particularmente do seu processo de Independência, foi preciso atribuir aos grandes proprietários agrícolas, cuja trajetória política explicaria os contornos e a essência da fase inicial do Brasil Imperial, um comportamento classista. Faltaria, no entanto, verificar se se trata, de fato, de comportamento de classe ou de casta. O exame da documentação mostra que a doação de capitanias formava muito mais uma casta do que propriamente uma classe. Na carta em que D. João III fez de Martim Afonso de Sousa donatário da Capitania de São Vicente lê-se: [...]que haja ao dito Martim Afonso de Sousa por capitão-mor da dita armada e terras e lhe obedeçam em tudo e por tudo o que lhes mandar e cumpram e guardem seus mandados assim e tão inteiramente como se por mim em pessoa fosse mandado, sob as penas que ele puser; as quais com efeito dará a devida execução nos corpos e fazendas daqueles que o não quiserem cumprir, assim, e além disso lhe dou todo poder e alçada, mero e misto império, assim no crime como no cível sobre todas as pessoas assim da dita armada como em todas as outras que nas ditas terras que ele descobrir viverem e nela estiverem [...] (REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, 1861, p. 75). O poder do capitão-mor por meio do sistema de capitanias, além de ilimitado, representava um privilégio que mais se assemelhava a uma prerrogativa feudal. Tratava-se de uma condição jurídica, de um privilégio garantido por lei. Naturalmente a 61 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL figura do capitão-mor estava ligada à necessidade de povoamento e de proteção das áreas conquistadas, e encontra, por conseguinte, seu fundamento no espírito belicoso da fase inicial do empreendimento colonial. Para a reconstrução dos eventos da história, importa o fato de que os grandes proprietários, mesmo a despeito das diferenças geográficas de extensão e de recursos naturais das capitanias, nos momentos em que tiveram comportamentos semelhantes foram impelidos a tal em razão principalmente de sua condição jurídica de donatários por Carta Régia. Se houve uma homogeneidade de interesses dentre os grandes proprietários, ela foi resultado de uma condição jurídica de herança ou de doação de privilégios, e não de mera semelhança de uma classe. Em face do que até aqui foi exposto, torna-se mais adequado reportar-se a essa homogeneidade de comportamento dos grandes proprietários como uma atitude de casta, não de classe. Só aparentemente não faria diferença adotar o termo casta ou classe quando é feita referência aos grandes proprietários rurais na colônia portuguesa. Quando a historiografia caiopradiana afirma que eles agiam como classe, seus interesses são coletivizados em nome de um espírito, ao mesmo tempo espoliador e usurpador de dominação e opressão, contra a grande população. Por outro lado, reconhecer o comportamento da casta fundiária abre caminho para que se possa investigar o papel do indivíduo na história, na medida em que a motivação dos grandes proprietários de terras pode ser tão somente fruto da convergência de meros interesses individuais que se assemelham, por força de condições jurídicas, e que originam privilégios concretos. O capitão-mor, como indivíduo, tem o interesse em fazer o melhor uso do seu privilégio, auferindo os melhores proveitos da sua capitania. A história cederia seu lugar a um verdadeiro realismo conceitual quando esse fato singelo fosse reconstruído sob a égide do método filosófico da luta de classes, segundo o qual as forças produtivas materiais impulsionariam o comportamento de luta das classes opressoras, e um ilusório interesse coletivo tomaria o lugar dos interesses individuais, que na realidade existiram. Como decorrência dessas coletivizações de interesses individuais, o comportamento dos homens do passado seria preordenado de forma a cumprir um destino que nunca fez parte dos seus propósitos reais e do resultado histórico, do qual jamais poderiam ter consciência. Para a reconstrução do passado, em termos de luta de classes, foi necessário que uma casta fosse tratada como classe, e que a ela fosse oposta outra grande classe. A esse respeito Mendes (2008) afirma: Chamou [Caio Prado] a atenção para o fato de a estrutura social da colônia, no seu primeiro século e meio de existência, ser extremamente simples, reduzindo-se, fundamentalmente, a duas classes: de um lado, os grandes proprietários rurais, a classe abastada dos senhores de engenho e fazendas; de outro, a massa da população espúria dos trabalhadores do campo, escravos e semilivres (MENDES, 2008, p. 92). 62 Embora a literatura caiopradiana não chegue a negar a existência de diferentes segmentos de classes, eles são agrupados numa grande classe cujos interesses fariam mover a história. O conceito de classe remete à semelhança de seus elementos; neste caso particular, uma reflexão sobre a semelhança entre pequenos cultivadores, escravos, trabalhadores semilivres do campo e os demais segmentos da sociedade logo mostraria que eles não poderiam ser agrupados numa única grande classe sem que para isso fossem utilizados critérios filosóficos. O ponto que uniu a grande massa que se opôs aos grandes proprietários foi um mero juízo de valor: a condição de oprimido. Notadamente, escravos não podem ter os mesmos interesses que os trabalhadores semilivres, nem mesmo os interesses desses podem ser os mesmos que o dos pequenos lavradores. A casta de grandes proprietários e os demais segmentos da sociedade foram convertidos em duas grandes classes sociais, cuja luta política e cuja oposição de interesses seriam a base do processo de Independência do Brasil. Concernente a isso diz Mendes (2008): A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos Caio Prado, ao resumir esse processo, salientou que foi na oposição de interesses entre os grandes proprietários de terra e a metrópole, bem como entre aqueles e a burguesia comercial que residia a explicação da emancipação do Brasil (p. 95). Mesmo que não se tomasse em conta os abusos da lógica filosófica para simplificar a estrutura social pré-independência em duas grandes classes, ainda restaria investigar se de fato a oposição de interesses entre elas lograria explicar a interligação dos acontecimentos que culminariam no grito do Ipiranga. A INDEPENDÊNCIA SEM A LUTA DE CLASSES: NOVAS PERSPECTIVAS No contexto do pensamento marxista, para que a oposição de interesses seja capaz de determinar o curso da história é preciso que uma classe social tenha consciência dos seus interesses, a partir do que passa a agir como tal. O movimento da Independência figuraria tão somente como o desfecho de lutas políticas conscientes, tais como a da aristocracia fundiária contra a burguesia comercial. De modo abstrato e arbitrário foi proclamada a existência de uma classe oprimida e, junto com isso, a homogeneidade dos seus interesses, e também os interesses dos comerciantes foram estendidos arbitrariamente a toda a sociedade, fechando, assim, a cadeia da luta política consciente rumo à nação independente. Sem no entanto descartar a hipótese de que durante a Independência tenha havido conflitos de interesses, o que precisa ainda ser verificado é se foram eles que determinaram o rumo dos acontecimentos. Mais do que isso, é preciso ainda investigar se os 63 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 64 interesses da burguesia comercial teriam influenciado, de fato, o rumo dos acontecimentos em razão da força de sua ação, coordenada e consciente, como classe. Existe uma via metodológica que admite a existência de uma categoria de fenômenos humanos que, sendo resultado das ações humanas, não são, no entanto, frutos de suas intenções conscientes. De acordo com Hayek (1985), essa via recebeu corpo teórico por meio de Mandeville (1962), Hume (2006), Adam Smith (1983) e Ferguson (1768), tendo sido inclusive o aporte filosófico essencial oferecido pelos filósofos escoceses da moral. De acordo com essa forma de ver a história, as ordens sociais são resultados naturais de um rol infindável de acontecimentos e condições, sendo que as grandes revoluções foram resultados antes de um estado de coisas do que do projeto consciente de um agrupamento ou de uma classe. O processo da revolução da Independência brasileira precisa ser reconstruído enquanto resultado natural de um estado de coisas. O fato de existir um conflito de interesses entre os grandes proprietários não significa que isso conduziria a história rumo a um objetivo predeterminado, mesmo que esse se incluísse nas aspirações de uma classe social. Ainda que a Independência em relação a Portugal fizesse parte dos interesses de boa parte dos comerciantes, a queda do monopólio deveu-se essencialmente à sua capacidade de afetar a sociedade como um todo. Com efeito, a revolução da Independência, por mais que seja descrita como fruto de um movimento político, foi, na verdade, consequência de um estado geral de coisas que a precedeu. Examinando mais de perto o monopólio colonial, o que logo se observa é o seu efeito sobre o conjunto da sociedade. Esse monopólio se tornou odioso, mas não apenas para os comerciantes por ele prejudicados. Aqueles que atentaram para os fatos e eventos do alvorecer do século XIX no território brasileiro souberam o quanto as paixões por uma nação independente motivaram o grito de liberdade de 1822. Examinando, porém, mais de perto os acontecimentos, logo se vê que essa paixão abstrata pela Independência em relação a Portugal não poderia ir tão longe a ponto de contaminar toda a sociedade, disseminando-se até mesmo nos lugares mais imprevisíveis, se não fosse um desejo real não apenas dos comerciantes, mas de toda a sociedade. Os fatos testemunham que a mudança da estrutura da sociedade só foi possível devido à ação conjunta da maioria dos brasileiros. Embora a Independência tivesse conquistado a vontade política consciente de grande parte dos indivíduos daqueles idos, inclusive dos mais proeminentes, ela foi antes o fruto espontâneo e paciencioso do trabalho de inúmeras gerações. A ação conjunta só foi possível porque o conjunto da sociedade foi atingido. Os fatos parecem não deixar dúvidas de que houve um estado de coisas que fez depositar em cada uma das almas daquele alvorecer de século a necessidade de uma nação livre de Portugal. Vejamos mais de perto esse aspecto da questão. Shaffer (2007) mostra como os mais diversos tipos de colonos eram afetados pelo monopólio colonial, quando diz: A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos Os habitantes do Brasil não podiam plantar oliveiras ou videiras, a fim de multiplicar a venda do azeite e do vinho europeu. Era vedado o comércio entre as colônias. Se alguem quisesse mandar uma partida de mercadorias de Vera Cruz para Buenos Aires, era obrigado a despachá-la Via Cadis. Os brasileiros estavam proibidos de plantar gengibre, com receio que o comércio de Goa pudesse sofrer com isso. Dessa forma a agricultura dos portugueses ficava de alguma maneira à mercê de algum povo asiático. Mais. O absurdo chega ao ponto que aos brasileiros nem sequer se permitia ter a lã dos seus próprios rebanhos, que se mandavam destruir as máquinas de processamento do algodão dos colonos, enquanto a habilidade estrangeira era estimulada por meio de prêmios. Ofuscados por uma cobiça mesquinha, acreditava-se, sem dúvida, que os colonos deviam alegrar-se com a injustiça patrocinada pela terra mãe (SCHAFFER, 2007, p. 68-69). O monopólio colonial afetava também os pequenos pecuaristas. Prossegue o autor: Como é sabido, o gado trazido da Europa para cá multiplicara-se para incontáveis manadas nas pastagens do interior do País. Caso se pretenda domesticar essas reses é preciso tratá-las com sal. O sal encontra-se facilmente no Brasil e sem dificuldade extraído do mar com o auxílio do sol, como acontece em Portugal. Acontece que a extração do sal estava proibida, porque a Coroa de Portugal arrendara por 90.000 Rltr por ano todo o fornecimento do sal para o Brasil, a comerciantes de St. Ubes. Forneciam o sal a preços muito elevados tornando-o absurdamente caro ao Brasil. Por causa deste monopólio e da imensa vantagem que o governo português auferia, morriam anualmente milhares de reses (SCHAFFER, 2007, p. 71). Os segmentos que se dedicavam ao cultivo de especiarias também sofriam com a existência do monopólio colonial: Os portugueses exterminavam plantações de especiarias, como noz-moscada, canela, cravo, cânfora e até a pimenta, que vingavam excelentemente, a fim de estimular as possessões nas Índias Ocidentais (SCHAFFER, 2007, p. 73). Observador coevo, Shaffer (2007) deu uma dimensão aprimorada da sociedade brasileira que precedeu a revolução da Independência. Ele descreveu uma sociedade afetada como um todo, desde o comércio e a produção de tabaco, passando pela liberdade de caça a baleias e pelo cerceamento do direito de ir e vir na colônia, até chegar ao grande ônus geral causado pelos impostos. Argumenta ele: Com os dados registrados até agora conclui-se que o Brasil, com sua indústria inteiramente paralisada, somado à inteira liberdade de posse, foi o país no mundo mais duramente onerado com impostos (SCHAFFER, 2007, p. 77). 65 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 66 Para além disso, Shaffer registra que em dado momento o monopólio colonial representava um peso inclusive para Portugal, não apenas fazendo cair o preço do ouro e da madeira que extraíam mas principalmente fazendo pulverizar os seus investimentos para suprir a demanda descomunal de suas colônias; por conseguinte, na pátria-mãe a diversificação dos investimentos obstaculizou a especialização da indústria e do comércio. Não faltam razões para se acreditar que o ódio do monopólio da metrópole sobre a colônia tenha conquistado muito mais os sentimentos humanos do que o amor à liberdade de comércio. No início daquele século, o bom governo e a prosperidade da economia de mercado, mesmo com a abertura dos portos de 1808, não apresentaram resultados a ponto de motivarem sozinhos uma revolução política. Para entender adequadamente a ascensão de D. Pedro I é preciso relembrar, ainda, dois pontos importantes. Primeiro, o monopólio colonial foi um empreendimento bélico voltado para manter as possessões encontradas, daí a explicação da sua natureza tirânica e totalitária; em segundo lugar, essa natureza foi estimulada e fortemente reforçada pelo exclusivismo comercial. Em suma, o monopólio colonial afetou a sociedade em seu conjunto, e não apenas no comércio e na política. Shaffer (2007) mostra como a distância da metrópole dificultava o quotidiano da colônia nos assuntos em geral ligados à justiça. Os custos e as dificuldades causados pela distância da pátria-mãe criavam também uma série de impedimentos para o bom andamento da administração pública; tudo isso faz entrever um quotidiano enervante, descreve ele. O monopólio colonial concerne a uma sociedade que irrita, com instituições autoritárias e ineficientes, a vida da maioria dos seus membros. Ele não apenas paralisa as atividades produtivas como também altera a estrutura social; com efeito, um exame da estrutura de capitanias e sesmarias logo mostra uma grande desigualdade de riquezas, inicialmente entre as próprias capitanias e sesmarias e, posteriormente, em toda a sociedade. Existe um rol imenso de fatores que levam a crer que a declaração de Independência de 1822 não resultou da ação suprema de uma grande classe que, por oposição a outra, conduziria a história segundo o seu projeto consciente, seu objetivo classista dado. Na maioria das situações os conflitos de interesses, e consequentemente a luta de classes, quando existe, não provocam revoluções de mudança da estrutura da sociedade, mas essas acontecem quando a sociedade é atingida em seu conjunto. A Independência do Brasil foi feita por indivíduos que somente agiram em conjunto porque também foram afetados conjuntamente; o entendimento disso depende de uma série de elementos perante os quais o método da luta de classes mostra-se de pouca valia, levando para o campo da lógica filosófica questões que deveriam permanecer no âmbito da história.1 A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos EXTRATO DE DOCUMENTOS PARA LEITURA Alvará de 5 de janeiro de 1785 sobre a extinção de fábricas e manufaturas no Brasil Illm. e Exm. Sr 1. A Sua Magestade foi presente que na maior parte das capitanias do Brasil se tem estabelecido, o vão cada vez mais propagando, diferentes fabricas e manufacturas, não só de tecidos de varias qualidades, mas até de galões de ouro e prata: igualmente tem chegado a real presença informações constantes e certas dos excessivos contrabandos e descaminhos, que da mesma sorte se praticam nos portos e interiores das referidas capitanias. 2. Os effeitos d’estas perniciosas transgressões se têm já feito e vão cada vez mais fazendo sentir nas alfandegas d’este reino, nas quaes não tendo diminuido os despachos e rendimentos das fazendas e generos do uso e consumo dos habitantes d’elle, demonstrativamente se conhece uma diminuição successiva e cada vez maior dos generos e fazendas que se exporiam para o Brasil. [..] 5. Ultimamente não só nas principaes villas e cidades dos portos de mar do Brasil, mas no interior do mesmo Brasil, particularmente em Minas Geraes, é constante os estabelecimentos das mencionadas fabricas, como se tem comprova na real presenca por muitas e diversas amostras de tecidos, remetidas a esta secretaria d’Estado, d’aquella capitania, e como igualmente se poderá ver nos registros das fazendas que annualmente se remettem para ella, e na diminuição que de alguns annos a esta parte se tem observado no contrato das entradas. 6. Dos contrabandos e descaminhos ainda ha noticias mais evidentes e demonstrativas: é certo que concluida a ultima guerra entre Inglaterra, França e Hollanda, todos os corsarios d’estas tres nações, principalmente das duas primeiras, se transmutaram na maior parte em outros tantos navios de commercio, e que não tendo França recuperado as colonias que anteriormente possuia, e a Gram-Bretanha tendo perdido uma grande parte das suas, é bem certo que aquellas duas nações, na falta dos proprios dominios, se não hão de esquecer dos alheios, principalmente dos portos do Brasil, convidados pelas riquezas e facil accesso d’elles, e pelo auxilio e cooperação dos seus habitantes, dispostos e propensos aos referidos contrabandos. [...] 11. Além d’estes nocivos canaes da costa d’Africa, e dos nossos proprios navios, não são menos infundados os mares e costas d’esses dominios portuguezes das mesmas embarcações estrangeiras, as quaes, ou pelos portos em jangadas e outras pequenas embarcações, ou pela costa, ou ainda no mar por encontros ajustados com os nacionaes praticam sem o menor obstaculo os mencionados contrabandos. 1 Extraído de BRASILEIRO, I. H. E. G.; INSTITUTO HISTORICO, G. E. E. D. B. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro: Typ. João Ignácio da Silva, 1870. p. 213-220. 67 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 12. Até agora se promoviam e praticavam estes debaixo de algumas cautelas e disfarces, presentemente porém tem chegado relaxação a tal extremo, que já na bolsa de Londres se fazem seguros dos navios inglézes com determinado defino para o Brasil: nas gazetas d’aquelle reino tambem com toda a publicidade se annunciam pelos seus proprios nomes e dos seus respectivos capitães as embarcações que alli se preparam, ou que estão com carga e promptas a sahir para o mesmo Brasil. [...] 16. Em consequencia d’estas reflexões, que com a devida ciscumspecção e madureza foram vistas, ponderadas e examinadas na real presença: houve Sua Magestade por bem ordenar que o resumo d’ellas se remettesse em cartas circulares a V. Ex., e a todos os governadores e capitães generaes do Estado do Brasil. [..] 17. Quanto ás fabricas e manufacturas é indubitavelmente certo que sendo o Estado do Brasil o mais fertil e abundante em fructos e producções da terra, e tendo os seus habitantes, vassallos d’esta coròa, por meio da lavoura e da cultura, não só tudo quanto lhes é necessario para sustento da vida, mas muitos artigos importantissimos para fazerem, como fazem, um extenso e lucrativo commercio e navegação; e se a estas incontestaveis vantagens ajuntarem as da industria e das artes para o vestuario, luxo e outras commodidades precisas, ou que o uso e costume tem introduzido, ficarão os ditos habitantes totalmente independentes da sua capital dominante: é por consequencia indispensavelmente necessario abolir do Estado do Brasil as ditas fabricas e manufacturas: e isto é o que Sua Magestade ordena que V. Ex. execute, e faça executar n’essa capitania e nas que lhe são subordinadas, com a prudencia e descernimento com que sempre obra, e que as circumstancias d’ellas e a gravidade d’esta commissão exigem. 18. Com este fim deve V. Ex., antes de outro algum procedimento, informar-se particularmente de todas e cada uma das referidas fabricas e manufacturas que se acharem estabelecidas n’essa capital, e nos mais districtos do seu governo e subordinados a elle, quaes são os sitios e lugares em que ellas existem, quaes os proprietarios e interessados a que pertencem, que numero de operarios se empregam nos teares, tinturarias, liados e mais officinas de cada uma das referidas fabricas, e quaes são os tecidos e obras que em cada uma d’ellas se fabricam, para de tudo mandar V. Ex. fazer uma relação exacta e circumstanciada, que deve remetter a esta secretaria d’Estado para ser presente a Sua. Magestade. Carta de D. João III a Martim Afonso de Sousa2 D. João & A quantos esta minha carta de poder virem faço saber que eu a envio ora a Martim Afonso de Sousa do meu conselho por capitão-mor da armada que envio à terra do Brasil e assim de todas as terras que ele dito Martim Afonso na dita terra achar e descobrir, e, porém, mando aos capitães da dita armada, e fidalgos, cavaleiros, escudeiros, gente de armas, pilotos, mestres, mareantes e todas as outras pessoas, e a quaisquer outras de qualquer qualidade que sejam, nas ditas terras que ele descobrir ficarem e nela estiverem ou a ela forem ter por qualquer maneira que seja, que haja ao dito Martim Afonso de Sousa por capitão-mor da dita armada e terras e lhe obedeçam em tudo e por tudo o que 2 Extraído de Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 24 (1° trimestre), 1861, pp. 74-79, apud RIBEIRO, Darcy; MOREIRA NETO, Carlos de Araújo (Org.) A fundação do Brasil: testemunhos, 1500-1700. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 136-8. 68 lhes mandar e cumpram e guardem seus mandados assim e tão inteiramente como se por mim em pessoa fosse mandado, sob as penas que ele puser; as quais com efeito dará a devida execução nos corpos e fazendas daqueles que o não quiserem cumprir, assim, e além disso lhe dou todo poder e alçada, mero e misto império, assim no crime como no cível sobre todas as pessoas assim da dita armada como em todas as outras que nas ditas terras que ele descobrir viverem e nela estiverem ou a ela forem ter por qualquer maneira que seja, e ele determinará seus casos feitos assim crimes como cíveis e dará neles aquelas sentenças que lhe parecer justiça conforme a direito e minhas ordenações até morte natural inclusive, sem de suas sentenças dar apelação nem agravo, que para tudo o que é dito é e tocar a dita jurisdição lhe dou todo poder e alçada na maneira sobredita, porém se alguns fidalgos que na dita armada forem e na dita terra estiverem ou viverem e a ela forem cometer alguns casos-crimes por onde mereçam ser presos ou emprazados ele dito Martim Afonso os poderá mandar prender ou emprazar segundo a qualidade de suas culpas o merecer e mos enviará com os autos das ditas culpas para cá se verem e determinarem como for justiça, porque nos ditos fidalgos no que tocar nos casos-crimes hei por bem que ele não tenha a dita alçada; e bem assim dou poder ao dito Martim Afonso de Sousa para que em todas as terras que forem de minha conquista e demarcação que ele achar e descobrir possa meter padrões e em meu nome tome delas Real e autoral e tirar estormentos, e fazer todos os outros autos isso lhe dou especial e todo cumprido poder, como para todo ser firme e valioso requerem e se para mais firmeza de cada uma das necessárias de feito ou de direito nesta minha carta de poder irem declaradas algumas cláusulas mais especiais e exuberantes eu as hei assim por expressas e declaradas como se especialmente o fossem posto que sejam tais e de tal qualidade que de cada uma delas fosse necessário se fazer expressa menção e porque assim me de todo apraz, mandei disso passar esta minha carta ao dito Martim Afonso assinada por mim e selada do meu selo pendente, dada em a Vila de Castro Verde aos XX (20) dias do mês de novembro (REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, 1870, p. 78). A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos Referências COMTE, A. et al. Curso de filosofía positiva. Madrid: E.M.E.S.A., 1977 (Colección crítica filosófica, 10). FERGUSON, A. An essay on the history of civil society. Londres: A. Millar & T. Caddel, 1768. HAYEK, F. A. Direito, legislação e liberdade. São Paulo: Visão, 1985. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Rio de Janeiro: Vozes, 1992. HERÓDOTO. História. Brasilia, DF: Universidade de Brasília, 1988. HUME, D. Escritos sobre Economia. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 69 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL HUME, D.; SAYRE-MCCORD, G. Moral Philosophy. Indianápolis: Hackett Pub., 2006. MANDEVILLE, B. The fable of the bees; or, Private vices, publick benefits. New York: Capricorn Books, 1962 (CAP giant 216.). MARX, K. O capital. São Paulo: DIFEL, 1978. MENDES, C. M. M. Política e História em Caio Prado Jr. São Luiz: UEMA, 2008. MISES, L. V. Theory and History. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2007. PLUTARCO. Vidas paralelas. Madrid: Gredos, 2006. PRADO JÚNIOR, C. Evolução política do Brasil: ensaio de interpretação materialista da História brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1933. QUESNAY, F. Economia. São Paulo: Ática, 1986. REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, Rio de Janeiro: Typ. João Ignácio da Silva, 1861. REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, Rio de Janeiro: Typ. João Ignácio da Silva, 1870. RIBEIRO, Darcy; MOREIRA NETO, Carlos de Araújo. A fundação do Brasil: testemunhos, 1500-1700. Petrópolis: Vozes, 1992. SCHAFFER, G. A.; RAMBO, A. B. O Brasil como império independente: analisado sob os aspectos histórico, mercantilístico e político. Santa Maria: Editora UFSM, 2007. SMITH, A. A riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural, 1983. WEISZFLOG, W. Michaelis. São Paulo: Melhoramentos, 2007. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 15 maio 2011. 70 Fontes referenciais para aprofundamento temático A independência do Brasil: abordagem de aspectos metodológicos 1) Com base na leitura deste capítulo, escreva uma pequena resenha explicando como o conteúdo do Alvará de 5 de janeiro de 1785, sobre a extinção de fábricas e manufaturas no Brasil, implica medidas que afetam a sociedade como um todo. 2) De acordo com o texto, por que o método da luta de classes seria inadequado para entender o processo de Independência do Brasil? Anotações 71 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Anotações 72 4 O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica Suelem Halim de Nardo Carvalho / Itamar Flávio da Silveira APRESENTAÇÃO Neste capítulo veremos como o pensamento da economia política clássica chegou ao Brasil e o modo como ele interpretou a realidade que formava o início do Brasil Império. Examinaremos a obra de Cairu, enfatizando o seu conceito de indústria e de desenvolvimento nacional. Aqui o Brasil Império é investigado sob o ponto de vista da prosperidade geral. Um observador coevo, no contexto dos acontecimentos, mostra o rol de obstáculos, valores e instituições humanas que compõem o quadro econômico e político da fase inicial do primeiro reinado de D. Pedro, e que terá influência sobre a história posterior. CAIRU E AS GRANDES QUESTÕES ECONÔMICAS DO SÉCULO XIX José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu, é reconhecido por muitos estudiosos como o arquiteto da abertura dos portos no Brasil. De fato, ele foi um grande defensor do decreto assinado por D. João VI em 28 de janeiro de 1808, que resultou, como o próprio economista brasileiro assinalou, ‘na conciliação dos interesses do Brasil com os de Portugal e da Europa’ (LISBOA, 1999, p. 55). Cairu foi, sem dúvida, um personagem bastante ativo na história política do Brasil. Sua importância para a política econômica brasileira é inegável, pois, além de ter atuado como conselheiro do Rei, fundamentou, com base nos princípios da Economia Política Clássica, de Adam Smith, uma teoria liberal para a industrialização do Brasil. Podemos dizer que a obra de Cairu estava sintonizada com os princípios contidos em A Riqueza das Nações, de Adam Smith, publicada em 1776, e que buscava aplicar semelhantes paradigmas à economia brasileira. Para a compreensão do pensamento industrialista de Cairu – que constitui o principal objetivo deste capítulo – tomamos como fonte duas das suas obras que mais 73 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL versaram sobre o referido tema: Observações sobre o comércio franco no Brasil (18081809) e Observações sobre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil (1810). Cairu, como já afirmamos anteriormente, foi o grande intérprete das idéias de Adam Smith no Brasil, e toda a sua obra foi profundamente influenciada pelos princípios liberais difundidos pelo economista escocês. Como legítimo defensor do ideário liberal no Brasil, Cairu criou uma tese para o desenvolvimento econômico nacional, que divergiu largamente do tradicional pensamento mercantilista1. Ao invés de barreiras alfandegárias por meio de tarifas aduaneiras, monopólios, restrições a importações, etc., como formas de promover o desenvolvimento econômico, defendeu uma política de liberdades comerciais e de incentivos cambiais entre as mais diversas nações do mundo, como forma eficiente de proporcionar maior riqueza e bem-estar a todos os países. Dizia ele: O verdadeiro espírito do comércio é social; ele quer ajudar, e ser ajudado, ele aspira a dar socorro e recebê-lo, ele carece um benefício recíproco, e não é fecundo, e constantemente útil, senão quando é repartido (LISBOA, 2001, p. 72). Cairu não via a concorrência comercial entre os países como algo prejudicial, que impedisse o progresso e a riqueza das nações, mas sim como meio de reprodução de um auxílio mútuo entre os mais diversos países do mundo. Acreditava que em cada região distinta existiam, naturalmente, condições especiais para a produção de determinados produtos. Por isso, em sua opinião, a adoção de uma política de livre importação não poderia acarretar prejuízo para nenhum país, pois cada região possuía uma vantagem natural para um determinado ramo de produção. Desse modo, a troca universal seria algo extremamente vantajoso, já que cada nação teria a oportunidade de usufruir daquilo de que melhor haveria nas mais diversas regiões do mundo. 1 ‘Doutrina econômica que caracteriza o período histórico da Revolução Comercial (séculos XVI - XVIII), marcado pela desintegração do feudalismo e pela formação dos Estados Nacionais. Defende o acúmulo de divisas em metais preciosos pelo Estado por meio de um comércio exterior de caráter protecionista. Alguns princípios básicos do mercantilismo são: 1) o estado deve incrementar o bem-estar nacional, ainda que em detrimento de seus vizinhos e colônias; 2) a riqueza da economia nacional depende do aumento da população e do aumento do volume de metais preciosos no país; 3) o comércio exterior deve ser estimulado, pois é por meio de uma balança comercial favorável que se aumenta o estoque de metais preciosos; 4) o comércio e a indústria são mais importantes para a economia nacional que a agricultura. Essa concepção levava a um intenso protecionismo estatal e a uma ampla intervenção do estado na economia. Uma forte autoridade central era tida como essencial para a expansão de mercados e a proteção dos interesses comerciais.’ In: SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Best selller, 1989. p. 197. 74 Em contrapartida, a nação que decidia por não participar do livre comércio mundial acabava se submetendo a uma letargia econômica, pois ficava, inevitavelmente, em uma situação de exclusão e limitação comercial. Segundo o autor, era essa a situação comercial em que se encontrava a colônia brasileira antes da abertura dos portos, em 28 de janeiro de 1808, por D. João VI. É importante lembrar que as duas primeiras partes das Observações sobre o comércio franco no Brasil foram publicadas em 1808. Portanto, Cairu estava escrevendo no calor de um fato histórico que influenciou de forma muito significativa a política econômica do Brasil e a formação do império. Sua obra vem à luz em um momento estratégico, pois surge para explicar esse acontecimento e, também, para dar provas de quão sábia e imperiosa havia sido tal decisão do monarca português. Essa visão de interdependência dos povos e de dinâmica comercial como mola propulsora do desenvolvimento econômico da nação é a tônica do trabalho de Cairu e o modo como ele via o decurso da história. Ao contrário da visão mercantilista, que até quase o final do século XVIII reinou absoluta, sua posição, herdada de Smith, era a legitimação do livre comércio mundial e a valorização de uma política imparcial, livre de monopólios e privilégios exclusivos. Além disso, em Cairu é absolutamente clara a importância de um princípio liberal fundamental: a divisão internacional do trabalho. A teoria da divisão do trabalho foi discutida originalmente por Adam Smith em Riqueza das Nações. Segundo Smith, ‘o maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido e executado, parecem ter sido resultado da divisão do trabalho’ (SMITH, 1983, p. 41). De acordo com tal teoria, esse aumento de produtividade e a maior destreza e habilidade em executar um determinado serviço, em consequência da divisão do trabalho, surgem de três circunstâncias distintas: a primeira diz respeito à especialidade que surge em cada trabalhador, por só praticar um tipo de serviço; a segunda relaciona-se à economia de tempo, que costumeiramente seria perdido na passagem de um tipo de ferramenta para outra; e por último, a criação de condições mais favoráveis às invenções de máquinas, que são importantes para a facilitação do trabalho e o aumento da produtividade. Para Smith, a referida especialização do trabalho, ou seja, a divisão do trabalho, veio ao mundo a partir de uma propensão natural do homem ao intercâmbio com outros homens. Isso porque, em uma sociedade civilizada, o intercâmbio é uma prática necessária de cooperação entre os indivíduos para a sua convivência em harmonia. O homem teria constante necessidade de ajuda e cooperação de seus semelhantes. No entanto, Smith esclarece que nenhuma pessoa poderia esperar o grande e perfeito intercâmbio entre os povos pela benevolência alheia, pois essa troca harmônica que O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica 75 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL garantia as necessidades de todos os povos era realizada pelo empenho de cada indivíduo pela busca de seu maior conforto e da satisfação de seus interesses. Diz ele: Não é pela benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos não a sua humanidade, mas a auto-estima, e nunca falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles (SMITH,1983, p. 50). Essa necessidade de satisfação dos próprios interesses por meio do escambo com outros homens é que gerava a divisão do trabalho. A partir da especialização da produção e, consequentemente, do seu aumento, cada indivíduo se tornava capaz de adquirir um excedente de produção, e, com isso, de alcançar os meios para o intercâmbio com outros homens. É precisamente esse interesse em trocar o excedente produtivo, ou seja, aquilo que ultrapassa o consumo pessoal de cada individuo, por produtos diversos e que também são essenciais para a sua vida, que estimula os homens a executarem a divisão do trabalho. Essa condição de distinção entre os homens, de haver habilidades e caracteres diferentes, é útil a todos, pois o fato de cada indivíduo se especializar em algum tipo de produção faz com que ele possa produzir um excedente de seu trabalho; com isso, passa a ter, a partir da troca ou venda de seus produtos, o poder de aquisição de tudo aquilo de que precisa para seu bem-estar e satisfação. Um aspecto interessante da tese smithiana é o fato de que quanto mais extenso for o mercado, maior poderá ser o nível de divisão e especialização do trabalho. Isso acontece porque, segundo Smith, se o mercado é muito reduzido os indivíduos não se sentem seguros e estimulados a se dedicarem a uma única atividade, já que não seria possível encontrar mercado suficiente para toda a produção excedente de seu trabalho. Portanto, a lógica da divisão do trabalho, que garante o máximo de aproveitamento e de aperfeiçoamento da produção, tem sua ação regulada de acordo com a dimensão do mercado. Nesse sentido é possível compreender que, quanto maiores as possibilidades de intercâmbio entre os povos, maior quantidade e aperfeiçoamento teremos nos mais diversos produtos e serviços a que o homem é capaz de dar origem. Cairu compreendia muito bem essa lógica das relações comerciais internacionais desenvolvida por Smith e, acima de tudo, acreditava piamente na harmonia e no bem-estar geral que o livre comércio era capaz de proporcionar ao mundo inteiro. Para o economista brasileiro, a importação de mercadorias estrangeiras nunca significou uma ameaça para a prosperidade ou para o desenvolvimento econômico de uma região. Mas, ao contrário, a livre importação de mercadorias estrangeiras garantia a um país o aumento da receita pública e maior facilidade e abundância no suprimento de sua população. Além disso, Cairu entendia ser absolutamente irracional querer barrar a 76 entrada de produtos estrangeiros para que esses não fizessem concorrência com os artigos locais. Querer exportar o máximo e importar o mínimo, isso sim, era um tipo de mentalidade altamente perniciosa para o bem geral da humanidade. Segundo ele, o livre comércio mundial visava à amizade e à cooperação entre os povos; em contrapartida, o sistema de restrições comerciais, que impedia a livre circulação de mercadorias, era o gerador da desunião e da inveja entre os países. Em Observações sobre o comércio franco no Brasil, fica claro que o objeto de investigação de Cairu, naquele momento, era o fantasma das reminiscências mercantilistas, das políticas parciais e exclusivistas. Na visão dele, tal sistema mercantil, que regeu as ordens comerciais por quase três séculos nas principais nações ocidentais, era um sistema que obstaculizava o desenvolvimento da economia dos países que o praticavam. As diretrizes traçadas por esse antigo regime econômico eram contrárias ao real progresso e desenvolvimento das nações justamente porque eram desfavoráveis à harmonia e à cooperação comercial entre os países. Para o autor, o sistema que defendia o princípio da máxima exportação e a mínima importação como forma de desenvolver a economia nacional e de estabelecer independência estrangeira se esquecia de considerar que, se uma nação barrava a entrada de produtos estrangeiros em seu território, logo seus produtos também seriam barrados nos países que fossem atingidos por tal medida restritiva. Nesse sentido, existia necessariamente a recíproca dependência dos povos; de modo que nenhuma nação poderia ter e fabricar tudo sozinha. Somente por meio do comércio livre é que um país teria acesso aos mais diversos tipos de mercadorias e, ao mesmo tempo, encontraria mercado para sua produção. A nação mais rica, na visão de Cairu, era aquela que se beneficiava dos mais diversos tipos de produtos da natureza e das artes de todos os lugares da terra, e não aquela que limitava o poder de consumo de sua população – obrigando-a a comprar produtos nacionais mais caros – ou que acumulava desnecessariamente metais preciosos. Cairu, com essa argumentação, obviamente herdada de Smith, desestabilizava a tese da balança comercial favorável, exageradamente defendida pelos seguidores do mercantilismo. O autor brasileiro mostrou que a busca excessiva pelo saldo comercial favorável destruía o bom andamento do comércio universal, porque colocava os mais diversos países como inimigos. Diferentemente dessa situação imposta pelo regime mercantilista, no sistema de livre comércio mundial os países visavam a um benefício comum, isto é, à troca recíproca de seus produtos, como forma de cada nação desenvolver sua economia. O autor em estudo evidenciou que era do interesse de cada nação que sua produção excedente encontrasse o maior mercado e o melhor preço possíveis, pois assim O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica 77 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL todos os países animavam sua economia. Mas, se um país proibia a entrada de mercadorias estrangeiras em seu território, logo os países atingidos por tal proibição não comprariam mais seus produtos. Dessa forma, a nação que adotava o sistema de restrições às importações prejudicava o próprio desenvolvimento econômico. Inevitavelmente, essa era uma realidade do comércio em geral, que não podia ser ignorada. Além disso, Cairu via a concorrência estrangeira como um forte estímulo para o melhoramento e barateamento dos produtos nacionais. Entendia que a emulação servia para os comerciantes se aperfeiçoarem, e também os disciplinava a serem mais moderados em seus lucros. Na opinião do economista, nenhum tipo de indústria merecia proteção ou privilégios exclusivos por parte do Governo. Para ele, qualquer tipo de intervenção estatal só servia para favorecer a inércia, diminuir a emulação, desencorajar os indivíduos que não recebiam privilégios e impedir a possível perfeição da produção. Cairu entendia que as legítimas atribuições de um soberano estavam relacionadas à execução daquelas atividades que apenas ao Estado competiria, pela falta de atratividade para a iniciativa privada, como garantia de segurança, de facilidades das circulações interiores da nação, assim como a implementação da menor burocracia possível e da criação de condições para ampliar os mercados consumidores. Tal crença no poder do mercado como agente regulador de toda a produção de riqueza fez com que Cairu tratasse a questão da industrialização nacional de forma bastante realista frente às circunstâncias da colônia brasileira, naquele momento histórico. Segundo o autor, faltava ainda ao Brasil, no início do século XIX, condições essenciais para a instalação e o desenvolvimento de indústrias manufatureiras. Nesse sentido, acreditava ser ilusão o objetivo de implantar fábricas em território nacional do dia para a noite, e ainda o de pretender competir com a indústria de grande tradição da Europa. Para Cairu, o processo de industrialização ocorria de forma gradativa. Por essa razão, acreditava que a introdução prematura da indústria superior no país, por meio da proibição da entrada das manufaturas estrangeiras, traria grandes prejuízos para toda a nação, naquele momento. Dizia ele: É alheio de razão pretender sustentar fábricas de tal natureza, com proibições de iguais obras estrangeiras, para forçar o povo a comprar no reino e domínios ultramarinos o que é pior e mais caro. Isso não é promover a indústria nacional, é, ao contrário, destruí-la, tolhendo os estímulos da emulação, que aperfeiçoa tudo, e favorecendo a inércia e ignorância, inimigas da moralidade e riqueza das nações (LISBOA, 2001, p. 160). 78 Mais adiante, acrescentou: Quando no mesmo país algumas fábricas se aperfeiçoam, e outras de igual natureza perseveram em grosseria, estas necessariamente descaem, por falta de mercado na própria nação; pois ainda os mais ardentes patriotas as abandonam, preferindo as mais adiantadas. O contrário seria hipocrisia, ou sandice. O mesmo é natural e forçoso acontecer quando as fábricas estrangeiras adquirem superioridade, e as nacionais não melhoram. E é impossível que estas se tirem da letargia, se os fabricantes, com favor da lei que obsta a importação estrangeira, têm segura extração das suas más obras, e podem em conseqüência extorquir preços lesivos. Quem tem certo vender, escusa apurar. O país onde se multiplicam tais favores injuriosos vem a ser o escolho das artes, e o sepulcro dos talentos: aí os fabricantes não esperam a sua fortuna da própria habilidade e reputação, mas do tesouro mal ganho com o gravoso monopólio (LISBOA, 2001, p. 162). O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica Desse modo, ao criar leis proibitivas às mercadorias estrangeiras, o país que pretendia conquistar a independência econômica em relação às outras nações estava, na verdade, incorrendo em um grande erro econômico, pois a nação que se fechava para o mercado mundial acabava se isolando comercialmente e impedindo sua maior prosperidade e seu desenvolvimento. A mútua interdependência comercial dos povos era, sem dúvida, o meio mais seguro e cauteloso de cada país prosperar economicamente. Neste momento, julgamos necessário fazer um parêntese para elucidar o conceito de indústria em Cairu, uma vez que o autor criou uma definição específica para o termo. Entender, portanto, o sentido de tal conceito é fundamental para a compreensão de sua tese. Em sua obra Observações sobre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil (1810) explicou que, consensualmente, o termo indústria2 era entendido como o trabalho exercido nas artes mais refinadas, como as manufaturas por exemplo. Dessa forma, entendia-se que um país que obtivesse muita indústria logo apresentaria muitas fábricas. Para o autor, essa forma de conceituar o termo era imprópria, pois induzia ao entendimento de que, nos diversos ramos da atividade humana, como agricultura, comércio, navegação, artes, etc., não existiam indústrias. Acreditava que essa era uma compreensão equivocada, porque tais ramos de trabalho exigiam grandes conhecimentos e eram capazes de dar muitos e engenhosos empregos; portanto, deveriam ser entendidos como tipos de indústria. 2 Atualmente, o termo é assim definido: ‘Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas, manualmente ou com o auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias. De uma maneira bem ampla, entende-se como indústria desde o artesanato voltado para o autoconsumo até a moderna produção de computadores e instrumentos eletrônicos.’ In: SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Best selller, 1989, p. 150. 79 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Nesse sentido podemos entender que, para Cairu, o termo não se limitava a definir fábricas manufatureiras, mas também envolvia a definição dos mais diversos tipos de arte e de conhecimentos empregados nos mais variados ramos de trabalho humano. Em Cairu, indústria aparece como sinônimo de atividade produtiva: Portanto é manifesto que, ainda não havendo manufaturas ou fábricas mais refinadas, podem existir, e necessariamente existem, entre as nações mais civilizadas, e principalmente marítimas, muitas espécies de indústria rural, fabril, comercial, náutica, assaz produtivas, e mais convenientes às respectivas circunstâncias, e que todavia não tolhem o seu progresso, assenso para estabelecimentos superiores, em devidos tempos, dando útil e pleno emprego ao povo, à proporção que se for aumentando o seu número, cabedal, e conhecimentos especulativos e práticos na inumerável variedade de mão-de-obra, que distinguem as nações formadas, e de redundância de braços e capitais (LISBOA,1999, p. 46). Compreendido o conceito de indústria em Cairu, podemos iniciar, de fato, a análise de seu pensamento industrialista, que foi bastante elucidado em Observações sobre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil (1810). Nessa obra, fez um exame das circunstâncias históricas da colônia brasileira e mostrou a inviabilidade de se implantar, no início do século XIX, fábricas sofisticadas em território nacional. De acordo com o autor, o Brasil não estava preparado ainda para a introdução das manufaturas refinadas que existiam na Europa, de modo que as fábricas que mais convinham à colônia, naquele período, eram aquelas que estavam mais próximas da agricultura, do comércio, da navegação, etc. Ele acreditava que somente por meio da liberdade comercial, que representava a força estimuladora para o desenvolvimento de qualquer ramo da economia é que poderíamos esperar que algum dia nossa indústria manufatureira atingisse um grau elevado de aperfeiçoamento: A estabilidade do princípio da franqueza da indústria, sendo subseqüente ao da franqueza do comércio, é o meio eficaz de fazer introduzir e aperfeiçoar os mais úteis estabelecimentos, com maior rapidez, e incessantemente progressiva energia pública para a opulência e população do Brasil (LISBOA, 1999, p. 35). Para fundamentar a tese de que era precipitado implantar fábricas de manufaturas no Brasil no início do século XIX, Cairu usou como primeiro argumento o fato de ainda existir no país uma abundância de terras férteis. Para ele, o Brasil tinha muita indústria e muita riqueza a serem desenvolvidas antes de alcançar as artes e as manufaturas superiores, que eram naturais na Europa. Entendia que, enquanto existissem muitas e férteis terras, nenhuma indústria poderia ser tão lucrativa como a agricultura, a mineração, o transporte e o comércio. 80 De acordo com a lógica de Smith da qual Cairu foi adepto, essa situação ocorria justamente porque a agricultura era o setor da economia que necessitava de investimentos mais baixos. Portanto, enquanto existisse essa abundância de terras no Brasil, aliada à falta de população excedente – e consequente carência de mão de obra – a implantação de indústria manufatureira não seria viável. O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica Por ora, a nossa grande e imediata necessidade é, por assim dizer, manufaturas de estradas e canais navegáveis; manufaturas de casas, e mais benfeitorias rurais e urbanas; manufaturas mais proximamente associadas à agricultura, e navegação: a fim de termos população numerosa, cordata, e bem mantida, com boa marinha para defesa e segurança do país. Com extensa e bem entendida agricultura, e tendo tantas, e tão boas matérias primeiras, podendo ter, pouco a pouco gradativamente, e em devidos tempos, muitas, e indígenas fábricas, sem desviar capitais das direções mais úteis, nem fazer desnecessária concorrência às da Europa (LISBOA, 1999, p. 100). Cairu, ao fazer uma alusão à situação europeia, mostrou que naquela região havia uma enorme quantidade de trabalhadores empregados nos mais diferentes setores econômicos possíveis porque há muito tempo havia se esgotado a expansão das terras cultiváveis e, além disso, existia uma população redundante. Mas o contrário se dava na América, pois aqui havia muita terra para ser cultivada e não havia a mão de obra necessária para ser empregada nas fábricas, e ainda com um agravante: em nossa colônia reinava o regime de escravidão, tornando ainda mais difícil o recrutamento de mão de obra para o trabalho fabril. Para Cairu essa seria, então, nossa primeira deficiência circunstancial, em relação à possibilidade de industrialização. Em sua opinião, as duas piores escolhas de um governo, em se tratando de desenvolvimento industrial nacional, eram as seguintes: a primeira, não conceder plena liberdade à indústria para o estabelecimento das mais diversas manufaturas; a segunda, introduzir tais fábricas por meio de privilégios e monopólios. Assim, se houvesse a máxima liberdade política e econômica no Brasil, e se fosse excluído de nosso território todo e qualquer tipo de privilégio exclusivo, a indústria que conquistaríamos seria aquela natural, que surgiria pela própria força e capacidade, de forma gradual, sem ajuda do governo e sem artifícios odiosos. De acordo com Cairu, não existia indústria mais sólida e produtiva do que aquelas que se desenvolviam de forma natural e gradativa, pela divisão do trabalho. É importante ressaltarmos que, com esse discurso, o autor não estava relegando a segundo plano a importância da indústria manufatureira no Brasil. É fundamental termos claro que ele não estava defendendo a ideia de que o Brasil seria um país eternamente agrário. Não era essa a questão. O que estava defendendo, naquele momento, era a tese de que nosso país não possuía ainda as condições necessárias 81 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL para a implantação e o desenvolvimento de indústrias de superior ordem.3 Cairu estava defendendo a existência de uma indústria sólida, capaz de se desenvolver e prosperar sem os monopólios distribuídos pelo governo. Ele sabia que um país como o Brasil, que estava em um estágio inicial de civilização e que ainda sofria com a falta de mercado interno e de capitais, não poderia possuir uma indústria semelhante à das nações europeias, célebres pela sua perícia e antiguidade. Desse modo, podemos afirmar que o economista era objetivo e realista frente às condições políticas, econômicas e sociais do Brasil do início do século XIX: Não se entenda do ponderado que eu inculquei como bom o sistema fisiocrático4 em geral, que prefere a agricultura a todas as demais indústrias. Tal sistema, injudiciosamente aplicado, contém barbarismo. Não há civilização sem o simultâneo concurso da agricultura, artes, comércio. Essas três máximas e originais divisões de trabalho, são, por assim dizer, essenciais à existência da sociedade civil. Mas as convenientes ramificações e proporções de cada espécie das indústrias respectivas, naturalmente se regulam pelas circunstâncias dos países e seus graus de população, opulência, e relações políticas (LISBOA, 1999, p. 114-115). Pensando no estágio histórico do Brasil, Cairu apontou oito requisitos elementares para a implantação e o desenvolvimento de fábricas no país, e constatou que não existiam, aqui, no início do século XIX, tais requisitos primordiais para que fosse possível a introdução e o desenvolvimento de fábricas manufatureiras. De acordo com Cairu, o primeiro requisito essencial para a implantação e o desenvolvimento de fábricas em um país consistia em ‘capitais disponíveis’. Isso significa que o país deveria possuir uma quantidade suficiente de capitais disponíveis para serem aplicados nos mais variados ramos da atividade produtiva, sem que fosse necessário retirá-los dos ramos de trabalho já existentes para favorecer as novas atividades 3 Entenda-se por indústria de superior ordem a produção de manufaturados. Para Cairu, os países mais antigos e desenvolvidos estariam em circunstâncias mais favoráveis para tal produção superior. Nações como o Brasil não estariam capacitadas para a implementação de indústrias manufatureiras, mas se encontravam em um momento favorável para o desenvolvimento ‘da agricultura, mineração, comércio interior e exterior, e artes mais imediatas e proximamente associadas aos exercícios respectivos.’ (LISBOA,Visconde de Cairu, 1999, p. 46-47). 4 Os fisiocratas foram ‘economistas franceses do século XVIII que [combateram] as idéias mercantilistas e [formularam], pela primeira vez, de maneira sistemática e lógica, uma teoria do liberalismo econômico. Transferindo o centro da análise do âmbito do comércio para o da produção, os fisiocratas criaram a noção de produto líquido: sustentaram que somente a terra ou a natureza (physis, em grego) é capaz de realmente produzir algo novo (só a terra multiplica, por exemplo, um grão de trigo em muitos outros grãos de trigo). As demais atividades, como a indústria e o comércio, embora necessárias, não fazem mais do que transformar ou transportar os produtos da terra (daí a condenação ao mercantilismo, que estimula essas atividades em detrimento da agricultura). In: SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Best selller, 1989, p. 126. 82 econômicas. No caso do Brasil, não existiam esses capitais disponíveis, pois todo o capital que a colônia possuía já estava empregado na agricultura, que era, definitivamente, nosso ramo industrial mais seguro e natural. Desviar o capital da agricultura para investi-lo em fábricas manufatureiras, que não constituíam uma indústria propícia ao país naquele momento, resultaria evidentemente em prejuízo para a economia da nação. O segundo requisito primordial se encontrava na ‘vasta população’. Segundo Cairu, nos países onde existia uma grande população disponível para o trabalho havia uma maior especialização da mão de obra, e os salários eram mais baixos por causa de sua grande oferta no mercado. No caso do Brasil, não havia essa grande oferta de homens para o trabalho fabril e, dessa forma, os produtos brasileiros, se fabricados, ficariam muito mais caros e menos perfeitos por causa da mão de obra pouco especializada e do custo de produção muito elevado. A ‘abundância de matéria-prima’ foi considerada como o terceiro elemento importante para a implantação de fábricas em uma nação. Cairu explicava que não era absolutamente necessário que as matérias-primas fossem produzidas no próprio país para que se introduzissem e prosperassem as fábricas. As matérias-primas poderiam ser importadas de outras nações. No entanto, os países que tinham esses artigos no próprio seio estavam em real vantagem, pois não corriam o risco de eventualmente sofrerem carência de tal produto por conta de uma situação de restrição dos países exportadores de tais gêneros. O quarto requisito foi definido como ‘demanda efetiva’. Segundo o autor, a demanda efetiva regulava a existência e o preço de todas as produções. De acordo com ele, uma fábrica de artigos de luxo não poderia lograr êxito em um país tão pobre, onde as pessoas mal podiam se alimentar, porque a demanda efetiva do lugar faria com que muito em breve essa fábrica falisse, já que não haveria compradores suficientes para os artigos de luxo que seriam ali fabricados. Nesse sentido, a demanda efetiva agia como reguladora na distribuição da indústria nas diversas regiões, de acordo com as inclinações, os desejos e o poder de compra dos indivíduos. Porém, quanto ao quinto requisito, Cairu alertou que ‘não basta a demanda efetiva para bem se introduzirem e prosperarem as fábricas de um país, é demais necessário que as obras aí manufaturadas sejam superiores em bondade ou em menor preço às que se importam dos estrangeiros’ (LISBOA, 1999, p. 66, grifos nossos). O autor advertia, nesse requisito, que o consumidor vai sempre preferir a melhor e mais barata mercadoria, não importando se essa é nacional ou estrangeira. Algum indivíduo poderia até, por patriotismo, preferir as mercadorias nacionais, mas não seria sensato esperar esse tipo de comportamento do grosso da sociedade. Por isso, quando a diferença de custo e qualidade tornava lucrativo o contrabando, não poderia existir lei capaz de barrar essa O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica 83 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL prática, pois cada indivíduo buscaria sempre alcançar sua maior satisfação de consumo, não importando se, para isso, tivesse que consumir produtos nacionais ou estrangeiros, legais ou ilegais. O sexto requisito exigia a ‘difusão da inteligência’ no país. Para Cairu, era a difusão da inteligência em uma nação que multiplicava as facilidades para a introdução e o desenvolvimento de qualquer indústria na qual fosse preciso empregar máquinas, métodos e processos mais sofisticados para a produção. Segundo o autor, a difusão da inteligência se dava com maior força em países onde existia uma grande população, pois quanto mais homens em uma nação, maiores as chances de surgirem cientistas, inventores, etc. Portanto, seria insensatez se regiões novas e fragilmente povoadas, como o Brasil, estabelecessem fábricas refinadas, sem possuírem os conhecimentos necessários para esse tipo de produção. O sétimo requisito insistia na importância da ‘franqueza do comércio e da indústria’, para que todos os produtos de consumo do homem fossem os mais abundantes e baratos. A franqueza do comércio faz que todos os artigos de subsistência, matérias das artes, e instrumentos do trabalho, sejam os mais abundantes e baratos no mercado nacional; o que é uma vantagem imensa para se empreenderem todos os estabelecimentos, a que o país tem naturais oportunidades, e proporções (LISBOA, 1999, p. 67). O oitavo e último requisito, os ‘privilégios dados aos inventores de artes e ciências’, completava os meios para impulsionar o avanço das fábricas em um país. No entanto, o autor elucidou que esse requisito aplicado sem os outros anteriores de nada valeria, podendo, inclusive, chegar a ser prejudicial à nação. Assim, o oitavo requisito, que consistia em dar privilégios, prêmios e favores aos inventores das artes e ciências, exercia uma função estimuladora para o avanço e a modernização da indústria por meio do reconhecimento do mérito do artista, uma vez que gerava uma recompensa para o inventor, que naturalmente havia investido tempo e capital para que se tornasse possível o desenvolvimento de certa arte ou ciência. Essa atitude era essencial para que uma nação gerasse, cada vez mais, homens de grandes ideias e sábias invenções. Cairu lembrava, porém, que esses prêmios deveriam ser dados apenas aos inventores de novas artes e de máquinas importantes para o progresso da nação, e não a qualquer indivíduo que plagiasse uma ideia ou, então, criasse determinado instrumento ou técnica medíocre. Diante do que acabamos de expor fica claro que, para Cairu, no início do século XIX o Brasil não estava preparado, ainda, para o empreendimento manufatureiro, pelo motivo de inexistirem as condições essenciais para tanto. Porém, como afirmamos acima, ele não estava propondo que o Brasil fosse uma nação exclusiva e eternamente 84 agrária. Essa falsa ideia muitas vezes aparece em grandes nomes da nossa tradicional historiografia, que acusam o economista de ter sido um grande protetor dos interesses da oligarquia latifundiária, assim como um homem passadista, atrelado à tradição rural e colonial do Brasil. De acordo com a interpretação de Emília Viotti da Costa, Cairu, em ‘Observações sobre o comércio franco no Brasil’, teria produzido um discurso que pregava ‘a vocação agrária de nossa economia’, de modo que a O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica [...] vitória desta concepção na orientação da economia brasileira seria o resultado necessário da preponderância, depois da Independência, nos quadros do governo, das classes agrárias, associadas ao imperialismo inglês ( VIOTII DA COSTA,1969, p. 80). Para Sergio Buarque de Holanda, Cairu não teria contribuído em nada para a ‘reforma das nossas idéias econômicas’, visto que: [...] em 1819, já era um homem do passado, comprometido na tarefa de, a qualquer custo, frustrar a liquidação das concepções e formas de vida relacionadas de algum modo ao nosso passado rural e colonial (HOLANDA, 1976, p. 52-53). A impressão que essa historiografia nos passa é a de que Cairu se caracterizou como um homem que representava interesses desejosos de manter a nação brasileira na eterna condição de país agrário, limitado economicamente e reduzido à condição de colônia exportadora de produtos agrícolas. Tal historiografia pode ainda nos transmitir a sensação de que ele tenha sido um homem mais preocupado em garantir os interesses estrangeiros do que os nacionais. Na realidade, quando fazemos uma análise cuidadosa de suas ideias industrialistas percebemos que ele foi um personagem bastante coerente com relação às circunstâncias sociais, econômicas e políticas de seu tempo, e que sua grande preocupação foi, sem dúvida, a luta pela maior opulência nacional. Cairu não buscava tão somente a satisfação dos interesses das classes proprietárias no Brasil. Ao contrário, tinha consciência suficiente para saber que, naquele momento, a política de estímulo à agricultura e ao livre comércio figurava como a opção mais lógica para o aumento da riqueza nacional e, consequentemente, essa política implicava uma melhora de vida para a população em geral, principalmente porque o período em que viveu caracterizava-se como um momento de grande diversificação econômica mundial. Desse modo, tinha clareza de que forçar o desenvolvimento da indústria no Brasil representaria um desvio dos recursos já arraigados no setor econômico competitivo da colônia, isto é, a agricultura, e, pior ainda, geraria uma barreira contra o livre 85 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL comércio mundial. E ele sabia que, se isso ocorresse, provocar-se-ia um retrocesso em nossa economia. Cairu defendia que, naquele momento, o Brasil lucraria mais concentrando-se no setor produtivo, no qual tinha mais naturais vantagens do que forçando a introdução de certo ramo econômico que não lhe era propício, naquela época. Entendia que com a agricultura e o comércio bem desenvolvidos o Brasil teria, no seu devido tempo, muitas fábricas, sem desviar capitais das direções mais úteis à sua economia. Por isso, vemos com reservas a afirmação de Sérgio Buarque de Holanda de que Cairu foi um homem passadista, ou, como Emilia Viotti apontou, um intelectual que pregava a vocação agrária do Brasil. Ao contrário do que afirmaram os autores acima mencionados, cremos que Cairu foi um personagem absolutamente coerente com as circunstâncias reais de seu tempo e que desejou, acima de tudo, o desenvolvimento econômico de seu país. Em virtude disso, somos da opinião de que Cairu foi realista diante das circunstâncias políticas, sociais e econômicas de sua época quando defendeu a ideia de que só teríamos prejuízos e desilusões se forçássemos a industrialização do Brasil. E acreditamos que sua opinião em relação à inadequação da industrialização nacional, no início do século XIX, foi a leitura mais sintonizada com as condições históricas daquele momento. CONCLUSÃO Cairu lutou por aquilo que era de sua convicção, ou seja, a ideia de que as condições naturais do Brasil, por si sós, criariam as circunstâncias ideais à gradativa industrialização. Conforme pensava, a precipitação desse processo resultaria em danos para a nação de maneira geral: o Estado perderia a arrecadação de receitas, na medida em que veria diminuir suas importações e exportações; ocorreria um desvio dos capitais já bem empregados na agricultura, que era nossa principal fonte de renda; e os consumidores, os principais lesados pela decisão de forçar o nascimento das fábricas, teriam seu poder de consumo limitado, uma vez que seriam obrigados a pagar mais caro por um produto de pior qualidade, da indústria nacional. Para Cairu, a árvore da indústria estava crescendo no Brasil, e ela daria em seu tempo adequado os devidos frutos. Bastaria que, para isso, o governo não adotasse as medidas restritivas e limitadoras do bom e harmonioso comércio universal. Bastaria que o governo não lançasse mão do machado que cortaria essa árvore. Deixando-a desenvolver-se em seu tempo e criando, gradativa e naturalmente, as condições essenciais para tal empreendimento teríamos, na ocasião correta, nossa indústria superior. 86 Com isso ele abre caminho para as reflexões sobre o período da história em que viveu; adotou o ponto de vista da prosperidade geral, e, de acordo com isso, trouxe à baila um rol valioso de questões para a reconstrução daquele tempo por parte do historiador. O Visconde de Cairu: o Brasil Império sob a ótica da prosperidade econômica Referências HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1976. LISBOA, José da Silva, Visconde de Cairu. Observações sobre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1999. LISBOA, José da Silva. Observações sobre o comércio franco no Brasil. In: ROCHA, Antônio Penalves (Org.). José da Silva Lisboa: Visconde de Cairu. São Paulo: Editora 34, 2001. SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Best Selller, 1989. SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Abril Cultural, 1983. VIOTTI DA COSTA, Emilia. Introdução ao estudo da emancipação. In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Brasil em perspectiva. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1969. Fontes e referenciais para o aprofundamento temático 1) Escreva um pequeno texto relacionando o conceito de indústria de Cairu com a realidade em que ele viveu. 2) Com base na leitura deste capítulo, responda se as teses econômicas de Cairu possibilitam considerá-lo defensor de alguma oligarquia agrária, em detrimento do conjunto da sociedade. 87 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Anotações 88 5 O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada Luís Fernando Pessoa Alexandre / Moacir José da Silva INTRODUÇÃO Tem sido recorrente na historiografia estabelecer um nexo estreito entre o significado do pacto colonial e o desenvolvimento histórico ulterior da colônia portuguesa nos trópicos. Visto, por vezes, como fator de desenvolvimento que alavancaria a burguesia, ou como obstáculo ao desenvolvimento do livre comércio, o exclusivo metropolitano será aqui retomado em termos de uma história comparada. Visando investigar as singularidades do monopólio colonial português, este capítulo faz uma análise da evolução do sistema colonial nas idades antiga, medieval e moderna; nesse sentido, a ênfase aqui recaiu sobre as implicações gerais dos diferentes graus de liberdade na relação colônia-metrópole, tanto no mundo greco-romano como no período de formação da Idade Moderna. O recurso da história comparada foi aqui de grande valia ao oferecer parâmetros de comparação para se perceber a anatomia do exclusivismo português sobre o comércio da sua colônia, no território brasileiro. O EXCLUSIVO METROPOLITANO De modo geral, o exclusivo metropolitano foi uma imposição das metrópoles em relação às suas respectivas colônias com o objetivo de impedir que elas comercializassem livremente com outras nações além da nação-mãe. O objetivo manifesto das 89 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL nações colonizadoras era conservar as colônias como uma espécie de reserva de riqueza paro o reino. Tal riqueza consistia na produção de matérias-primas como, por exemplo, açúcar, tabaco, madeira, cereais, metais preciosos, etc. Enquanto a metrópole vendia produtos industrializados, tais como tecidos, bebidas, máquinas, peças, etc. às colônias, estas, por sua vez, vendiam seus produtos primários às respectivas metrópoles por um preço muito inferior. Acreditava-se que proibindo as colônias de comercializarem com outros povos, a riqueza da colônia e a da metrópole não seriam ‘divididas’ com ninguém. Além de conservarem política e administrativamente seus territórios coloniais, as nações europeias os protegeriam também de qualquer tipo de ingerência econômica externa. AS COLÔNIAS DA ANTIGUIDADE Na antiguidade o conceito de colonização teve um sentido mais ‘maternal’ do que de dependência econômica – entre os antigos as colônias eram, literalmente, ‘prolongamentos’ da metrópole. Em muitos casos as colônias antigas – especialmente as gregas – podiam se equiparar em riqueza e relevância cultural a suas metrópoles. No entanto, na Idade Moderna esse conceito de colonização deixou de fazer referência à igualdade que existia entre os antigos e passou a exprimir um fenômeno de outra natureza. Tal fenômeno, de significado econômico e político, ou mesmo religioso, com a expansão do cristianismo foi próprio de uma época de transformações importantes no campo do pensamento, as quais, segundo os historiadores, acabaram por estabelecer uma cisão entre as práticas econômicas antigas e medievais e as do período moderno. O significado da colonização moderna, que gera os sistemas coloniais, é o de um processo de expansão de forças econômicas, políticas e religiosas de origem europeia, que, combinadas, promoveram a conquista de territórios para a sua exploração com vistas ao atendimento das necessidades da metrópole. Especialmente neste capítulo enfocamos o significado econômico dos sistemas coloniais. O MERCANTILISMO DO SISTEMA COLONIAL Entre os séculos XVI e XVIII, no campo das relações entre os países houve a emergência das práticas mercantilistas como meio de garantir a riqueza do reino. Como afirma Pierre Deyon em sua obra O mercantilismo, é um tanto quanto difícil oferecer uma definição exata do que o termo significa e as realidades que ele abrange, uma vez que desde finais da Idade Média até os fim da Idade Moderna o mercantilismo foi muito mais praticado do que teorizado. Portanto, é mais fácil falarmos em uma história das práticas mercantilistas do que de um pensamento mercantilista. Sem contar com o 90 fato de que, em boa parte dos escritos sobre o assunto, quem se manifesta são teóricos adeptos da chamada economia política clássica, os quais notadamente se posicionaram de modo crítico quanto aos pressupostos mercantilistas. No entanto, isso não significa que não possamos ser informados sobre a natureza do mercantilismo ou sobre seus aspectos principais, por mais que não haja uma ‘escola’ do pensamento mercantilista. Ao longo do texto iremos perceber alguns significados das práticas mercantilistas para o funcionamento dos sistemas coloniais. Também, no período moderno nasceu a economia política, cujo fundador e principal representante foi o economista e filósofo escocês Adam Smith. Sua obra maior, A riqueza das nações, que veio à luz em 1776, depois de cerca de dez anos de estudos, demonstrou como a combinação do máximo de trabalho com o máximo de liberdade poderia gerar uma sociedade cada vez mais próspera e poderosa. Smith (1983) defendeu a ideia de que a riqueza de um país é formada pela soma das riquezas individuais geradas pelo trabalho de cada um, e que, se o trabalho de cada um fosse feito com maiores níveis de liberdade, maiores também seriam as suas riquezas e, consequentemente, as riquezas de todo o país. Do contrário, quanto maiores fossem os entraves impostos pelo governo ao curso mais livre possível das atividades econômicas, menor seria, proporcionalmente, a riqueza individual e, também, a riqueza da nação. Portanto, a riqueza de uma nação estaria diretamente relacionada com sua maior ou menor liberdade econômica. Os princípios norteadores da economia política colocaram em xeque as práticas mercantilistas verificadas no sistema colonial moderno. A principal crítica feita pelos teóricos liberais ao mercantilismo foi a de que aquele sistema impedia o livre curso das atividades econômicas, sob a justificativa de que era necessário proteger os interesses da nação. Vários seriam os exemplos de práticas mercantilistas: as restrições às importações e o estímulo às exportações (balança comercial favorável, ou seja, vender mais e comprar menos, ou vender mais caro e comprar mais barato, ou os dois); as proibições de exportar metais (a ideia de que a riqueza de um país está diretamente relacionada à quantidade de dinheiro/moeda de que dispõe); as regulamentações leoninas da atividade econômica pelo Estado; a prática dos subsídios às manufaturas nacionais – o que, para Smith, favorecia os produtores em detrimento dos comerciantes e do restante da população –; e a proibição de as colônias comercializarem com outros países. Essas foram práticas mercantilistas correntes, que variaram em intensidade de país para país. O exclusivo metropolitano português foi visto pelos liberais como prejudicial a Portugal, pois impedia o país e a sua maior colônia, o Brasil, de se desenvolverem, como o faziam as colônias inglesas, por exemplo. Embora, o pacto colonial também existisse entre O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada 91 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL a Inglaterra e suas colônias, Adam Smith escreve que regulamentações, taxas, subsídios e impostos eram menores entre os ingleses do que entre os portugueses e suas colônias. Portanto, coube a Smith e a outros teóricos da economia política desvendarem os segredos da prosperidade da riqueza dos países. No momento em que Smith escreveu já era possível se analisar com uma certa distância o que se passava em várias colônias. Comparando as condições econômicas das colônias dos ingleses, franceses, espanhóis e portugueses é que o autor pôde tirar suas conclusões sobre as razões do maior ou menor estágio de desenvolvimento entre elas. DIFERENCIAÇÃO DAS COLÔNIAS GRECO-ROMANAS NOS PERÍODOS ANTIGO E MEDIEVAL Na antiguidade, as relações que existiam entre a metrópole e a colônia foram distintas das que existiram na Idade Moderna. Segundo o economista e filósofo escocês Adam Smith, [...] cada um dos diversos estados da Grécia Antiga possuía apenas um território muito pequeno, e quando a população de qualquer um deles se multiplicava além do contingente que o território tinha condições de sustentar com facilidade, parte dela era enviada a buscar um novo habitat em alguma região longínqua e distante do mundo, já que os belicosos vizinhos que a rodeavam de todos os lados tornavam difícil, para todos, ampliar muito mais seu próprio território. As colônias dos dórios se dirigiram sobretudo à Itália e à Sicília, as quais, nos tempos anteriores à fundação de Roma, eram habitadas por nações bárbaras e incivilizadas; as dos jônicos e dos eólios, as duas outras grandes tribos gregas, encaminharam-se para a Ásia Menor e para as ilhas do mar Egeu, cujos habitantes, naquela época, parecem ter estado quase sempre na mesma condição que os da Sicília e da Itália. A cidade-mãe, embora considerando a colônia como uma criança, sempre merecedora de grandes favores e ajuda e, em troca, devedora de muita gratidão e respeito, a tinha na conta de uma filha emancipada, sobre a qual não pretendia absolutamente exercer nenhuma autoridade ou jurisdição diretas. A colônia criava sua própria forma de governo, estabelecia suas próprias leis, elegia seus próprios magistrados, e mantinha paz ou fazia guerra com seus vizinhos, como um Estado independente, que não precisava esperar pela aprovação ou consentimento da cidade-mãe. Nada pode ser mais claro e distinto que o interesse que norteou cada um desses estabelecimentos (SMITH, 1983, p. 49). Adam Smith nos deixa uma visão clara de quais foram as razões que teriam motivado os antigos a fundarem colônias. Dentre elas estão o pequeno território – especialmente na Grécia –, o aumento da população e a dificuldade para sustentá-la, além do problema da quantidade de terras, etc. Porém, o que nos chama a atenção é que, segundo Smith, as colônias gregas eram como estados independentes; porém, mesmo sendo colônias tinham o direito de criar leis e de se governarem por elas, de elegerem os próprios representantes e até de fazerem guerra com outra colônia ou outro país sem precisar da autorização da metrópole. 92 Podemos perceber que, segundo o autor, havia um nível de autonomia significativo entre as colônias antigas. Quanto à metrópole, esta estava reservada à condição materna de supervisora e, quiçá, de conselheira da colônia. O termo metrópole, aliás, que vem do grego metropolis (μήτηρ, mētēr = mãe, ventre e πόλις, pólis = cidade), sugere a ideia de maternidade presente na relação entre o país colonizador e a sua ‘filha’. Especialmente sobre as colônias gregas, Smith destaca que algumas delas chegaram a ter um nível de desenvolvimento muito significativo quando comparado com o estágio de desenvolvimento da metrópole: O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada No decurso de um ou dois séculos, várias delas parecem ter se ombreado com suas cidades-mães e tê-las até mesmo superado. Segundo todos os relatos, parece que Siracusa e Agrigento, na Sicília; Tarento e Locri, na Itália; Éfeso e Mileto, na Ásia Menor, no mínimo se igualaram a qualquer das cidades da Grécia Antiga. Embora posteriores em sua fundação, todas as artes requintadas, a Filosofia, a Poesia e a Eloqüência parecem ter sido cultivadas nessas cidades tão cedo quanto em qualquer outro lugar da mãe-pátria, tendo atingido o mesmo grau de desenvolvimento. É de se notar que as escolas dos dois filósofos gregos mais antigos, a de Tales e a de Pitágoras, foram estabelecidas – o que é extraordinário – não na Grécia Antiga, mas a primeira em uma colônia asiática e a segunda em uma colônia da Itália. Todas essas colônias tinham se estabelecido em países habitados por nações selvagens e bárbaras, que facilmente deram lugar aos novos colonizadores. Possuíam bastante terra de boa qualidade, e por serem totalmente independentes da cidade-mãe tinham a liberdade de administrar os seus próprios negócios da maneira que julgavam mais condizente com seus próprios interesses (SMITH, 1983, p. 57). De acordo Adam Smith, as colônias gregas podiam equiparar-se com a mãe-pátria, em termos filosóficos, por uma razão especial: elas tinham total independência em relação à sua metrópole. Para o autor, tal condição histórica teria favorecido a vida econômica e intelectual das colônias. Não havia necessidade de a metrópole impor à sua colônia uma condição de caráter político-legal que impedisse a última de comercializar com qualquer outra nação que não fosse a nação materna. O que as mantinham unidas eram os fortes laços culturais forjados ao longo da experiência humana. Porém, embora as colônias gregas tenham se mostrado exitosas no campo econômico e intelectual, algumas colônias romanas da Antiguidade não trilharam exatamente o mesmo caminho. Concernente a isso, diz Smtih (1983): A história das colônias romanas de forma alguma é tão brilhante. Algumas delas, sem dúvidas, como Florença, chegaram a transformar-se em Estados consideráveis, no decurso de muitas gerações e após a queda da cidade-mãe. Entretanto, ao que parece, nenhuma delas jamais teve um progresso muito rápido. Todas essas colônias foram fundadas em províncias conquistadas que, na maioria dos casos, anteriormente já estavam plenamente habitadas. Raramente era muito grande a quantidade de terra atribuída a cada colonizador, e, como a colônia não era independente, nem sempre tinha liberdade para administrar seus negócios da maneira que considerasse mais condizente com seu próprio interesse (p. 57). 93 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL 94 Ao contrário do que se passou nas colônias gregas, as colônias romanas não foram favorecidas pela larga quantidade de terras a serem distribuídas e exploradas, nem se formou um ambiente de liberdade para que os indivíduos utilizassem seu potencial criativo. Por não existir um ambiente de liberdade econômica comparável ao grego, não houve também um ambiente tão propício para o florescimento da intelectualidade. Ao longo da sua história, os romanos tentaram materializar, em suas instituições, aquilo que os gregos tinham sonhado em matéria de ciência política. Porém, valores democráticos nascidos em território grego foram confrontados com o primado da exclusividade romana (princípio aristocrático). Por uma série de razões, a história romana foi marcada por um longo processo dialético em que se confrontaram o princípio do nascimento com a república idealizada pelos gregos. O primeiro levava à concentração de poderes nas mãos dos mais capazes, chamados na Grécia de aristói (melhores), enquanto o segundo permitia a camadas maiores da população participarem da vida política romana. Isso não quer dizer que em um regime aristocrático não pudesse existir liberdade, o que seria um erro afirmar. Mostesquieu, no século XVII, afirmou que seria possível achar mais liberdade em uma monarquia do que em uma república – desde que esta tivesse de republicano apenas o nome, mas não o regime. A própria história romana nos mostra que em seus primórdios os grupos aristocráticos eram formados não apenas por ricos proprietários de terras mas, também, pelos principais comerciantes e pecuaristas da Península Itálica. A existência dos aristoi não significou o fim da liberdade. Um dos aspectos peculiares da história romana – que acabou influindo no modo como Roma se relacionava com suas colônias – foi o fato de ter existido um tênue equilíbrio entre a concentração de poderes e a sua distribuição entre os membros da sociedade. Ou seja, a história romana, especialmente no campo das relações políticas, apresentou momentos de maior peso do poder do Estado e momentos em que a interferência daquele na vida dos indivíduos foi menos acentuada. A partir da passagem da República para o Principado (que foi a antessala do Império), o processo de concentração de poderes em Roma se acentuou, e seus efeitos foram sentidos na relação que a ‘cidade eterna’ manteve com suas províncias, ou colônias propriamente ditas. O tênue equilíbrio entre os dois caminhos – ou as duas tendências – formou um sistema misto no qual acabaram por conviver elementos monárquicos, republicanos e, nos momentos finais do Império, até mesmo tirânicos. De acordo com o historiador russo Michael Rostovtzeff (1967), a história de Roma apresenta mesmo um delicado equilíbrio entre a descentralização (tendência democrática) e a tendência à concentração de poderes políticos (tendência tirânica). Para o autor, tal equilíbrio entre os dois polos se agravou a partir do momento em que a sociedade romana se tornou mais complexa. A expansão territorial e demográfica teria forçado, segundo ele, o crescimento do poder do Estado para administrar com maior eficiência uma sociedade que, aos poucos, tornou-se muito maior do que a outrora limitada comunidade de habitantes do Lácio. Além disso, a partir do século III muitos povos – chamados pelos romanos de bárbaros – provenientes do Norte e Leste da Europa passaram a acorrer a Roma para conseguirem proteção. Muitos se transformavam em povos federados. Os riscos das invasões teriam precipitado um fenômeno de crescimento do poder estatal a fim de reprimir todo tipo de ameaça à estabilidade do Império. Roma passou por um processo de crescimento territorial significativo a partir do século III a.C., provocado pelas campanhas de anexação de territórios que se situavam para além da Península Itálica. Com o crescimento territorial veio o aumento da população, e uma maior relevância política e econômica. A partir do século II a.C., após as vitórias conseguidas nas guerras púnicas, Roma adquiriu contornos verdadeiramente imperiais. Junto à hegemonia natural que sua sociedade passou a ostentar no Ocidente e no Oriente desenvolveu-se um sentimento de confiança quase absoluta nos destinos triunfais daquela civilização. A política de distribuição de terras e de concessão de cidadania a outros povos – além dos romanos – favoreceu a entrada de um contingente maior de pessoas reivindicando seu espaço, político e econômico, naquela sociedade. Tudo isso acabou contribuindo para o surgimento de uma consciência romana. O Estado romano se tornou, ao longo do tempo, um Estado mundial, mas com feições singulares. Diz Rostovtzeff: O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada O Império Romano não foi nem nunca tentou ser, um Estado mundial de tipo nacional – um Estado no qual uma nação domina e se impõe às outras pela coação: pela sua constituição, tornou-se cada vez mais cosmopolita. Que lhe dava força e substância e lhe permitia, apesar dos muitos defeitos radicais do seu sistema político e social, manter a estrutura mesmo após os severos choques do século III, e mais tarde também sob a crescente pressão de seus vizinhos, foi a cultura, de que todos participavam e valorizavam, e que unia todos os habitantes do império nos momentos de perigo. A despeito de variações locais de menor importância, essa cultura era a mesma em toda a parte. Como a nossa cultura moderna, pertencia aos habitantes das cidades e estava intimamente associada à concepção grega da cidade, não como um simples aglomerado de edifícios, mas como uma associação de homens com hábitos, necessidades e interesses comuns, tanto físicos como mentais, que procuravam, pelo esforço conjunto, criar para si condições de vida aceitáveis e convenientes. As vantagens dessa vida eram menos atingíveis no campo, onde predominavam condições relativamente primitivas. Não havia, porém,um abismo instransponível entre a cidade e o campo, e a primeira atraía cada vez mais a população rural, inoculando-a com o gosto pelos hábitos urbanos (ROSTOVTZEFF, 1967, p. 217). A princípio, o desenvolvimento de tipo imperial de Roma não impediu que o nível de liberdade individual fosse perturbado, embora ele não fosse comparável à liberdade 95 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL das colônias gregas. O sistema político misto (combinação de aristocracia com república) possibilitou o fortalecimento da autonomia das províncias: Os funcionários imperiais [eram] os instrumentos diretos do Estado, inclusive os governadores das províncias imperiais ou senatoriais, eram mera superestrutura acrescentada a comunidades de governo próprio, em todo o império. Os magistrados eletivos dessas comunidades eram laços que ligavam o homem da rua ao Estado (ROSTOVTZEFF, 1967, p. 229). A interligação de poderes em Roma foi uma das características do período inicial do principado, no século I a.C.. Por mais que o poder político estivesse se fortalecendo com o crescimento territorial, demográfico e econômico do período, não havia, segundo o autor, uma redução das autonomias locais. Todas as províncias estavam ligadas por uma rede hierárquica que chegava até Roma. As campanhas de anexação de territórios – que, em geral, não eram violentas, mas sim baseadas em acordos designados pelo termo foedus (daí o termo federado) – e a aplicação dos princípios republicanos nas relações entre esses e os romanos proporcionou um ambiente que, de certo modo, poderia ser chamado de pacífico. Cumpre observar que os romanos, admiradores da cultura grega, procuraram concretizar em suas instituições políticas as ideias e os princípios que tinham brotado em território helênico. O ambiente de paz estabelecido nos primeiros tempos do principado proporcionou a segurança necessária para que houvesse também um ambiente de prosperidade experimentado por Roma e suas províncias. Sobre esse fenômeno, Edward Gibbon afirmou: A paz e a unidade internas eram as conseqüências naturais da política moderada e compreensiva adotada pelos romanos. Se voltarmos os olhos para as monarquias da Ásia, veremos o despotismo no centro e a fraqueza nas extremidades, a cobrança de impostos ou a administração da justiça reforçados pela presença de um exército, bárbaros hostis estabelecidos no coração do país, sátrapas hereditários usurpando o domínio das províncias, e súditos propensos à rebelião embora incapazes de desfrutar a liberdade. No mundo romano, porém, a obediência era uniforme, voluntária e permanente. As nações vencidas, fundidas num só e grande povo, renunciavam à esperança, até mesmo ao desejo, de retornar a sua dependência, e mal consideravam sua própria existência como distinta da existência de Roma. A autoridade estabelecida dos imperadores se fundia num esforço por toda a vasta extensão de seu domínio e era exercida com a mesma facilidade tanto às margens do Tâmisa ou do Nilo quanto do Tibre (GIBBON, 1989, p. 57). Porém, para o autor esse estado de paz interna e de prosperidade teria provocado um mau comportamento entre a maioria dos romanos. Para ele, a sensação de paz interna e de viver em um contexto de prosperidade do Império teria feito com que se instalasse entre os espíritos uma autoconfiança de tons nitidamente arrogantes. 96 A partir do principado, a certeza de fazer parte de um império que não tinha mais para onde crescer e que representava o auge da civilização trouxe, segundo Gibbon, a segurança da invencibilidade do povo romano. Era como se aquele estado de coisas nunca fosse sofrer alguma alteração. Verifica-se também, no período que vai do século I a. C. até o século III da era cristã, uma tendência significativa de se associar a grandeza do Império à grandeza do seu Estado. A figura do Imperador se sobrepôs às Assembleias e ao Senado – as primeiras sendo extintas e o último tendo conservado apenas funções consultivas, praticamente inócuas. Os problemas maiores apareceram quando, a partir dos séculos III e IV, foi necessário defender o Império das invasões de uma série de povos do Norte e do Leste da Europa. Para manter a unidade e a hegemonia romanas, o Estado criou uma rede burocrática custosa e pesada, e esse aumento do poder estatal, como afirma Rostovtzeff, teria diminuído o nível de liberdade econômica e também política dos habitantes do Império. Para esse autor, a classe política acreditava que a concentração de poderes nas mãos de um soberano com poderes cada vez mais absolutos era necessária para garantir a segurança de Roma. Na verdade, a semente desse absolutismo já havia sido plantada com o advento do principado, com Octávio Augusto, em 27 a.C. Vejamos o que o historiador Pierre Grimal nos diz sobre isso: O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada O advento do principado não é apenas uma revolução política e o alargamento da classe dirigente, assim como a participação no poder de homens vindos de províncias cada vez mais longínquas coincide com o aparecimento de novas forças no domínio da cultura e com o desaparecimento de muitas outras ou com a sua transformação (GRIMAL, 1999, p. 122). O momento maior desse ‘gigantismo estatal’ antigo teria sido demonstrado nos finais do século III da era cristã, quando, em 284, Diocleciano foi coroado Imperador. Naquele momento Roma passava por uma crise política sem precedentes, tendo elegido 26 imperadores em menos de um século. Suas fronteiras estavam vulneráveis às movimentações dos povos bárbaros, e a economia sofria em meio a essas instabilidades. Diocleciano iniciou um processo que provocou mudanças importantes – e definitivas – na sociedade de então: formou, oficialmente, uma nova classe aristocrática, baseada no poder militar, e principalmente no funcionalismo público. A partir daí, houve a oficialização de uma rede de privilégios dentro da política. Quem mantinha tais privilégios era o restante da população, por meio do pagamento de impostos cada vez maiores. 97 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Segundo a interpretação de Rostovtzeff, o crescimento do Estado romano na época de Diocleciano teria sido justificado pela necessidade maior de proteção da unidade do Império. A contrapartida desse fenômeno foi, no entanto, a transformação dos cidadãos em súditos. A defesa do povo romano e dos valores republicanos foram evocados, no mais das vezes, para legitimar o crescimento do poder imperial. Nos dizeres de Edward Gibbon, Roma havia se transformado em uma ‘monarquia absoluta disfarçada’ (GIBBON, 1989, p. 78). A partir do momento em que a classe política passou a relacionar a grandeza do Império à força do Estado, o nível de liberdade dos cidadãos tendeu a diminuir. Tal diminuição foi causada pelo aumento da burocracia estatal, pelas vantagens que a classe política e o conjunto dos funcionários públicos adquiriram e pelo aumento dos impostos. As relações que Roma manteve com as suas províncias foram afetadas pela evolução do processo de concentração de poderes, que se iniciou nos momentos finais da República e se expressou de modo mais intenso a partir do século III. Ao passo que o poder do Estado se tornava maior e mais presente na vida dos cidadãos, menos liberdade econômica e política eles tinham. O processo de alargamento do poder estatal romano e de sua nitidez, inconveniente para as províncias, correspondeu a um obscurecimento do conceito de cidadania e de liberdade de seus habitantes. Por essa razão, Adam Smith afirmou que as colônias romanas não tiveram um desenvolvimento comparável ao das colônias gregas. O motivo dessa diferença, segundo o autor, seria o menor nível de liberdade entre os romanos. As colônias europeias e o exclusivo metropolitano português no período de formação da Idade Moderna De acordo com Adam Smith, os motivos que teriam levado à fundação de colônias no período moderno não são tão claros de se perceber num primeiro momento. Segundo ele, o estabelecimento das colônias européias na Europa e nas Índias Ocidentais não se deveu a nenhuma necessidade; e embora a utilidade que delas resultou tenha sido muito grande, não é tão clara e evidente. Essa utilidade não foi entendida na primeira fundação das colônias, e não constituiu o motivo dessa fundação nem das descobertas que a ela levaram; e mesmo hoje talvez não se compreendam bem a natureza, a extensão e os limites dessa utilidade (SMITH, 1983, p. 51). Para Smith, não é possível dizer qual ou quais seriam as necessidades que teriam levado à fundação de colônias pelos países europeus na Época Moderna. No entanto, isso não significa que as razões para tal empreendimento não tenham existido. Na verdade, essas razões são apresentadas pelo próprio autor quando ele comenta o empreendimento da coroa espanhola: 98 Como se vê, foi um projeto de comércio com as Índias Orientais que levou à primeira descoberta do Ocidente. Um projeto de conquista deu origem a todas as fundações dos espanhóis naqueles países recém-descobertos. O motivo que os incitou a essa conquista foi um projeto de exploração de minas de ouro e prata; e uma série de eventos, que nenhuma sabedoria humana poderia prever, fez com que esse projeto tivesse muito mais sucesso do que aqueles que os empreendedores tinham quaisquer motivos razoáveis para esperar (SMITH, 1983, p. 55). O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada Segundo o autor, esse processo teve início nos séculos XIV e XV – período final da Idade Média –, quando os venezianos se destacaram na área comercial e financeira na Europa. Os lucros gerados pelos venezianos seriam a condição básica para o financiamento das grandes navegações. De acordo com isso, Smith afirma: Os venezianos, durante os séculos XIV e XV, mantinham um comércio muito rentável em especiarias e outros produtos das Índias Orientais, que redistribuíam às demais nações da Europa. Eles os compravam sobretudo no Egito, na época sob o domínio dos mamelucos, inimigos dos turcos, dos quais os venezianos eram inimigos; essa união de interesses, secundada pelo dinheiro de Veneza, formou tal conexão, que deu aos venezianos quase um monopólio desse comércio. Os grandes lucros dos venezianos constituíam uma tentação para avidez dos portugueses. Estes se haviam empenhado, no decurso do século XV, em encontrar um caminho marítimo para os países dos quais os mouros lhes traziam marfim e ouro em pó através do deserto. Descobriram as ilhas da Madeira, as Canárias, os Açores, as ilhas de Cabo Verde, a costa da Guiné, a de Loango, Congo, Angola, Benguela e, finalmente, o cabo da Boa Esperança. Durante muito tempo os portugueses haviam desejado partilhar dos lucros do rentável comércio dos venezianos, e essa última descoberta lhes abriu a perspectiva de atingir essa meta. Em 1497, Vasco da Gama zarpou do porto de Lisboa com uma esquadra de quatro navios e, depois de uma navegação de onze meses, chegou à costado Indostão, completando assim uma série de descobertas que haviam sido perseguidas com grande constância e com muito pouca interrupção durante quase um século, continuamente (SMITH, 1983, p. 51). O desenvolvimento do comércio na Europa da Baixa Idade Média teria favorecido a expansão dos mercados para além do continente. Tal expansão teria se verificado nas campanhas ultramarinas financiadas por grandes homens de negócios, como os habitantes de Veneza, Florença, Gênova e Milão. Dali teria partido boa parte do dinheiro das expedições, pelo menos no seu início, no século XV. Segundo Smith, o interesse por ouro e prata, secundado por outros objetivos – mais nobres, de acordo com o autor – como a evangelização e a administração política das novas terras, teriam levado à criação de novas sociedades naquele que foi chamado pelos colonizadores de ‘Novo Mundo’. Para o historiador Fernando Novais (1985), as causas da fundação das colônias na Idade Moderna residem no fortalecimento da burguesia europeia, especialmente 99 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL a partir do século XV. Para o autor, a expansão comercial acabou se traduzindo em expansão marítima em decorrência de uma necessidade econômica especificamente burguesa. Para atender a essa necessidade e tirar vantagens econômicas com isso, os soberanos europeus encamparam as grandes navegações, cujo dinheiro era, em grande parte, oriundo da burguesia. Nesse sentido, Novais acredita que houve uma espécie de acordo entre o Rei e a burguesia, que poderia ser traduzido da seguinte maneira: o Rei reconhecia as vantagens econômicas e políticas de formar colônias, enquanto a burguesia reconhecia o mesmo, ambos segundo o próprio ponto de vista. As vantagens reais seriam o aumento da arrecadação, seu fortalecimento político no concerto das nações europeias e o fato de as colônias poderem servir como reservas de riqueza para a metrópole. As vantagens para a burguesia seriam o enriquecimento com o negócio colonial, a aquisição de títulos aristocráticos e a maior relevância política em seu país e na colônia. A monarquia e a burguesia enxergavam, cada uma a seu modo, os ganhos que poderiam ter no investimento colonial. Novais afirma ainda que essa identificação de interesses que aproximou a monarquia da burguesia se constituiu em uma tendência histórica a partir do século XV. Para o autor, o final da Idade Média teria assinalado o nascimento do capitalismo e, com ele, o fortalecimento definitivo da classe burguesa. Enquanto sistema dominante, o capitalismo teria se instalado na sociedade de modo a reorientar as prioridades econômicas e políticas; todas elas, a partir do século XV e especialmente a partir do século XVI, foram influenciadas ou determinadas pela burguesia. Portanto, as motivações que teriam levado ao processo de colonização moderna, na visão de Fernando Novais, seriam de caráter burguês e se inscreveriam em um quadro de mudanças políticas e econômicas no Ocidente provocadas pelo próprio crescimento da burguesia. Leo Hubermam comentou a relação que os reis tiveram com os mercadores, banqueiros e demais homens de negócios, chamados por Novais de burgueses. Para Hubermam (1986), os reis tinham dificuldades de levantar dinheiro para as navegações e, por isso, aproximavam-se daqueles que poderiam ajudar no custeio da empreitada. Vejamos o que diz o autor: O leitor se lembrará das dores de cabeça que os reis tiveram para levantar dinheiro. Não havendo um sistema de impostos amplo e bem desenvolvido, não podiam nunca ter certeza de conseguir o dinheiro de que precisavam, no momento justo. O tesouro não podia contar com o afluxo permanente de dinheiro. Era por isso que o rei arrendava sua receita a coletores de impostos que lhes pagavam adiantadamente (e arrancava todo centavo que podiam dos pobres contribuintes). Era por isso que o rei vendia postos aos mais ricos e concedia monopólio por altas somas. Era por isso que, por menos que quisesse, era 100 obrigado a vender terras da Coroa. Era por isso que se via obrigado a pedir empréstimos aos banqueiros e mercadores. Era por estarem sempre em dificuldades monetárias que os governos davam tamanha importância ao amontoamento de metais preciosos. E como acreditavam também que o tesouro podia ser obtido pelo comércio, era natural considerarem os interesses do Estado e da classe de mercadores ou comerciantes como idênticos. Foi assim que o Estado tomou como sua tarefa principal o apoio e estímulo ao comércio e a tudo que se relacionasse com ele (HUBERMAN, 1986, p. 129-30). O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada Ciente dos motivos que teriam levado à criação das colônias, seria interessante analisarmos as condições econômicas de algumas delas. Adam Smith dedicou algumas páginas de sua obra A riqueza das nações para elucidar o estado das relações econômicas que eram vigentes nas colônias europeias na América em meados do século XVIII. Sua investigação revelou que havia uma disparidade significativa entre algumas colônias, e que grande parte dessa distância entre elas era explicada pelo diferente nível de liberdade econômica de que cada uma desfrutava. Dentre todas as colônias que passaram pelo escrutínio do autor, as consideradas mais livres foram as inglesas. Excetuando as restrições impostas pela Inglaterra pelo pacto colonial (exclusivo metropolitano), as suas colônias poderiam comercializar o que quisessem entre si e com a metrópole. As colônias que tinham menos liberdade de comércio eram as de Portugal e da Espanha. O quadro geral o autor apresenta a seguir: [...] embora a política da Grã-Bretanha, em relação ao comércio de suas colônias, tenha sido ditada pelo mesmo espírito mercantil que o de outras nações, no global ela tem sido mais liberal e menos opressiva do que qualquer delas. A liberdade concedida aos habitantes das colônias inglesas de conduzirem suas coisas a seu próprio modo é completa, excetuado seu comércio exterior. Tal liberdade é, sob todos os aspectos, igual à que têm seus compatriotas na Grã-Bretanha, sendo garantida da mesma forma por uma assembléia dos representantes do povo, que reivindica o direito exclusivo de impor taxas e impostos para sustento do governo colonial. A autoridade dessa assembléia intimida sobremaneira o poder executivo, e nem o mais mesquinho nem o mais odioso dos habitantes das colônias enquanto obedecer à lei tem qualquer coisa a temer do ressentimento do governador ou de qualquer outro oficial civil ou militar na província. As assembléias das colônias, como a Câmara dos Comuns, na Inglaterra, embora nem sempre sejam uma representação totalmente igual do povo, ainda assim aproximam-se muitíssimo disso e, já que o poder executivo não tem meios de corrompê-los ou, devido ao apoio que recebe da mãe-pátria, não tem necessidade de fazê-lo, talvez elas sejam em geral mais influenciadas pelas inclinações de seus integrantes. Os conselhos, que nas legislaturas coloniais correspondem à Câmara dos Lordes na Grã-Bretanha não são compostos de uma nobreza hereditária. Em algumas das colônias, como em três dos governos da Nova Inglaterra, esses Conselhos não são nomeados pelo rei, mas escolhidos pelos representantes do povo. Em nenhuma das colônias inglesas existe uma nobreza hereditária. Em todas elas, realmente, como em todos os outros países livres, o descendente de uma antiga família da colônia é mais respeitado do que um novo rico de igual mérito e fortuna; entretanto, ele é apenas mais respeitado, não possuindo privilégios com os quais possa molestar seus vizinhos. Antes 101 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL do início dos distúrbios atuais, as assembléias das colônias tinham não somente o poder legislativo mas também parte do poder executivo. Nas outras colônias, nomeavam os oficiais da Receita, que recolhiam as taxas impostas por essas respectivas assembléias, perante as quais esses oficiais eram imediatamente responsáveis. Existe, portanto, maior igualdade entre os habitantes da colônia do que entre os habitantes da mãe-pátria. Suas maneiras são mais republicanas e seus governos, particularmente os da província da Nova Inglaterra, também têm sido até agora mais republicanos (SMITH, 1983, p. 70-71). Pelo que podemos perceber, as colônias inglesas dispunham de um ambiente bastante liberal em termos econômicos, o que, segundo o autor, lhes proporcionou a chance de ter um forte desenvolvimento, que se expressou no bem-estar dos colonos e na confiança interpessoal que germinou a partir dessa liberdade de empreender. No campo político, as instituições inglesas foram implantadas no solo colonial. Isso não implicou um controle político das colônias, mas sim a oportunidade de serem estabelecidas, desde o século XVII, as bases do federalismo norte-americano. Tomando como referência as colônias inglesas, Smith nos mostra de que modo o caráter liberal de suas instituições favoreceu o nascimento de um ambiente propício ao desenvolvimento econômico e à representatividade política. No cômputo geral, a combinação de liberdade econômica com liberdade política contribuiu para que surgisse entre as 13 colônias inglesas um sentimento de independência pessoal, que se transladou para o campo da independência política. Não obstante, enquanto nas colônias inglesas o ambiente econômico e político era caracterizado pela liberdade, nas colônias espanholas, portuguesas e francesas não acontecia o mesmo. Eis o que Smith nos diz, nesta citação: Ao contrário, os governos absolutistas da Espanha, de Portugal e da França participam também nas respectivas colônias desses países, e os poderes discricionários que tais governos costumam delegar a todos os seus oficiais inferiores são, devido à grande distância, naturalmente exercidos lá com violência mais do que o comum. Sob todos os governos absolutistas, há mais liberdade na capital do que em qualquer parte do país. O próprio soberano jamais pode ter mais interesse ou inclinação a subverter a ordem justa ou a oprimir o povo. Na capital, sua presença intimida sobremaneira, em grau maior ou menor, todos os seus oficiais inferiores, os quais, nas províncias mais afastadas, de onde as queixas do povo têm menos probabilidade de chegar a ele, podem exercer sua tirania com muito maior segurança. Ora, as colônias européias da América estão muito mais distantes do que as mais remotas províncias dos maiores impérios jamais antes conhecidos. O governo das colônias inglesas é talvez o único que, desde o início do mundo, teve condições de oferecer segurança aos habitantes de uma província tão distante. Todavia, a administração das colônias francesas sempre tem sido conduzida com maior delicadeza e moderação do que a das colônias espanholas e portuguesas. Essa superioridade de conduta condiz tanto com o caráter da nação francesa como com aquilo que constitui o caráter de cada nação, a natureza de seu governo, o qual, embora arbitrário e violento em comparação com o da Grã-Bretanha, é legal e liberal em comparação com os governos da Espanha e de Portugal (SMITH, 1983, p. 71). 102 Smith demonstra que o nível de liberdade vigente entre as colônias espanholas, portuguesas e francesas – estas, mais liberais – era menor do que o das colônias inglesas. Na raiz desse fenômeno estaria o grande papel reservado ao Estado – especialmente o espanhol e o português – no processo de colonização. A ideia de que o Estado, na figura do soberano, encarna a vontade da coletividade e garante a paz e a prosperidade do reino era muito forte no Portugal dos séculos XV e XVI. Como consequência mais imediata dessa concepção de Estado como ‘motor’ da história, houve uma relação direta entre as autoridades reais e os destinos da colonização. Por isso a presença real nas colônias espanholas e portuguesas foi mais intensa do que nas colônias inglesas. Na América espanhola e na portuguesa o campo das decisões e dos empreendimentos ficou mais livre para o Estado do que para os indivíduos. Apesar das diferenças de liberdade entre as colônias, todas se encontravam dentro de um conceito de relação comercial que atendia pelo nome de pacto colonial, segundo o qual o país colonizador, chamado de metrópole, reivindicava para si a exclusividade do comércio com a(s) sua(s) colônia(s). Ou seja, o pacto colonial – também chamado de exclusivo metropolitano – constituía-se em um monopólio econômico outorgado à colônia pela metrópole. Quanto ao fato de se saber quem foi mais liberal, malgrado esse protecionismo econômico, foi isso o que Adam Smith investigou ao comparar os diferentes níveis de liberdade econômica – e também política – entre as colônias, o que o levou a concluir que, O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada [...] uma vez fundadas essas colônias, e depois de se terem tornado tão consideráveis a ponto de atrair a atenção da mãe-pátria, as primeiras medidas legais que esta adotou em relação a elas tinha sempre em vista assegurar para ela própria o monopólio do comércio colonial; seu objetivo consistia em limitar o mercado das colônias e ampliar o dela, às expensas das colônias e, portanto, mais em refrear e desestimular a prosperidade delas do que em apressá-la e promovê-la. Nas diferentes maneiras de exercer esse monopólio é que reside uma das diferenças mais essenciais na política das diversas nações européias em relação a suas colônias. A melhor de todas elas, a da Inglaterra, é apenas um pouco mais liberal e menos opressiva que a de qualquer uma das demais nações (SMITH, 1983, p. 74). OS FUNDAMENTOS E AS PECULIARIDADES HISTÓRICAS DO EXCLUSIVO METROPOLITANO PORTUGUÊS Resumidamente, o pacto se constituía como um mecanismo legal que impunha à colônia o dever de comercializar única e exclusivamente com a metrópole. Ao se fazer isso, ficava reservado à metrópole – como afirmou Smith – o direito de limitar o mercado colonial e de, inversamente, expandir o seu. Estabelecia-se, assim, um monopólio das atividades econômicas da colônia pelo Estado. 103 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Via de regra, o país colonizador tinha o direito de fiscalizar as atividades econômicas dos colonos para impedir que o pacto fosse quebrado. Especialmente no caso português, criou-se uma malha de fiscalização sobre os produtos que entravam e saíam da colônia. Na mentalidade da época, a colônia brasileira era vista como uma reserva de riquezas minerais e agropecuárias do reino, existindo como uma espécie de apêndice de Portugal. A partir daí é que se estabeleceria o exclusivo metropolitano. Uma das razões que poderiam explicar esse exclusivo metropolitano seria a concepção mercantilista de economia. Como já afirmamos no início do texto, o termo mercantilismo não se resume apenas à ideia de balança comercial favorável, mas envolve um conjunto variado de instituições e práticas de natureza econômica que vigoraram entre os países europeus, especialmente na Época Moderna. Segundo Pierre Deyon, quanto ao mercantilismo, [...] não existe um acordo universal nem quanto à natureza da teoria, nem quanto às características do intervencionismo que ela justifica. Para uns, são mercantilistas os que identificam a riqueza nacional e o volume das espécies em circulação; para outros, são mercantilistas os que proclamam a necessidade da auto-subsistência nacional e mantêm a xenofobia contra os mercadores e os produtos estrangeiros. Para outros ainda, sem dúvida os mais bem inspirados, a doutrina repousa sobre a ideia de que a intervenção do Estado deve garantir o equilíbrio indispensável na balança comercial. Segundo as escolhas mais ou menos arbitrárias, segundo os critérios retidos, é claro que a importância histórica, a legitimidade científica do sistema variam (DEYON, 1992, p. 46-47). Para Leo Hubermam, a França do século XVII pode ser considerada como um dos países mais mercantilistas da Europa. De acordo com ele, [...] a indústria estava ali cerceada por uma tal rede de ‘pode’ e ‘não pode’ e por um exército de inspetores abelhudos que impunham os regulamentos prejudiciais, que é difícil compreender como se fazia qualquer coisa. As regras e regulamentos das corporações já eram bastante prejudiciais. Continuaram em vigor, ou foram substituídos por outros regulamentos governamentais, ainda mais minuciosos, e que se destinavam a proteger e a ajudar a indústria da França (HUBERMAM, 1986, p. 137). A questão do pacto colonial português foi abordada por alguns historiadores brasileiros, como, por exemplo, por Caio Prado Júnior. Para ele, o exclusivo metropolitano português era um instrumento necessário para manter o sentido da colonização, segundo o qual a colônia ficava com o encargo de produzir matérias-primas para a metrópole enquanto esta lhe vendia produtos com maior valor agregado (manufaturas, etc). Fitando controlar a atividade econômica no Brasil, o Estado português instituiu uma intensa atividade de fiscalização, que se traduzia em taxas, subsídios, impostos diversos e proibições. 104 Acerca do peso da administração colonial Caio Prado afirma: Está aí, em suma, o esboço da organização administrativa da colônia. Uma boa parte das críticas que lhe podemos fazer já está contida nessa análise. Vimos aí a falta de organização, eficiência e presteza do seu funcionamento. Isto sem contar os processos brutais empregados, de que o recrutamento e a cobrança de tributos são exemplos máximos e índices destacados do sistema geral em vigor. A complexidade dos órgãos, a confusão de funções e competência; a ausência de método e de clareza na confecção das leis, a regulamentação esparsa, desencontrada e contraditória que a caracteriza, acrescida e complicada por uma verborragia abundante em que não faltam às vezes até dissertações literárias; o excesso de burocracia dos órgãos centrais em que se acumula um funcionalismo inútil e numeroso, de caráter mais delibertativo, enquanto os agentes efetivos, executores, rareiam; a centralização administrativa que faz de Lisboa a cabeça pensante única em negócios passados a centenas de léguas que se percorrem em lentos barcos à vela; tudo isto, que vimos acima, não poderia resultar noutra coisa senão naquela monstruosa, emperrada e ineficiente máquina burocrática que é a administração colonial. E com toda aquela complexidade e variedade de órgãos e funções, não há, pode-se dizer, nenhuma especialização. Todos eles abrangem sempre o conjunto dos negócios relativos a determinado setor, confundindo assuntos os mais variados e que as mesmas pessoas não podiam por natureza exercer com eficiência. O que mais se assemelharia a departamentos especializados, como as Intendências do Ouro, a dos Diamantes, as Mesas de Inspeção e alguns outros, nada são disto na realidade. Acumulam atribuições completamente distintas, ocupando-se das simples providências administrativas e de polícia, como do fomento da produção, da direção técnica, arrecadação de tributos e solução de contendas entre partes. E é por isso que raramente se encontram neles técnicos especializados. Nas várias Intendências do Ouro, por exemplo, nunca se viu um geólogo, um mineralogista, um simples engenheiro. Eram indivíduos inteiramente leigos em ciências naturais e conhecimentos técnicos que se ocupavam com os assuntos de mineração. E isto porque deviam ser, ao mesmo tempo, e sobretudo, burocratas, juristas, juízes (PRADO JÚNIOR, 2000, p. 339-40). O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada Para Caio Prado Júnior, a política colonial empreendida pelo governo português teria provocado desordem, acúmulo de funções, privilégios, e teria deixado pouco espaço para a liberdade econômica e política. O exclusivo metropolitano português, ao contrário do que se passava na Inglaterra, contribuiu muito mais para desviar os seus representantes de seus objetivos do que de fazê-los cumpri-los. E, como o próprio autor demonstra, os objetivos de fiscalização tinham as suas brechas, porque isso era, naturalmente, inviável. Sendo muito rígido e até violento, o sistema de fiscalização português gerava desconfianças mútuas e apego aos cargos públicos. Tal situação era muito diferente do que ocorreu nas colônias inglesas ou, indo mais além, nas colônias gregas. Como destacou Adam Smith, a Inglaterra foi o país que mais concedeu liberdade aos seus colonos, embora vigorassem as práticas mercantilistas. Um dos seus maiores méritos era o de não governar diretamente os negócios das colônias, mas sim de criar as condições para que elas, mesmo num regime de protecionismo, conseguissem uma 105 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL certa margem de manobra econômica, para que, assim, conseguissem prosperar mais do que as colônias portuguesas, em especial o Brasil. Referências DEYON, P. O Mercantilismo. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. GIBBON, E. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras; Círculo do Livro, 1989. GRIMAL, P. O Império Romano. Lisboa: Edições 70, 1999. HUBERMAM, L. História da riqueza do homem. 21. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. MONTESQUIEU, C. Do espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2010. NOVAIS, F. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1777-1808. São Paulo: Hucitec, 1985. PRADO JÚNIOR. C. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense; PubliFolha, 2000. ROSTOVTZEFF, M. História de Roma. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. SMITH, A. A riqueza das nações. São Paulo: Abril Cultural, 1983. Fontes e referenciais para o aprofundamento temático 1) Com base na leitura deste capítulo, explique quais as diferenças entre a colonização feita pela Grécia antiga e a dos portugueses na América do Sul. 2) De acordo com este capítulo, o monopólio colonial português exerceu em algum momento um papel positivo para a prosperidade da colônia? Explique sua resposta. 106 Anotações O sistema colonial nas Idades Antiga, Medieval e Moderna: o exclusivo metropolitano português por meio da história comparada 107 CAPÍTULOS DA HISTÓRIA DO BRASIL IMPERIAL Anotações 108