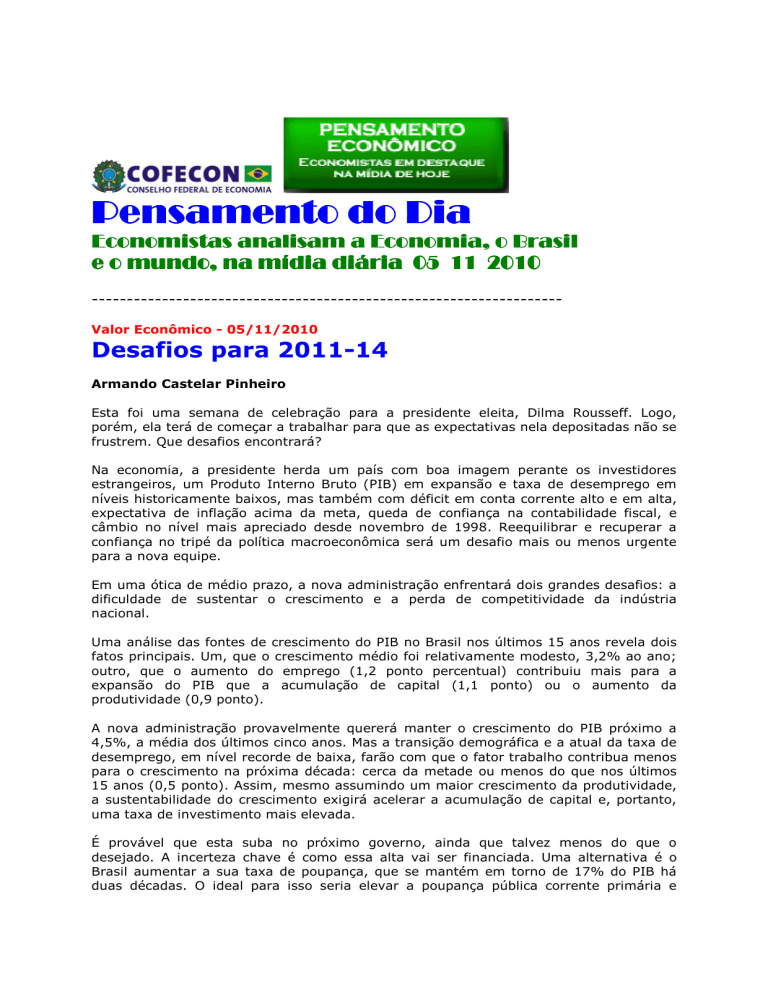
Pensamento do Dia
Economistas analisam a Economia, o Brasil
e o mundo,
mundo, na mídia diária 05 11 2010
------------------------------------------------------------------Valor Econômico - 05/11/2010
Desafios para 2011-14
Armando Castelar Pinheiro
Esta foi uma semana de celebração para a presidente eleita, Dilma Rousseff. Logo,
porém, ela terá de começar a trabalhar para que as expectativas nela depositadas não se
frustrem. Que desafios encontrará?
Na economia, a presidente herda um país com boa imagem perante os investidores
estrangeiros, um Produto Interno Bruto (PIB) em expansão e taxa de desemprego em
níveis historicamente baixos, mas também com déficit em conta corrente alto e em alta,
expectativa de inflação acima da meta, queda de confiança na contabilidade fiscal, e
câmbio no nível mais apreciado desde novembro de 1998. Reequilibrar e recuperar a
confiança no tripé da política macroeconômica será um desafio mais ou menos urgente
para a nova equipe.
Em uma ótica de médio prazo, a nova administração enfrentará dois grandes desafios: a
dificuldade de sustentar o crescimento e a perda de competitividade da indústria
nacional.
Uma análise das fontes de crescimento do PIB no Brasil nos últimos 15 anos revela dois
fatos principais. Um, que o crescimento médio foi relativamente modesto, 3,2% ao ano;
outro, que o aumento do emprego (1,2 ponto percentual) contribuiu mais para a
expansão do PIB que a acumulação de capital (1,1 ponto) ou o aumento da
produtividade (0,9 ponto).
A nova administração provavelmente quererá manter o crescimento do PIB próximo a
4,5%, a média dos últimos cinco anos. Mas a transição demográfica e a atual da taxa de
desemprego, em nível recorde de baixa, farão com que o fator trabalho contribua menos
para o crescimento na próxima década: cerca da metade ou menos do que nos últimos
15 anos (0,5 ponto). Assim, mesmo assumindo um maior crescimento da produtividade,
a sustentabilidade do crescimento exigirá acelerar a acumulação de capital e, portanto,
uma taxa de investimento mais elevada.
É provável que esta suba no próximo governo, ainda que talvez menos do que o
desejado. A incerteza chave é como essa alta vai ser financiada. Uma alternativa é o
Brasil aumentar a sua taxa de poupança, que se mantém em torno de 17% do PIB há
duas décadas. O ideal para isso seria elevar a poupança pública corrente primária e
tornar a política de crédito público contracíclica, permitindo ao Banco Central baixar a
taxa de juros sem pressionar a inflação. Outra alternativa é financiar a alta do
investimento com poupança externa, expandindo o déficit em conta corrente.
O outro desafio é aumentar a competitividade do produtor nacional, que vem caindo em
quase todos os setores, exceto os ligados à agricultura, à mineração e a certos serviços.
O Brasil só investe 2% do PIB em infraestrutura e tem uma carga tributária de 35% do
PIB, maior e mais complexa que seus concorrentes. A escolaridade média da força de
trabalho é baixa, só 7,5 anos para a população com 15 anos ou mais (7,8 anos na média
mundial e 8,3 na América Latina), e o ambiente de negócios ruim - o Brasil ficou na 129ª
posição entre 183 países no Doing Business 2010.
Esses são velhos problemas. Menos discutido é o aumento do custo do trabalho. Em
dólares, o salário médio na indústria de São Paulo mais que dobrou nos últimos dez
anos, e aumentou 73% nos últimos cinco. Mesmo controlando para o aumento da
produtividade, essas são altas substanciais. Dada a conjuntura econômica internacional,
e na ausência de uma resposta política, o real tende a apreciar mais. Como o próximo
governo pode fazer frente a essa pressão?
A resposta ideal seria, de novo, o ajuste fiscal, acompanhado de políticas de
competitividade, que ataquem os "velhos problemas". Mas é pouco provável que esse
seja adotado. Como diz Tony Blair, em política, quando as pessoas repetem o mesmo
ponto de vista várias vezes, é porque elas realmente acreditam no que estão dizendo.
Depois de afirmar tantas vezes que um ajuste fiscal não é necessário ou desejável,
dificilmente a presidente Dilma agora o adotaria.
Assim, seja para ajudar a financiar o aumento do investimento, seja em consequência da
pressão cambial externa, o déficit em conta corrente deve aumentar nos próximos anos.
Há cinco anos ele aumenta à taxa de 0,8% do PIB a cada doze meses, a despeito da
melhoria dos termos de troca. Esse ritmo não difere muito do observado na Espanha
entre 1997 e 2007, num contexto semelhante, marcado pela introdução do euro, com
queda dos juros e larga oferta de financiamento barato. A contrapartida será a
apreciação do real e a consequente mudança na estrutura produtiva do país.
Esse pode não ser um cenário ruim, caso se trabalhe em três dimensões: limitar a
expansão do déficit e a qualidade do seu financiamento para evitar uma crise quando
dentro de alguns anos os juros subirem no G-3; canalizar a poupança externa para o
investimento, sem deslocar a poupança doméstica; e investir na solução das demais
restrições à nossa competitividade para o setor produtivo se adaptar crescendo em
produtos mais sofisticados.
Há, portanto, mais de uma resposta aos desafios que se colocarão nos próximos anos,
mas ela precisa ser interna e intertemporalmente consistente.
Armando Castelar Pinheiro, pesquisador do IBRE/FGV e professor do IE/UFRJ.
Escreve mensalmente às sextas-feiras.
-----------------------------------
Jornal do Commercio – 05/11/2010
Estado e infra
Delfim Netto
Os problemas da aceleração dos investimentos na infraestrutura de transportes
(rodovias, ferrovias, portos e aquavias) e de energia (hidrelétrica, eólica, solar) ocuparão
um espaço prioritário na agenda do próximo governo da República e das novas
administrações estaduais a partir de janeiro.
Certamente este foi um dos poucos temas sérios a aflorar durante a campanha eleitoral.
Praticamente não há discordância sobre a necessidade de se desobstruir os gargalos que
oneram a circulação da produção em todo o território nacional e respondem por uma boa
parcela do chamado “custo Brasil”. Não houve divergências também sobre o fato que à
iniciativa privada caberá a tarefa de realizar as obras, dispensando-se a idéia de criação
de organismos estatais para conduzi-las diretamente.
O que não elimina o papel do Estado que permanecerá como o indutor dos investimentos
e coordenador dos programas de estímulo ao crescimento.
Esta já foi uma questão ideológica, hoje superada pelo pragmatismo dos diversos
governos que aprenderam com a história.
Em certas circunstâncias, como foi o caso do Brasil nos anos 1930/80, a falta de
musculatura do setor privado exigiu uma ação direta de empresas estatais nos setores
críticos da economia (energia, transporte, portos etc.) inclusive com a criação de
“poupança forçada” (depois devolvida), como os debêntures da Eletrobrás, por exemplo.
Por maiores e bem fundadas que tenham sido algumas das críticas às apressadas
privatizações – de fato estimuladas pelas crises do balanço em conta corrente como
consequência de uma política cambial desastrosa – é inegável o aumento da eficiência
das empresas privatizadas e de sua subseqüente contribuição para a aceleração do
desenvolvimento social e econômico do Brasil.
A criação e expansão de empresas estatais é um questão de poder. Cada uma delas
precisa procurar mais espaço – tão naturalmente como qualquer manifestação da vida
não importa aonde esta surja. Todas têm a necessidade (ínsita no seu DNA), de crescer e
multiplicarse.
Isso não tem nada a ver com a competência dos administradores públicos. Muitas de
nossas velhas estatais (a Telebras, por exemplo) ganharam prêmios internacionais.
Posteriormente elas forneceram mão de obra qualificada, competente e honesta para as
empresas que as adquiriram. O problema com as empresas estatais é o mesmo com o
setor privado: ou crescem ou entram em estagnação. A diferença é que as estatais não
morrem e não vão à falência.
A União tem hoje mais de 100 empresas estatais. É hora de estudar a necessidade de
cada uma delas e dar eficiência às que em função do seu próprio objetivo têm de
continuar públicas e dispor das demais, privatizandoas. Vale a pena relembrar aqui o
caso do setor aeroportuário que hoje atazana os usuários e tornou-se uma das maiores
doresdecabeça da administração pública: a Infraero foi criada em 1972 para funcionar
com 600 funcionários. Atualmente acolhe cerca de 28.000 servidores. O que teríamos
hoje em matéria de eficiência e conforto no transporte aéreo se, em lugar de criar a
estatal, tivéssemos iniciado a privatização dos aeroportos nos anos 70 do século
passado? Praticamente não há discordância sobre a necessidade de se desobstruir os
gargalos que oneram a circulação da produção em todo o território nacional e respondem
por uma boa parcela do chamado custo Brasil. A criação e expansão de empresas
estatais é um questão de poder. Cada uma delas precisa procurar mais espaço – tão
naturalmente como qualquer manifestação da vida.
Professor emérito
Planejamento.
da
FEA/USP.
Ex-ministro
da
Fazenda,
Agricultura
e
---------------------------O Estado de S.Paulo - 05/11/2010
A volta dos anos rebeldes?
Monica B. De Bolle
Baixo crescimento. Tolerância inflacionária. Desalinhamentos cambiais. Dívidas
astronômicas e déficits elevados. Esse é o mundo que Dilma Rousseff enfrentará quando
assumir a Presidência da República em janeiro de 2011. É um mundo bem diferente do
encontrado por Lula em 2003 e, curiosamente, muito parecido com o dos anos 70,
década que tanto inspira alguns dos interlocutores mais próximos de Dilma.
Para tratar os problemas de excesso de endividamento, a economia global caminha para
uma "solução" estagflacionária, isto é, uma combinação nefasta de estagnação com
inflação alta. A maior economia do mundo e o emissor da moeda internacional, os EUA,
não estão dispostos a correr o risco de uma deflação japonesa, ainda que essa seja uma
possibilidade remota. O trauma da Grande Depressão e uma sociedade avessa aos
sacrifícios - em contraste com os europeus, marcados pelas cicatrizes de duas guerras
mundiais - impedem que a saída da crise americana envolva a redução de gastos e o
aumento da poupança necessários para diminuir os passivos. Não se contemplam,
portanto, planos de austeridade fiscal, como os que estão sendo implementados do outro
lado do oceano. A receita americana é sustentar a insípida recuperação até que ela
ganhe fôlego para se autoalimentar. Contudo, a fragilidade política da administração de
Obama e a perspectiva de que o presidente americano fique paralisado por um
Congresso hostil, a dois anos de terminar o mandato, significam que a única arma
remanescente é a monetária.
Mas a frouxidão monetária não é a "bala de prata" que restaurará o ímpeto da atividade
e eliminará os estoques de dívida. Sair da crise sem uma recessão temporária provocada
pela elevação da poupança significa tentar orquestrar alguma antecipação do consumo,
além de corroer os passivos das famílias. Só existe um mecanismo capaz de fazer isso:
uma inflação mais elevada por um período prolongado. Não é à toa que o Fed está
tentando manejar as expectativas com declarações cada vez mais explícitas sobre os
rumos da inflação futura. E, enquanto a dívida não for suficientemente reduzida, o
crescimento americano continuará anêmico, configurando o referido cenário
estagflacionário. Uma estagflação no emissor da moeda internacional implica,
necessariamente, a continuação dos desalinhamentos cambiais, principal fonte das
tensões internacionais.
Como isso se poderá refletir no Brasil? De um lado, o real pressionado continuará
propelindo os clamores de "desindustrialização", favorecendo os argumentos dos
simpatizantes do câmbio controlado. De outro, com o reduzido impulso externo, ganham
terreno os que defendem a solidificação do "novo modelo de desenvolvimento" baseado
tanto na política de campeões nacionais favorecidos pelo crédito público quanto no
aumento do intervencionismo estatal. Num mundo mais tolerante com a inflação, só os
ortodoxos de carteirinha, os "chatos de sempre", se preocuparão com os reflexos do
"novo modelo" sobre a trajetória dos preços.
No mundo de Dilma, ao contrário do mundo de Lula do primeiro mandato, há espaço
para a substituição do tripé. De metas de inflação, câmbio flexível e controle fiscal para
uma inflação "flexível", "metas" para o câmbio e políticas públicas mais "generosas" de
crédito e de gastos - com investimento, é claro. Como disse o prof. Dionísio Dias
Carneiro, em 1976, sobre a "ideologia do crescimento rápido": "Sendo viável o
crescimento acelerado, ganham viabilidade os pleitos redistributivos e podem amenizarse os conflitos sociais latentes, pois há espaço, por assim dizer, para todos ganharem
algo."
A grande diferença entre o momento atual e os anos após o choque do petróleo da
década de 70 é que há espaço, no Brasil, para viabilizar a ideologia do crescimento
rápido sem pagar, imediatamente, o preço do descontrole inflacionário e da elevação da
dívida externa, hoje inexistente. A conta da degradação macroeconômica só virá depois,
quem sabe, em 2014, para o próximo(a) presidente.
ECONOMISTA, PROFESSORA DA PUC-RJ, É DIRETORA DO IEPE/CDG
------------------------------Valor Econômico - 05/11/2010
A oportunidade em Seul
Yoon Young-kwan
A arrogância, via de regra, produz desastre. A causa básica da crise global atual foi
arrogância intelectual, na forma da crença cega de que os mercados sempre resolveriam
os seus próprios problemas e contradições. Trinta anos após a revolução de Reagan e
Thatcher, o pêndulo ideológico começou a oscilar na direção oposta.
Nos últimos cem anos, cada vez que uma mudança dessa magnitude ocorreu nas crenças
sobre as relações entre Estado e mercado, deu-se uma importante comoção políticoeconômica. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial marcou o fim do liberalismo não
intervencionista do século XIX e precedeu um período de sistemas econômicos centrados
no Estado. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial inauguraram a nova era do
sistema de Bretton Woods, de um relacionamento mais equilibrado entre Estado e
mercado.
Analogamente, a crise financeira global de 2008 encerrou três décadas de
neoliberalismo, caracterizadas pelo livre comércio e a globalização financeira. Ainda não
conhecemos a natureza da era diante de nós: só podemos estar certos de que a
economia global está no meio de uma transição de grande magnitude, e que os métodos
antigos não funcionarão mais.
A principal preocupação nesse período de grande incerteza é se a transição para um novo
paradigma pode ser gerenciada sem desestabilizar ainda mais a ordem políticoeconômica internacional. Já existem alguns graves sinais de apuros, como a guerra
cambial travada entre Estados Unidos e China, e sua disseminação a outros países.
Na verdade, as condições globais atuais têm mais semelhanças do que diferenças
preocupantes com o começo da década de 1930. Assim, cada Estado voltou a sua
atenção para dentro de si mesmo, desperdiçando valiosas oportunidades de alcançar a
prosperidade comum por meio da coordenação política internacional. O vácuo de
liderança causado pela relutância dos EUA de cooperar e pela súbita incapacidade do
Reino Unido de liderar, resultaram no fracasso da Conferência de Londres de 1933, que é
frequentemente considerada como aquela que abriu o caminho para a Grande Depressão
e a Segunda Guerra Mundial.]
Se os líderes do G-20 conseguirem chegar a acordos específicos e efetivos sobre taxas de
câmbio e desequilíbrios globais sem ofuscar outros assuntos, as perspectivas de um
pouso suave para a economia global melhorarão sobremaneira.
Depois de aprender as lições dos anos de 1930, a ordem econômica global pós-guerra foi
construída sobre uma rede de instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o
Banco Mundial, e aquilo que acabou se transformando na Organização Mundial do
comércio (OMC). Mas as lições do passado parecem estar distantes demais nas mentes
dos atuais formuladores de política, enquanto a pressão doméstica para colocar as
economias nacionais em primeiro plano parece ser esmagadora.
Além disso, as instituições criadas nos dias que se seguiram à Segunda Guerra Mundial
já não parecem ser eficazes o bastante para satisfazer os desafios da economia global e
perderam parte da sua legitimidade. Por exemplo, a autoridade do FMI sofreu na década
recente - especialmente na Ásia - com o profundo comprometimento do Fundo com a
ortodoxia neoliberal e o chamado "Consenso de Washington".
Assim, a primeira tarefa do encontro do G-20 em 11 e 12 de novembro em Seul deverá
ser revitalizar e fortalecer a regulamentação financeira global e o FMI. Se os líderes do
G-20 também conseguirem promover avanços significativos para a resolução das
negociações em Comércio Exterior da Rodada de Doha, contribuirão positivamente para a
estabilização econômica global.
Há sinais de que o encontro de Seul possa ser bem-sucedido. O encontro dos ministros
das Finanças e dirigentes de bancos centrais do G-20 em Kyeongju, em 22 de outubro,
resultou em decisões como a transferência de 6% das cotas de voto do FMI da Europa
excessivamente representada para os países emergentes sub-representados, duplicando
as cotas dos membros e reduzindo a representação da Europa no conselho executivo do
Fundo em dois assentos.
O FMI também recebeu poderes para conduzir o Processo de Avaliação Mútua das
políticas macroeconômicas de cada país no âmbito da Estrutura para Crescimento Sólido,
Sustentável e Equilibrado. Essa autoridade deve permitir que o Fundo inspecione mesmo
as economias mais poderosas do mundo, os EUA e a China. O acordo recente promovido
pelo comitê da Basileia sobre Supervisão dos Bancos sobre um novo arcabouço de
adequação de capital representa outro passo positivo.
Mas os temas estratégicos que permeiam as mentes dos líderes do G-20 serão as taxas
de câmbio e os desequilíbrios globais. O encontro de Kyeongju decidiu que os países do
G-20 devem avançar na direção de taxas de câmbio determinadas pelo mercado e
perseguir "políticas que conduzam à redução dos desequilíbrios excessivos e à
manutenção dos desequilíbrios em conta corrente em níveis sustentáveis".
Esses dois temas poderão ou não estar sobre a mesa para discussões adicionais em Seul.
Se os líderes do G-20 conseguirem chegar a acordos específicos e efetivos sobre taxas de
câmbio e desequilíbrios globais sem ofuscar outros assuntos, as perspectivas de um
pouso suave para a economia global melhorarão sobremaneira. Caso contrário, o
protecionismo e as guerras comerciais se intensificarão, e ficaremos um passo mais perto
de reviver o pesadelo da década de 1930.
Seja como for, a reunião de cúpula do G-20 em Seul provavelmente assinalará um
divisor de águas na história da economia política global do pós-guerra.
Yoon Young-kwan foi ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul em
2003-2004, atualmente é livre docente de Relações Internacionais na
Universidade Nacional de Seul. Copyright: Project Syndicate, 2010.
-------------------------------Estadão Online – 04/11/2010
As pombas estão certas, baby
Paul Krugman
David Leonhardt:
O surpreendente, analisando os últimos seis meses, é como o diagnóstico das
“pombas” sobre a economia pareceu mais preciso do que o dos “falcões”.
Por exemplo, no início deste ano Thomas Hoenig, presidente do Fed de
Kansas City e provavelmente um dos mais proeminentes “falcões”, proferiu
um discurso em Washington alertando para os riscos de uma economia
superaquecida e da inflação. Hoenig sugeriu que o tipo de inflação severa que
os Estados Unidos registraram nos anos 70, ou mesmo o que se verificou na
Alemanha nos anos 20, era uma possibilidade real.
Quando ele proferiu esse discurso, a inflação anual era de 2,7%. Hoje ela está
em 1,1%.
As “pombas”, por outro lado, chamaram a atenção para o fato de que
recuperações de crises financeiras tendem a ser frágeis porque os
consumidores e as empresas demoram para retomar os gastos. Em todo o
mundo, no século passado, a crise provocou aumentos na taxa de
desemprego durante quase cinco anos, segundo pesquisa dos economistas
Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff. Seguindo esse programa, a taxa de
desemprego deve subir por mais um ano e meio.
(…)
Todo esse tempo, os investidores globais continuaram não mostrando
nenhum sinal de pânico. Ao contrário, à medida que a economia desacelerava
no terceiro trimestre do ano, os investidores mostravam-se mais dispostos a
emprestar dinheiro para os Estados Unidos, considerando a economia
americana uma aposta mais segura do que muitas outras.
De fato, as pombas estão certas.
---------------------------------
O Estado de S.Paulo - 05/11/2010
As contas para mudar o mundo
Washington Novaes
Que consequências práticas terão os acordos considerados "históricos" pelos 193 países
que os firmaram na Convenção da Diversidade Biológica em Nagoya, no Japão, e
relatados neste jornal (29 e 30/10) por Herton Escobar? O fato é que se conseguiu
chegar a algumas regras consideradas fundamentais para a sobrevivência humana no
planeta - ainda que para isso tenha sido preciso "colocar um valor monetário na vida"
(31/10). Os acordos incluem: 1) Um plano estratégico com metas globais para a
conservação no período 2011-2020; 2) um protocolo que define regras para o uso de
recursos genéticos derivados de plantas, animais e microrganismos, bem como formatos
que respeitem a soberania dos países detentores sobre esses recursos e levem à partilha
de benefícios entre o detentor e outros países e suas empresas que venham a explorálos; e 3) a intenção de firmar em 2011, em reunião na Índia, um acordo sobre
mecanismos financeiros que tornem viável atingir as metas acordadas.
O ponto de partida é difícil: nenhuma das metas para a conservação previstas para o
período 2000-2010 foi atingida. A questão financeira, complicada: em Nagoya os países
em desenvolvimento calcularam em US$ 300 bilhões anuais (cem vezes mais que os
atuais recursos) os financiamentos necessários para que façam sua parte - e até aqui
apenas o Japão se disse disposto a entrar com US$ 2 bilhões. Os países mais pobres
reivindicaram também a eliminação de subsídios anuais de US$ 500 bilhões que países
desenvolvidos concedem a atividades com impacto negativo na biodiversidade.
Quanto aos recursos genéticos, o tempo vai dizer se será superada a ferrenha resistência
dos países industrializados a partilhar benefícios. No Japão, quando os países africanos
reivindicaram também o partilhamento dos benefícios de produtos já explorados, os
industrializados lembraram que, nesse caso, países como o Brasil e outros deveriam,
então, pagar pelo uso secular que fazem de espécies de outros países, como café,
laranja, trigo, cana-de-açúcar, arroz, coco, etc. Retrucaram os primeiros que hoje menos
de 1% do valor dos produtos industriais derivados da biodiversidade chega aos países
detentores dos recursos - quando o biólogo Thomas Lovejoy diz que só o comércio de
medicamentos derivados de plantas está hoje em US$ 250 bilhões anuais.
Só no ano que vem, na Índia, vai-se ver quais serão os avanços práticos. Porque os
acordos de Nagoya são tratados políticos, não têm força de lei. Cada país terá de criar
mecanismos internos para cumpri-los. Mas é tudo muito urgente. Já têm sido citados
relatórios como os do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e
outras instituições, segundo as os quais os prejuízos na área da biodiversidade têm
ficado entre US$ 2 trilhões e US$ 4 trilhões por ano, principalmente por causa de
sobrexploração de recursos e serviços naturais, mudanças climáticas, poluição,
acidificação dos oceanos, perda e degradação de hábitats (com novas culturas,
pastagens, expansão de áreas urbanas). Segundo a Organização para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), da ONU, em cem anos já se perderam 75% da biodiversidade de
plantas alimentares - e mais 22% dos cultivos de batata, feijão e arroz poderão perderse por causa de mudanças climáticas. Gregory Asner, da Universidade da Califórnia,
estima que até o fim do século a perda de florestas tropicais poderá chegar a 82% por
causa do clima e da devastação localizada (New Scientist, 14/8).
As metas para 2011-2020 tentam criar caminhos para evitar essa trajetória de perdas.
Estabelecem que é preciso reduzir à metade, "e onde for possível a zero", a taxa de
perdas de hábitats naturais, incluindo florestas; para isso será preciso ampliar dos atuais
12,5% para 17% a área global de conservação em terra e de 1,5% para 10% as áreas
marinhas e costeiras. Além disso, os governos precisarão recuperar pelo menos 15% das
áreas degradadas; reduzir a pressão sobre recifes de corais; aumentar os recursos
financeiros para conservação da biodiversidade; assumir o compromisso de incluir esses
objetivos nas estratégias nacionais e, em dois anos, ter um plano nacional de ação, que
deve ter um capítulo sobre a relação entre a diversidade biológica e as cidades.
O Brasil foi criticado por bloquear discussões sobre monitoramento de danos nas culturas
geradoras de agrocombustíveis - mas também argumentou no Japão que 75% das áreas
de conservação criadas no mundo desde 2003 estão por aqui. Por isso quer receber
recursos da ordem de US$ 1 bilhão por ano para essa área.
Talvez o ponto de maior impacto das discussões tenha sido o pronunciamento do
presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, segundo quem "o capital natural das
nações deveria ser um item calculado em combinação com o capital financeiro, a
produção industrial e o capital humano. As contas nacionais precisam refletir os serviços
vitais prestados pelos estoques retidos de carbono nas florestas e os valores que os
recifes de corais e mangues significam para a proteção costeira. A conservação de
recursos naturais, dos ecossistemas e da biodiversidade é decisiva para o
desenvolvimento e para melhorar a vida dos pobres". Entra-se aí na discussão sobre que
fatores estão implícitos no desenvolvimento e devem ser considerados nas contas
nacionais (PIB). O acordo de Nagoya propõe até incluir no balanço das empresas o custo
de "externalidades ambientais" que tenham gerado. A Noruega já criou um índice para
avaliar a situação dos recursos naturais, com 309 indicadores. Na França, comissão
nomeada pelo governo e integrada pelo Prêmio Nobel Amartya Sen e Joseph Stiglitz,
entre outros, já está propondo a incorporação de alguns valores ao PIB, como o do
trabalho doméstico, do trabalho informal.
Quando chegará aos nossos meios políticos e administrativos essa discussão?
JORNALISTA
------------------------------Correio Braziliense - 05/11/2010
A cara pra apanhar
Antonio Machado
É afoiteza reavivar a CPMF sem discutir a situação fiscal e opções ao
financiamento da saúde
Sem ter ainda escolhido a formulação da política econômica de seu governo e elencado
as prioridades e sem saber a exata situação das contas fiscais do país enquanto
presidente eleita e não como chefe de ministério, Dilma Rousseff se arrisca cedo demais
a dar a cara para apanhar, caso encampe, como sugere que vai fazer, a recriação da
CPMF sob a moldura de Contribuição Social para a Saúde (CSS).
Mais grave para ela, que negou na campanha eleitoral interesse em criar impostos,
citando especificamente a CPMF, banida no final de 2007 pelo Senado por pressão
empresarial e de setores da sociedade — não por “vingança” da oposição, como insiste o
presidente Lula e voltou a reafirmar na quarta-feira, durante entrevista acompanhada
por Dilma. O espectro da CPMF continua a assombrar como maldição.
Lula levantou a bola e Dilma encaçapou. Ele disse que a oposição teria suprimido R$ 40
bilhões da saúde. E ela acrescentou: R$ 160 bilhões, referindo-se à arrecadação
potencial ao longo do mandato.
Ao mesmo tempo em que manifestou dúvidas sobre se deve aumentar a carga tributária
com um novo imposto ou majoração de alíquotas, já que a arrecadação cresce aos saltos
pela expansão da economia, ela afirmou saber que há um movimento de governadores
recém-eleitos em favor da volta da CPMF. Todos são de partidos da base aliada — e à
frente deles o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB.
Para alguns parlamentares, aprovar a CSS conforme projeto em fase final de tramitação
na Câmara seria um desagravo a Lula, além de atender a área da saúde. Para os
governadores eleitos, trata-se de reforçar o caixa. A ideia de reparação a Lula é só o
álibi.
A Emenda Constitucional 29 aprovada no Senado — na qual se insere o clone da CPMF
introduzido na Câmara ao apreciar o projeto dos senadores — regulamenta o aumento da
fatia obrigatória destinada à saúde das receitas fiscais da União, estados e municípios,
além de detalhar os itens que compõem essa despesa. O governo federal tem alguma
folga orçamentária para atender tal dispositivo, mas não os estados e municípios, que já
estão sufocados.
Muitos nem cumprem o que já é obrigatório. Não faltam desvios. Há quem inclua gastos
em saneamento como despesa com saúde. Tem algo a ver, mas não é esse o espírito da
vinculação do gasto com saúde.
Outros incorporam os salários do pessoal de saúde, o que é também vetado. Fato é que,
com ou sem CPMF, saúde é um problema de enorme dimensão, e não só no Brasil — e
tende a aumentar na medida em que a população envelhece e cresce a expectativa de
vida.
1º, a saúde dos juros
Afora os problemas específicos da saúde pública, há outros nem um pouco menos sérios
e urgentes, como o equilíbrio fiscal das contas do governo federal. Por tal prioridade é
que desde a sua primeira encarnação, em 1993, a CPMF tem se prestado a engordar o
superavit primário, usado pelo governo para pagar juros da dívida pública.
Foi assim em todos os governos, inclusive no atual. Mas que fosse respeitada
zelosamente a vinculação da receita da CPMF e nem assim é garantido que o orçamento
da saúde estaria protegido. O governo trabalha com caixa único, e o dinheiro arrecadado
não é carimbado.
As inépcias vinculadas
Se certo item tem o custeio engessado como percentagem da receita de algum tributo ou
do orçamento geral, o comum é que logo comecem a cessar os repasses voluntários para
a área. Não é improvável que no médio prazo o dinheiro para tal fim diminua em vez de
aumentar.
A receita vinculada é sempre uma ferramenta de gestão ruim, pois algema o
administrador público, dificulta a integração dos setores sociais, como educação com
saúde e esta com saneamento, e impede a redefinição de prioridades dentro de um
mesmo exercício e ao longo do mandato do governante. Se assim é, por que existe a
vinculação?
Oportunidade de Dilma
A desconfiança dos operadores públicos e de sua clientela quanto aos propósitos do
governante é que leva os parlamentares a acatar as pressões pela verba engessada
dentro do orçamento. Assim, ainda que os governadores defendam a CPMF no custeio do
aporte aumentado pela Emenda 29 para a saúde, a solução apenas prova o que se sabe:
sem amarras, eles estariam vulneráveis às pressões para gastar em outros fins, como
salários e obras demandadas por empreiteiros.
Dilma conhece tais problemas, que são da saúde, da educação e da assistência social,
todas com verba vinculada. Ela tem a chance de abrir um debate federativo sobre o
custeio dos programas sociais, suas necessidades e a execução orçamentária. Isso nunca
se fez.
A Federação redundante
Com o orçamento federal crescentemente engessado pelas despesas obrigatórias, o
governante está aos poucos perdendo liberdade para governar. As sequelas são o
desvirtuamento do crédito dos bancos estatais para usos fiscais e o endividamento do
Tesouro Nacional. Reforma tributária em tal contexto não trará o que muitos supõem:
alívio do ônus impositivo. Não, se mantida a Federação redundante, com as obrigações
replicadas entre as três instâncias federativas, como saúde e educação. Tem-se um gasto
ocioso que só tem crescido.
Outro estrangulamento é o de transferências de renda como atalho a carências do
mercado de trabalho e de educação dos setores sociais à margem do crescimento. Dilma
vai encarar tais desafios ou torcer para que se resolvam com o tempo? Propor a CPMF já
é uma resposta.
----------------------------O Estado de S.Paulo - 05/11/2010
As viúvas da CPMF
Celso Ming
O próximo governo nem obteve ainda os diplomas da Justiça Eleitoral e não faz a menor
questão de disfarçar sua propensão à voracidade tributária. Como admitido pela recémeleita presidente da República, Dilma Rousseff, está sendo examinado o lançamento de
um projeto de lei destinado a exumar o cadáver da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira, a CPMF.
Quando foi extinto, em dezembro de 2007, por meio da rejeição da Emenda 29, o
ministro Guido Mantega ainda tentou manter o imposto com uma alíquota simbólica, de
0,08% (e não mais de 0,38%), apenas para dar à Receita Federal um instrumento
adicional para seguir rastros de sonegação. Agora, um alentado grupo de governadores
alinhados com o governo federal pressiona a futura administração para arrancar mais
dinheiro do contribuinte por meio da volta da CPMF.
A justificativa é velha de guerra: é a de que é preciso mais recursos para a saúde. Era o
que o então ministro Adib Jatene já dizia em 1993. Logo se viu que o total arrecadado
pela CPMF foi para o caixa geral e o orçamento para a saúde ficou onde estava.
A CPMF é um imposto sabidamente de má qualidade, que está voltando à pauta num
momento em que a necessidade da economia é justamente reduzir a carga tributária
para dar mais competitividade ao produto nacional.
É um imposto ruim porque é cumulativo (incide em cascata), ao longo de toda a cadeia
produtiva. Quando estava em vigor, o preço de qualquer produto se transformava em
árvore de Natal carregada de CPMF. O pijama do garoto vendido na loja, por exemplo,
era bem mais do que um arranjo de fios, tecidos e aviamentos. Nele vinha CPMF aos
cachos. O imposto era recolhido quando o agricultor comprava a semente de algodão,
quando punha combustível no tanque do trator para arar a terra, quando pulverizava a
plantação e quando pagava pela colheita. Continuava recolhendo CPMF quando o algodão
era descaroçado, quando era conduzido para a fiação, quando se transformava em
mercadoria acabada na malharia, quando era vendido ao varejista e, finalmente, quando
chegava ao consumidor. Era imposto sobre imposto, que tirava competitividade ao
produto brasileiro, porque lá fora não existem deformações tributárias desse tipo.
Os argumentos do governo de que a CPMF é imprescindível para garantir o financiamento
do Estado foram prontamente desmentidos. Sem a CPMF, a arrecadação está crescendo
13% em 2010.
A conjuntura global está pedindo movimento em direção contrária ao que vai sendo
pleiteado por esses políticos e, aparentemente, encontrou certa acolhida na futura
presidente. Já não dá para compensar com “mais câmbio” a falta de competitividade do
produto industrial brasileiro. Por isso, para derrubar o custo Brasil, além de cortar os
juros, é preciso derrubar a carga tributária, e não o contrário.
A proposta, veiculada tão rapidamente como foi, mostra que os políticos pendurados no
governo não olham para o interesse público. São viúvas da CPMF, só pensam em gastar
e estavam até agora à espera do momento mais propenso para ressuscitá-la.
Essa gente adora moleza tributária – e, de fato, não há imposto mais fácil de arrecadar:
cai automaticamente na conta do Tesouro a cada movimentação bancária.
Doeu. O gráfico dá uma ideia do impacto global provocado pelo afrouxamento monetário
quantitativo (despejo de US$ 600 bilhões em oito meses nos mercados) anunciado
quarta-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).
A conta da crise. A primeira operação desse tipo, em 2008, foi entendida como medida
destinada a apagar o incêndio da crise. A que foi anunciada na quarta foi imediatamente
tomada como tentativa de empurrar a conta da crise para o resto do mundo.
---------------------------------Folha de S.Paulo - 05/11/2010
Hora de olhar para o umbigo
Vinicius Torres Freire
O MINISTRO da Fazenda, Guido Mantega, disse cobras e escorpiões a respeito da decisão
do banco central americano, o Fed, de despejar mais dinheiro na economia a fim de
reavivar consumo e investimento.
Como quase todo mundo, argumenta que boa parte do dinheiro vai vazar pelas
fronteiras. O Fed apenas estaria financiando, a custo quase zero, a compra de moedas de
emergentes e de países produtores de commodities, especulação com as próprias
commodities (metais, comida), de ações em Bolsa etc.
No que importa mais imediatamente ao Brasil, tal movimento de dinheiro deve valorizar
ainda mais o real, dificultar exportações e facilitar importações, entre outras "perdas" de
dinheiro para o exterior.
Dilma Rousseff e Lula dizem que vão ao encontro de cúpula do G20 com a proposta de
uma coordenação mundial de políticas econômicas a fim de evitar danos como os
provocados por EUA e China.
Qual a proposta? Segundo integrantes do governo: 1) Pedir aos governos americano e
europeus que gastem mais (estímulo fiscal) e fechem as torneiras monetárias; 2) Pedir à
China, à Alemanha e ao Japão e cia. que reduzam os superavit comerciais (exportações
menos importações), incentivando a demanda doméstica (consumo no país).
Note-se de passagem que essa é mais ou menos a proposta que os EUA apresentaram à
cúpula preparatória do G20, no mês passado. Mas se dizia que o Brasil estava "aliado à
China". Estava? Uhm.
Qual o possível efeito prático da sugestão brasileira? Nenhum, ou quase isso, a julgar por
atos e declarações recentes das lideranças de todos esses países maiores.
Os Estados Unidos acabam de deslanchar a fase dois da abertura de comportas
monetárias. Fase dois: apesar do barulho mundial acerca da decisão do Fed de ontem,
de inundar o mercado com mais US$ 600 bilhões a US$ 900 bilhões até junho de 2011, o
Fed já havia despejado US$ 1,7 trilhão entre o estouro da crise, em 2008, e março de
2010. É possível que, se não aparecerem resultados, venha a fase três do "kiwi"
(pronúncia em inglês do acrônimo QE, "quantitative easing", relaxamento monetário).
Isto é, pode haver "QE3" se o conflito político nos EUA não chegar ao ponto em que
republicanos alucinados ponham até o Fed na parede. Por falar em conflito e
republicanos, será agora ainda mais difícil haver estímulo fiscal (gasto do governo) nos
EUA, onde a confusão política e econômica será grande até 2012.
A China já disse, repete e demonstra que não fará movimentos bruscos, valorizações
abruptas do yuan ou medidas que reduzam seu crescimento "voltado para fora", de
muita poupança e exportação.
A Alemanha quer justamente obrigar a Europa a gastar menos; de resto, o BC Europeu
não entrou na onda do "relaxamento monetário". O Reino Unido acabou de baixar um
corte bárbaro de gastos, mas vai também de "QE", como os EUA.
O Brasil tem de passar sebo nas canelas e correr sozinho. Reduzir gasto público, dar
apoio a suas empresas (baixando o peso fiscal e burocrático), regular direito o fluxo de
capitais e se preparar até para bolhas ou quedas abruptas em mercados de ações (lá
fora) e de commodities, tropeços chineses e protecionismos vários. O mundo está ficando
um lugar ainda mais perigoso.
----------------------------------------
O Globo - 05/11/2010
Saída fácil
Regina Alvarez
Esse filme nós já vimos. Passada a eleição, o governo volta à carga para aprovar no
Congresso o retorno do imposto do cheque. A velha CPMF ou uma contribuição
substituta, já em tramitação, que é a CSS. Tudo em nome de uma causa nobre, que é
garantir mais recursos para a saúde. E agora com o reforço dos governadores eleitos,
que engrossam o coro por mais recursos.
O presidente Lula nunca engoliu a derrubada da CPMF em 2007 pelo Senado e culpa até
hoje a oposição por retirar “R$ 40 bilhões da saúde”. Na entrevista de quarta-feira,
voltou ao tema, criando o mote para o discurso de ontem dos governadores do PSB,
previamente articulado com Lula e a presidente eleita, Dilma Rousseff.
Que a saúde precisa de mais recursos, ninguém duvida.
Que o sistema é deficitário, caótico em alguns aspectos, todos sabemos.
Mas também é verdade que a CPMF não era inteiramente aplicada na saúde pelos
governos, o atual e o anterior.
O imposto do cheque serviu para muitos fins: reforçar o orçamento da Previdência, pagar
dívida e engordar o superávit primário.
Os gastos efetivos com serviços e ações de saúde equivaliam a 1,65% do PIB em 1997,
quando a CPMF foi criada. Em 2007, quando o imposto foi derrubado, estavam em
1,66% do PIB, e em 2009 subiram para 1,85% do PIB, graças à emenda 29, que criou
um piso obrigatório para esses gastos. Piso que, na prática, virou teto, com imposto ou
sem imposto.
Esse histórico, no mínimo, serve a uma reflexão.
Será que o problema da saúde se resolve com a criação de mais imposto em um país
com uma carga tributária de primeiro mundo e alguns serviços de terceiro? No ano
passado, o ministro José Temporão liderou uma articulação no Congresso em defesa da
CSS. A contribuição chegou a ser aprovada na Câmara e agora depende só de um
destaque, que teria de ser derrubado, mas o projeto do deputado Pepe Vargas (PT-RS)
precisa retornar ao Senado e lá o governo só terá maioria ampla no ano que vem.
Se usar o rolo compressor de início de mandato, com a base que conquistou nas urnas, a
presidente eleita tem boa chance de aprovar o imposto do cheque em 2011 e então
teremos a reprise do filme que já assistimos: a saúde sendo usada como desculpa para o
aumento da carga tributária já extorsiva.
Não seria mais coerente cumprir as promessas de campanha e negociar uma reforma nos
tributos, mesmo que pontual, compensando o aumento da carga com medidas que
estimulem o emprego, como a desoneração da folha de salários, por exemplo? Ou
medidas que desonerem os investimentos e as exportações? Se vai pagar a conta, a
sociedade teria, pelo menos, o retorno assegurado.
Demanda recorde de petróleo...
O Bank of America estima que em 2011 haverá recorde mundial de consumo de petróleo
(vejam no gráfico).
Puxado pelos países emergentes, em especial a China, o preço do barril deve quebrar
novamente a barreira dos US$ 100. A crise na Europa do início do ano e a recuperação
mais lenta dos EUA reduziram pouco o consumo nos países desenvolvidos.
Já o aumento do tráfego aéreo, principalmente nos voos asiáticos, e a venda de carros
em emergentes como o Brasil elevaram o consumo nesses países. Por outro lado, a
Opep, que reúne os principais países exportadores de petróleo, não aumentou o ritmo da
produção, o que deve puxar os preços para cima.
“O dado mais recente da Opep, referente ao mês de setembro, mostrou que a produção
ficou em 26,8 milhões de barris por dia, no mesmo patamar dos últimos meses.
Consequentemente, os estoques de petróleo, principalmente da Ásia, estão caindo em
ritmo acelerado”, destaca o BofA.
...pode pressionar preços no Brasil
Adriano Pires, do CBIE, diz que, caso esse cenário se confirme, haverá pressão sobre os
preços da gasolina no Brasil. Isso porque o país ainda é importador de diesel e desde
janeiro também vem importando gasolina para aumentar a oferta interna. Além disso, o
preço do álcool, que é misturado à gasolina, está em alta, por causa da cotação do
açúcar no mercado internacional.
— Acho que a crise nos EUA e na Europa vai conter uma escalada nos preços do petróleo.
Mas se o cenário do BofA acontecer, teremos pressão sobre os combustíveis também no
Brasil — avalia Pires.
O álcool já registra um aumento nas bombas de 20% desde agosto. A produção de canade-açúcar não acompanhou o crescimento da produção de carros flex no país.
E o uso da cana para produção de açúcar diminui a oferta da matéria-prima.
COM ALVARO GRIBEL
----------------------------Valor Econômico - 05/11/2010
Decisão do Fomc eleva risco de inflação no
Brasil
Eduardo Campos
O quadro de recessão nas economias desenvolvidas, que leva o Federal Reserve (Fed),
banco central americano e outros bancos centrais a adotar medidas de estímulo pouco
ortodoxas, aparentemente, dá força à visão de um ambiente global deflacionário.
Mas a situação não é tão simples assim. Segundo o economista-sênior do Espírito Santo
Investment Bank, Flávio Serrano, o quadro atual, no qual o baixo crescimento é
combatido com firmes injeções de liquidez, gera uma distorção no preço dos ativos em
âmbito mundial.
O caso mais evidente são as commodities, que seguem ganhando valor apesar dos
fundamentos adversos. O índice de matérias-primas CRB sustenta firme tendência de
alta e volta a registrar pontuações não observadas desde o começo de outubro de 2008,
acima dos 310 pontos.
Dólar comercial cai forte e vale menos de R$ 1,70
Os preços não são puxados apenas pela relação oferta/demanda, mas são inflados pela
desvalorização do dólar e pelo aumento da liquidez mundial.
De acordo com Serrano, matérias-primas mais caras geram benefícios para os países
exportadores. Um deles é o efeito preço, quando mesmas quantidades geram mais
receitas. No entanto, tal efeito pode ser compensado pela variação da taxa de câmbio.
Ou seja, se o preço sobe em dólar, mas o dólar perde valor, o resultado pode ser nulo.
Acontece que agora, a alta de preço das matérias-primas supera a depreciação cambial.
Então, o efeito preço é positivo. Usando o CRB como exemplo, o índice tem alta de
10,20% em 2010, contra uma queda do dólar comercial de 3,73%.
Em economias emergentes, como Brasil, as commodities têm relação com estrutura
básica da economia e/ou grande correlação com os alimentos.
Outra particularidade dos emergentes
preponderante na cesta de consumo.
é
que
o
grupo
alimentação
tem
peso
Toda a essa análise inflacionária tem de levar em conta a conjuntura. Se o ambiente
doméstico é de baixo crescimento não há com o que se preocupar. Mas aqui no Brasil
temos como colocar gasolina nessa fogueira, pois o crescimento doméstico é firme.
"Tem a possibilidade de que esses choques externos se propaguem para outros setores
da economia. Por isso da expectativa de atuação do Banco Central, subindo os juros para
impedir essa contaminação", conclui Serrano.
O sócio responsável por renda fixa e câmbio do Banco Modal, Luiz Eduardo Portella,
também enxerga esse risco de inflação maior no mercado local em função desse
comportamento explosivo das commodities.
Para o especialista, o Banco Central (BC) tem que rever logo a sua avaliação quanto à
contribuição do ambiente externo, que continua sendo de viés deflacionário. Caso
contrário, a as expectativas de inflação podem começar a subir com força.
Portella também aponta para um exemplo prático dessa conjuntura de matérias-primas
gerando inflação.
Na terça-feira, o Banco Central da Austrália subiu de forma inesperada a taxa básica de
juros de 4,5% para 4,75%, citando os riscos inflacionários provenientes do mercado
externo.
Ainda de acordo com Portella, essa recente valorização das matérias-primas pode
resultar em forte alta da inflação local já em dezembro, janeiro e fevereiro.
Voltando ao pregão de quinta-feira, o dólar comercial seguiu os pares externos e tombou
1,35%, para R$ 1,678.
Eduardo Campos é repórter
-----------------------------------
ECONOMIA E OUTRAS NOTÍCIAS
O Globo - 05/11/2010
Educação segura avanço do Brasil em
ranking da ONU
País sobe no IDH, mas é lanterna, com o Zimbábue, em anos de estudo
O Brasil subiu quatro posições no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), das Nações
Unidas, passando do 77º para o 73º lugar no ranking, entre 169 países. Mudanças na
metodologia para calcular o bem-estar da população mundial, no entanto, impediram que
o Brasil avançasse mais. O pior desempenho foi o da educação, que passou a ser
apurado pela média de anos de estudo e pela expectativa de escolaridade. Antes, era
pela taxa de analfabetismo e matrículas nos três níveis de ensino. Pelo novo critério, o
Brasil tem hoje a mesma média de anos de estudo que o Zimbábue, o país africano com
o pior IDH do mundo. A ONU também criou um conceito amplo de desigualdade, que,
além da renda, passa a considerar saúde e educação. Nesse quesito, o Brasil fica em 88º
lugar, recuando 15 posições no ranking geral.
Brasil sobe no IDH, mas educação patina
País pula 4 posições no ranking, mas escolaridade trava desenvolvimento
Martha Beck, Flávia Barbosa, Cássia Almeida e Clarice Spitz
BRASÍLIA e RIO
O Brasil subiu quatro posições no ranking global de bemestar das populações em 2010,
para o 73º lugar entre 169 países, segundo o mais novo Relatório de Desenvolvimento
Humano (RDH), que completa 20 anos e foi lançado ontem em Nova York. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro, calculado sob a nova metodologia do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), passou de 0,693 para
0,699. A escala varia de zero, o pior, a 1, o melhor. A edição comemorativa de duas
décadas faz uma avaliação do desenvolvimento nos últimos 40 anos e conclui: a
educação é uma barreira ao progresso do Brasil e é a mais grave privação imposta à
nossa sociedade.
A escalada brasileira de quatro posições foi o melhor desempenho no ranking no ano
passado, segundo o Pnud. Os dados do IDH refletem o país de 2009 para a maioria dos
indicadores.
O Brasil melhorou em todas as dimensões do desenvolvimento: saúde, educação e
renda. Apesar dos elogios aos avanços inegáveis do país em 40 anos, especialmente na
última década, o Pnud ressalta que a permanência de desigualdades históricas — como
as de renda e entre homens e mulheres — continua sendo um forte limitador do
desenvolvimento.
Quando o IDH brasileiro é ajustado para refletir a diferença entre os mais privilegiados e
os mais privados de acesso a renda, saúde e educação, ele baixa para 0,509 e o Brasil
cai 15 posições no ranking global, deixando o grupo de alto desenvolvimento no qual
está desde 2007 para o de médio.
Com mudança, país mais longe do topo
Além disso, o Pnud aprimorou sua metodologia, e isso expôs os enormes desafios que o
Brasil tem pela frente na educação. Pelo cálculo antigo, nosso IDH era de 0,813. Na nova
fórmula, esse número caiu para 0,699 — houve redução para muitos países, porque os
critérios que medem o desenvolvimento se tornaram mais exigentes. Como o objetivo
continua sendo chegar a 1, ou seja, ao topo, na prática o Brasil terá que suar mais a
camisa para alcançar a Noruega, primeira colocada da lista e cujo índice é 0,938.
— A grande característica do Brasil nos últimos anos, sobretudo desde 2000, é o avanços
nas três dimensões.
Na educação, chama atenção o aumento dos anos médios de estudo. Mas ainda restam
desafios na melhoria da qualidade do ensino. Nos anos esperados de estudo para as
crianças, há muito a ser feito — afirmou o economista do Pnud e coordenador do
Relatório de Desenvolvimento Humano no Brasil, Flávio Comim.
Para o aniversário de 20 anos, o Pnud alterou a fórmula de cálculo do IDH e os critérios
de avaliação de renda e educação. No primeiro caso, o Brasil não foi afetado. Mas a
substituição de taxas de analfabetismo e matrícula pela escolaridade — média de anos de
estudo de quem tem mais de 25 anos e expectativa para as crianças matriculadas hoje —
impôs um grande desafio.
Ficou evidente que quantidade de pessoas que leem e escrevem e de crianças
matriculadas não se traduz necessariamente em qualidade. Foi a troca de parâmetros
que acabou reduzindo o valor do IDH brasileiro.
— Surgiu um novo IDH que elevou parâmetros, especialmente para educação.
Isso provocou uma revisão generalizada no ranking global — explicou Comim. — Taxa de
matrícula, por exemplo, é um indicador muito pobre que diz apenas se um indivíduo está
ou não registrado numa escola.
A média de escolaridade para pessoas com mais de 25 anos no Brasil é de 7,2 anos. Pelo
critério do Pnud, o indicador ideal seria o que foi registrado nos Estados Unidos em 2000,
13,2 anos. Outra dificuldade está na expectativa de anos de estudo para crianças que
ingressam nas salas de aula. No Brasil, são 13,8 anos, e o considerado ideal para o
desenvolvimento humano seriam os 20,6 anos registrados na Austrália em 2002.
— Estamos falando agora de olhar para as estatísticas com mais rigor.
O Brasil ainda tem muito o que avançar — afirmou o Comim.
Gasto com ensino é pouco, diz analista
Para Marcelo Medeiros, professor da UnB, o importante é avaliar se “o país está
chegando onde deveria, diante do tamanho da nossa economia”: — O gasto com
educação ainda é pouco se comparado com o gasto com a estabilidade macroeconômica.
Para a professora da UFRJ Lena Lavinas, o avanço de quatro posições do Brasil no
ranking do IDH não reflete os avanços sociais vividos pelo país nos últimos anos, como
“a forte redução da pobreza e da miséria”: — Essa posição não reflete a expansão do
emprego, do ensino técnico e a inclusão no terceiro ciclo educacional. Sem contar o
aumento nos gastos com saúde.
O indicador de anos de estudo, que substituiu a taxa de matrícula e de analfabetismo na
dimensão educacional, caminha muito devagar, segundo a professora: a cada dez anos,
acrescenta um ano à média do país.
Para o Pnud, tão importante para o desenvolvimento quanto gastos elevados e
crescimento econômico são medidas com foco, continuadas e abrangentes, que
dependem de decisão política. A experiência do Ceará com ações voltadas à infância é
citada como exemplo, bem como os programas de transferência de renda.
----------------------------Folha de S.Paulo - 05/11/2010
Brasil e emergentes atacam medida do Fed
O Brasil e outros países emergentes atacaram a decisão do Fed (BC dos EUA) de injetar
na economia americana US$ 600 bilhões. Para o presidente Lula, a ação revela falta de
solidariedade, e "mediocridade política" e "irresponsabilidade".
Teme-se que a medida gere grande fluxo de dinheiro para fora dos EUA, valorizando
moedas de emergentes e levando a perda de sua competitividade.
Emergentes atacam decisão dos EUA
Países criticam pacote de US$ 600 bi e ameaçam se unir para adotar medidas a
fim de coibir entrada de capital estrangeiro
Em artigo, presidente do Fed não cita efeitos da medida no setor externo, se
restringindo à economia americana
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
O Brasil e vários outros países emergentes criticaram ontem a decisão dos EUA de
inundar a economia mundial com US$ 600 bilhões. O temor é que o programa de compra
de títulos da dívida americana, anunciado anteontem pelo Fed (o banco central
americano), provoque um grande fluxo de dinheiro para fora dos EUA.
Essa irrigação de dólares pode valorizar as moedas dos países emergentes -o que levaria
à perda de competitividade dessas economias.
Do Brasil aos asiáticos, passando pelos europeus, diversos governos ameaçam tomar
medidas para controlar a entrada de capital estrangeiro.
Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, "essa política de jogar dinheiro pelo avião só
vai servir pra desvalorizar o câmbio e poderá gerar bolha nos países que estão
comprando dólar".
A ameaça mais contundente veio do governo tailandês, que disse que o BC local já está
conversando com colegas da região, que estariam prontos para tomar medidas para
coibir a entrada de capital especulativo.
Na China, um assessor do banco central local disse que o surgimento de mais uma crise
será "inevitável" se os países continuarem a imprimir moeda "sem limite".
A Coreia do Sul, um dos raros países que, ao lado do Brasil, agiram para conter o fluxo
de capital estrangeiro, disse que estuda mais medidas de controle de capital. O país, por
sinal, será a sede da reunião de chefes de Estado do G20 na semana que vem, que dever
ser dominada pela guerra cambial.
Já a Turquia, que elevou suas reservas para o maior nível histórico para conter a alta
cambial, disse que a decisão norte-americana foi tomada em "um ambiente desesperado"
e pode ser "um tiro pela culatra".
Apesar das reclamações, as grandes Bolsas globais decolaram com o plano do Fed, e as
principais moedas se valorizaram ante o dólar.
DESENVOLVIDOS
As críticas, porém, não ficaram restritas somente aos emergentes. Alguns dos grandes
europeus, como a Alemanha, também não esconderam sua preocupação.
Para a ministra francesa Christine Lagarde, a reação dos países emergentes à medida do
Fed "confirma a necessidade imperativa de criar ferramentas para acalmar o sistema
monetário".
Nos EUA, a principal manifestação ontem apareceu em um artigo do presidente do Fed,
Ben Bernanke, no jornal "The Washington Post". O texto chama a atenção pelo que deixa
de dizer: Bernanke explicou a decisão sem fazer nenhuma referência ao efeito fora dos
EUA.
No artigo, ele classificou "como fortes e criativas" as medidas tomadas pelo Fed desde
2008 para ajudar a estabilizar a economia e o sistema financeiro.
-------------------------------Correio Braziliense - 05/11/2010
Brasil melhora renda, mas continua desigual
O país de 185 milhões de habitantes, segundo a última atualização do Censo, está
dividido entre o atraso e o futuro. O Índice de Desenvolvimento Humano coloca o Brasil
em 73º lugar, com imensos desafios a vencer. Um deles consiste em retirar da pobreza
famílias como a de Maria Bethânia da Luz, moradora do Itapoã. A discriminação das
mulheres no mercado de trabalho é outra barreira. Rejane Lima, promovida no emprego,
prova que é possível reverter o quadro. Levantamento do Correio mostra que o Distrito
Federal é a unidade da Federação mais povoada do país, com o maior crescimento
demográfico desde 2000.
Com a cara no futuro e os pés no atraso
Brasil fica na 73ª posição do ranking de Desenvolvimento Humano. Renda
melhorou, mas houve uma piora na qualidade da educação
Liana Verdini
Rosana Hessel
Apesar de o forte crescimento econômico dos últimos anos e a ampliação dos programas
sociais terem melhorado significativamente a renda dos brasileiros, elevando o país ao
posto de 8ª maior economia mundial, a classificação do Brasil no novo Índice de
Desenvolvimento Humano Global (IDH) ainda mostra uma nação se debatendo entre o
atraso e o futuro. Ao aparecer na 73ª posição em um ranking do qual fazem parte 169
países, com pontuação 0,699, apresenta uma faceta de Primeiro Mundo, mas com os pés
atolados em desigualdades semelhantes às de países africanos, que ficam na rabeira do
levantamento preparado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud). Mesmo com todos os avanços, o Brasil está distante de vários dos vizinhos
latino-americanos.
Lançado em 1990, o IDH completa 20 anos com uma nova roupagem, adaptando muitas
das sugestões feitas por especialistas e representantes de governos. O indicador avalia o
nível de expectativa de vida, os anos médios de estudo, os anos esperados de
escolaridade e a renda nacional bruta por habitante, com vários parâmetros novos e mais
qualitativos. Na liderança do ranking está a Noruega, seguida da Autrália e Nova
Zelândia. Na lanterna, aparecem Níger, República Democrática do Congo e Zimbábue,
este último, devastado pela violência e pela disseminação descontrolada a Aids.
“Quando comparamos os indicadores do Brasil com os de países vizinhos como Chile e
Argentina, fica claro que ainda há muito o que melhorar em todos os quesitos,
principalmente em educação, no qual podemos perceber uma maior deficiência”, avalia,
em entrevista ao Correio, o chefe de pesquisa do escritório mundial do Relatório de
Desenvolvimento Humano (RDH), Francisco Rodriguez. “O Brasil precisa de um
crescimento em torno de 30% na renda per capita para acompanhar esses dois vizinhos,
o que é pouco. Essa diferença, porém, só será tirada com um salto substancial na
melhora da educação”, afirma.
O novo indicador só pode ser comparado em um recorte menor do que os 20 anos do
estudo, ou seja, somente a partir de 2000, quando os parâmetros atuais começaram a
ser medidos e há um histórico para isso. “A mudança deveu-se à complexidade atual das
economias e da sociedade, sem contar que existem hoje mais indicadores, mais
qualitativos, para avaliação do que duas décadas atrás”, explica o economista e
coordenador do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) do Pnud Brasil, Flávio
Comim.
Situação grave
No ano passado, o Brasil ocupava a 75ª colocação em um ranking que utilizava
indicadores diferentes para avaliar a educação e medir a renda. “O desenvolvimento
humano no Brasil desenha uma clara tendência de melhora nas duas últimas décadas”,
avalia Comim. “O índice deste ano é completamente novo, é o início de uma nova série”,
ressalta.
Com a pontuação 0,699 (quanto mais próximo de 1 no indicador, menos desigual é o
país), o Brasil está enquadrado no patamar considerado elevado. O indicador está acima
da média global, de 0,455, mas bem abaixo da média dos países mais ricos, que
integram a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de
0,754.
Em termos de desigualdade, a situação brasileira ainda é bem grave quando os dados
são analisados separadamente. Nesse item, o país perde 15 posições em um total de 139
países analisados pelo Pnud, com um índice de 0,509. Já no ranking da desigualdade de
gênero, o Brasil está abaixo da classificação geral, na 80ª posição entre 138 nações,
situação tão grave quanto a dos demais vizinhos da América do Sul. E em termos de
pobreza, o índice do Pnud aponta que 8,5% dos brasileiros têm pelo menos duas
privações, entre 10 indicadores considerados no estudo. Esse percentual está acima dos
5,2% da população que vive com menos de US$ 1,25 ao dia e se encontram abaixo da
linha de pobreza.
Dos indicadores que compõem o IDH brasileiro, o melhor resultado é o relativo à
expectativa de vida. São 72,9 anos, enquanto o país com maior longevidade é o Japão,
com 83,2 anos. Os indicadores de educação deixam o país em um patamar intermediário.
São 7,2 anos de estudo, enquanto nos Estados Unidos, país de referência nessa área, as
pessoas estudam, em médio, 13,2 anos. Em termos de anos esperados de estudo — que
leva em consideração a repetência, distorção série-idade, evasão e abandono —, no
Brasil são 13,8 anos, e, na Austrália, país com melhor desempenho, 20,6 anos.
Mediano mesmo é o comportamento do padrão de vida no Brasil. A renda nacional bruta
per capita prevista pelo Pnud para o final de 2010, de US$ 10,6 mil, só supera a do
Paraguai, entre os parceiros do Mercosul. Na Argentina e no Uruguai, o volume é
superior: US$ 14,6 mil e US$ 13,8 mil, respectivamente. A renda per capita brasileira
chega a ser menor do que até que a da Botsuana e do Gabão, que giram em torno de
US$ 13 mil.
O Brasil também perde para outros países da América Latina, como Chile, México,
Bahamas, Panamá, Costa Rica e Peru, todos com pontuação acima de 0,7 no novo IDH.
“Esse quadro não mudou muito nos 20 anos em que o índice é medido. Somente houve
uma troca de posições no ranking entre o Brasil e a Venezuela”, informa Comim. Entre os
países do Bric (bloco de economias com crescimento acelerado e apontados como futuras
potências), o Brasil está atrás da Rússia (0,719) mas à frente da China (0,663) e da
Índia (0,519).
Diferença
Questionado sobre como o próximo governo deverá melhorar o IDH brasileiro e reduzir a
desigualdade social e econômica do país, Rodriguez afirma que a estratégia da
presidente eleita, Dilma Rousseff, deverá ser baseada em três itens que compõem a base
de cálculo do indicador, ou seja, a renda, a saúde e a educação. “Esses três componentes
são partes do desenvolvimento humano. Há países de baixo crescimento econômico, mas
com qualidade de educação e saúde muito melhor que no Brasil. A Coreia do Sul e a
Indonésia, no entanto, conseguem combinar boas taxas de crescimento e
desenvolvimento em educação e saúde”, diz ele. “Esses dois países deveriam servir de
exemplo para o Brasil melhorar seu IDH.”
A melhora na educação, com certeza, poderá dar uma guinada na vida de pessoas como
Lorraine de Souza Lopes, que está no auge da adolescência, aos 15 anos. No lugar dos
passeios, descobertas e desafios típicos das jovens de sua idade, ela tem
responsabilidades de gente grande: manter e cuidar da filha Ludmila, de seis meses.
Com o apoio da avó, Maria das Graças, a gravidez não impediu Lorraine de seguir os
estudos da 5ª série do ensino fundamental.
“Os períodos mais difíceis foram as últimas semanas de gestação, pois não tinha como ir
às aulas. A solução foi a professora passar os trabalhos e eu fazê-los em casa. Assim,
não perdi o ano letivo”, conta Lorraine. A jovem ainda não sabe qual profissão seguirá,
mas está determinada a se formar. “Se eu não estudar, como poderei dar um futuro para
a minha fofinha?”, indaga.
O economista do Pnud ressalta a importância da força de vontade demonstrada por
Lorraine. É o tipo de comportamento que fará a diferença mais à frente e o que o faz
acreditar na tendência de uma evolução positiva no IDH em geral, assim como na renda
nacional bruta, na expectativa de vida e nos anos esperados de escolaridade. “Em alguns
países houve uma melhora devido ao aumento da renda. Já a qualidade do ensino
apresentou queda”, destaca Comim.
Sendo assim, os governos, especialmente o do Brasil, não podem perder a oportunidade.
Devem conciliar o crescimento econômico com a melhora da qualidade da educação. Foi
nesse quesito a única queda registrada no Brasil desde 2000. “A melhora da educação
será o fator decisivo na mudança da qualidade de vida dos brasileiros”, sentencia.
(Colaborou Gustavo Braga)
----------------------------------
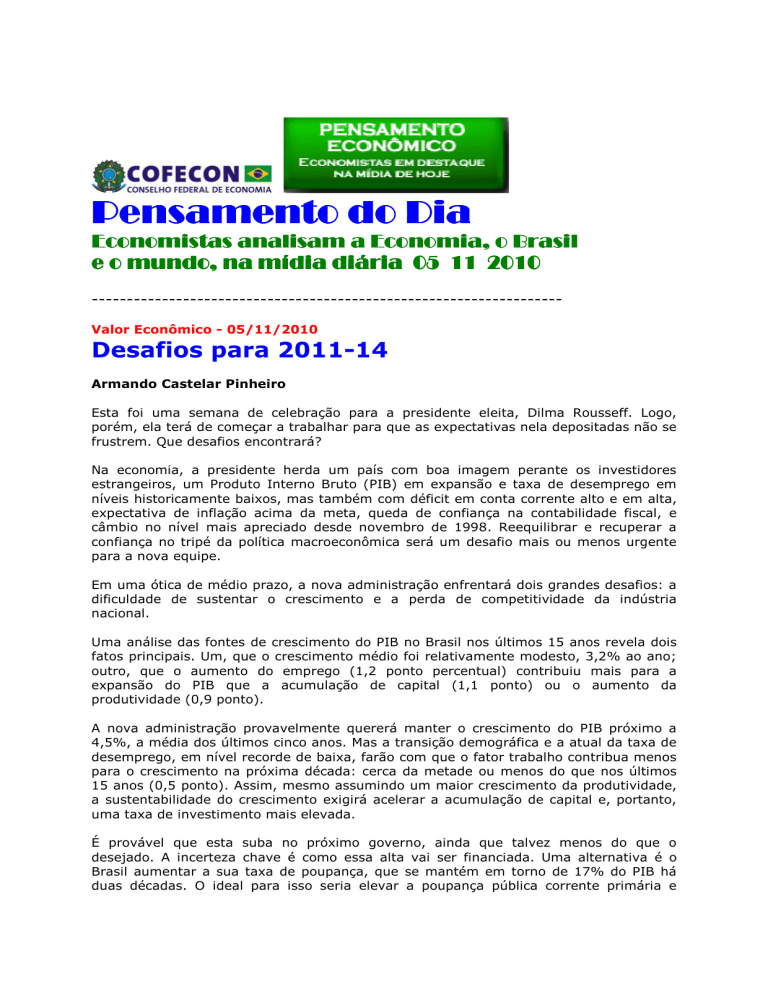
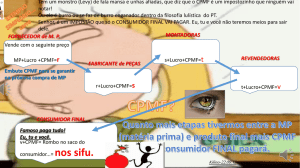
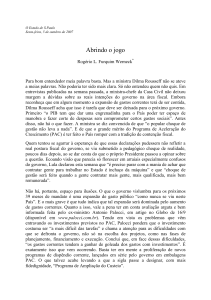
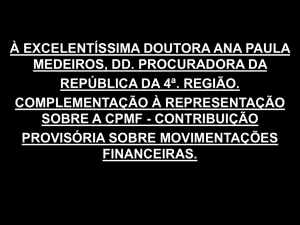
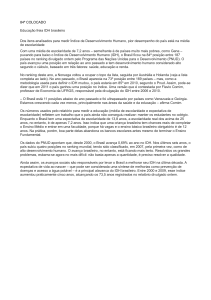
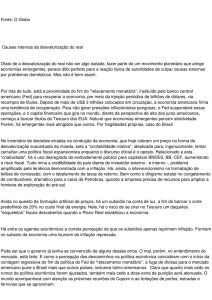
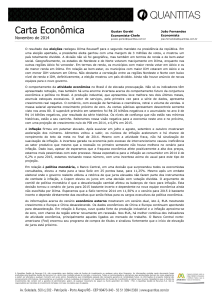

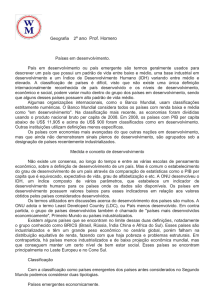
![A Tribuna [ ] - Sinduscon-ES](http://s1.studylibpt.com/store/data/005785798_1-d006c73968294ca4691eaf4f7c4c5abb-300x300.png)