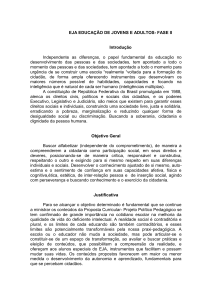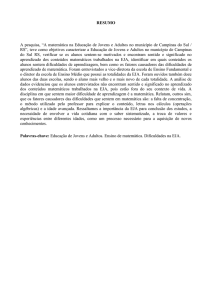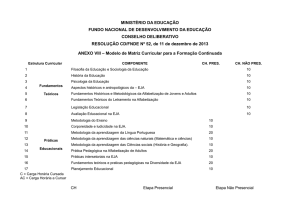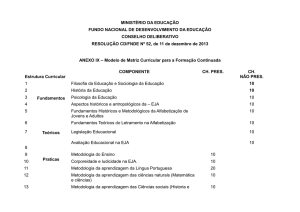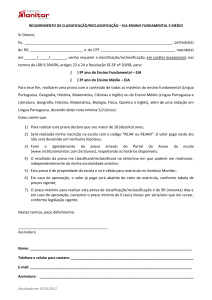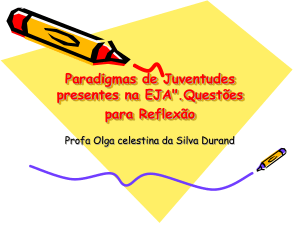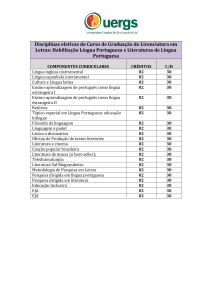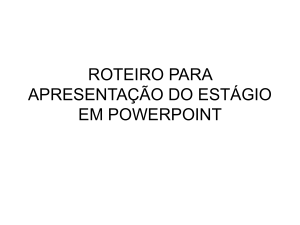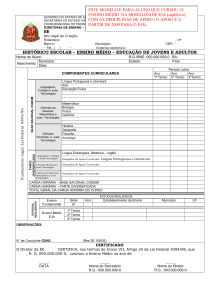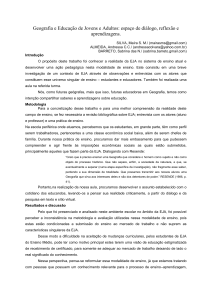EJA NO CONTEXTO DE INCLUSÃO/ EXCLUSÃO SOCIAL: BREVE
ANÁLISE
DOLINSKI, Silvia Hass1- UEPG
Grupo de Trabalho: Políticas públicas, avaliação e gestão da educação
Agência Financiadora: não contou com financiamento
Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar o contexto da inclusão e exclusão social no que
diz respeito a EJA. Faz-se uma abordagem na perspectiva de Martins e Kuenzer, também a
interlocução entre os autores da Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos. Para cumprir com esse objetivo, busca-se traçar uma breve análise da Educação de
Jovens e Adultos no Brasil. Busca-se a contextualizar as políticas neoliberais a partir da
década de 1990 e inserção do Brasil no conjunto de relações internacionais. A partir da
literatura pertinente discutiram-se os conceitos de inclusão e exclusão e suas contradições em
relação aos princípios que fundamentam as políticas da EJA. Utiliza-se dos recursos da
pesquisa bibliográfica, sob uma abordagem histórica, promovendo-se uma educação orientada
para a emancipação, no sentido de o trabalhador dominar todas as esferas produtivo-culturais
da vida social. Refletir sobre isso cotidianamente talvez ajude a tomar decisões. Assim, faz-se
necessário estudar melhor e sistematizar diferentes experiências que podem ter ensinamentos
para a construção de uma proposta pedagógica de educação de jovens e adultos que sirva aos
interesses dos trabalhadores e de um projeto de sociedade radicalmente democrática,
reconhecendo a necessidade de desenvolver as capacidades de pensar, de produzir e de
transformar a realidade em benefício da humanização para uma educação transformadora.
Finalizando, com base na literatura estudada, fazem-se algumas indicações à história da EJA
demonstrando que os esforços não surtem os efeitos esperados e, entre avanços e retrocessos,
procura-se a alternativa correta para resolver esse grave problema de exclusão social.
Palavras-chave: EJA. Inclusão/exclusão. Políticas Públicas.
Introdução
No presente estudo faz-se uma análise do contexto da inclusão e exclusão social no
que diz respeito a educação de jovens e adultos. Com abordagem na perspectiva de Martins
(2003, 2007) e Kuenzer (2005) tece-se interlocução com os autores da educação básica na
1
Pedagoga do CEEEBJA-UEPG, professora PDE da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Mestre em
Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná.
67
modalidade EJA. Para atingir o objetivo proposto busca-se traçar uma breve análise da EJA
no Brasil, contextualizando as políticas neoliberais a partir da década de 1990 e inserção do
Brasil no conjunto das relações internacionais. Discutem-se os conceitos de inclusão e
exclusão social e suas contradições.
Ainda, neste contexto os estudos promovidos pela UNESCO (2003) mostram que o
Brasil é um dos países campeões, no cenário mundial, no tocante às desigualdades sociais,
tendo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) classificado entre um dos mais baixos
entre os países estudados em todo o mundo. Um dos fatores apontados como responsável por
esse quadro foi o da concentração de renda aqui existente, fato que produz inexoravelmente
ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Para promover o desenvolvimento
há necessidade de se enfrentar dificuldades que merecem ser tratadas de modo a que
construam estratégias capazes de neutralizar os efeitos perversos, advindos dessa
“mundialização da economia”, que refletem diretamente na educação. Faz-se necessário que
ela seja urgentemente vista como fator importante nesse desenvolvimento, considerando as
suas potencialidades para elevação do nível de escolaridade, promovendo o nível de
consciência cidadã. Dos esforços individuais e mesmo governamentais de implementação de
programas educacionais, em especial, para o setor, emergem dificuldades de diferentes
naturezas, sofrendo as conseqüências das desigualdades sociais. A exclusão social é um dos
mais graves e persistentes problemas desta situação que, embora inserido na dimensão social
do desenvolvimento, afeta diretamente o crescimento e desenvolvimento sustentável da
educação de jovens e adultos (EJA) repercutindo como políticas compensatórias.
Qual o sentido da EJA no mundo globalizado que se instaura numa política com mais
desiguladade social? A exclusão é um desses efeitos contraditórios permeada por uma
sociedade vivenciada na contradição em que o mundo da produção capitalista amplia-se nas
desigualdades sociais. Tal contradição materializa-se na fragmentação e descontinuidade dos
projetos, sendo esta uma marca presente na EJA na atualidade.
Os recursos bibliográficos utilizados são de uma abordagem histórica, procurando-se
privilegiar a abordagem pedagógica, sem, no entanto, deixar de considerar as suas
implicações políticas. Opta-se por algumas indicações à história da EJA demonstrando que os
esforços não surtem os efeitos esperados e, entre avanços e retrocessos, procura-se a
alternativa correta para resolver esse grave problema de exclusão social, agravado no contexto
da fase atual de internacionalização do capital.
68
Uma nova história da educação brasileira
Diante da dialética inclusão/exclusão e na “consciência da inconclusão humana”
(FREIRE, 1987, p.72), a educação de jovens e adultos reconhece estar aí a razão para a
própria educação, uma vez que o indivíduo educa-se ao longo de toda a vida. A sociedade,
pelos desafios que impõe às pessoas, molda-lhes seu desenvolvimento psicológico. Paiva
(1993) comenta que a diversidade de atividades a que o homem deve se submeter e em cujos
trabalhos prescinde da leitura e da escrita compromete tanto a qualidade como a
produtividade. As demandas do mercado de trabalho exigem qualificação, domínio técnico,
adequação às mais diversas situações. O processo de aprendizado deve ser contínuo.
É nesse sentido que deve atuar a EJA, conduzindo o adulto a perceber a realidade e
auxiliá-lo na sua transformação, para que possa exercer consciente e responsavelmente sua
cidadania.
A esse respeito, Silva (2008, p. 5) acentua que “a exclusão social pode ser encarada
como um processo sócio-histórico caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais, em
todas as instâncias da vida social, com profundo impacto na pessoa humana, em sua
individualidade”. Assim, a exclusão remete seu sentido à Educação de Jovens e Adultos, e
atribuindo a desigualdade social, miséria, injustiça, exploração da pobreza e marginalidade
das pessoas ou grupos sociais que são de uma maneira ou outra, excluídos de ambientes,
situações ou instâncias. Percebe-se o universo de jovens e adultos excluídos da escola, que na
maioria das vezes são tratados como “uma massa de alunos, sem identidade qualificados sob
diferentes nomes e relacionados diretamente ao chamado fracasso escolar” (ANDRADE;
SILVA, 2004, 2008, p.1). Isso mostra que os alunos da EJA tem uma condição social,
política e cultural desfavorecida e que é a sua condição para compreender o lugar reservado
para a sua educação.
Conforme afirmação de Haddad (2000, p.122):
[...] Como sabemos, em grupos pobres, excluídos de condições sociais básicas, com
frustradas experiências anteriores, não basta oferecer escola; é necessário criar
condições de freqüência, utilizando uma política de discriminação positiva, sob risco
de mais uma vez culpar os próprios alunos pelos seus fracassos.
Com as transformações do capitalismo internacional tem-se atribuído à educação
escolar um importante papel nas estratégias de modernização econômica. Em se tratando
desta questão, Haddad (2000) confirma que em meio a um discurso produtivista que confere à
69
educação escolar uma importante centralidade no desenvolvimento socioeconômico do país,
tem-se processado uma crescente desobrigação governamental face aos direitos sociais, dentre
eles, os educacionais. A educação de jovens e adultos tem sido uma das modalidades de
ensino alijadas deste processo.
Nessa direção buscou-se compreender o processo de globalização em suas dimensões
econômicas, políticas e sociais. Para Vieira (2004), estas intensas trans-formações estão
alicerçadas na internacionalização do capital e nas novas tecnologias de base.
Economicamente, o mundo é visto como uma unidade operacional única, na qual crescente
integração e universalização da economia atua além das fronteiras de Estado.
Nesse
contexto, constata a autora que a globalização sustenta-se, portanto, em novas formas de
organização de trabalho e produção. A aceleração das comunicações e dos transportes colocase num mundo único, diminuindo as distâncias e possibilitando, em tempo real, o acesso a
informações e conhecimentos que estão sendo processados nos mais longínquos espaços do
planeta.
Por outro lado, afirma a autora, “se as últimas décadas deste século foram
caracterizadas como épocas de transformações intensas no plano sócio-político, cultural e
econômico, conformaram-se também numa época de crises e incertezas” (VIEIRA, 2004, p.
02). A alternativa política neoliberal constitui-se num mecanismo de recomposição capitalista
que visa a aumentar os níveis de acumulação de capital, modificando o padrão de exploração
da classe trabalhadora. Como a prioridade é posta na acumulação ampliada de capital,
assegurando-se altos níveis de competitividade no mercado mundial, ocorre significativa
redução do setor público, reduzindo-se o intervencionismo estatal na economia e na regulação
do mercado.
Segundo as afirmações de Saviani (1997, p.61), “as políticas neoliberais e
neoconservadoras buscam aliar as políticas educacionais às lógicas do mercado havendo o
predomínio de uma concepção produtivista nas política educacionais”. Nesse sentido, há
centralidade na educação. Para Vieira (2004) isso prova que os trabalhadores são submetidos
a um perfil profissional adequado à nova configuração social e deles são exigidas as
competências necessárias. Há uma evidente preocupação com o papel da educação na tarefa
de integrar o Brasil à economia mundial, competitiva e globalizada. Nesse sentido a autora
acentua que esta concepção produtivista é também difundida por organismos internacionais
70
como o Banco Mundial, cujos esforços situam-se na adequação da educação às demandas
requeridas pelas transformações econômicas e tecnológicas advindas com a globalização.
No entendimento de Soares (1995) as mudanças nos padrões produtivos demandam
habilidades que não podem ser preparadas em treinamento de curto prazo, mas necessitam ser
desenvolvidas dentro do sistema educacional regular. Neste sentido, ainda, afirma o autor, a
melhoria da qualidade da educação e a elevação do nível de escola tornaram-se reivindicações
comuns de grupos social e historicamente opostos na divisão social do trabalho. Estas
afirmações supõem que existir uma coincidência entre os interesses capitalistas e a educação
dos trabalhadores, unificando atores sociais que até então comungavam interesses opostos.
Ainda, segundo o mesmo autor, a atual defesa da educação básica reflete o interesse
em assegurar a reprodução ampliada de capital, inserindo-se, portanto, no seio das inúmeras
contradições inerentes aos dilemas da burguesia, face à educação do trabalhador. O
predomínio de uma concepção produtivista nas atuais políticas educacionais, ao mesmo
tempo que se baseia no discurso da equidade e democratização, estimula a exclusão de
determinadas modalidades de ensino, por meio de desobrigação governamental. É desta forma
que a educação de jovens e adultos dimensiona-se no atual contexto capitalista brasileiro
(SOARES, 1995).
Segundo Jane Paiva (2001), a realidade dos jovens e adultos subescolarizados tem sido
decorrente de um sistema educativo que tanto promove o fracasso da escola, pelo modo como
se apresenta como política pública, quanto à exclusão (em consequência) desses alunos. A
autora ainda confirma que as precárias condições de vida da população, incluem a fome, o
desemprego, o subemprego, o não-trabalho, a falta de oportunidades. A miséria social tem
servido de palco para esse tema.
A esse respeito Jane Paiva (2001, p.27) ainda assevera, “ao considerar o
desenvolvimento das sociedades no mundo, que o conhecimento que se foi produzindo, os
avanços da ciência e da tecnologia foram, também, responsáveis por esse processo de
exclusão”. Mundo que pensava ser a natureza inesgotável, e que os recursos naturais não
acabariam nunca. Que optou pelo uso indiscriminado de recursos, reservas e bens nãorenováveis, em nome do progresso capitalista e do desenvolvimento, acabando por se deparar
com uma maioria de pessoas alijadas dos benefícios e do direito às conquistas que
historicamente foram se produzindo.
71
É na perspectiva de Saviani (2004) que as políticas educacionais organizam as
diversas formas de atendimento, para diminuir a exclusão social. Essas políticas remetem às
reflexões sobre a organização da escola pública para dar atendimento às classes populares na
superação do fracasso escolar, constituindo assim uma nova história da educação brasileira.
Dessa forma, o autor afirma que a história ao longo de seu desenvolvimento tem
negado o acesso ao conhecimento para um número significativo de brasileiros, através da
omissão na oferta, pela evasão e repetência. Neste sentido, é importante salientar que as
estatísticas educacionais mostram-se plenamente repletas desses temas que retomam as
produções científicas no e nas propostas legais num contínuo encontro teórico.
Saviani (2004) acentua que numa sociedade capitalista há necessidade de primar por
uma educação em que a escola pública é o espaço que garante a transmissão do conhecimento
acumulado históricamente pela humanidade, considerada a especificidade da educação
escolar. Se houver omissão da escola em relação à transmissão, confirma em favor da
exclusão, e reforça a questão das desigualdades sociais. Ainda, para o autor, o conhecimento
espontâneo é apreendido em todos os outros espaços que compõem a nossa sociedade, porém
o conhecimento científico é sistemático e organizado de forma que este espaço torne-se o
construtor do processo de humanização. Esta argumentação reporta-se a Saviani (2004, p. 03)
quando diz que:
[...] para ser cidadão, isto é, para participar ativamente da vida da cidade, do mesmo
modo que para ser trabalhador produtivo, é necessário o ingresso na cultura letrada.
E sendo essa um processo formalizado, sistemático, só pode ser atingido através de
um processo educativo também sistemático. A escola é a instituição que propicia de
forma sistemática o acesso à cultura letrada reclamado pelos membros da sociedade
moderna.
Por isso, para ser cidadão é preciso participar da vida em sociedade, e necessário se
faz ser um trabalhador produtivo, e ter acesso à escola, que é um processo formal e
sistematizado, tornando uma exigência da sociedade.
A inclusão e exclusão social numa sociedade capitalista
As Diretrizes do Estado do Paraná tratam a Educação de Jovens Adultos como
comprometida com a formação do ser humano que traz como problemática desafiadora à
exclusão social que impera na sociedade capitalista, em diferentes níveis; está atrelada à
72
divisão social do trabalho coletivo, o trabalhador aliena-se, pelo resultado de seu trabalho e
também pelo conhecimento que se tem da produção (PARANÁ, 2005).
Diante disso, afirma-se que é uma formação específica aos cidadãos. O documento
Brasil (2006) afirma que o jovem e adulto retorna à escola pela ausência de escolarização que
o exclui do mercado de trabalho e o sistema capitalista torna-se responsável pelo desemprego
estrutural.
Ainda, o documento defende essa afirmação quando declara que:
[...] não se pode subsumir a cidadania à inclusão no “mercado de trabalho”, mas
assumir a formação do cidadão que produz, pelo trabalho, a si e o mundo. Esse largo
mundo do trabalho – não apenas das modernas tecnologias, mas de toda a
construção histórica que homens e mulheres realizaram, das mais simples,
cotidianas, inseridas e oriundas no/do espaço local até as mais complexas, expressas
pela revolução da ciência e da tecnologia – força o mundo contemporâneo a rever a
própria noção de trabalho (e de desenvolvimento) como inexoravelmente ligada à
revolução industrial. (BRASIL, 2006, p.8).
Nesta perspectiva, a política da EJA reconhece que o trabalho numa ampla dimensão e
dentro dos aspectos formais está intimamente relacionado ao mundo econômico. Sendo assim,
é importante salientar a questão da inclusão, uma das razões da existência da EJA,
considerada sob o ponto de vista do capital e também do ponto de vista do trabalhador. Como
foi discutido sobre o modo de acumulação flexível que interferem na formação dos
trabalhadores, cabe aqui assinalar o que se caracteriza por “inclusão excludente”.
Segundo Kuenzer (2005, p.92-93) são:
[...] as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar
aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a
formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e
superar as demandas do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres
flexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência,
acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente.
Segundo a autora, a “inclusão excludente” consiste na inclusão dos estudantes no
sistema escolar sem os padrões de qualidade exigidos para o ingresso e permanecerem
excluídos do mercado de trabalho e também da sua participação na sociedade.
A “exclusão includente” para Kuenzer (2005) são diferentes estratégias do capital para
excluir o trabalhador do mercado formal, tornando as condições ainda mais desfavoráveis de
trabalho, evidenciando, cada vez mais a exploração por meio da inclusão no trabalho
informal. É simultânea a falácia do discurso de autonomia intelectual com a formação
esvaziada do trabalhador. Cabe aqui ressaltar nas considerações de Kuenzer (2005) que as
73
duas expressões são aparentemente contrárias entre si, mas, estão intimamente relacionadas.
A inclusão excludente admite a exclusão includente e substitui a escolarização básica por uma
formação aligeirada.
Essa discussão também apoia-se em Martins (2003, p.120) com o conceito de
exclusão, quando afirma que “é característico da sociedade capitalista, desde sua origem, a
exclusão, isto é, o desenraizamento. É próprio da sociedade capitalista a tendência de destruir
as relações sociais que não sejam relações capitalistas”. Nesse sentido, o conceito de Inclusão
Escolar que se analisa, revela que é um processo que não tem volta, que está vinculado ao
conceito de capital e forças produtivas. Afirma-se com isso que a Educação está integrada à
sociedade cujas forças também a controlam, a inclusão é contrária a essas forças porque não
conduz, necessariamente, nem à produção, nem ao consumo.
É possível observar que Martins (2003) defende uma concepção de exclusão social
como um processo simultâneo de exclusão e re-inclusão, um processo cíclico e cada vez mais
duradouro por conta do período de reestruturação produtiva. Argumenta ainda que todos na
organização social do capitalismo são excluídos em algum momento e re-incluídos como
mercadoria e mercadores.
Sob este aspecto, a inclusão ocupa o centro dos debates, não apenas porque se
referencia nesses valores sociais, mas porque pode alterar visivelmente este quadro, por isso
Martins (2003, p.38) observa que “toda mudança reivindicada é quantitativa (e, portanto,
reprodutiva), pela ampliação da integração dos marginalizados nos círculos mais amplos da
sociedade de consumo e da alienação que lhe é própria”. Diante disso, concorda o autor que
“todo protesto social e político em nome dos excluídos é feito em nome de providências
políticas de integração dos excluídos na sociedade que os exclui” (idem, p. 38).
Assim, não se pode separar inclusão escolar e transformação social; elas são tratadas
como inadequabilidade da escola, os professores alegam falta de formação específica e apoio
técnico e considerável resistência por parte deles e dos diretores. De fato, esses fatores
existem no âmbito da educação, não há como negar e nem negligênciá-los da sua existência.
Os pontos de vista dos autores mencionados podem se considerar complementares. O que os
separa é que a abordagem da primeira é mais inversa ao segundo, que capta a história da
produção da pobreza a partir dos sujeitos reais. A despeito das considerações que são feitas
sobre os conceitos de inclusão e exclusão, o sociólogo José de Souza Martins qualifica a
conceito de exclusão como inconceituável, impróprio, vago e indefinido substituindo a ideia
74
do “processo de exclusão”, que se atribui mecanicamente todos os problemas sociais e
distorcendo a questão que pretende explicar.
Assim, afirma o autor que a exclusão não existe, o que existem são vítimas de
processos sociais, políticos e econômicos excludentes. Quando concebida como um estado
fixo fatal e incorrigível e não como expressão de contradição do
desenvolvimento da
sociedade capitalista, “a exclusão cai sobre o destino dos pobres como uma condenação
irremediável” (idem, 2003, pp. 14-16).
De acordo com a ideia de Martins não existe exclusão social, o que existe é uma
contradição causada pelos processos sociais, políticos e econômicos que terminam por gerar
uma certa exclusão, pois esses processos estão de acordo com a lógica do sistema, ou seja,
representam as elites que estão no poder, porém de certa forma, a população pobre tem uma
participação nesse sistema, mesmo que seja uma participação precária não significando uma
exclusão.
Inclusão: reconhecimento do jovem e adulto como sujeito
Neste contexto, busca-se também na análise de Santos (2004) na qual assinala que a
educação de adultos exige uma inclusão que tome por base o reconhecimento do jovem adulto
como sujeito. Para o autor é um desafio em pautar o processo educativo pela compreensão e
pelo respeito do diferente e da diversidade: ter o direito a ser igual quando a diferença
inferioriza-o e o ser diferente quando a igualdade descaracteriza-o. Ao pensar no desafio de se
construir princípios que regem a educação de adultos, há de se buscar uma educação
qualitativamente diferente, que tem como perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária,
que a reconhece ao longo da vida como direito inalienável de todos.
Outro ponto de vista para entendimento das políticas públicas para EJA, apresenta-se
na contribuição de Kruppa (2005) quando em seu comentário reconhece, explicitamente, a
existência de jovens e adultos não considerados como cidadãos ou cuja cidadania, no
máximo, constitui do que se espera em uma democracia moderna. Vencer a barreira da
exclusão já está garantido na lei, mas não no cotidiano concreto.
Além do mais, o homem em seu contexto tem consciência de sua historicidade, que
está sendo constantemente desafiado pela realidade. Entende-se com isso que à escola
compete orientar o aluno para que ele assuma, comprometa-se e responda aos desafios que se
encontram nessa realidade, assim modificando-a como a si próprio.
Dessa forma, o
75
conteúdo a ser trabalhado pela escola necessita conter fundamentação e embasamento teóricos
suficientes e satisfatórios para o aluno atuar em sua realidade, respondendo a estes desafios.
Assim orientado, compete então a ele enfrentar esses desafios, modificando seja a realidade
em que ele se insere, seja a si próprio e seu novo perfil será resultado dessas alterações.
Para Saviani (2008, p.07):
[...] o homem não se faz homem naturalmente; “ele não nasce sabendo sentir,
pensar, avaliar, agir.[...]é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo.
Entretanto, para chegar a esse resultado a educação tem que tomar [...] como
matéria-prima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente.”
Por isso, cabe dizer que o ser humano necessita apreender os diferentes saberes
emanados da educação, à medida que são elementos essenciais para que os tornem humanos,
e se apropriem dos objetivos da educação. Dessa forma, junto com o autor, pode-se dizer que
o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos homens. Por
isso, dentro das necessidades do mundo atual, principalmente a urgência de se iniciar o
processo de inclusão da grande massa de excluídos, é preciso que a sociedade tenha preparado
todo o elenco de oportunidades do saber adquirido pelos educandos. Do contrário, esse saber
adquirido se tornaria um jogo de palavras sem finalidades reais para o aluno.
Neste contexto, Pinto (1986, p.36) afirma que “o processo educacional dos jovens e
adultos deve partir do princípio de que o adulto é portador de um saber adquirido em sua
participação na sociedade como trabalhador membro atuante em seu meio social”. Sobre esse
aspecto, faz-se necessário considerar que o método a ser praticado pelo educador de jovens e
adultos deve ser diferente do método aplicado à educação infantil ou regular, uma vez que o
adulto cultiva hábitos de vida que não podem arbitrariamente sofrer modificações.
Considerações finais
Outras possibilidades de educação de jovens e adultos têm sido colocadas, tal como a
proposta de uma educação centrada no reconhecimento do jovens e adulto como sujeito. Estas
precisam ser mais bem estudadas. Deve-se ainda estudar melhor e sistematizar diferentes
experiências que podem ter ensinamentos preciosos para a construção de uma proposta
pedagógica de educação de jovens e adultos que sirva aos interesses dos trabalhadores e de
um projeto de sociedade radicalmente democrática.
76
Sob a perspectiva de Martins pode-se afirmar que os excluídos são vítimas de uma
contradição causada pelos processos sociais, políticos e econômicos que geram a exclusão. O
autor defende uma exclusão social. Kuenzer (2005) afirma que a inclusão e a exclusão estão
intimamente relacionadas. A inclusão excludente admite a exclusão includente e substitui a
escolarização básica por uma formação aligeirada.
Diante disso, percebe-se que na história da EJA houve mudanças que ocorreram, umas
retrocederam e outras contribuíram para o seu aperfeiçoamento e iniciativas centradas em
uma concepção que objetiva a superar a exclusão social; (BRASIL, 2006, p.184) lutar por
políticas públicas de EJA; unir-se a todos aqueles que lutam por políticas públicas para a EJA
no Brasil; criar condições para enfrentar os desafios políticos. Nesta direção afirma-se que há
um compromisso com a “[...] inclusão da população em suas ofertas educacionais” (p. 27),
voltando-se ao entendimento de que a inclusão não se dá somente no âmbito do acesso à
escola, mas assegurando também a permanência nela.
É imprescindível acrescentar que os educadores comprometidos com uma prática
educativa transformadora exerçam na contradição o debate teórico, considerando que esses
esforços não surtem os efeitos que se esperam e, que tanto nos avanços como nos retrocessos,
procuram-se alternativas corretas para resolver o grave problema de exclusão social, que se
agravou no contexto da fase atual imposta pela internacionalização do capitalismo.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Eliane Ribeiro. Os sujeitos educando na EJA. In: CEREJA-Centro de
Referência em Educação de Jovens e Adultos/Alfabetização Solidária. 2004. Disponível
em: http://www.cereja.org.br/arquivos. Acesso em: 10. abr. 2009.
BRASIL. Brasil alfabetizado: caminhos da avaliação. Brasília (DF), dez. 2006. Disponível
em: <http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno...>. Acesso em: 18/11/2010.
BRASIL. Decreto-lei n° 5.840, de 13 de julho de 2006. Brasília, DF, 2006.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
HADDAD, Sérgio. A educação de pessoas jovens e adultas e a nova LDB. In: BRZEZINSKI,
Iria (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 3ª edição. São Paulo: Cortez,
2000.
KUENZER, Acácia Zeneida. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de
dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In:
77
LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval; SANFELICE, José Luís (Orgs.).
Capitalismo, trabalho e educação. Campinas: Autores Associados, HISTEDBR, 2005.
KRUPPA, S. M. Portella. Economia solidária e educação de jovens e adultos. Brasília:
Inep, 2005.
MARTINS, José de Souza. Sociedade vista do abismo: Novos estudos sobre ex-clusão,
pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2003.
______. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 2007.
PAIVA, Jane. Organização do trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos.
Brasília: SESI, 2001.
PAIVA, Vanilda. O novo paradigma de desenvolvimento: educação, cidadania e trabalho.
Educação e Sociedade, Campinas, p. 309-326, ago. 1993.
PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos no Estado do
Paraná. Versão preliminar, SEED/SUED: 2005.
PINTO, A V. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Cortez Editora, 1986.
SANTOS. Boaventura. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências.
In: SOUSA SANTOS, Boaventura de (Org.). Conhecimento prudente para uma vida
decente: “Um discurso sobre as Ciências” Revisitado. São Paulo: Cortez, 2004.
SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 10. ed. rev. Campinas,
São Paulo: Autores Associados, 2008.
______. A nova lei da educação. 9. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.
_____. A nova Lei da Educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, SP: Autores
Associados, 1997.
SILVA, Fábio de Sousa Nunes da. Análise crítica quanto efetivação do direito fundamental à
educação no Brasil como instrumento de transformação social. Jus Brasil Notícias, 2008.
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/notícias/34582/>Acesso em 3 de Janeiro de 2012.
SOARES, L. Educação de Adultos em Minas Gerais: continuidades e rupturas. Tese
(Doutorado) - FEUSP, São Paulo, 1995.
VIEIRA, Maria Clarisse. Fundamentos históricos, políticos e sociais da educação de
jovens e adultos – Volume I: aspectos históricos da educação de jovens e adultos no Brasil.
Universidade de Brasília, Brasília, 2004.