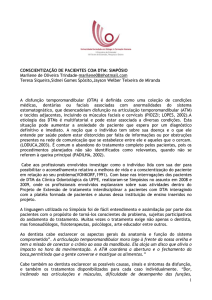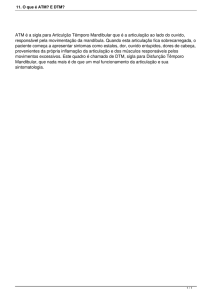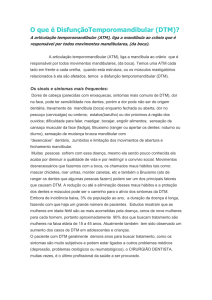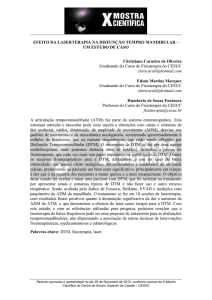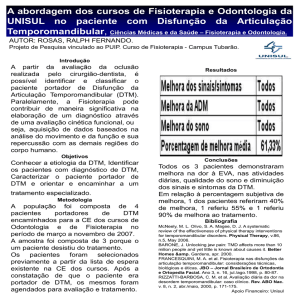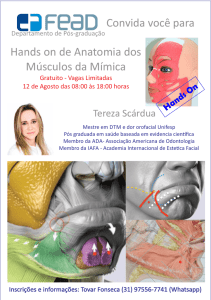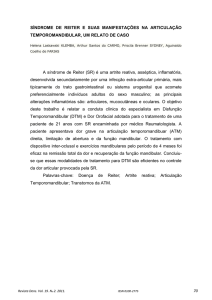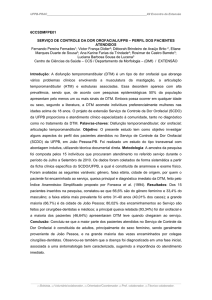UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
MESTRADO EM PERIODONTIA E PRÓTESE DENTÁRIA
Lidiane Thomaz Coelho
QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE GERAL E ANSIEDADE EM
PACIENTES COM DIFERENTES TIPOS E GRAUS DE
SEVERIDADE DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
NATAL/RN
2009
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
MESTRADO EM PERIODONTIA E PRÓTESE DENTÁRIA
Lidiane Thomaz Coelho
QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE GERAL E ANSIEDADE EM PACIENTES COM
DIFERENTES TIPOS E GRAUS DE SEVERIDADE DE DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR
Dis s er taç ã o
Pr ogr am a
apr es en t ad a
de
O d on to l o gi a
P ós - G r ad u aç ão
da
ao
em
Un i v er s i d a de
F e der a l d o R i o G r a nd e do N or te ,
c om o r e qu is it o par c i a l par a ob t enç ã o
do tí tu l o d e Mes tr e e m O dont o l og i a,
c om
ár e a
de
C o n c en tr aç ã o
P er io d on t ia e Pr ót es e De nt ár i a.
O r i en t ad or :
Pr of . Dr . G us t a vo A ug us t o S e abr a B ar b os a
NATAL/RN
2009
em
Catalogação na Fonte. UFRN/ Departamento de Odontologia
Biblioteca Setorial de Odontologia “Prof. Alberto Moreira Campos”.
Coelho, Lidiane Thomaz.
Qualidade de Vida, Saúde Geral e Ansiedade em pacientes com diferentes tipos e níveis
de disfunção temporomandibular / Lidiane Thomaz. – Natal, RN, 2009.
116 f. : il.
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Augusto Seabra Barbosa.
Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Odontologia.
1. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular – Dissertação. 2.
Qualidade de vida – Dissertação. 3. Questionários – Dissertação. 4. Ansiedade –
Dissertação. I. Barbosa, Gustavo Augusto Seabra. II. Título.
RN/UF/BSO
Black D723
RN/UF/BSO
Black D74
LIDIANE THOMAZ COELHO
QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE GERAL E ANSIEDADE EM PACIENTES COM
DIFERENTES TIPOS E NÍVEIS DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
Dis s er taç ã o
Pr ogr am a
apr es en t ad a
de
O d on to l o gi a
P ós - G r ad u aç ão
da
ao
em
Un i v er s i d a de
F e der a l d o R i o G r a nd e do N or te ,
c om o r e qu is it o par c i a l par a ob t enç ã o
do tí tu l o d e Mes tr e e m O dont o l og i a,
ár e a
de
C onc e ntr aç ão
P er io d on t ia e Pr ót es e De nt ár i a.
Avaliada em: _____ / _____ /_____
BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Gustavo Augusto Seabra Barbosa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Profª. Drª. Patrícia dos Santos Calderon
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Prof. Dr. André Ulisses Dantas Batista
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
em
Dedicatória
“Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir
tocando em frente...” (Tocando em frente – Renato Teixeira)
Dedico a todos que me acompanham nesta marcha:
DEUS, razão primeira da minha vida. Dedico não só este trabalho, mas tudo o
que faço, tudo o que tenho e o que sou. Sem Ele, eu nada poderia. “Tudo é do Pai, toda
honra e toda glória, é d’Ele a vitória alcançada em minha vida”;
Aos meus pais, Elson e Inês, e às minhas irmãs, Lilian e Larissa, que estão
sempre “tocando em frente” comigo, me ajudando a superar obstáculos;
Ao meu amor, Eudivar, que tem dividido comigo bons e maus momentos, me
ensinando a superá-los sempre com otimismo e fé;
Aos pacientes, razão deste estudo e de todo o meu trabalho. Espero poder
contribuir de alguma forma para que algum benefício chegue até vocês.
Amo todos a quem aqui dedico este trabalho.
Agradecimentos especiais
Agradeço a Deus, por todas as oportunidades, por permitir mais uma vez que eu
alcance uma meta, por me dar provas constantes do Seu imenso amor;
Ao meu pai, Elson, pelos ensinamentos de perseverança e exemplos de vida
digna e honesta, pelo amor a mim dedicado;
À minha mãe, Inês, por sua sabedoria, dedicação e amor incondicional;
À minha irmã Lilian, por seu apoio e incentivo sempre, por não medir esforços
pra me ajudar;
À minha irmã Larissa, pelo seu companheirismo e bom-humor sempre na hora
certa. Por acreditar em mim;
A toda minha família que, mesmo distante, tem me dado o suporte necessário a
cada desafio. Essa conquista é nossa;
Ao Eudivar, em quem eu encontrei os valores mais preciosos da vida – amor,
honestidade, perseverança, otimismo, fé. Obrigada por depositar em mim toda confiança
em tudo que eu faço e pelas contribuições na finalização deste trabalho;
Ao meu orientador, Professor Gustavo Augusto Seabra Barbosa, pelos
ensinamentos e paciência durante esta caminhada juntos;
Ao sempre prestativo Professor João Carlos Alchieri, por sua enorme
contribuição na realização deste trabalho. Obrigada por ter me ajudado a conhecer uma
parte do vasto mundo da Psicologia;
À aluna da graduação e monitora da Disciplina de Oclusão, Rachel, por sua
importante colaboração na execução desta pesquisa. Estudantes como você enobrecem a
nossa classe;
Agradecimentos
Ao Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, por minha formação desde a graduação até o presente momento. Levarei para
sempre comigo lembranças felizes desta casa e dos amigos que aqui fiz;
Ao professor Angelo Roncalli, por ter iniciado meus passos na pesquisa, sendo
meu primeiro orientador na iniciação científica;
À professora Isauremi, pela amizade e por todas as chances que me deu de fazer
Ciência. Obrigada pelo carinho e por depositar em mim sua confiança. A recíproca é
verdadeira;
Aos demais professores do Programa de Pós-Graduação em Odontologia –
UFRN: Eduardo Gomes Seabra, Adriana da Fonte Porto Carreiro, Antônio Ricardo
Calazans Duarte, Carlos Augusto Galvão Barboza, Kênio Costa Lima, Maria Angela
Ferreira, Íris do Céu Clara Costa, Maria do Socorro Costa, Elizabethe Cristina
Fagundes - exemplos de dedicação ao ensino e à pesquisa;
À minha grande amiga Larissa, por estar ao meu lado sempre, em tudo;
Aos amigos do mestrado, Adriana, Aldinha, Alessandra, Ana Rafaela,
Arcelino, Georgia, Líbia, Luana, Luciana, Marina, Miguel, Pedro, Rossana e
Stella, por todos os nossos momentos juntos, os de seriedade e os de descontração.
Ficarão na memória e no coração;
Aos funcionários Sandra, Cleide, Ocean, Nelson, Dona Lúcia, entre tantos
outros que sempre estiveram dispostos a ajudar;
Às bibliotecárias, Cecília e Mônica, por suas importantes colaborações;
Ao professor André Ulisses, pela atenção dada sempre, em especial, na correção
do meu projeto de estudo para a seleção do mestrado. Você é um dos responsáveis por
eu ter conseguido estar aqui. Serei sempre grata!
Ao professor Flávio Seabra, por suas grandes contribuições na qualificação
deste trabalho.
“Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto.
Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A
quem bate, abrir-se-á.”
Mateus 7, 7-9
Resumo
Alguns estudos na literatura relatam que os fatores emocionais e a qualidade de vida
podem estar envolvidos tanto na etiologia, quanto na progressão das Disfunções
Temporomandibulares (DTM). Proposição: O objetivo do presente estudo é o de observar uma
possível associação entre as diferentes formas de ansiedade, a qualidade de vida e a saúde geral
em pacientes diagnosticados como portadores de diferentes tipos e graus de Disfunção
Temporomandibular. Metodologia: A amostra foi constituída por 60 pacientes diagnosticados
como portadores de Disfunção Temporomandibular de origem muscular, articular ou ambas,
com diferentes graus de severidade (DTM leve, moderada e severa). Os pacientes foram
diagnosticados através do RDC-TMD (Research Diagnostic Criteria) para avaliar o tipo de
disfunção (muscular ou articular) e através do Protocolo de Fonseca para verificar o grau da
disfunção (leve, moderada ou severa). Para avaliação dos aspectos psicossociais foram
utilizados três questionários auto-aplicáveis, com o objetivo de obter informações a respeito da
saúde geral (Questionário de Saúde Geral – QSG), do tipo de ansiedade (Inventário de
Ansiedade Traço-Estado - IDATE) e da qualidade de vida (World Health Organization Quality
Of Life abreviado -WHOQOL brief). Resultados: Observou-se associação entre todos os
indicadores pesquisados nas mais diversas formas de DTM com variados graus de
comprometimento. A Qualidade de vida apareceu associada ao Tipo e ao Grau de DTM: DTM
Muscular e Articular (p=0,037), Deslocamento de Disco Com Redução (p=0,01), e DTM Leve
(p=0,042). A Saúde Geral apresentou associação com o Grau de DTM, à exceção do fator
estresse (p=0,78). Em relação à análise conjunta dos tipos e graus, a DTM Muscular Severa teve
associação estatisticamente significante para o indicador de Qualidade de Vida (p=0,049). A
Ansiedade apresentou associação apenas com o Grau de DTM (p=0,047 para ansiedade-traço).
Conclusão: Dentro das limitações do estudo, pode-se concluir que a ansiedade, a qualidade de
vida e a saúde geral são importantes indicadores psicossociais, que estão associados às mais
diversas formas de DTM, em diferentes graus de severidade.
Palavras-chave: DisfunçãoTemporomandibular, Ansiedade, Saúde Geral, Qualidade de
vida.
Abstract
Some studies reported in the literature that emotional factors and quality of life may be
involved both in aetiology, as in the progression of Temporomandibular disorders (TMD).
Proposition: The purpose of this study is to observe a possible association between different
forms of anxiety, quality of life and general health of patients diagnosed as carriers of various
types and levels of Temporomandibular Dysfunction. Methodology: The sample consisted of
60 patients diagnosed as carriers of TMJD origin of muscle, joint, or both, with different levels
of severity (mild TMD, moderate and severe). The patients were diagnosed with TMD-RDC
(Research Diagnostic Criteria) to assess the type of dysfunction (muscle or joint) and by the
Protocol of Fonseca to verify the degree of dysfunction (mild, moderate or severe). To evaluate
the psychosocial aspects were used three self-applied, with the purpose of obtaining information
about the general health (General Health Questionnaire - GHQ), the type of anxiety (Trait
Anxiety Inventory-State - STAI) and quality of life (World Health Organization Quality Of Life
Short WHOQOL-brief). Results: There was a correlation between all indicators studied in
several forms of TMD with varying degrees of commitment. Quality of life appeared linked to
the type and the level of TMD: Muscular and Articular TMD (p = 0,037), Disk Displacement
With Reduction (p = 0.01) and Mild TMD (p = 0.042). The General Health showed association
with the level of TMD, with the exception of the stress factor (p = 0.78). For the analysis of the
types and levels to Severe Muscular TMD had a statistically significant indicator of the quality
of life (p = 0049). The anxiety only showed association with the level of TMD (p = 0,047 for
anxiety-trait). Conclusion: Besides the limitations of the study, it was concluded that anxiety,
quality of life and general health are important psychosocial indicators, which are linked to
several
forms
of
TMD
in
different
levels
of
Keywords: Temporomandibular Disorder, Anxiety, General Health, Quality of life.
severity.
Lista de quadro/ gráficos / tabelas
Página
Quadro 1 : Tipo, Classificação e Definição das Variáveis
40
Gráfico 1: Tipos de DTM pelo RDC-TMD. Distribuição por Sexo.
47
Gráfico 2: Subtipos de DTM – Grupo I do RDC-TMD. Distribuição por Sexo.
48
Gráfico 3: Subtipos de DTM – Grupo II do RDC-TMD. Distribuição por Sexo.
48
Gráfico 4: Subtipos de DTM – Grupo III do RDC-TMD. Distribuição por Sexo.
48
Gráfico 5: Grau de DTM pelo Protocolo de Fonseca.
49
Tabela 1: Idade dos indivíduos estudados – Medidas de Centro da Distribuição e Variabilidade
47
Tabela 2: Escores Psicológicos.Média e Desvio - Padrão
49
Tabela 3: Tipos de DTM pelo RDC-TMD. Amostra feminina
50
Tabela 4: Níveis de DTM pelo Protocolo de Fonseca. Amostra feminina
50
Tabela 5: Associação entre o Grupo I do RDC-TMD e Ansiedade (IDATE)
52
Tabela 6: Associação entre o Grupo I do RDC-TMD e Distúrbios psiquiátricos menores (QSG)
53
Tabela 7: Associação entre o Grupo I do RDC-TMD e Qualidade de Vida (WHOQOL)
54
Tabela 8: Associação entre o Grupo II do RDC-TMD e Ansiedade (IDATE)
55
Tabela 9: Associação entre o Grupo II do RDC-TMD e os Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
56
Tabela 10: Associação entre o Grupo II do RDC-TMD e Qualidade de Vida
58
Tabela 11: Associação entre o Grupo III do RDC-TMD e Ansiedade (IDATE)
59
Tabela 12: Associação entre o Grupo III do RDC-TMD e Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
60
Tabela 13: Associação entre o Grupo III do RDC-TMD e Qualidade de Vida
61
Tabela 14: Associação entre os tipos de DTM e Ansiedade (IDATE)
62
Tabela 15: Associação entre os Tipos de DTM e os Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
63
Tabela 16: Associação entre os Tipos de DTM e Qualidade de Vida
64
Tabela 17: Associação entre o Grau de DTM e Ansiedade (IDATE)
65
Tabela 18: Associação entre o Grau de DTM e os Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
66
Tabela 19: Associação entre o Grau de DTM e Qualidade de Vida (WHOQOL)
67
Tabela 20: Associação entre Tipos e Níveis de DTM e Ansiedade (IDATE)
68
Tabela 21: Associação entre Tipos e Níveis de DTM e Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
69
Tabela 22: Associação entre Tipos e Níveis de DTM e Qualidade de Vida (WHOQOL)
71
SUMÁRIO
Páginas
RESUMO
09
ABSTRACT
10
LISTA DE QUADRO, TABELAS E GRÁFICO
11
1. INTRODUÇÃO
14
2. REVISÃO DA LITERATURA
17
2.1. Disfunção Temporomandibular - definição
18
2.2. Disfunção Temporomandibular - prevalência
18
2.3. Disfunção Temporomandibular - etiologia
20
2.4. Disfunção Temporomandibular – relação com os aspectos psicológicos
22
2.5. Disfunção Temporomandibular - classificação
29
3. PROPOSIÇÃO
32
4. METODOLOGIA
34
4.1. Implicações Éticas
35
4.2. Local do Estudo
35
4.3. Amostra
35
4.4. Instrumento de Coleta de Dados
37
4.4.1. Diagnóstico quanto ao Tipo de DTM – muscular / articular / muscular
e articular
37
4.4.2. Diagnóstico quanto ao Grau de DTM – leve / moderada / severa
38
4.4.3. Avaliação da Ansiedade
39
4.4.4. Avaliação da Saúde Geral
39
4.4.5. Avaliação da Qualidade de Vida
40
4.5. Elenco de Variáveis
40
4.6. Análise dos dados
44
5. RESULTADOS
46
5.1. Estatística Descritiva
47
5.2. Estatística Inferencial
50
5.2.1. Subtipos de DTM X Aspectos Psicológicos
52
5.2.2. Tipos de DTM X Aspectos Psicológicos
62
5.2.3. Graus de DTM X Aspectos Psicológicos
65
5.2.4. Tipos e Graus de DTM X Aspectos Psicológicos
68
6. DISCUSSÃO
73
6.1. Ansiedade (IDATE)
77
6.2. Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
78
6.3. Qualidade de Vida (WHOQOL)
80
7. CONCLUSÃO
83
REFERÊNCIAS
85
ANEXOS
93
“Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser
capaz, e ser feliz”
(Tocando em frente – Renato Teixeira)
INTRODUÇÃO
15
1. Introdução
Cada vez mais vêm sendo estudadas as relações de fatores psicossociais com as
diversas áreas de saúde13,
19, 25, 30, 47
. Com a Odontologia não tem sido diferente.
Observa-se um interesse crescente em compreender como fatores emocionais, de
estresse, do comportamento e de personalidade do indivíduo podem influenciar no
aparecimento, na progressão e na manutenção de doenças do aparelho estomatognático
14
. Para investigar como se relacionam os campos psicológico e fisiológico do corpo
humano,
é
necessário
que
a
Ciência
esteja
cada
vez
mais
disposta
à
interdisciplinaridade, de forma a somar conhecimento de áreas distintas, porém afins e
indissociáveis, uma vez que possuem um mesmo objetivo. A questão é tentar
reencontrar um elo perdido ao longo da história da evolução científica, entre corpo e
mente.
A Medicina, a Odontologia, a Fisioterapia, a Fonoaudiologia, a Nutrição e a
Psicologia, tratam o mesmo objeto: o homem, em suas diversas necessidades e distintas
manifestações e dimensões de saúde. Algumas patologias deixam bem claras as
fronteiras entre as áreas de conhecimento da saúde, outras não.
Assim são as
Disfunções Temporomandibulares (DTM’s): desordens do aparelho estomatognático
que se apresentam, tanto na sua etiologia quanto nas suas manifestações, de forma
plural, sem dissociar as áreas. Apesar disso, pelo fato da maioria dos sinais e sintomas
ser orofaciais, a Odontologia tem se encarregado de tratar os portadores de DTM.
Entretanto, já está claro, que ela não pode mais tratá-los sozinha.
A DTM não é a única condição orofacial que requer participação de áreas afins,
como a Psicologia. Diversos estudos têm buscado esclarecer a influência de diferentes
construtos psicológicos na manifestação, etiologia e progressão de outras condições
bucais, tais como a doença periodontal, a cárie e o bruxismo14. Tal relação só é possível
porque corpo e mente são partes de um todo integrado, onde experiências físicas,
mentais ou emocionais podem afetar o equilíbrio fisiológico dos sistemas nervoso,
imune e circulatório, retroalimentando respostas e ações comportamentais mais ou
menos adaptativas.
De forma empírica, chama a atenção na clínica diária o abalo emocional que
muitos, senão a maioria, dos portadores de DTM, apresenta. Além disso, muitas vezes,
ainda que o tratamento odontológico esteja adequado e haja acompanhamento, não
16
ocorre remissão dos sintomas, em especial, a dor.
Observa-se nesses casos a
manutenção de um estado emocional debilitado, impedindo que os métodos terapêuticos
empregados atinjam seus efeitos desejados em sua totalidade. Isto, que é observado
empiricamente na clínica, tem sido constatado em pesquisas, como mostra a
literatura61,67. Porém, diversas metodologias têm sido empregadas e a falta de uma
uniformização dos estudos sobre as questões emocionais e DTM têm tornado difícil a
compreensão dos resultados.
A literatura mostra estudos com amostras bem distintas2,4,26,41, ora com crianças,
ora com adolescentes, ora sem definição etária, socioeconômica ou de gênero. Uma
infinidade de questionários validados tem sido empregada a fim de se extrair a relação
entre os fatores psicossociais e a DTM. Entretanto, muitas vezes não se encontra uma
distinção diagnóstica entre os tipos e níveis de DTM nestes estudos, além do que, os
instrumentos utilizados têm sido os mais diversos. Esta dificuldade é ainda acrescida de
novos desdobramentos quando se busca relacionar definições e entendimentos de outras
áreas, como na psicologia, principalmente se levar em consideração a grande
variabilidade de testes psicológicos empregados nos estudos, que dificulta a comparação
dos resultados entre as pesquisas.
Os testes psicológicos são instrumentos que têm por função gerar dados através
de medidas, classificando os indivíduos quanto ao seu aspecto psicossocial.
A
utilização de testes para a avaliação psicológica é uma das maneiras de se estudar
objetivamente a percepção individual sobre algumas questões do funcionamento
psíquico da pessoa ou de um grupo, durante um tempo específico 14. O instrumento ou
teste é, portanto, uma forma objetiva para a mensuração de determinadas características
psicossociais que se distribuem distintamente nos indivíduos. Na odontologia, diferentes
abordagens de avaliação psicológica têm sido utilizadas. Vão desde entrevistas
estruturadas, questionários de múltipla escolha, até os testes de auto-relato. Estes
últimos são a forma mais segura de se obter um resultado validado e com maior
confiança, entretanto, muitas vezes, com amostras muito grandes, torna-se inviável.
Assim sendo, a maioria dos instrumentos utilizados em Odontologia são medidas e
escalas, que servem para medir ou descrever fenômenos psicológicos diversos a fim de
relacionar e ou caracterizar expressões comportamentais variadas.
Tendo em vista a possível relação entre fatores psicossociais e a DTM, e que tais
fatores podem influenciar a resposta ao tratamento odontológico, neste estudo, buscou-
17
se conhecer a associação entre alguns aspectos psicológicos, tais como ansiedade,
distúrbios
psiquiátricos
Temporomandibular.
menores
e
qualidade
de
vida,
com
a
Disfunção
“Não está na natureza das coisas que o homem realize um descobrimento
súbito e inesperado; a ciência avança passo a passo e cada homem depende
do trabalho de seus predecessores.” (Ernest Rutherford)
REVISÃO DA LITERATURA
18
Revisão da Literatura
2.1. Disfunção Temporomandibular – definição
É um termo coletivo que engloba vários problemas clínicos que envolvem a
musculatura da mastigação, a articulação temporomandibular ou ambos. É
reconhecidamente a maior causa de dor não-dental da região orofacial. O sintoma mais
presente é a dor, especialmente dos músculos da mastigação e da região peri-articular.
Além da dor, também estão presentes sons e ruídos articulares, além de limitação dos
movimentos mandibulares 4,43.
Assim, a Disfunção ou Desordem Temporomandibular (DTM) inclui qualquer
desarmonia que ocorra nas relações funcionais dos dentes e suas estruturas de suporte,
das maxilas, das articulações temporomandibulares, dos músculos do aparelho
estomatognático e dos suprimentos vascular e nervoso destes tecidos 5,50.
Okeson49, afirma que o termo desordens temporomandibulares inclui muitas
desordens funcionais das estruturas mastigatórias.
Kirveskari, Jämsä, Alanen35 consideram as desordens temporomandibulares
como um agrupamento heterogêneo de condições que afetam os músculos da
mastigação e/ou as articulações temporomandibulares.
2.2. Disfunção Temporomandibular – prevalência
Epidemiologia é o estudo da incidência e distribuição de uma doença na
população21.
Estudos epidemiológicos de DTM devem focar não só em sinais e
sintomas que a desordem pode apresentar, mas sim, em seu diagnóstico. Assim, é
necessário antes que o conceito da doença esteja bem estabelecido, com um sistema de
classificação único que não provoque diferenças entre estudos devido a erros
metodológicos.
19
Estudos epidemiológicos envolvendo DTM foram inicialmente conduzidos na
Escandinávia e norte da Europa no início dos anos 70. Posteriormente, investigações
provenientes de outras partes do mundo também foram publicadas. Este interesse
espalhou-se por muitos países da Europa e América do Norte. Também têm sido
publicados dados epidemiológicos provenientes do Egito, Índia, Israel, Japão, Nova
Zelândia, Arábia Saudita e Singapura, os quais não têm diferido daqueles encontrados
na Europa e Estados Unidos. Embora isto possa sugerir que o mesmo ocorra no Brasil,
dados epidemiológicos em relação à população brasileira ainda são raros53. O fato de se
tratar de um conjunto de desordens e não de uma entidade patológica única faz com que
as diferenças socioeconômicas e socioculturais influenciem bastante a distribuição, não
podendo se generalizar dados referentes de uma localização à outra. Assim, um estudo
feito no Brasil deve considerar as diferenças inter-regionais.
Os dados sobre a prevalência de DTM ainda são um pouco confusos, e se
apresentam variáveis de acordo com a população estudada e métodos empregados.
Porém, sabe-se que de acordo com a idade, a DTM apresenta-se inicialmente crescente,
ocorrendo um decréscimo a partir da quinta década de vida, sendo rara em idosos 53.
Atsü e Ayhan-Ardic4, afirmam que estudos epidemiológicos50 de populações
específicas mostram que 75% apresentam pelo menos um sinal de DTM e por volta de
33% apresentam ao menos um sintoma. Afirmam ainda que os sinais e sintomas de
DTM aumentam em freqüência e severidade entre a segunda e a quarta décadas de vida,
e que a razão da disfunção de mulheres para homens é da ordem de 4:1. Este último
dado suscita questionamentos, uma vez que as mulheres tendem a buscar mais o
tratamento e podem estar sendo superestimadas no diagnóstico em relação aos homens.
Segundo estes mesmos autores, apesar da alta prevalência da doença, apenas 5-6% dos
pacientes estão em tratamento.
Pereira e colaboradores53, em uma revisão sobre a epidemiologia e etiologia das
DTM, encontraram em um dos estudos que a avaliação profissional da necessidade de
tratamento variava de 1,5 a 30%, sendo que a real procura por este tratamento era da
ordem de 3-7%. Eles também afirmam que é consenso que estimativas quanto à
necessidade ou demanda por tratamento são, em geral, bem menores que a freqüência
de sinais e sintomas encontrados na população. Uma possível explicação para a
discrepância entre a necessidade de tratamento e a procura (30% contra 7%) é que ainda
faltam centros de referência suficientes para o tratamento das DTM. Na maioria das
20
vezes, os pacientes, que desconhecem o problema, buscam, por anos, consultas com
especialistas das mais diversas áreas que não são capazes de identificar a disfunção e
encaminhá-los a uma equipe apropriada. As faculdades de Odontologia acabam por
absorver grande parte desta demanda.
Dados sobre a prevalência das DTM ainda são inconsistentes 12, 65, 45, 51, 56
e apresentam grande variabilidade (16 a 59% para sintomas e 33 a 86% para sinais
clínicos, segundo Carlsson12 de acordo com a população estudada e a metodologia do
levantamento49. A simples presença de sinais e sintomas não permite conclusões sobre o
grau de incapacidade do indivíduo e não deve ser traduzida em necessidade de
tratamento. O que se conhece, de fato, até o momento é que a prevalência desses sinais
e sintomas é baixa em crianças, aumenta em adolescentes e adultos jovens e decresce a
partir dos 45 ou 50 anos de idade, entretanto dados epidemiológicos quanto à
prevalência na população brasileira ainda são necessários. 53
2.3. Disfunção Temporomandibular – etiologia
Os sintomas típicos das desordens temporomandibulares começaram a ser
reconhecidos nos meios médico e odontológico a partir de observações feitas por
Costen, um médico otorrinolaringologista, em 1934. Acreditava-se que os sintomas
eram devido a um deslocamento do côndilo mandibular para uma posição mais
posterior dentro da fossa articular. Este deslocamento era atribuído à perda dos dentes
posteriores, acreditando-se então, que a reabilitação dentária sozinha seria capaz de
devolver condições de normalidade ao paciente, levando à remissão dos sinais e
sintomas. O fator oclusal era tido até então como causa central das DTM, até que, em
1956, Laszlo e Schwartz, citados por Pereira Jr53, refutaram esta teoria alegando a
participação de fatores psicológicos. Segundo os autores, a resposta do sistema
mastigatório ao estresse seria mais importante que a oclusão em si. Com o passar dos
anos, foram sendo propostos vários conceitos etiológicos para as DTM. Em combate à
crença de que o principal fator envolvido na etiologia da DTM seria o oclusal, a teoria
psicológica propunha que distúrbios emocionais iniciariam uma hiperatividade
21
muscular, induzida pelo Sistema Nervoso Central, gerando parafunções, e que estas,
levariam a alterações oclusais. Assim, a oclusão seria uma conseqüência e não fator de
risco. No final da década de 70, o conceito multifatorial da etiologia da DTM começou
a ganhar força e foi aceito nos anos 80, tendo como principais grupos etiológicos os
fatores anatômicos, neuromusculares e psicológicos53.
Hoje é consenso que a DTM possui etiologia multifatorial3,
7, 16, 42, 43
. Ash3
afirma que, geralmente, a DTM é causada pela interação desfavorável entre os fatores
neuromusculares, articulares, oclusais e psicológicos. Deduz-se que nenhum fator seja
preponderante ao outro. O papel desencadeante que cada um pode desempenhar varia
de indivíduo para indivíduo. Os fatores envolvidos são classificados em predisponentes,
inicializadores e perpetuantes, e podem ser fisiológicos, estruturais (anatômicos) e/ou
psicológicos. Dentre os fisiológicos, têm-se: fatores neurológicos, vasculares,
reumatológicos, metabólicos, hormonais, degenerativos, neoplásicos e infecciosos.
Entre os fatores estruturais que podem funcionar como predisponentes estão
malformações musculo-esqueléticas, injúrias e/ou traumatismos passados, e tratamento
dentário inapropriado.
Apesar de que ainda há a crença clínica de que o componente oclusal seja um
fator etiológico predisponente, cientificamente ainda não foi estabelecida uma relação
direta entre as mal oclusões e a DTM. Entretanto, acredita-se que o fator oclusal
funcione como predisponente quando: existe uma discrepância entre a RC (Relação
Cêntrica) e a MIH (Máxima Intercuspidação habitual) maior que 2 mm, mordida aberta
anterior, mordida cruzada unilateral, traspasse horizontal maior que 6-7 mm, ou
ausência de 5 ou mais dentes posteriores. Os fatores psicológicos que são considerados
como predisponentes incluem os emocionais, de personalidade e características de
atitude4, 42, 52.
Fatores inicializadores estão relacionados a trauma ou a carga adversa de forma
repetitiva sobre o sistema mastigatório. Este trauma, que leva a injúrias à cabeça, ao
pescoço e à mandíbula, pode ser resultado de um impacto (macro trauma), de injúrias
durante a mastigação (micro traumas), durante o ato de bocejar e até mesmo após um
longo período de abertura bucal durante tratamento dentário. Outra forma de trauma
está relacionada à carga excessiva imposta ao sistema mastigatório de forma repetitiva,
como resultado de uma parafunção43 ou de alterações oclusais provocadas por
tratamentos restauradores inadequados ao longo do tempo.
22
As parafunções também podem funcionar como fatores perpetuantes. Além
delas, se enquadram neste grupo fatores hormonais ou psicológicos, e estes podem estar
associados a outros fatores perpetuantes e/ou inicializadores mantendo um ciclo de
disfunção, o que pode complicar o tratamento42.
O aspecto psicológico foi relatado por Yap e colaboradores69, em seu estudo,
cujos pacientes diagnosticados com dor miofascial e outras condições articulares
(artralgia e osteoartrite) apresentaram níveis altamente significantes de depressão e
somatização. Apesar disso, tem-se atribuído às alterações oclusais uma grande
participação no desequilíbrio da função muscular e no desenvolvimento das desordens
temporomandibulares48. Como já mencionado, foi por volta dos anos 40 e 50 que a
associação entre oclusão e DTM começou a ser questionada por Schwartz, que
enfatizou a importância da musculatura mastigatória e especificamente da tensão
emocional como fator etiológico primário. Nos anos 60 e 70, a pesquisa científica
clínica cresceu em sofisticação e começou a enfatizar o papel da neurofisiologia. A
mudança de uma abordagem mecânica para uma mais psicológica foi reforçada por
estudos da fisiologia neuromuscular de Moyers, Perry, Yemm entre outros. Em 1969,
Laskin publicou o conceito psicofisiológico de espasmo e fadiga muscular produzidos
por hábitos orais crônicos, responsáveis pela Síndrome da dor-disfunção. Como a
natureza multifatorial da DTM começou a ser conhecida nos anos 60 e 70, o estresse e o
estado psicológico passaram a ser cada vez mais considerados como fatores
contribuintes52.
2.4. Disfunção temporomandibular – relação com os aspectos psicológicos
De Boever20 sugeriu que dentre as causas que produzem as desordens
temporomandibulares (DTMs), as de origem psicossomáticas, nas quais os sintomas
físicos podem ter origens psíquica, emocional ou mental, devem ser consideradas. O
mesmo autor ainda afirma que fatores emocionais, como a ansiedade e o estresse,
podem desencadear hábitos parafuncionais e tensão muscular, levando ao aparecimento
dos sinais e sintomas das DTM. Segundo Suvinen e colaboradores63 estudos a respeito
de parâmetros psicológicos em pacientes com DTM têm produzido resultados
conflitantes, em parte devido a diferenças na amostra, na metodologia e na análise dos
23
dados e, em parte, por causa de diferenças inter-individuais relacionadas não somente às
dimensões sensoriais (limiar de tolerância), como também cognitivas, emocionais,
comportamentais e ambientais. Pesquisadores como Southwell, Deary e Geissler60 têm
relatado que altos níveis de ansiedade são uma característica significante nos pacientes
com DTM. A relação entre estresse, ansiedade, tensão e disfunções dos músculos
esqueléticos têm sido bastante observada, porém, os mecanismos que unem esses
fatores ainda não foram descritos. Apesar dos mecanismos ainda não terem sido
descritos, estudos revelam que os pacientes com DTM possuem alto nível de
ansiedade41. Sabe-se que há indivíduos vulneráveis, que apresentam uma predisposição
para anormalidades nas respostas hormonais ao estresse que podem levar ao
desenvolvimento de uma ampla faixa de condições tais como: a depressão e a dor facial
crônica35. A DTM é bem tolerada pela maioria da população à exceção de uma minoria
significativa que mostra um comportamento disfuncional da dor crônica associado com
alterações psicológicas como depressão e somatização22.
No final dos anos 80 e início dos 90 ocorreu uma explosão de conhecimento
sobre os mecanismos da dor, havendo grandes avanços no que se sabia sobre sua
neurofisiologia e neurofarmacologia. Sabe-se que algumas condições de dor orofacial
associadas à história de dano tecidual são mantidas pelo sistema nervoso simpático.
Turk, Rudy, Dworkin e LaResch, além de outros, descreveram o comportamento da dor
crônica enfatizando a importância da plasticidade do Sistema Nervoso Central, dos
fatores comportamentais e psicossociais para a sua abordagem42. Alguns estudos têm
utilizado índices, como o QSG (questionário de saúde geral) e IDATE (inventário de
ansiedade traço estado) para avaliar alterações psicológicas em várias condições
médicas 13, 19, 25, 30, 47.
Marchiori e colaboradores41, estudando a relação entre DTM e ansiedade em
crianças do Ensino Fundamental (9-15 anos), encontraram que grande parte delas se
encontrava ansiosa, descrevendo correlação positiva entre DTM e ansiedade,
principalmente a ansiedade-traço, que é aquela relacionada aspectos constitutivos da
personalidade do indivíduo. Em outra pesquisa, em amostra distinta desta, os resultados
apresentados divergiram em alguns aspectos do estudo de Marchiori et al. Fernandes e
colaboradores26 estudando graduandos de odontologia da Universidade de Brasília
(UnB), encontraram que embora tenha havido uma relação diretamente proporcional
entre DTM e ansiedade, não houve diferença estatisticamente significante entre a
24
ansiedade-traço e estado. Ou seja, nesta população, a característica de personalidade,
inerente ao indivíduo, não foi preponderante na determinação de ocorrência de DTM
quando comparada a eventos geradores de ansiedade no momento em que se realizou a
pesquisa. É importante que se observem as características da população estudada – sua
faixa etária, condição socioeconômica, escolaridade, cidade, estado e país de origem,
uma vez que as variáveis socioculturais podem interferir nos dados obtidos pela
pesquisa, gerando resultados diferentes.
Gale29, havia afirmado que diversos estudos já haviam admitido a importância
dos
fatores
psicológicos
nas
causas
e
na
perpetuação
das
desordens
temporomandibulares crônicas. O autor associou este tipo de patologia com vários tipos
de desordens psicológicas, incluindo a ansiedade, desordens afetivas (particularmente a
depressão), desordens somáticas e distúrbios de personalidade. Tal fato apontava para
um tratamento menos limitado à reparação mecânica e mais voltado para a
interdisciplinaridade.
Dworkin23, estudando a participação dos fenômenos psicológicos no
desenvolvimento de uma hiperatividade muscular, afirmaram que, a forma pela qual as
mudanças no estado afetivo, como a ansiedade e as respostas individuais aos eventos
diários (denominados geralmente de estresse) encaixam-se nos estudos clássicos que
explicam a hiperatividade muscular, ainda não está clara. Discutiram o assunto
sugerindo que o estresse e a ansiedade tinham um efeito periférico através do sistema
nervoso simpático, que exacerba a interação de substâncias algésicas entre as
terminações nervosas dos aferentes primários nociceptivos e o sistema circulatório.
Além disso, sugeriram que o processamento central das informações nociceptivas e da
atividade reflexa resultante, pode ser enfatizado pela ansiedade e, portanto, aumentar a
percepção da dor ou a resposta à dor. Finalmente reconheceram que, tais teorias ainda
não possuíam uma comprovação científica com embasamento fisiológico.
Apesar de não se conhecer até o presente momento a etiopatogenia, sabe-se,
através de diversos estudos, que os fatores emocionais desempenham papel importante
na
etiologia
de
diversas
condições
clinicas,
bem
como
das
Disfunções
Temporomandibulares, e que ainda, segundo Auerbach e colaboradores5, os fatores
psicológicos têm um papel mais importante em dores de origem muscular. Este autor
sugere que intervenções no comportamento devam ser aplicadas em pacientes em que o
fator psicológico apareça com um papel importante. Stohler62, afirmou que quando a
25
mialgia persiste mesmo após ajustes oclusais, geralmente os fatores psicológicos são
usados para explicar a falha do tratamento.
Kino e colaboradores34 compararam diferentes subgrupos de disfunções
temporomandibulares (Dor miofascial; Deslocamento do disco, Artralgia e Osteoartrite)
com características como dor, dificuldade na função e aspectos psicológicos. Os
resultados mostraram que pacientes com disfunções musculares (Dor miofascial)
apresentaram índices de depressão maiores que outros subgrupos.
Pelo fato da diversidade de manifestações das Disfunções Temporomandibulares
e considerando-se que sob o ponto de vista etiológico elas são uma entidade
multifatorial, o tratamento requer uma mudança de paradigma por parte dos cirurgiõesdentistas, de um modelo puramente mecânico para um modelo biopsicossocial35. A
mudança de pensamento requer uma mudança na abordagem única, onde se pensa
conhecer causa e efeito, para uma abordagem multidisciplinar, onde a causa é incerta,
variável e convoluta.
Com o objetivo de testar a habilidade do cirurgião dentista em detectar
problemas psicológicos, Oakley47, estudou 107 pacientes com DTMs, nos quais foram
aplicados e comparados os resultados de quatro testes psicológicos: o MMPI
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory), BDI (Beck Depression Inventory), SER
(Schedule of Recent Experience) e o STAI (State-Trait Anxiety Inventory), após a
consulta inicial destes pacientes. Os itens avaliados foram: presença ou ausência de
depressão, ansiedade, estresse recente e pessimismo. Os resultados mostraram que a
avaliação do Cirurgião Dentista apresentou baixa especificidade para todos os fatores
psicológicos previamente determinados através dos testes psicológicos utilizados antes
da avaliação do profissional, com 27% de resultados falso-negativos para o estresse e
19% em relação traço de ansiedade e 21% ao estado de ansiedade. Os autores
concluíram que os procedimentos de investigação baseados na impressão geral dos
dentistas, durante o exame inicial, não identificaram adequadamente os problemas
psicológicos em uma população com DTM. O autor recomendou a utilização de testes
psicológicos específicos, a fim de não tratar pacientes que não precisam do tratamento.
McNeill44, afirmou que deveria ser feito um esforço especial para evitar uma
terapia agressiva e irreversível porque pouco se sabe sobre o curso natural das DTM e
sobre quais sinais e sintomas vão progredir para uma condição mais séria. A ênfase
26
deve ser dada a um tratamento reversível que envolve uma abordagem física e
comportamental do paciente.
Além da ansiedade, outros fatores relacionados ao campo mais individual na
etiologia das DTM’s, devem ser considerados, a fim de se conhecer melhor o perfil do
portador da disfunção para que se possa tratá-lo de forma mais eficaz. Um dado
importante, que pode reforçar a necessidade de tratamento multidisciplinar do portador
de DTM, é a respeito de sua qualidade de vida. Segundo Allen1, estes dados devem
servir de complemento aos achados objetivos e podem ajudar a identificar os pacientes
que responderão melhor ao tratamento odontológico.
De acordo com Seidl e Zannon58 existem duas tendências quanto à conceituação
do termo “qualidade de vida” na área de saúde, que são identificadas: qualidade de vida
como um conceito mais genérico, e qualidade de vida relacionada à saúde propriamente
dita. Segundo Guiteras e Bayés31, qualidade de vida pode ser definida como valoração
subjetiva que o paciente faz de diferentes aspectos de sua vida, em relação ao seu estado
de saúde. Para Cleary, Wilson e Fowler17 refere-se aos vários aspectos da vida de uma
pessoa que são afetados por mudanças no seu estado de saúde, e que são significativos
para a sua qualidade de vida. Já para Patrick e Erickson , citados por Ebrahim24, é o
valor atribuído à duração da vida, modificado pelos prejuízos, estados funcionais e
oportunidades sociais que são influenciados por doença, dano, tratamento ou políticas
de saúde. A Qualidade de Vida64 também foi definida como “a percepção do indivíduo
sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais
ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.
De acordo com Coleman18, o Questionário de Saúde Geral (QSG), foi criado por
Goldberg em 1972, para avaliar a saúde mental das pessoas. Houve muitas dificuldades
para tal elaboração, já que o conceito de saúde sofre oscilações e influências da
sociedade em função da época e do lugar. Para a adaptação brasileira do Questionário,
em 1994, pesquisa realizada por Pasquali e colaboradores51 teve o objetivo de estudar a
validade e a utilidade do QSG para a população geral brasileira e seu potencial de uso
para diagnosticar sinais clínicos de distúrbios. O Questionário foi aplicado a 902 adultos
normais, com idade entre 19 a 70 anos. O principal fator componente da análise foi o
rendimento no fator geral (ausência de saúde mental) e cinco fatores específicos
correlacionados: estresse psicológico, desejo de morte, falta de confiança na capacidade
de auto- realização, distúrbios do sono e distúrbios psicossomáticos. Cada fator
27
interpretado foi alcançado através de análise de conteúdo semântico. Para o Fator 1 Estresse Psíquico, que destaca "experiências de tensão, irritação, impaciência, cansaço e
sobrecarga, que tornam a vida uma luta constante, desgastante e infeliz". Para o Fator 2
- Desejo de Morte, que evidencia "basicamente o desejo de acabar com a própria vida,
já que ela se apresenta como inútil, sem sentido e sem perspectivas". Para o Fator 3 Falta de Confiança na Capacidade de Desempenho que expressa "a consciência de ser
capaz de desempenhar ou realizar as tarefas diárias de forma satisfatória". Para o Fator 4
- Distúrbios do Sono que se refere "a problemas relacionados com o sono, tais como
insônia e pesadelos". Para o Fator 5 - Distúrbios Psicossomáticos, que é composto de
itens que expressam problemas de "ordem orgânica, tais como sentir-se mal de saúde,
dores de cabeça, fraqueza, calafrios". Para o Fator 6 - Saúde Geral, pode-se interpretá-lo
"como se referindo à severidade da ausência de saúde mental" 51.
A distinção entre o conceito de estresse e ansiedade é diretamente relacionada à
expressão da ação crônica de ansiedade. A ansiedade é um fenômeno psicológico
decorrente da desadaptação e regulação de ações na vida cotidiana. Trata-se de uma
reação de caráter subjetiva de apreensão e incerteza acompanhada por uma ativação do
sistema nervoso autônomo e um aumento da atividade endócrina10. Spielberg61
apresentou uma proposta diferenciada para ansiedade através da expressão de dois
componentes;
a
constitucionalmente
ansiedade
da
Traço
e
personalidade,
Estado,
como
onde
uma
a
primeira
tendência
ou
faz
parte
disposição
comportamental adquirida que influencia o comportamento. A pessoa responde a
circunstâncias percebidas como ameaçadoras com reações ou níveis de estado de
ansiedade exacerbados em intensidade e magnitude em relação ao perigo real e objetivo.
Por sua vez a ansiedade-Estado está relacionada ao componente de humor em constante
variação, caracterizado por sentimentos de apreensão e tensão, associados à estimulação
do Sistema Nervoso Autônomo. Sua expressão também se relaciona a manifestações
cognitivas de preocupações, inquietudes e pensamentos negativos, quando existem
alterações na percepção subjetiva da ativação fisiológica. A ansiedade-Estado está
diretamente relacionada à intensidade da ansiedade-Traço, ou seja, uma predisposição
para perceber as situações em geral como ameaçadoras eleva a ocorrência da percepção
e ou magnitude da ansiedade experienciada10.
O QSG é composto por 60 itens sobre sintomas psiquiátricos não psicóticos
(distúrbios psiquiátricos menores), que são apresentados, um a um e devem ser
28
respondidos numa escala de quatro pontos. Foi desenvolvido para identificar a
severidade do distúrbio psiquiátrico do paciente avaliado, devendo ser auto-aplicável e
não utilizado para identificação de casos de psicose. Os seus índices expressam índices
comportamentais e o paciente limita-se a responder o que está sentindo no momento. O
questionário é subdividido em seis itens: estresse psíquico, desejo de morte,
desconfiança no próprio desempenho, distúrbios do sono, distúrbios psicossomáticos e
saúde geral. Suas principais utilidades seriam a avaliação da severidade de distúrbios
psiquiátricos menores e servir como meio de identificação potencial desses distúrbios na
população geral não clínica. Como vantagem está o fato de ser auto-aplicável,
possibilitando a aplicação num grande número de pessoas num curto espaço de tempo a
baixo custo, evitando problemas de diferenças subjetivas, quando são utilizadas
avaliações com diferentes examinadores, constituindo-se num importante objeto de
pesquisa. Apesar de fornecer informações relevantes acerca do estado de saúde geral do
paciente, que pode refletir em sua qualidade de vida, o QSG não é propriamente um
instrumento de aferição de qualidade de vida51.
A constatação de que não havia nenhum instrumento que avaliasse qualidade de
vida dentro de uma perspectiva transcultural motivou a Organização Mundial da Saúde
a desenvolver um instrumento com estas características. O grupo de Qualidade de Vida
da OMS, sob a coordenação de John Orley, definiu qualidade de vida como “a
percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas padrões e
preocupações”. Nesta definição fica implícito que o conceito de qualidade de vida é
subjetivo, multidimensional e que inclui elementos de avaliação tanto positivos como
negativos26. Não há um consenso a respeito do conceito de Qualidade de Vida (QV),
contudo alguns aspectos devem ser levados em consideração na elaboração desse
construto, de acordo com as diversas culturas, incluindo-se subjetividade, multidimensionalidade e presença de dimensões positivas e negativas27. A avaliação da QV
deve-se basear na percepção do indivíduo sobre o seu estado de saúde, englobando-se
aspectos gerais da vida e do bem-estar, isto é, experiências subjetivas, influenciadas
também pelo contexto cultural em que está inserido15. Nesse estudo, o conceito de QV
adotado é o definido pela OMS como sendo “a percepção do indivíduo de sua posição
na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”
64
. Assim, desenvolveu-se o
29
WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life) e posteriormente, a sua
forma abreviada, o WHOQOL-brief, composto por 26 questões com o intuito de medir a
qualidade de vida.
A evolução científica parece estar se deslocando em direção a um processo
diagnóstico de dor orofacial mais complexo e multidisciplinar e conseqüentemente, para
uma abordagem biopsicossocial, ao mesmo tempo em que se afasta da abordagem mais
mecanicista e reparativa do passado.
2.5. Disfunção temporomandibular – classificação
Em 1990, a Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP – American
Academy of Orofacial Pain) estabeleceu a primeira classificação diagnóstica para DTM,
que foi revisada em 1993. Ao mesmo tempo, um grupo de estudo multicêntrico
estabeleceu um critério mais específico de pesquisa diagnóstica, englobando
questionários e exame físico do paciente com DTM. Este critério de diagnóstico (RDC
– Research Diagnostic Criteria) usou uma classificação similar à criada em 1990.
Segundo esta classificação da AAOP, a DTM pode ser dividida em desordens da
articulação e desordens da musculatura da mastigação, possuindo cada um desses
grupos, subitens de classificação. Assim, dentro de desordens da articulação tem-se:
desordens congênitas ou de desenvolvimento (aplasia, hipoplasia, hiperplasia e
neoplasia), desordens do disco articular (deslocamento de disco com e sem redução),
deslocamentos
da
articulação,
condições
inflamatórias
(capsulites/sinovites,
poliartridites), condições não inflamatórias (osteoartrite primária e secundária),
anquilose (fibrosa e óssea) e fratura do processo condilar.
Dentro das desordens
musculares, tem-se: dor miofascial, miosite, mioespasmo, mialgia local não
classificada, contratura miofibrótica e neoplasma 43,44.
Entretanto, o RDC traz um protocolo similar a esta classificação, porém mais
objetivo e confere os seguintes diagnósticos ao final do exame: dor miofascial, dor
miofascial com limitação de abertura, deslocamento de disco com redução,
deslocamento de disco sem redução, deslocamento de disco sem redução com limitação
de abertura bucal, osteoartrite, osteoartrose e artralgia 39.
30
A dor miofascial
43,44
é tida como uma dor localizada ou regional, caracterizada
pela presença de pontos-gatilho em músculos, tendões ou fáscia durante a palpação. As
características de sensação dolorosa localizada e dor referida regional durante a
palpação diferenciam a dor miofascial de outras dores generalizadas, tais como a
fibromialgia. A dor muscular pode estar associada à isquemia localizada, mudanças
histoquímicas na terminação periférica de um nervo nociceptivo ou a mudanças no
Sistema Nervoso Central, incluindo aumento da atividade do Sistema Nervoso
Simpático ou alterações psicológicas. A dor miofascial com limitação de abertura é a
mesma da descrita anteriormente, com a diferença de que nesta ocorre contração
involuntária da musculatura levando a uma redução da amplitude de abertura bucal
normal, existindo, portanto, um comprometimento maior.
O deslocamento de disco corresponde a um desalinhamento do complexo discocôndilo que pode ser com redução ou sem redução43. O deslocamento com redução é
caracterizado pelo desalinhamento abrupto e temporário do disco, que sai de posição
durante a translação mandibular, gerando um som durante a abertura bucal, conhecido
por estalido. Esse som também pode ocorrer durante o fechamento, porém é geralmente
de menor magnitude, e se deve novamente ao desalinhamento do disco, freqüentemente
para uma posição mais anterior ou ântero-medial. No deslocamento com redução, este
desalinhamento é passageiro, pois o disco retorna à posição inicial. No deslocamento
sem redução o desalinhamento do disco é mantido durante a translação mandibular e
pode gerar diversos sons e limitação dos movimentos mandibulares. Se gerar tais
limitações, será considerado um deslocamento de disco sem redução, com limitação de
abertura. Após um episódio agudo de deslocamento sem redução, que pode ser bastante
doloroso, estabelece-se uma condição crônica, geralmente sem dor. McNeill44 cita o
estudo de Leeuw et al, que após 30 anos de acompanhamento, observou que
pouquíssimos casos de deslocamento de disco com redução evoluíram para um estágio
sem redução, mas que quase todos os deslocamentos sem redução desenvolveram
alterações ósseas estruturais.
A osteoartrite é uma condição degenerativa não- inflamatória da ATM,
caracterizada por alterações estruturais da superfície da articulação em conseqüência a
uma força excessiva durante o mecanismo de remodelação óssea4. É caracterizada
clinicamente por dor durante a função, crepitação (ruído articular semelhante à areia),
evidência radiográfica de alterações ósseas estruturais e geralmente por uma moderada
31
limitação dos movimentos mandibulares, além de desvio para o lado afetado durante a
abertura bucal. Quando se torna mais dolorosa é devido a uma inflamação secundária
ao processo.
A osteoartrose ou artrite é uma condição inflamatória, bem como a sinovite e
capsulite, e pode ocorrer devido a um trauma ou doença sistêmica (artrite reumatóide,
artrite reumatóide juvenil, lúpus eritematoso sistêmico, entre outras)4. Além disso, a
osteoartrose pode ser uma condição decorrente de uma osteoartrite, como resultado de
uma sobrecarga na ATM, representando uma fase adaptativa estável. Este processo
ocorre da seguinte forma: a osteoartrite provoca alterações estruturais nas superfícies da
articulação, levando a remodelação óssea, identificada em exames de imagem. A
condição é indolor, com presença de crepitação49.
Já a artralgia, nada mais é que a dor na ATM devido à inflamação, relacionada à
ansiedade, hábitos parafuncionais, má oclusão e traumatismo direto ou indireto na
mandíbula. Deve-se lembrar que as modificações de caráter restaurador, feitas ao longo
de um tempo nas superfícies oclusais dos dentes, podem gerar contatos prematuros e/ou
interferência oclusal, que funcionam como microtraumas. Dependendo da adaptação
fisiológica do indivíduo, pode haver artralgia das ATM como resultado de microtrauma
repetitivo4.
“Quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, mas as idéias”.
(Victor Hugo)
PROPOSIÇÃO
33
3. Proposição
O presente trabalho se propôs a avaliar a associação entre indicadores de qualidade de
vida, de saúde geral (distúrbios psiquiátricos menores) e de ansiedade em pacientes
diagnosticados como portadores de variadas formas de Disfunção Temporomandibular
(DTM), em variados graus de severidade (leve, moderada e severa), a partir das seguintes
análises:
•
Tipos de DTM e Qualidade de vida / Saúde Geral / Tipos de Ansiedade;
•
Graus de DTM e Qualidade de vida / Saúde Geral / Tipos de Ansiedade;
•
Tipos / Graus de DTM e Qualidade de vida / Saúde Geral / Tipos de Ansiedade.
“A única coisa de que tenho certeza é da singularidade do indivíduo.”
(Albert Einstein)
METODOLOGIA
35
4. Metodologia
4.1. Implicações Éticas
Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), sendo aprovado de acordo
com o parecer nº 116/2008 (ANEXO I). Todos os pacientes, que concordaram em
participar da pesquisa, assinaram a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(ANEXO II), aprovado por este comitê.
4.2. Local do Estudo
A presente pesquisa foi realizada no CIADE (Centro Integrado de Atendimento
a pacientes portadores de Disfunção do aparelho Estomatognático), que é um projeto de
extensão da Disciplina de Oclusão, do Departamento de Odontologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Este projeto visa o atendimento de todo paciente que
busca o serviço e é diagnosticado como portador de DTM. Dessa forma, não há limites
de idade para receber o tratamento, quando necessário, visto que a desordem pode se
manifestar tanto em crianças, adolescentes, adultos e idosos.
4.3. Amostra
Segundo Carlsson12, dentre as desordens que apresentam manifestações
dolorosas, a DTM e a dor orofacial aparecem com alta prevalência na população,
estando os sinais e sintomas presentes em até 86% da população ocidental. Assim, para
efeito de cálculo, considerou-se a prevalência como sendo de 86%, como mostra a
equação a seguir:
N = z2 . (1 – P)
E2 . P
Onde: N = tamanho da amostra
Z = 1, 96 para um nível de significância de 5 %
P = Prevalência
E = margem de erro de 10 %
36
N = (1,96)2 . (1 – 0,86)
(0,1)2 . 0,86
Dessa forma, chegou-se a um N igual a 62,53, que foi ajustado para 60
indivíduos, uma vez que este dado sobre prevalência (86%) não é exato12,66,46,52,57.
Foram avaliados cerca de 150 pacientes, que procuraram voluntariamente o
Departamento de Odontologia da UFRN encaminhados para a disciplina de Oclusão,
dos quais foram selecionados 60 que, de fato, possuíam Disfunção Temporomandibular.
Para este diagnóstico inicial, utilizou-se o Protocolo de Fonseca, que identifica a
presença de DTM, em diferentes graus de severidade.
Critérios de Inclusão
Homens e mulheres com idade maior ou igual a 12 anos, diagnosticados
inicialmente através do Protocolo de Fonseca28 (ANEXO V). Todos os
pacientes diagnosticados com algum grau de DTM (leve, moderado ou
severo) através deste protocolo foram incluídos no estudo e, posteriormente,
diagnosticados quanto ao tipo de DTM através do RDC-TMD (Research
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders)40.
Critérios de Exclusão
Pacientes que não sejam diagnosticados como portadores de Disfunção
Temporomandibular e/ou que apresentam problemas de saúde sistêmicos,
tais como doenças cardiovasculares e disfunções neurológicas, a fim de que
não funcionem como variáveis de confusão.
37
4.4. Instrumentos de Coleta de Dados (vide cópias dos questionários em
anexo)
4.4.1. Diagnóstico quanto ao tipo de DTM - muscular / articular /
muscular e articular.
Para o diagnóstico quanto ao tipo de Disfunção Temporomandibular foi
utilizado o eixo I do Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disfunction
(RDC –TMD).
O RDC-TMD consiste em um instrumento diagnóstico criado com o objetivo de
estabelecer critérios confiáveis e válidos para diagnosticar e definir subtipos de DTM, e
possui dois eixos diagnósticos. O eixo I consiste na avaliação física do paciente através
de 10 itens de exame clínico e de três questões subjetivas (questão 3- Q3 e questão 14 Q14.a; Q14.b). O eixo II agrupa cada paciente segundo a intensidade da dor crônica e
incapacidade, grau de depressão, escala de sintomas físicos não-específicos e limitação
da função mandibular, estando relacionado a condições psicológicas.
Dessa forma, a fim de obter o diagnóstico quanto ao tipo de DTM, utilizou-se
apenas o eixo I, que classificou os indivíduos como pertencentes à pelo menos um dos
três grupos de DTM: Dor miofascial, Deslocamentos do Disco Articular e outras
condições das Articulações Temporomandibulares (ATM). O eixo II do RDC não foi
utilizado uma vez que o mesmo foi substituído por três instrumentos da psicologia mais
específicos para o estudo.
O diagnóstico do eixo I é dado após a leitura e cálculo do exame segundo
esquemas pré-determinados para cada um dos três grupos, separadamente, em lados
direito e esquerdo (ANEXO IV), resultando na seguinte classificação:
• Grupo I - avalia se o paciente possui dor miofascial ou se possui dor
miofascial com limitação de abertura bucal.
Se o diagnóstico for
positivo dentro deste grupo de avaliação, o paciente possui DTM de
origem muscular;
• Grupo II - avalia se o paciente tem disfunção na ATM do tipo
deslocamento de disco, podendo ser identificadas as três formas:
38
deslocamento de disco com redução, deslocamento de disco sem redução
e deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura bucal.
Se o diagnóstico for positivo dentro deste grupo, o paciente possui DTM
articular, do tipo Deslocamento de Disco;
• Grupo III – avalia se o paciente possui disfunção na articulação do tipo
degenerativo: artralgia, osteoartrite ou osteoartrose. Se o diagnóstico for
positivo dentro deste grupo, o paciente possui DTM articular,
classificado como “outras condições da ATM”.
Para efeitos didáticos, os dois últimos grupos (Grupo II: deslocamentos do disco
e Grupo III: outras condições da ATM) podem ser reunidos num só diagnóstico – DTM
articular. Os casos diagnosticados dentro do Grupo I resultam no diagnóstico de DTM
muscular. Caso haja concomitância entre o grupo I e os grupos II e/ou III, o paciente é
portador tanto de DTM muscular quanto articular.
Para a avaliação física, se utilizou régua plástica flexível a fim de se realizar
medidas de abertura bucal e de movimentos excursivos mandibulares, e estetoscópio
para ausculta das ATM. Para a palpação dos músculos da mastigação, foi exercida uma
pressão bidigital num ponto relativamente central do músculo em avaliação. Os
músculos que sofreram palpação estão especificados no instrumento (página 3 do
ANEXO III).
Ao final da avaliação pelo RDC cada paciente foi diagnosticado quanto aos
subtipos de DTM (Grupos I, II e III), que puderam ser generalizados para três
grandes grupos: DTM Muscular, DTM Articular e DTM Muscular e Articular.
4.4.2. Diagnóstico Quanto ao Grau de DTM – leve / moderada / severa.
A coleta dos dados relativos aos sinais e sintomas que permite a classificação do
grau de DTM dos pacientes foi realizada por meio do Protocolo de Fonseca (1992)28.
Este possui dez questões que incluem informações a respeito das dificuldades em abrir a
boca e movimentar a mandíbula para os lados; cansaço ou dor muscular quando
mastiga; dores de cabeça com freqüência; dor na nuca ou torcicolo; dor no ouvido ou
nas regiões das articulações; ruído nas ATMs quando mastiga ou quando abre a boca;
39
hábito de apertar ou ranger os dentes; se os dentes não se articulam bem e se este se
considera uma pessoa tensa ou nervosa. Para ser possível a classificação do grau de
DTM atribuem-se valores de zero a 10 a cada questão de maneira que o “sim” possui
escore 10; “às vezes”, 5 e; “não” equivale à zero. Após a somatória dos resultados
obtidos, é possível estabelecer o nível da gravidade da DTM apresentada pelos
pacientes, segundo os padrões determinados pelo índice, sendo considerado de zero a 19
sem DTM; de 20 a 44, com DTM leve; de 45 a 69, com DTM moderada; e de 70 a 100,
com DTM severa ou grave.
4.4.3. Avaliação da Ansiedade
Para a identificação e caracterização do nível de ansiedade entre os pacientes
estudados, foi utilizado o “Inventário de Ansiedade Traço-Estado” (IDATE). Este é
constituído por dois questionários auto-aplicáveis: 1) Ansiedade-estado e 2) Ansiedadetraço. O questionário, que avalia a ansiedade-estado, consiste de 20 afirmações nas
quais o paciente indica como ele se sente em um determinado momento no tempo. O
questionário ansiedade-traço também consiste de 20 itens, mas nessa escala os pacientes
devem responder como geralmente se sentem durante sua vida.
4.4.4. Avaliação da Saúde Geral
Para a coleta da saúde geral, que reflete na qualidade de vida dos pacientes
estudados, foi utilizado o Questionário de Saúde Geral (QSG), que avalia a ausência dos
distúrbios psiquiátricos não psicóticos (chamados distúrbios psiquiátricos menores)51. O
questionário foi respondido individualmente, com o paciente acomodado em cadeira
odontológica da clínica de Odontologia da UFRN, onde lhe foi fornecido o questionário
e uma caneta. Inicialmente foram preenchidos os dados pessoais: idade, sexo, estado
civil. O examinador fez uma breve explicação, lendo juntamente com o paciente as
instruções, esclarecendo as possíveis dúvidas e orientando que seria necessário
responder sempre como está o seu estado atual. O paciente também foi esclarecido, que
suas informações são confidenciais e que mesmo para o examinador a resposta será
transformada em números e escores, não verificando as suas respostas individualmente.
40
O QSG contém 60 questões, que são subdivididas em seis fatores: estresse
psíquico, desejo de morte, desconfiança no próprio desempenho, distúrbios do sono,
distúrbios psicossomáticos e saúde geral. Para avaliação da saúde geral deve ser
realizada a soma das sessenta questões, que demonstra o estado de saúde geral do
paciente avaliado.
4.4.5. Avaliação da Qualidade de Vida
Para a verificação dos indicadores da qualidade de vida, utilizou-se o
WHOQOL-brief 27,64, um instrumento de avaliação específico, adaptado do WHOQOL100, desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde
(OMS). O WHOQOL-brief, que está traduzido para mais de 20 idiomas8, é composto
por 26 questões, divididas em quatro domínios: Físico, Psicológico, Social e Meio
Ambiente. Assim como os demais, o questionário foi respondido individualmente, com
o paciente acomodado em cadeira odontológica da clínica de Odontologia da UFRN,
após explicação pelo examinador acerca do instrumento. O paciente foi esclarecido de
que, a qualquer momento, poderia pedir auxílio na interpretação das questões, caso
sentisse necessidade. A qualidade de vida, segundo este instrumento, é medida de
acordo com uma escala analógica de 0 a 100, onde, quanto maior for o escore, maior é a
qualidade de vida e quanto menor o escore, menor a qualidade de vida.
4.5. Elenco de Variáveis
Quadro 1. Tipo, Classificação e Definição das variáveis
Variável
Tipo
Classificação
Sexo
Independente
Categórica
Definição
(nominal
mutuamente exclusiva)
Conformação
orgânica,
que
física
e
permite
distinguir homem e mulher.
Idade
Independente
Quantitativa
racional)
(contínua
Tempo de vida decorrido
desde o nascimento até
uma determinada data
tomada como referência
41
DTM Muscular
Independente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Presença de dor miofascial
com ou sem limitação de
abertura.
Dor miofascial
Independente
Categórica
(nominal
mutuamente exclusiva)
Dores nos músculos da
mastigação
e/ou
pontos
gatilho.
Dor miofascial c/ limitação
Independente
de abertura
Categórica
(nominal
mutuamente exclusiva)
Dores nos músculos da
mastigação e/ou pontosgatilho com prejuízo de
função:limitação
de
abertura bucal.
DTM Articular
Independente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Funcionamento anormal da
Articulação
Temporomandibular.
Deslocamento de disco
Independente
com redução
Categórica
(nominal
exaustiva)
Funcionamento anormal da
Articulação
Temporomandibular, onde
o disco sai de posição,
porém retorna à posição
original.
Deslocamento de disco sem
Independente
redução
Categórica
(nominal
exaustiva)
Funcionamento anormal da
Articulação
Temporomandibular, onde
o disco sai de posição e não
retorna.
Deslocamento de disco sem
Independente
redução com limitação de
Categórica
(nominal
exaustiva)
Funcionamento anormal da
Articulação
abertura
Temporomandibular, onde
o disco sai de posição e não
retorna, acompanhado de
limitação de abertura bucal.
DTM Articular
Independente
Categórica
(nominal
Funcionamento anormal da
42
(degenerativa)
exaustiva)
ATM, causado por sua máformação ou degeneração
fisiológica ou patológica.
Artralgia
Independente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Dor na articulação, devido
à
inflamação,
estar
podendo
relacionada
ansiedade,
à
hábitos
parafuncionais, má oclusão,
traumatismo
indireto
na
direto
ou
mandíbula,
artrite ou artrose.
Osteoartrite
Independente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Doença
articular
degenerativa em que ocorre
degeneração da cartilagem
da articulação.
Osteoartrose
Independente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Condição inflamatória que
compromete a articulação
como um todo: cápsula
articular,
sinovial,
membrana
ligamentos
e
musculatura Peri articular.
Protocolo de Fonseca
Grau de DTM
DTM Leve
Independente
Categórica
(nominal
Nível
de
gravidade
pequeno.Pontuação
exaustiva)
entre
20-44.
DTM Moderada
Independente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Nível
de
gravidade
médio.Pontuação entre 4569
DTM Severa
Independente
Categórica
exaustiva)
(nominal
Nível
de
gravidade
alto.Pontuação entre 70100.
IDATE
Inventário de Ansiedade
Traço-Estado
43
Dependente
Categórica
(nominal
mutuamente exclusiva)
Ansiedade – Traço
Ansiedade característica do
indivíduo/ dependente da
personalidade
Dependente
Categórica
(nominal
mutuamente exclusiva)
Ansiedade momentânea /
dependente de condições
externas
Ansiedade - Estado
QSG
Questionário
de
Saúde
Geral
Estresse psíquico
Desejo de morte
Dependente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Expressão de inquietude,
nervosismo
e
tensão
associada a situações e
eventos do cotidiano.
Dependente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Desconfiança no
Percepção de sentimentos
de intolerância a situações
atuais em graus que vão de
desempenho
leve desconforto a fuga das
situações e da vida.
Dependente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Sentimentos e impressões
relacionados à capacidade
de desempenhar as diversas
atividades do dia-a-dia.
Distúrbios do sono
Dependente
Categórica
exaustiva)
(nominal
Alterações
referentes
ao
sono, envolvendo aspectos
desde o conciliar o sono até
o despertar reconfortado
44
Dependente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Preocupação
ativa
freqüente
Distúrbios psicossomáticos
com
e
as
manifestações somáticas e
a saúde.
Dependente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Fator
de
composição,
resultante a expressão dos
demais fatores anteriores.
Saúde Geral
WHOQOL
World Health Organization
– Quality of Life
Dependente
Físico
Categórica
(nominal
exaustiva)
Caracteriza
a
expressão
fisiológica e percepção de
energia quanto à existência
de dor e desconfortos.
Dependente
Categórica
(nominal
Evidencia a manifestação
sentimentos e percepções
exaustiva)
sobre si e os demais.
Psicológico
Dependente
Categórica
(nominal
exaustiva)
Observa as relações e a
percepção
de
suporte
social.
Social
Dependente
Categórica
exaustiva)
(nominal
Identifica a percepção do
ambiente e seu entorno, as
pessoas e as condições
Meio ambiente
atuais de vida.
4.6. Análise dos Dados
Após a obtenção dos dados, os resultados foram tabulados e submetidos a testes
estatísticos, através do Programa SPSS, versão 15.0, para verificar as manifestações
entre os fatores estudados (Tipo de ansiedade, saúde geral, qualidade de vida e tipos e
níveis de Disfunção Temporomandibular). Tendo em vista o número de participantes e
45
suas características quanto aos fatores demográficos e psicossociais, não foi possível
valer-se de estratégias paramétricas de análises de resultados, principalmente no que se
refere à composição do grupo quanto ao sexo masculino, que tinha 07 integrantes.
Os resultados tabulados em planilhas eletrônicas (Excel) foram posteriormente
transferidos ao software estatístico após a checagem e depuração do banco de dados.
Verificou-se, através de teste de normalidade que a distribuição não seguiu parâmetros
de distribuição normal dos resultados dos instrumentos, estabelecendo assim o uso de
provas não paramétricas para o tratamento dos dados coletados.
A fim de responder a pergunta da pesquisa (“Existe associação entre AnsiedadeTraço, Ansiedade-Estado, Indicadores de Saúde Geral e Indicadores de Qualidade de
Vida e Diferentes tipos e graus de DTM?”), utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis (p ≤
0,05) para verificar se as médias das variáveis dependentes diferiam entre os grupos
estudados (variáveis independentes: tipos e graus de DTM). A diferença entre as médias
dos postos, quando p ≤ 0,05, permite inferir que, quando a média é maior, a associação
é mais forte, e quando a média é menor, a associação é mais fraca.
“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não
existirão resultados”
(Mahatma Gandhi)
RESULTADOS
47
5. Resultados
Apresentam-se os principais indicadores da estatística descritiva sobre a
identificação dos participantes, fatores psicossociais e clínicos.
5.1. Estatística Descritiva
• Participantes
Verificou-se que a idade mínima foi de 12 e a máxima de 68 anos, havendo uma
grande variação (DP aproximadamente de 15 anos), com média de idade em torno dos
36 anos. A idade mais freqüente foi a de 20 anos, que junto à média (36.48) e à
mediana (36), caracterizam este estudo como predominantemente da idade adulta,
conforme abaixo (tabela 1). Dos 60 indivíduos, 53 eram mulheres e apenas 07, homens.
Tabela 1. Idade dos indivíduos estudados – Medidas de Centro da Distribuição e Variabilidade
Idade
N
Mín.
Máx.
Média
DP
Moda
Mediana
60
12
68
36.48
15.556
20
36
• Escores clínicos
Dentre os tipos de DTM, observou-se maior número de indivíduos no Grupo
DTM Muscular e Articular (34), seguido do Grupo DTM Articular (11), e por último,
DTM Muscular (4). Onze indivíduos não foram diagnosticados com DTM pelo RDCTMD, embora tenham apresentado algum grau de DTM pelo Protocolo de Fonseca.
Nenhum homem foi diagnosticado com DTM muscular, como pode ser visto no gráfico.
Gráfico 1. Tipos de DTM pelo RDC-TMD. Distribuição por Sexo.
48
Em relação aos subtipos de DTM, aqueles com o maior número de casos foram
Dor miofascial e Deslocamento de disco com redução, ambos com 21 casos. Entre os
homens, o subtipo com maior número de indivíduos foi o Deslocamento de disco com
redução (5) e entre as mulheres, a dor miofascial foi mais prevalente (19), sendo o
menor número de casos, para ambos os sexos, o de Deslocamento de disco sem redução
com limitação de abertura (feminino = 1, masculino = 0). No grupo III, o subtipo mais
prevalente foi a artralgia (18), seguido da osteoartrite (16) e da osteoartrose (5),
conforme mostram gráficos a seguir.
Gráfico 2.Subtipos de DTM – Grupo I do RDC-TMD.
Distribuição por Sexo.
Gráfico 3.Subtipos de DTM – Grupo II do RDC-TMD.
Distribuição por Sexo. * Vide legenda
*Onde:
SD = Sem Diagnóstico;
DDCR = Deslocamento de Disco Com Redução;
DDSR = Deslocamento de Disco Sem Redução;
DDSRCL = Deslocamento de Disco Sem Redução Com Limitação.
Gráfico 4.Subtipos de DTM – Grupo III do RDC-TMD. Distribuição por Sexo.
49
Com relação ao grau de DTM, obteve-se a seguinte distribuição:
Gráfico 5.Grau de DTM pelo Protocolo de Fonseca.
• Escores psicológicos
Os resultados obtidos pelos participantes nos instrumentos Inventário de Ansiedade
Traço-Estado, Questionário de Saúde Geral e no WHOQOL- brief evidenciaram os
seguintes indicadores quanto a médias e desvios-padrão, conforme a tabela abaixo.
Tabela 2. Escores Psicológicos.Média e Desvio Padrão.
Média
DP
A Estado
42,79
10,05
A Traço
44,05
10,72
Stress
2,09
0,52
Morte
1,61
0,61
Desempenho
2,13
0,51
Sono
2,23
0,75
Somáticos
2,27
0,64
Saúde
2,07
0,51
Físico
13,02
2,37
Psico
13,14
2,03
Social
13,60
2,85
Meio Ambiente
12,18
2,69
IDATE
QSG
WHOQOL
50
5.2. Estatística Inferencial
Na distribuição apresentada no gráfico 1, observa-se que houve poucos casos
masculinos, existindo, inclusive, uma classificação (Deslocamento de disco sem
redução com limitação) em que não houve nenhum representante deste sexo. Além
disso, o grupo masculino apresentou dados em relação ao grau de DTM muito
discrepantes. Dessa forma, sendo os homens uma parcela pequena desta amostra, com
dados extremos, optou-se por sua omissão nos demais cálculos, a fim de que não
funcionassem como elementos com magnitudes acima do previsto (outliers). Com base
no exposto, segue a nova distribuição:
Tabela 3. Tipos de DTM pelo RDC-TMD. Amostra feminina
Tipo de DTM
Tabela 4. Grau de DTM pelo Protocolo de Fonseca.
Amostra feminina
N° de indivíduos
Grau de DTM
Sem diagnóstico
10
DTM Muscular
4
DTM Articular
9
DTM Muscular e Articular
30
TOTAL
53
Nº de indivíduos
DTM Leve
14
DTM Moderada
13
DTM Severa
26
Total
53
A partir desta nova amostra, foram feitos os seguintes cruzamentos de variáveis:
• Tipos de DTM X Aspectos psicológicos
Grupo I – RDC-TMD X qualidade de vida/ saúde geral/ ansiedade
Grupo II – RDC-TMD X qualidade de vida/ saúde geral/ ansiedade
Grupo III – RDC-TMD X qualidade de vida/ saúde geral/ ansiedade
DTM Muscular / Articular / Muscular e Articular X qualidade de vida/
saúde geral/ ansiedade.
• Grau de DTM X Aspectos psicológicos
DTM leve / moderada / severa X qualidade de vida / saúde geral /
ansiedade
51
• Tipos e Grau de DTM X Aspectos psicológicos
DTM muscular leve / muscular moderada / muscular severa X qualidade
de vida / saúde geral / ansiedade
DTM articular leve / articular moderada / articular severa X qualidade
de vida / saúde geral / ansiedade
DTM muscular e articular leve / muscular e articular moderada /
muscular e articular severa X qualidade de vida / saúde geral / ansiedade
52
5.2.1. SUBTIPOS DE DTM X ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Associação entre Subtipos de DTM (RDC-TMD) e aspectos psicológicos
Grupo I – RDC-TMD : Dor miofascial X Aspectos Psicológicos
Tabela 5.Associação entre o Grupo I do RDC-TMD e Ansiedade (IDATE)
Variáveis Dependentes
AEstado
Média dos
Grupo I - RDC
N
Sem diagnóstico
18
26,25
Dor miofascial
18
23,25
16
30,44
Dor miofascial com limitação
abertura
Postos
Total
52
Sem diagnóstico
18
26,22
Dor miofascial
18
24,94
16
28,56
*p
,383
IDATE
ATraço
Dor miofascial com limitação
abertura
Total
,781
52
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05 )
De acordo com o que mostra a tabela 5 acima, não houve associação (p =0,383 e
0,781) entre ansiedade e os subtipos de DTM muscular (grupo I – RDC) na população
do estudo. Da mesma forma (tabela 6, abaixo), não houve associação (p = 0,186; 0,921;
0,186;0,506;0,231;0,186) entre os itens do Questionário de Saúde Geral de Golberg
(QSG) e o grupo estudado (grupo I –RDC)
53
Tabela 6. Associação entre o Grupo I do RDC-TMD e Distúrbios psiquiátricos menores (QSG)
Variáveis Dependentes
Stress
Morte
Desempenho
Grupo I - RDC
N
Média dos
Postos
*p
Sem diagnóstico
18
21,78
,186
Dor miofascial
18
27,00
Dor miofacial com limitação
abertura
16
31,25
Total
52
Sem diagnóstico
17
22,56
Dor miofascial
17
25,76
Dor miofacial com limitação
abertura
15
26,90
Total
49
Sem diagnóstico
18
22,14
Dor miofascial
18
26,86
Dor miofascial com limitação
abertura
16
31,00
Total
52
Sem diagnóstico
18
21,08
Dor miofacial
18
29,25
Dor miofacial com limitação
abertura
16
29,50
Total
52
Sem diagnóstico
18
21,47
Dor miofascial
18
28,72
Dor miofascial com limitação
abertura
16
29,66
Total
52
Sem diagnóstico
18
22,00
Dor miofacial
18
26,97
Dor miofascial com limitação
abertura
16
31,03
Total
52
,921
,186
QSG
Sono
Somáticos
Saúde
*Teste de Kruskall- Wallis (p ≤ 0,05 )
,506
,231
,186
54
Tabela 7. Associação entre o Grupo I do RDC-TMD e Qualidade de Vida (WHOQOL)
Variáveis Dependentes
Fisico
Grupo I - RDC
Média dos
Postos
Sem diagnóstico
18
26,00
Dor miofacial
18
26,67
15
25,20
Dor miofacial com limitação
abertura
Psico
N
Total
51
Sem diagnóstico
18
26,33
Dor miofacial
18
28,47
15
22,63
Dor miofacial com limitação
abertura
Total
51
Sem diagnóstico
18
24,14
Dor miofacial
18
31,06
15
22,17
*p
,961
,521
WHOQOL
Social
Dor miofacial com limitação
abertura
Mamb
Total
51
Sem diagnóstico
18
26,19
Dor miofacial
18
30,86
15
19,93
Dor miofacial com limitação
abertura
Total
,178
,108
51
*Teste de Kruskall-Wallis ( p≤ 0,05 )
Na tabela 7, observa-se que também não houve associação entre os itens de
qualidade de vida e o Grupo I – RDC. Desta forma, os resultados mostram que não
houve associação estatisticamente significante entre nenhum dos fatores psicológicos
pesquisados (ansiedade, distúrbios psiquiátricos menores e qualidade de vida) e os
subtipos de DTM Muscular (Grupo I- RDC).
55
Grupo II – RDC-TMD: Deslocamentos de disco X Aspectos Psicológicos
Tabela 8. Associação entre o Grupo II do RDC-TMD e Ansiedade (IDATE)
Variáveis dependentes
AEstado
N
Sem diagnóstico
32
28,08
16
24,06
2
17,75
1
7,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
IDATE
ATraço
Média dos
Grupo II - RDC
Postos
Total
51
Sem diagnóstico
32
28,61
16
23,47
2
12,50
1
10,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
*p
,368
,234
Total
51
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
Não houve associação estatisticamente significante (p= 0,368 e 0,234) entre
Ansiedade e os subtipos de DTM Articular (Grupo II – RDC), conforme pode ser visto
na tabela acima. Abaixo, na tabela 9, observa-se que, da mesma forma, não houve
associação estatisticamente significante entre os itens do Questionário de Saúde Geral
de Golberg (QSG) e o grupo estudado (grupo II –RDC).
56
Tabela 9. Associação entre o Grupo II do RDC-TMD e os Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
Variáveis dependentes
Stress
Grupo II - RDC
Sem diagnóstico
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Morte
32
25,72
16
24,44
2
38,50
1
35,00
Sem diagnóstico
31
24,27
15
24,33
1
22,50
1
36,00
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Total
48
Sem diagnóstico
32
25,92
16
23,91
2
39,00
1
36,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Sono
Postos
51
redução
Desempenho
Média dos
Total
Deslocamento de disco com
QSG
N
Total
51
Sem diagnóstico
32
24,13
16
27,44
2
39,25
1
36,50
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Total
51
*p
,579
,871
,512
,431
57
Somáticos
Sem diagnóstico
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Saúde
32
23,98
16
27,41
2
41,50
1
37,00
Total
51
Sem diagnóstico
32
25,73
16
24,47
2
38,50
1
34,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Total
,326
,597
51
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
Observa-se que o único fator que apresentou correlação com os Deslocamentos
de Disco (DTM Articular) foi o fator social do questionário de qualidade de vida,
WHOQOL (p = 0,01), conforme mostra a tabela 10. Por meio do Teste de KruskallWallis, é possível estabelecer uma diferença de associação entre grupos. A diferença
entre as médias dos postos permite concluir se houve uma associação maior num
subtipo que em outro, sendo a maior média representativa de uma maior associação, e
vice-versa. Assim, a associação mais forte foi com o Deslocamento de disco com
redução (média dos postos = 35,03) e a mais fraca foi com Deslocamento de disco sem
redução com limitação (média dos postos = 15,00). Desta forma, pode-se dizer que
houve associação estatisticamente significante entre a qualidade de vida e
Deslocamentos de Disco (DTM Articular).
58
Tabela 10. Associação entre o Grupo II do RDC-TMD e Qualidade de Vida
Variáveis dependentes
Fisico
N
Sem diagnóstico
31
25,27
16
24,63
2
29,25
1
39,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Psico
50
Sem diagnóstico
31
24,00
16
30,44
2
8,25
1
27,50
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Social
Total
50
Sem diagnóstico
31
20,63
16
35,03
2
30,00
1
15,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Mamb
Total
50
Sem diagnóstico
31
21,92
16
30,78
2
34,50
1
34,00
Deslocamento de disco com
redução
Deslocamento de disco sem
redução e sem limitação
Deslocamento de disco sem
redução com limitação
Total
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
Postos
Total
Deslocamento de disco com
WHOQOL
Média dos
Grupo II -RDC
50
*p
,786
,165
,010
,165
59
Grupo III – RDC-TMD: Doenças degenerativas da ATM X Aspectos Psicológicos
Não houve associação estatisticamente significante (p = 0,776 e 0,577) entre
Ansiedade e o Grupo III –RDC (artralgia, osteoartrite,osteoartrose), conforme
apresentado na tabela 11.
Tabela 11. Associação entre o Grupo III do RDC-TMD e Ansiedade (IDATE)
Variáveis dependentes
AEstado
IDATE
ATraço
Média dos
Grupo III -RDC
N
Sem diagnóstico
18
24,31
Artralgia
17
28,03
Osteoartrite
14
28,50
Osteoartrose
3
21,67
Total
52
Sem diagnóstico
18
22,47
Artralgia
17
28,24
Osteoartrite
14
29,14
Osteoartrose
3
28,50
Total
52
*p
Postos
,776
,577
Neste grupo, que engloba as doenças degenerativas da ATM (DTM Articular),
observa-se que o item que mais se aproximou de uma associação estatisticamente
significante foi o fator somático (p = 0,053) do Questionário de Saúde Geral (QSG tabela 12). No entanto, não houve nenhuma associação relevante (p ≥ 0,05).
60
Tabela 12. Associação entre o Grupo III do RDC-TMD e Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
Variáveis Dependentes
N
Grupo III - RDC
Stress
Morte
Desempenho
QSG
Sono
Somáticos
Saúde
Média dos
Sem diagnóstico
18
24,81
Artralgia
17
31,41
Osteoartrite
14
26,11
Osteoartrose
3
10,67
Total
52
Sem diagnóstico
18
25,33
Artralgia
16
25,59
Osteoartrite
13
26,00
Osteoartrose
2
10,75
Total
49
Sem diagnóstico
18
24,67
Artralgia
17
32,00
Osteoartrite
14
25,61
Osteoartrose
3
10,50
Total
52
Sem diagnóstico
18
25,83
Artralgia
17
31,18
Osteoartrite
14
25,25
Osteoartrose
3
9,83
Total
52
Sem diagnóstico
18
25,97
Artralgia
17
32,21
Osteoartrite
14
24,43
Osteoartrose
3
7,00
Total
52
Sem diagnóstico
18
25,17
Artralgia
17
31,21
Osteoartrite
14
25,68
Osteoartrose
3
11,67
Total
*p
Postos
52
,151
,552
,117
,145
,053
,195
61
De maneira similar ao apresentado anteriormente, não houve associação
estatisticamente significante (p ≤ 0,05) para os itens do questionário de qualidade de
vida (WHOQOL), como mostra a tabela abaixo.
Tabela 13. Associação entre o Grupo III do RDC-TMD e Qualidade de Vida
Variáveis
dependentes
Fisico
Psico
Média dos
Grupo III - RDC
N
Sem diagnóstico
18
31,31
Artralgia
17
20,44
Osteoartrite
14
25,14
Osteoartrose
2
31,50
Total
51
Sem diagnóstico
18
30,75
Artralgia
17
24,65
Osteoartrite
14
21,39
Osteoartrose
2
27,00
Total
51
Sem diagnóstico
18
29,03
Artralgia
17
24,06
Osteoartrite
14
25,75
Osteoartrose
2
17,00
Total
51
Sem diagnóstico
18
32,31
Artralgia
17
23,38
Osteoartrite
14
22,18
Osteoartrose
2
18,25
Total
51
Postos
*p
,171
,333
WHOQOL
Social
Mamb
,610
,154
62
5.2.2. TIPOS DE DTM (MUSCULAR / ARTICULAR / MUSCULAR E
ATICULAR) X ASPECTOS PSICOLÓGICOS
DTM muscular / articular / muscular e articular X Aspectos Psicológicos
Tabela 14. Associação entre os tipos de DTM e Ansiedade (IDATE)
Variáveis dependentes
AEstado
Tipo de DTM
N
Média dos Postos
*p
DTM muscular
11
29,91
,411
DTM articular
12
22,50
DTM muscular e articular
26
24,08
Total
49
DTM muscular
11
27,18
DTM articular
12
27,67
DTM muscular e articular
26
22,85
Total
49
IDATE
ATraço
,530
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
Observa-se, na tabela 14, que não houve associação estatisticamente significante
(p ≤ 0,05) entre Ansiedade e os tipos de DTM. Da mesma forma, não houve associação
estatisticamente significante (tabela 15) entre os distúrbios psiquiátricos menores,
expressos pelos itens do QSG, e os tipos de DTM. Já entre os fatores de qualidade de
vida (WHOQOL) e os tipos de DTM (tabela 16), houve associação estatisticamente
significante para o domínio Físico (p = 0,037), onde a associação mais forte se deu
entre os portadores de DTM Muscular e Articular (Média dos Postos = 28,69) e a mais
fraca entre os portadores de DTM Muscular (Média dos Postos = 15,91).
63
Tabela 15. Associação entre os Tipos de DTM e os Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
Variáveis Dependentes
Stress
Morte
Desempenho
Tipos de DTM
N
Média dos Postos
*p
DTM muscular
11
22,45
,794
DTM articular
12
26,08
DTM muscular e articular
26
25,58
Total
49
DTM muscular
11
21,86
DTM articular
10
28,55
DTM muscular e articular
25
22,20
Total
46
DTM muscular
11
21,91
DTM articular
12
26,00
DTM muscular e articular
26
25,85
Total
49
DTM muscular
11
23,59
DTM articular
12
23,54
DTM muscular e articular
26
26,27
Total
49
DTM muscular
11
27,41
DTM articular
12
20,75
DTM muscular e articular
26
25,94
Total
49
DTM muscular
11
22,68
DTM articular
12
26,46
DTM muscular e articular
26
25,31
Total
49
,402
,717
QSG
Sono
Somáticos
Saúde
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
,803
,474
,808
64
Tabela 16. Associação entre os Tipos de DTM e Qualidade de Vida
Variáveis
Tipos de DTM
N Média dos Postos
*p
Dependentes
Fisico
Psico
DTM muscular
11
15,91
DTM articular
11
23,18
DTM muscular e articular
26
28,69
Total
48
DTM muscular
11
22,59
DTM articular
11
22,73
DTM muscular e articular
26
26,06
Total
48
DTM muscular
11
22,64
DTM articular
11
22,09
DTM muscular e articular
26
26,31
Total
48
DTM muscular
11
23,55
DTM articular
11
16,68
DTM muscular e articular
26
28,21
Total
48
,037
,698
WHOQOL
Social
Mamb
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
,612
,069
65
5.2.3. NÍVEIS DE DTM E ASPECTOS PSICOLÓGICOS
DTM leve / moderada / severa X Aspectos Psicológicos
Tabela 17. Associação entre o Grau de DTM e Ansiedade (IDATE)
Variáveis
Dependentes
AEstado
Média dos
Nível de DTM
N
DTM Leve
4
24,75
DTM Moderada
9
27,50
DTM Severa
29
19,19
Total
42
DTM Leve
4
26,75
DTM Moderada
9
29,17
DTM Severa
29
18,40
Total
42
*p
Postos
,176
IDATE
ATraço
,047
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
A tabela acima (tabela 17) mostra que houve associação estatisticamente
significante entre a Ansiedade-Traço e os Níveis de DTM (p = 0,047), sendo a
associação mais significativa a dos portadores de DTM Moderada (maior Média de
Postos).
A tabela abaixo (tabela 18) mostra que não houve associação estatisticamente
significante apenas para o item Estresse do QSG ( p = 0,78), sendo a associação de
todos os outros itens estatisticamente significante, onde a associação mais forte se deu
entre os pacientes com DTM Leve, conforme mostra as médias dos postos.
66
Tabela 18. Associação entre o Grau de DTM e os Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
Variáveis Dependentes
Estresse
Morte
Desempenho
Nível de DTM
N
Média dos
Postos
DTM Leve
4
33,75
DTM Moderada
9
26,56
DTM Severa
29
18,24
Total
42
DTM Leve
4
31,75
DTM Moderada
9
20,61
DTM Severa
26
17,98
Total
39
DTM Leve
4
33,63
DTM Moderada
9
27,06
DTM Severa
29
18,10
Total
42
DTM Leve
4
29,75
DTM Moderada
9
27,78
DTM Severa
29
18,41
Total
42
DTM Leve
4
30,88
DTM Moderada
9
29,06
DTM Severa
29
17,86
Total
42
DTM Leve
4
34,75
DTM Moderada
9
26,39
DTM Severa
29
18,16
Total
42
*p
,078
,018
,049
QSG
Sono
Somáticos
Saúde
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
,016
,016
,042
67
Pode-se observar na tabela 19 que a única associação estatisticamente
significante entre os níveis de DTM e o questionário de qualidade de vida (WHOQOL)
se deu no domínio Físico (p = 0,042), sendo a associação mais forte a dos portadores de
DTM Leve.
Tabela 19. Associação entre o Grau de DTM e Qualidade de Vida (WHOQOL)
Variáveis
Nível de DTM
Dependentes
Fisico
Psico
N
Média dos
Postos
DTM Leve
4
28,38
DTM Moderada
9
12,72
DTM Severa
28
22,61
Total
41
DTM Leve
4
14,25
DTM Moderada
9
20,44
DTM Severa
28
22,14
Total
41
DTM Leve
4
21,63
DTM Moderada
9
15,78
DTM Severa
28
22,59
Total
41
DTM Leve
4
21,63
DTM Moderada
9
16,22
DTM Severa
28
22,45
Total
41
*p
,042
,453
WHOQOL
Social
Mamb
*Teste de Kruskall-Wallis (p ≤ 0,05)
,320
,394
68
5.2.4.TIPOS E GRAU DE DTM X ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Tipos e Grau de DTM X Aspectos Psicológicos
Tabela 20. Associação entre Tipos e Grau de DTM e Ansiedade (IDATE)
Variáveis Dependentes
IDATE
AEstado
ATraço
Tipo e Grau de DTM
N
Média dos Postos
*p
Muscular Leve
1
6,50
,317
Muscular Moderada
2
38,00
Muscular Severa
1
14,00
Articular Leve
3
15,00
Articular Moderada
2
28,75
Articular Severa
4
14,75
Muscular e Articular Leve
3
23,50
Muscular e Articular Moderada
7
25,86
Muscular e Articular Severa
19
20,71
Total
42
Muscular Leve
1
8,50
Muscular Moderada
2
25,75
Muscular Severa
1
4,50
Articular Leve
3
22,33
Articular Moderada
2
33,00
Articular Severa
4
17,38
Muscular e Articular Leve
3
19,17
Muscular e Articular Moderada
7
26,00
Muscular e Articular Severa
19
20,87
Total
42
,577
*Teste de Kruskall-Wallis (p≤ 0,05)
Não houve associação estatisticamente significante entre Ansiedade e os Tipos e
Grau de DTM.
69
Tabela 21. Associação entre Tipos e Grau de DTM e Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
Variáveis Dependentes
Tipos e Nível de DTM
N
Stress
Morte
QSG
Desempenho
Média dos Postos
*p
,294
Muscular Leve
1
29,00
Muscular Moderada
2
11,75
Muscular Severa
1
31,00
Articular Leve
3
34,17
Articular Moderada
2
15,50
Articular Severa
4
26,38
Muscular e Articular Leve
3
24,67
Muscular e Articular Moderada
7
25,29
Muscular e Articular Severa
19
17,34
Total
42
Muscular Leve
1
30,00
Muscular Moderada
2
12,00
Muscular Severa
1
39,00
Articular Leve
3
32,50
Articular Moderada
2
6,50
Articular Severa
4
17,13
Muscular e Articular Leve
2
35,25
Muscular e Articular Moderada
7
19,50
Muscular e Articular Severa
17
17,71
Total
39
Muscular Leve
1
30,00
Muscular Moderada
2
11,50
Muscular Severa
1
26,00
Articular Leve
3
34,83
Articular Moderada
2
17,00
Articular Severa
4
27,00
Muscular e Articular Leve
3
24,00
Muscular e Articular Moderada
7
26,21
Muscular e Articular Severa
19
16,95
Total
42
,049
0,241
70
Sono
Somáticos
Saúde
Muscular Leve
1
30,50
Muscular Moderada
2
26,50
Muscular Severa
1
26,00
Articular Leve
3
27,50
Articular Moderada
2
11,75
Articular Severa
4
27,38
Muscular e Articular Leve
3
26,17
Muscular e Articular Moderada
7
24,86
Muscular e Articular Severa
19
17,13
Total
42
Muscular Leve
1
31,00
Muscular Moderada
2
20,00
Muscular Severa
1
27,00
Articular Leve
3
25,33
Articular Moderada
2
16,75
Articular Severa
4
30,00
Muscular e Articular Leve
3
27,00
Muscular e Articular Moderada
7
22,00
Muscular e Articular Severa
19
17,92
Total
42
Muscular Leve
1
28,00
Muscular Moderada
2
11,75
Muscular Severa
1
31,00
Articular Leve
3
34,33
2
15,50
Articular Severa
4
26,13
Muscular e Articular Leve
3
24,67
Muscular e Articular Moderada
7
25,36
Muscular e Articular Severa
19
17,39
Total
42
,504
,693
,302
*Teste de Kruskall-Wallis (p≤ 0,05)
Na tabela 21, verifica-se que houve associação estatisticamente significante entre o fator
“desejo de morte” do QSG e os Tipos e Grau de DTM (p = 0,049), onde a associação mais forte
se deu entre os portadores de DTM Muscular Severa (maior Média de Postos).
71
Tabela 22. Associação entre Tipos e Grau de DTM e Qualidade de Vida (WHOQOL)
Variáveis Dependentes
Fisico
Psico
WHOQOL
Social
Tipo e Grau de DTM
N
Média dos
Postos
Muscular Leve
1
32,00
Muscular Moderada
2
22,25
Muscular Severa
1
18,00
Articular Leve
3
16,50
Articular Moderada
2
21,50
Articular Severa
4
31,13
Muscular e Articular Leve
3
17,00
Muscular e Articular Moderada
7
18,64
Muscular e Articular Severa
18
20,44
Total
41
Muscular Leve
1
22,00
Muscular Moderada
2
31,50
Muscular Severa
1
33,50
Articular Leve
3
15,67
Articular Moderada
2
29,00
Articular Severa
4
25,00
Muscular e Articular Leve
3
15,67
Muscular e Articular Moderada
7
16,93
Muscular e Articular Severa
18
20,67
Total
41
Muscular Leve
1
10,50
Muscular Moderada
2
24,00
Muscular Severa
1
30,50
Articular Leve
3
10,33
Articular Moderada
2
17,75
Articular Severa
4
30,13
Muscular e Articular Leve
3
22,50
Muscular e Articular Moderada
7
19,14
Muscular e Articular Severa
Total
21,31
41
*p
,770
,634
,556
72
Mamb
Muscular Leve
1
28,50
Muscular Moderada
2
28,75
Muscular Severa
1
25,00
Articular Leve
3
9,00
Articular Moderada
2
23,50
Articular Severa
4
28,88
Muscular e Articular Leve
3
16,00
Muscular e Articular Moderada
7
13,93
Muscular e Articular Severa
18
23,06
Total
41
,286
*Teste de Kruskall-Wallis (p≤ 0,05)
Não houve associação estatisticamente significante (p≤ 0,05) entre nenhum dos
domínios do WHOQOL e os Tipos e Grau de DTM.
“Nunca houve no mundo duas opiniões iguais, nem dois fios de cabelo ou
grãos. A qualidade mais universal é a diversidade.” (Michel de Montaigne)
DISCUSSÃO
74
6. Discussão
Tem-se atribuído às alterações oclusais uma grande participação no desequilíbrio
da função muscular e no desenvolvimento das DTMs, sendo estas consideradas, na grande
maioria das vezes, o fator etiológico das mesmas. Porém, sabe-se que a DTM possui
etiologia multifatorial, sendo a oclusão, apenas um dos fatores envolvidos3,7,16,53.
A literatura tem mostrado que os fatores emocionais e a qualidade de vida
também podem estar envolvidos tanto na etiologia, na progressão, como também na
manutenção das Disfunções Temporomandibulares e dores orofaciais. Alguns trabalhos
avaliam o papel de algumas alterações psicológicas 22, 5, 34, 29, porém não avaliam outros
fatores em conjunto como, por exemplo, a qualidade de vida. Neste estudo se buscou
avaliar não só os fatores psicológicos (tipos de ansiedade), como também aqueles
relacionados à qualidade de vida e saúde geral, de forma a reforçar a necessidade de
tratamento multidisciplinar do portador de DTM.
Diferentemente de outras doenças que se relacionam ao estresse, a DTM não é
uma entidade patológica isolada, mas um conjunto de desordens do aparelho
estomatognático, que é subdividido e classificado qualitativa e quantitativamente. Em
termos qualitativos, como já visto anteriormente, a DTM pode ser considerada de
origem muscular, articular ou de ambas. E em termos quantitativos, pode ser dividida
em variados graus de severidade: leve, moderado e severo. A importância clínica destas
classificações está justamente no tratamento que será adotado em cada caso. Para se
chegar a um protocolo de tratamento do portador de DTM, bem como se chegou a um
protocolo de diagnóstico, com a criação do RDC – TMD (Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders), inicialmente faz-se necessário que se tenha um
perfil de distribuição dos fatores comportamentais que participam das diversas formas
da doença. Compreender como se dá a distribuição dos aspectos psicológicos nas várias
classificações da Disfunção é fundamental para tratar adequadamente o paciente.
McNeill44 atentou para o fato de que deve se priorizar um tratamento reversível que
envolva uma abordagem física e comportamental do portador de DTM, uma vez que
pouco se sabe sobre o curso natural da disfunção, e quais os sinais e sintomas vão
progredir para uma condição mais séria. Portanto, é primordial que, durante a
investigação diagnóstica, se proceda também uma investigação das condições
psicológicas atuais do paciente.
75
Neste estudo, foi realizado um diagnóstico inicial através do Protocolo de
Fonseca em cerca de 150 pacientes com queixas de sinais e sintomas sugestivos de
DTM. O número de sujeitos arrolados baseou-se em cálculo amostral a partir da
prevalência da doença na literatura. Cabe aqui uma ressalva: os dados sobre a
prevalência de DTM são inconsistentes, variam muito de um estudo para outro, bem
como varia a população estudada, conforme visto na revisão da literatura. Além disso,
estudos epidemiológicos de DTM abordam a prevalência de sinais e sintomas da
Disfunção e não os casos de fato diagnosticados como DTM. Muitas vezes a simples
presença de um sinal ou sintoma de DTM não quer dizer que o paciente tenha
desenvolvido a disfunção. De Bont21, afirma que articulações saudáveis podem produzir
sons, e que a diferença entre esses sons e os ruídos da disfunção (crepitação, estalidos)
ainda não está clara. Além do mais, uma articulação pode apresentar estalido por muitos
anos sem que haja danos ou prejuízo de função devido à adaptação do organismo. Para
que o estudo de prevalência da doença seja coerente é preciso que sejam utilizados
instrumentos diagnósticos validados, como o RDC-TMD (Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders)40.
O RDC/TMD foi proposto inicialmente na língua inglesa, sendo posteriormente
traduzido. Para realização da adaptação cultural deste questionário, fez-se uma
avaliação da tradução inglês-português e a validade aparente (avaliação por um comitê
multidisciplinar e pré-teste). Segundo Lucena e colaboradores38 esse processo de
adaptação cultural resultou em um instrumento de fácil entendimento e aplicação. A
consistência interna e reprodutibilidade do mesmo foram verificadas por Campos e
colaboradores11, sendo positiva. No presente trabalho, o RDC-TMD foi aplicado apenas
aos casos diagnosticados através do Protocolo de Fonseca, assim, os casos que
resultaram no diagnóstico “sem DTM (0-15)” por este protocolo, foram excluídos do
estudo. Aos demais casos (DTM leve, moderada ou severa) aplicaram-se o RDC-TMD
a fim de identificar os tipos de disfunção (muscular/ articular/ ambos).
Após o diagnóstico através do RDC-TMD, observou-se que 11 casos
identificados pelo Protocolo de Fonseca não apresentaram diagnóstico nenhum quanto
ao tipo de DTM. Este achado suscita a necessidade de averiguação dos instrumentos de
diagnóstico, especialmente o Protocolo de Fonseca, uma vez que pode estar resultando
em casos falso-positivos. Este protocolo é extremamente útil pela sua praticidade de
uso, já que se trata de um breve questionário (10 questões) auto-aplicável. Porém deve-
76
se ter cuidado ao se utilizar somente ele como instrumento diagnóstico, já que poderá
estar identificando casos sem necessidade. É fundamental que outros estudos testem a
sensibilidade do Protocolo de Fonseca. A ocorrência de falso-positivos pode estar ligada
à estruturação do questionário 28, que reúne itens que são mais importantes para avaliar
DTM que outros, num mesmo grau de importância, atribuindo-se a eles uma mesma
pontuação. Este achado reforça o uso do Protocolo como um importante elemento de
triagem e não de diagnóstico. Nesta pesquisa não houve prejuízo quanto a este aspecto,
uma vez que também se aplicou o RDC-TMD, instrumento diagnóstico aceito
internacionalmente e já devidamente validado, que envolve além dos questionários,
critérios de investigação física (palpação, ausculta, medidas dos movimentos excursivos
de mandíbula,etc). Toledo, Capote e Campos65, estudando a associação entre grau de
DTM, medido pelo Protocolo de Fonseca, e depressão, através do eixo II do RDCTMD, afirmaram que todos os pacientes que apresentaram depressão grave
apresentaram também algum tipo de DTM. Tendo em vista que o Protocolo de Fonseca
confere diagnóstico quanto ao grau de DTM e não quanto ao tipo, e que pode identificar
casos falso-positivos, sugere-se a aplicação do eixo I do RDC-TMD, a fim de confirmar
os resultados encontrados pelo Protocolo, para que se possa afirmar a respeito da
associação com depressão.
A distribuição por sexo, considerando-se as subclasses de DTM do RDC-TMD,
aparece neste trabalho um tanto quanto pulverizada, devido ao tamanho da amostra.
Para uma leitura mais clara e objetiva, decidiu-se reunir as subclasses em três grandes
grupos, já citados na metodologia: DTM Muscular (contemplando o primeiro grupo
diagnóstico do RDC-TMD); DTM Articular (contemplando os grupos II e / ou III);
DTM Muscular e Articular (grupos I e II e/ou III). Assim, pode-se observar uma
predominância de casos de DTM Muscular e Articular (34 casos) em relação aos de
DTM Articular (11 casos) e DTM Muscular (apenas 4 casos). De Bont, Dijkgraaf e
Stegenga21, estudaram os aspectos epidemiológicos e a progressão natural das alterações
funcionais do sistema estomatognático de origem articular e afirmaram que o termo
desordens temporomandibulares é uma denominação coletiva que engloba tanto
desordens de origem muscular, oclusal e articular.
A prevalência de casos femininos em relação aos masculinos deste estudo está
de acordo com o que diz a literatura
40, 56, 59
, que mostra que os sinais e sintomas de
DTM são mais freqüentemente referidos por mulheres. A susceptibilidade feminina às
77
DTMs, segundo De Bont, Dijkgraaf e Stegenga21 pode estar relacionada à natureza
biomolecular. Os avanços na área de biologia molecular poderão responder a questões
sobre a predominância feminina em várias doenças articulares degenerativas,
especialmente nas adolescentes. Embora, alguns estudos tenham sugerido que esta
predominância pode não estar ligada apenas a questões do comportamento feminino,
como a freqüência de cuidados e visitas médico-odontológicas maior que dos homens,
acredita-se na influência deste comportamento sobre os dados de prevalência deste e dos
demais estudos.
6.1. Ansiedade (IDATE)
Conforme já visto na revisão de literatura10, sabe-se que a ansiedade é um
fenômeno psicológico decorrente da desadaptação e regulação de ações na vida
cotidiana e que é gerada pela sensação de incerteza diante dos fatos e acontecimentos
futuros, causando ativação do sistema nervoso autônomo e aumento da atividade
endócrina.
Apesar de fortes sugestões clínicas de que os portadores de DTM apresentam-se
ansiosos
60,69,20, 42, 29
neste estudo a única associação estatisticamente significante entre
este fator psicológico e a Disfunção Temporomandibular foi dada com o Grau de DTM,
não tendo associação com o tipo de disfunção. Este dado corrobora com o resultado
encontrado por Marchiori e colaboradores41, que mostrou que há correlação positiva
entre
DTM
e
ansiedade,
principalmente
a
ansiedade-traço
(personalidade).
Diferentemente do estudo de Marchiori, em que a amostra se constituiu de crianças (915 anos) de escolas particulares, no presente estudo não houve delimitação etária,
tampouco socioeconômica, sendo a população heterogênea, representativa da população
geral. Já no estudo de Fernandes et al26, foi encontrado que embora tenha havido uma
relação diretamente proporcional entre DTM e ansiedade, não houve diferença
estatisticamente significante entre a ansiedade-traço e estado. Ou seja, nesta população,
graduandos de odontologia da Universidade de Brasília (UnB), a característica de
personalidade, inerente ao indivíduo, diferentemente dos achados deste estudo e dos de
Marchiori et al41, não esteve associada à presença de DTM.
78
Acredita-se que, apesar da amostra da presente pesquisa ser relativamente
pequena, quando considerada sua divisão em subtipos de DTM, e baseada em dados de
prevalência inconsistentes na literatura, ela seja bastante representativa da população
geral, uma vez que a triagem foi feita de maneira aleatória em um Centro de
Atendimento a Portadores de DTM (CIADE – UFRN), freqüentado por pacientes das
mais diversas classes sociais e faixas etárias, por não haver outro centro de referência
para a disfunção na cidade onde se realizou a pesquisa (Natal-RN). A fim de que se
confirmem estes resultados, faz-se necessário um estudo de base populacional que
utilize como instrumento diagnóstico para DTM o RDC-TMD.
6.2. Distúrbios Psiquiátricos Menores (QSG)
O QSG, criado por Golberg, 1972, é um importante instrumento usado para
detectar o estado de saúde mental do paciente em relação aos distúrbios psiquiátricos
menores (não-psicóticos). Erroneamente tem sido utilizado como instrumento para
medir qualidade de vida. A qualidade de vida se refere a um conceito muito mais amplo
e abrange dimensões diferentes das estudadas pelo QSG. A análise dos resultados do
QSG se faz pela interpretação do conteúdo semântico dos seus seis fatores conforme já
visto na revisão da literatura 51. Diversos estudos
22, 5, 34
avaliam a depressão, escala de
dor e ansiedade em portadores de DTM, entretanto não abordam os indicadores de
saúde geral. Evidenciar se há ou não associação com a saúde geral, medida pela
presença de distúrbios psiquiátricos menores, através do QSG, é essencial para conhecer
o verdadeiro impacto das alterações psicológicas na vida do paciente.
Neste estudo, nenhum destes seis fatores esteve associado ao Tipo de DTM, quer
sejam os subtipos (Grupos 1, 2 e 3 do RDC-TMD), quer sejam os tipos muscular,
articular, muscular e articular. Contudo, houve associação entre os distúrbios
psiquiátricos menores (QSG) e o grau de severidade de DTM. Ou seja, os distúrbios
psiquiátricos menores não estiveram associados aos tipos de DTM, porém a intensidade
da disfunção foi importante para haver a associação. Entretanto, quando analisados tipos
e níveis de DTM, em conjunto, o item “desejo de morte” do QSG apareceu associado à
DTM Muscular severa (p = 0,049). Com relação aos subgrupos de DTM, quando
comparados pacientes com dor muscular com aqueles com dor articular, há uma
79
tendência nos pacientes com dor muscular em apresentar mais problemas psicológicos,
pior qualidade do sono e uma maior quantidade de agentes estressores8,
9, 37, 39, 70
entretanto, tal fato não foi verificado neste estudo.
No estudo de Manfredini e colaboradores40, em que se usou também o RDCTMD como meio diagnóstico, a dor miofascial esteve mais associada aos fatores
psicológicos analisados (distúrbios de humor e medo de lugares abertos e multidões)
que os demais grupos do instrumento. De forma contrária, na presente pesquisa o grupo
de dor miofascial não apresentou associação com nenhum dos indicadores psicológicos.
A literatura geralmente traz trabalhos que avaliam estresse com o tipo de DTM 5,
8
e não com o grau. O fator estresse não esteve associado a nenhum nível de DTM,
entretanto todos os outros fatores apareceram associados (desejo de morte, desconfiança
no próprio desempenho, distúrbios do sono, distúrbios psicossomáticos e saúde geral), e
mais associados à DTM Leve.
Considerando-se que os níveis de DTM evoluem de forma gradativa, partindo de
um estado de higidez para uma disfunção leve que, se cronificada, pode evoluir para um
comprometimento moderado ou severo, é possível se pensar que os itens supracitados
estejam bastante associados à DTM leve devido ao fato desta funcionar como algo
novo, que gera um estado psicológico alterado. Neste sentido, ao perceber um problema
desconhecido, o paciente apresenta desejo de fuga, acredita não ser possível
desempenhar as atividades diárias de maneira satisfatória, passa a ter dificuldades em
conciliar o sono, sente-se mal de saúde de uma forma geral. A evolução para um estado
moderado ou severo de disfunção pode ser acompanhada por um aprendizado de
comportamentos na tentativa de lidar com as manifestações do problema, existindo
assim uma menor associação com o QSG.
Auerbach e colaboradores5, concluíram que os fatores psicológicos têm um
papel mais importante em dores de origem muscular. O mesmo foi encontrado por
Bertoli e colaboradores8, que estudaram o nível de disfunção psicológica e estresse em
pacientes com DTM muscular e articular.
Isto pôde ser observado na associação
encontrada neste estudo entre DTM Muscular severa e o item “desejo de morte” do
QSG. Entretanto, quando analisado isoladamente o subtipo “dor miofascial” (Grupo I
do RDC-TMD), não houve associação com nenhum indicador psicológico. Tal fato
reforça a importância do grau de disfunção em detrimento do subtipo para o
aparecimento de distúrbios psicológicos.
Auerbach e colaboradores5 afirmam que
80
intervenções no comportamento devem ser aplicadas em pacientes em que o fator
psicológico aparece com um papel importante.
6.3. Qualidade de Vida (WHOQOL)
Conforme já dito na revisão de literatura15, a avaliação da Qualidade de Vida
deve se basear na percepção do indivíduo sobre o seu estado de saúde, englobando-se
aspectos gerais da vida e do bem-estar.
Na odontologia, bem como em outros ramos da área médica, sabe-se que
medições objetivas da doença fornecem poucas respostas do impacto das alterações
bucais na vida diária e na qualidade de vida1. Daí a importância de se buscar conhecer
os fatores psicossociais que podem estar envolvidos na doença.
Em DTM, têm-se encontrado trabalhos que avaliam a qualidade de vida através
do OHIP (Oral Health Impact Profile)
33, 32, 68
, que difere do WHOQOL, usado na
presente pesquisa.
Reißmann e colaboradores55, utilizando o RDC-TMD como meio diagnóstico,
encontraram que os pacientes com dor miofascial (Grupo I do RDC-TMD) tiveram,
através do OHIP, maior impacto sobre a qualidade de vida que os demais grupos
(deslocamento de disco e outras doenças degenerativas da ATM – Grupos II e III do
RDC-TMD). Os achados da presente pesquisa se opõem a estes, uma vez que a
qualidade de vida esteve associada ao Grupo II do RDC-TDM, mas não aos outros dois
grupos. Tal fato provavelmente decorre das diferenças metodológicas dos estudos. O
índice OHIP é um instrumento mais específico, que trata do impacto da saúde oral sobre
a qualidade de vida. Já o WHOQOL, é um instrumento que não se restringe à saúde
oral. Como a DTM não envolve apenas a saúde oral, considerou-se mais adequado o
uso do WHOQOL nesta pesquisa.
Assim, foi observada associação entre a qualidade de vida (QV) e os
Deslocamentos de Disco com redução (p = 0,01), DTM Muscular e Articular (p =
81
0,037) e DTM leve (p = 0,042).
Dentre os subtipos de DTM, o único que apresentou associação foi o
deslocamento do disco com redução com o fator social. Tal fato pode ser entendido
81
pelos sinais e sintomas comuns desta categoria de disfunção, tais como estalidos e
limitação de função. Pode-se depreender deste achado que possivelmente esteja
ocorrendo um prejuízo das funções sociais, como por exemplo, atividades em grupo.
Já entre os tipos de DTM (muscular / articular / muscular e articular) houve
associação estatisticamente significante para o domínio Físico (p = 0,037), onde a
associação mais forte se deu entre os portadores de DTM Muscular e Articular. Isto
implica dizer que neste grupo há maior expressão fisiológica e percepção de energia
quanto à existência de dor e desconfortos. Diferentemente deste resultado, que mostra
que a existência de dois componentes (muscular e articular) foi importante para haver
associação com a qualidade de vida, Reißmann e colaboradores55 encontraram que
aqueles pacientes diagnosticados unicamente no Grupo I do RDC-TMD ( DTM
Muscular) estiveram mais associados a QV que os demais. Embora sejam instrumentos
de medida diferentes, tanto o OHIP, quanto o WHOQOL tem o mesmo fim - avaliar o
impacto de condições adversas sobre a qualidade de vida - e ambos encontraram
associação com a DTM.
Em relação ao Grau de DTM, novamente a DTM leve esteve mais associada que
a moderada e a severa aos fatores psicológicos. Neste caso, a associação se deu no
domínio Físico do WHOQOL, que denota maior percepção do comprometimento físico
causado pela disfunção. Esta percepção é maior quando se sai de um estado de higidez
para de doença (leve) do que entre os níveis da doença (moderada e severa). Não foram
encontrados outros estudos que avaliassem a associação entre o grau de severidade da
disfunção e a qualidade de vida.
Novos estudos, especialmente relativos ao acompanhamento2 durante e após o
tratamento, são fundamentais para que se possa compreender o papel que o aspecto
psicossocial pode estar desempenhando, quer seja como um dos fatores causais quer
seja como conseqüência da disfunção. Alerta-se para o fato de que é necessário se tentar
superar as limitações aqui encontradas. Os resultados que aparecem neste estudo estão
ligados ao contexto em que se desenvolveu, e este possui limitações, tais como o
desenho do estudo que pôde ser realizado e o número amostral. Esta última se refere ao
número de participantes que se tornou pequeno diante da classificação em subtipos pelo
RDC-TMD. A primeira se refere à dificuldade em se desenvolver um estudo com grupo
controle, que talvez fosse o ideal para efeitos de comparação dos aspectos psicológicos
entre uma população dita normal (livre de DTM) e outra portadora da disfunção. Esta
82
dificuldade reside no fato de que haveria inúmeras variáveis confundidoras no grupo
controle, uma vez que o paciente sem DTM poderia apresentar os mesmos indicadores
psicológicos que os com DTM, porém por motivos adversos. Acredita-se que o
aprimoramento metodológico auxilie na realização de novas pesquisas para contribuir
com melhorias no atendimento do paciente com DTM. Há de se destacar o caráter
multiprofissional que as interconsultas e as diferentes ciências podem ofertar na
qualificação deste atendimento, tornando-o mais humanizado.
“O estudo é a valorização da mente a serviço da felicidade humana”
(François Guizot)
CONCLUSÕES
84
7. Conclusões
Dentro das limitações do estudo e de acordo com os resultados encontrados,
pode-se concluir que:
Quando
um
paciente
apresenta
mais
de
um
tipo
de
Disfunção
Temporomandibular (DTM), por exemplo, um componente muscular e outro articular,
há associação com a Qualidade de Vida, no sentido em que o paciente percebe mais
suas alterações fisiológicas e conseqüentes limitações decorrentes destas alterações.
A DTM articular, do tipo deslocamento de disco com redução, também
apresentou uma associação significante com a Qualidade de Vida, no tocante ao aspecto
social. Isto quer dizer que, estes pacientes apresentam, de alguma forma, prejuízo nas
relações sociais devido às dificuldades e /ou limitações provocadas pela disfunção.
O grau de DTM apresentou associação significante com todos os indicadores
psicológicos do estudo. Dentro da análise da ansiedade, houve associação com a
Ansiedade-traço (relacionada à personalidade do indivíduo). Em relação à saúde geral,
expressa por itens de distúrbios psiquiátricos menores, presentes no QSG, houve
associação estatisticamente significante, exceto para fator estresse (QSG), que não
esteve associado a nenhum tipo nem grau de DTM. O grau de severidade de DTM
também se mostrou associado à Qualidade de Vida, com maior expressão no domínio
físico. Ou seja, há maior percepção da existência de dor e desconfortos pelo paciente.
Quando observados em conjunto, os graus e tipos de DTM foram associados
apenas a Qualidade de Vida.
Diante do exposto por este estudo, reforça-se a necessidade de atenção múltipla
ao portador de DTM, visto que indicadores psicológicos de ansiedade, saúde geral e
qualidade de vida estão de alguma forma associados à disfunção.
REFERÊNCIAS
86
REFERÊNCIAS
1. Allen PF. Assessment of oral health related quality of life. Health Qual Life
Outcomes 2003; 8(1): 40-53.
2. Anselmo SM. Fatores psicológicos relacionados às desordens
temporomandibulares: avaliação de pacientes submetidos à tratamento com
aparelhos oclusais planos e reabilitação oral [Tese]. Piracicaba: Universidade
Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba; 2005. 99p.
3. Ash MM. Philosophy of occlusion: past and present. Dent Clin North Am 1995;
39(2): 233-45.
4. Atsü SS, Ayhan-Ardic F. Temporomandibular disorders seen in rheumatology
practices: A review. Rheumatol Int 2006 Jul; 26(9): 781-7.
5. Auerbach SM, Laskin DM, Frantsve LM, Orr T . Depression, pain, exposure to
stressful life events, and long-term outcomes in temporomandibular disorder
patients. J Oral Maxillofac Surg 2001 Jun; 59(6): 628-33.
6. Barbosa GAS, Badaró Filho CR, Fonseca RB, Soares CJ, Neves FD, Fernandes
Neto AJ. Distúrbios oclusais: associação com a etiologia ou uma conseqüência
das disfunções temporomandibulares? JBA 2003; 3(10): 158-163.
7.
Barbosa GAS, Badaró Filho CR, Fonseca RB, Soares CJ, Neves FD, Fernandes
Neto AJ. The role of occlusion and occlusal adjustment on temporomandibular
dysfunction. Braz J Oral Sci 2004; 3(11): 589-594.
8. Bertoli E, De Leeuw R, Schmidt JE, Okeson JP, Carlson CR. Prevalence and
impact of post-traumatic stress disorder symptoms in patients with masticatory
muscle or temporomandibular joint pain: differences and similarities. J Orofac
Pain 2007; 21(2): 107-19.
9. Bonjardim LR, Gavião MB, Pereira LJ, Castelo PM. Anxiety and depression in
adolescents and their relationship with signs and symptoms of
temporomandibular disorders. Int J Prosthodont 2005; 18(4): 347-52.
10. Brandão, RM. A ansiedade, o estresse e a performance. Rev Psicol 1995; 150-
87
177.
11. Campos JADB, Carrascosa AC, Loffredo LCM, Faria JB. Consistência interna e
reprodutibilidade do RDC/TMD - Eixo II. Rev bras Fisioter 2007; 6(11): 451-9.
12. Carlsson GE. Epidemiological studies of signs and symptoms of
temporomandibular joint-pain-dysfunction. Aust Prosthodont Soc Bull 1984; 14:
7-12.
13. Carson AJ, Dias S, Johnston A, Mcloughlin MA, O'connor M, Robinson BL, et
al. Mental health in medical students: A case control study using the 60 item
General Health Questionnaire. Scott Med J 2000; 45(4): 115-6.
14. Castro GD, Oppermann RV, Haas AN, Winter R, Alchieri, JC. Association
between psychosocial factors and periodontitis: a case-control study. J Clin
Periodontol 2006; 33(2): 109-114.
15. Christensen GJ. Now is the time to observe and treat dental occlusion. J Am
Dent Assoc 2001; 132: 100-02.
16. Ciconelli RM. Medidas de avaliação de qualidade de vida. Rev Bras Reumatol
2003 Mar/Abr; 43(2): 09-14;
17. Cleary PD, Wilson PD, Fowler FJ. Health related quality of life in HIV-infected
persons: a conceptual model. In: Dimsdale JE, Baum A. Quality of life in
behavioral medicine research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1995.
p. 191-204.
18. Coleman JC. A Psicologia do Anormal e a vida contemporânea. São Paulo:
Pioneira; 1982.
19. Dailey YM, Humphris GM, Lennon MA. Reducing Patients’ State Anxiety in
General Dental Practice: A Randomized Controlled Trial. J Dent Res 2002;
81(5): 319-322.
20. De Boever Y. Function disturbances of the temporomandibular joint. Gen Dent
1981; 29(3): 226-232.
21. De Bont LG, Dijkgraaf LC, Stegenga B. Epidemiology and natural progression
of articular temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod 1997 Jan; 83(1): 72-76.
88
22. Dworkin SF, Massoth DL. Temporomandibular disorders and chronic pain:
disease or illness? J Prosthet Dent 1994; 72(1): 29-38.
23. Dworkin SF, Huggins KH, LeResche L, Von Korff M, Howard J, Truelove E, et
al Epidemiology of signs and symptoms of temporomandibular disorders:
clinical signs in case and controls. J Am Dent Assoc 1990 Mar; 120(3): 273-81.
24. Ebrahim S. Clinical and public health perspectives and applications of healthrelated quality of life measurement. Soc Sci Med 1995; 41: 1383-94.
25. Fenlon MR, Palmer RM, Palmer P, Newton JT, Sherriff M. A prospective study
of single stage surgery for implant supported overdentures. Clin Oral Implants
Res 2002; 13(4): 365-70.
26. Fernandes AUR, Garcia AR, Zuim PRJ, Cunha LDP, Marchiori AV. Desordem
temporomandibular e ansiedade em graduandos de odontologia. Ciênc Odontol
Bras 2007 Jan/Mar; 10(1): 70-77.
27. Fleck MPA, Chachamomovich E, Trentini C. Desenvolvimento da versão em
português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS
(WHOQOL-100). Rev Bras Psiquiatr 1999; 21(1): 19-28.
28. Fonseca DM, Valle GBAL, Freitas SFT. Diagnóstico pela Anamnese da
Disfunção Craniomandibular. RGO 1994 Jan/Fev; 42(1): 23-28.
29. Gale EN. Psychological characteristics of long-term female temporomandibular
joint pain patients. J Dent Res 1978 Mar; 57(3): 481-3.
30. Garner B, Phillips LJ, Schmidt HM, Markulev C, O'connor J, Wood SJ, et al.
Pilot study evaluating the effect of massage therapy on stress, anxiety and
aggression in a young adult psychiatric inpatient unit. Aust N Z J Psychiatry
2008; 42(5): 414-22.
31. Guiteras AF, Bayés R. Desarrolllo de uninstrumento para la medida de da
calidad de vida en enfermedades crónicas. In: Forns M, Anguera MT.
Aportaciones recientes a la evaluación psicologica. Barcelona: Universitas;
1993. p.175-95.
32. Jedel E, Carlsson J,Stener-Victorin E. Health-related quality of life in child
patients with temporomandibular disorder pain. Eur J Pain 2007; 11: 557-563.
89
33. John MT, Miglioretti DL, LeResche L, Koepsell TD, Hujoel P, Micheelis W.
German short forms of the Oral Health Impact Profile. Community Dent Oral
Epidemiol 2006; 34: 277-88.
34. Kino K et al. The comparison between pains, difficulties in function, and
associating factors of patients in subtypes of temporomandibular disorders. J
Oral Rehabil 2005 Maio; 32(5): 315-25.
35. Kirveskari P, Jämsä T, Alanen P. Occlusal adjustment and the incidence of
demand for temporomandibular disorder treatment. J Prosthet Dent 1998; 79(4):
433-8.
36. Korszun A. Facial pain, depression and stress - connections and directions. J
Oral Pathol Med 2002; 31(10): 615-9.
37. Lindroth JE, Schmidt JE, Carlson CR. A comparison between masticatory
muscle pain patients and intracapsular pain patients on behavioral and
psychosocial domains. J Orofac Pain 2002; 16(4): 277-83.
38. Lucena LBS, Kosminsky M, Costa LJ, Góes PSA. Validation of the Portuguese
version of the RDC/TMD Axis II Questionnaire. Braz Oral Res 2006; 20(4):3127.
39. Manfredini D, Bandettini PA, Cantini E, Dell'osso L, Bosco M. Mood and
anxiety psychopathology and temporomandibular disorder: a spectrum approach.
J Oral Rehabil 2004; 31(10): 933-40.
40. Manfredini D, Bandettini PA, Cantini E, Dell'osso L, Bosco M. Research
Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) axis I
diagnoses in an Italian patient population. J Oral Rehabil 2006; 33: 551-58.
41. Marchiori AV, Garcia AR, Zuim PRJ, Fernandes AUR, Cunha LDP. Relação
entre a disfunção temporomandibular e à ansiedade em estudantes do ensino
fundamental. Pesq Bras Odontoped Clin Integr 2007; 7(1): 37-42.
42. Mccall Jr CM, Szmyd L, Ritter RM. Personality characteristics in patients with
temporomandibular joint symptoms. J Am Dent Assoc 1961; 62: 694-698.
43. Mcneill C. History and evolution of TMD concepts. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod 1997 Jan; 83(1): 51-59.
90
44. Mcneill C. Management of temporomandibular disorders: concepts and
controversies. J Prosthet Dent 1997 Maio; 77(5): 510-522.
45. Mcneill, C. et al. Craniomandibular (TMJ) disorders – The state of the art. J
Prosthet Dent 1980; 44(4): 434-7.
46. Nassif NJ, Al-Salleeh F, Al-Admawi M. The prevalence and treatment needs of
symptoms and signs of temporomandibular disorders among young adult males.
J Oral Rehabil 2003; 30: 944–950.
47. Oakley O. Dentists ability to detect psychological problems in patients with
temporomandibular disorders and chronic pain. J Amer Dent Assoc 1989 Jun;
118: 222-270.
48. Okawa K, Ichinohe T, Kaneko Y. Anxiety may enhance pain during dental
treatment. Bull Tokyo Dent Coll 2005; 46(3): 51-58.
49. Okeson, J. P. Fundamentos de oclusão e desordens têmporo-mandibulares. São
Paulo: Artes Médicas; 1992. 201p.
50. Okeson, J. P. Occlusion and functional disorders of the masticatory system. Dent
Clin North Am 1995; 39(2): 285-300.
51. Pasquali L, Gouveia VV, Andriola WB, Miranda FJ, Ramos ALM. Questionário
de saúde geral de Goldberg: Manual técnico QSG (adaptação brasileira). São
Paulo: Casa do Psicólogo; 1996. 44p.
52. Pedroni CR, Oliveira AS, Guaratini MI. Prevalence study of signs and
symptoms of temporomandibular disorders in university students. J Oral Rehabil
2003; 30: 283-289.
53. Pereira JR, Vieira AR, Prado R, Miasato JM. Visão geral das desordens
temporomandibulares: definição, epidemiologia e etiologia. RGO 2004
Abr/Maio/Jun; 52(2): 117-121.
54. Ramfjord S, Ash MM. Oclusão. 3 ed. Rio de Janeiro: Interamericana; 1984.
422p.
55. Reißmann DR, John MT, Schierz O, Wassell RW. Functional and psychosocial
impact related to specific temporomandibular disorder diagnoses. J Dent 2007;
35: 643-650.
91
56. Schiffman EL, Fricton JR, Haley DP, Shapiro BL. The prevalence of treatment
needs of subjects with temporomandibular disorders. J Am Dent Assoc 1990;
120(3): 295-303.
57. Schmitter M, Rammelsberg P, Hassel A. The prevalence of signs and symptoms
of temporomandibular disorders in very old subjects. J Oral Rehabil 2005 32;
467-473.
58. Seidl EMF, Zannon CMLC. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e
metodológicos. Cad Saúde Pública 2004 Mar/Abr; 20(2): 580-588.
59. Solberg WK, Woo MW, Houston JB. Prevalence of mandibular dysfunction in
young adults. J Am Dent Assoc 1979; 98(1): 25-34.
60. Southwell J, Deary IJ, Geissler P. Personality and anxiety in temporomandibular
joint syndrome patients. J Oral Rehabil 1990; 17(3): 239-243.
61. Spielberg CD. Theory and research on anxiety. New York: Academic Press;
1996.
62. Stholer CS. Phenomenology, epidemiology, and natural progression of the
muscular temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod 1997 Jan; 83(1): 77-81.
63. Suvinen TI, Reade PC, Sunden B, Gerschman JA, Koukounas E.
Temporomandibular disorders: part II. A comparison of psychologic profiles in
australian and finnish patients. J Orofac Pain 1997; 11(2): 147-157.
64. The WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life
assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization.
Soc Sci Med 1995; 41: 1403-10.
65. Toledo BAS, Capote TSO, Campos JADB. Associação entre disfunção
temporomandibular e depressão. Ciênc Odontol Bras 2008 Out/Dez; 11(4): 7579.
66. Tosato JP, Caria PHF. Prevalência de DTM em diferentes faixas etárias. RGO,
Porto Alegre, v. 54, n.3, p. 211-224, jul./set. 2006
92
67. Türk DC. Psychosocial and behavioral assessment of patients with
temporomandibular disorders: Diagnostic and treatment implications. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997 Jan; 83(1): 65-71.
68. Türp JC, Motschall E, Schindler HJ, Heydecke G. In patients with
temporomandibular disorders, do particular interventions influence oral healthrelated quality of life? A qualitative systematic review of the literature. Clin Oral
Impl Res 2007; 18(Suppl. 3): 127-137.
69. Yap AUJ, Tan KBC, Chua EK, Tan HH. Depression and somatization in
patients with temporomandibular disorders. J Prosthet Dent 2002; 88(5): 479-84.
70. Yatani H, Studts J, Cordova M, Carlson CR, Okeson JP. Comparison of sleep
quality and clinical and psychologic characteristics in patients with
temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2002; 16(3): 221-8.
ANEXOS
ANEXO I
I-I
ANEXO II
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Relação entre qualidade de vida e nível de
ansiedade em pacientes com diferentes níveis de disfunção temporomandibular” que é
coordenada pelo Prof. Gustavo Augusto Seabra Barbosa.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura avaliar o nível de ansiedade e a qualidade de vida dos pacientes da
clínica de oclusão do departamento de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, diagnosticados como portadores de Disfunção Temporomandibular (DTM) com diferentes
níveis de severidade (DTM leve, moderada e severa). Caso decida aceitar o convite, você será
submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:
•
Preenchimento de um questionário de Fonseca (1992). Este possui dez
questões que inclui informações a respeito das dificuldades em abrir a boca e
movimentar a mandíbula para os lados; cansaço ou dor muscular quando
mastiga; dores de cabeça com freqüência; dor na nuca ou torcicolo; dor no
ouvido ou nas regiões das articulações; ruído nas ATMs quando mastiga ou
quando abre a boca; hábito de apertar ou ranger os dentes; se os dentes não se
articulam bem e se este considerava uma pessoa tensa ou nervosa.
•
Preenchimento do questionário IDATE (Inventário de Ansiedade TraçoEstado). É constituído por dois questionários: 1) ansiedade-estado e 2)
ansiedade-traço. Contendo 20 questões cada.
•
Preenchimento do Questionário de Saúde Geral (QSG) com 60 itens.
A avaliação será feita apenas com o preenchimento de questionários e não causa qualquer
tipo de incômodo, nem riscos.
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Diagnosticado algum tipo de
problema, você será encaminhado para tratamento específico de acordo com o problema
identificado.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será
feita de forma a não identificar os voluntários.
Se você tiver algum gasto comprovado que seja devido à sua única e exclusiva
participação na presente pesquisa, você será ressarcido, caso comprovação do mesmo por meio de
documentos. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente
desta pesquisa, você terá direito a indenização conforme previsto em lei. Você ficará com uma
cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar
diretamente para o Prof. Gustavo Augusto Seabra Barbosa, no endereço: Departamento de
Odontologia da UFRN - Av. Salgado Filho 1787, CEP:59056-000, Lagoa Nova, Natal - RN, ou
pelo telefone (84) 3215-4114.
II - I
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666;
CEP: 59072-970, natal-RN, pelo telefone Telefone/Fax (84)3215-3135.
Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Relação entre
qualidade de vida e nível de ansiedade em pacientes com diferentes níveis de disfunção
temporomandibular”.
Participante da pesquisa: __________________________________________
Assi natura
Responsável, caso participante seja menor de idade:
_____________________________________________
RG nº: _______________________________ CPF nº
__________________________________________
Endereço:______________________________________________________________________
_________
Pesquisador responsável: Prof. Gustavo Augusto Seabra Barbosa
Departamento de Odontologia da UFRN - Av. Salgado Filho 1787, Lagoa Nova – Tel: 3215-4114
__________________________________
Gustavo Augusto Seabra Barbosa
Comitê de ética e Pesquisa
Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666; CEP: 59072-970, Natal-RN;
Telefone/Fax (84)3215-3135.
II - II
ANEXO IV
CÁLCULO PARA DIAGNÓSTICO DO GRUPO I DO RDC-TMD
VI - I
IV - I
ANEXO IV
CÁLCULO PARA DIAGNÓSTICO DO GRUPO II – ARTICULAÇÃO ESQUERDA
IV - II
ANEXO IV
CÁLCULO PARA DIAGNÓSTICO DO GRUPO II – ARTICULAÇÃO DIREITA
IV - III
ANEXO IV
CÁLCULO PARA DIAGNÓSTICO DO GRUPO III – ARTICULAÇÃO ESQUERDA
IV - IV
ANEXO IV
CÁLCULO PARA DIAGNÓSTICO DO GRUPO III – ARTICULAÇÃO DIREITA
IV - V
ANEXO VI
IDATE
PARTE I
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que
melhor indicar como você se sente agora, neste momento.
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se
aproxime de como você se sente neste momento.
AVALIAÇÃO
Muitíssimo ............. 4
Bastante .................. 3
Um pouco .................. 2
Absolutamente não .... 1
1. Sinto-me calmo(a) ........................................... 1
2
3
4
2. Sinto-me seguro(a) .......................................... 1
2
3
4
3. Estou tenso(a) ................................................. 1
2
3
4
4. Estou arrependido(a) ....................................... 1
2
3
4
5. Sinto-me à vontade ......................................... 1
2
3
4
6. Sinto-me perturbado(a) ................................... 1
2
3
4
7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios
1
2
3 4
8. Sinto-me descansado(a)................................... 1
2
3
4
9. Sinto-me ansioso(a) ......................................... 1
2
3
4
10. Sinto-me "em casa" ................................................. 1
2
3
4
11. Sinto-me confiante ........................................ 1
2
3
4
12. Sinto-me nervoso(a) ...................................... 1
2
3
4
13. Estou agitado(a)............................................. 1
2
3
4
14. Sinto-me uma pilha de nervos........................ 1
2
3
4
15. estou descontraído(a) .................................... 1
2
3
4
16. Sinto-me satisfeito(a)..................................... 1
2
3
4
17. Estou preocupado(a)...................................... 1
2
3
4
18. Sinto-me superexitado(a) e confuso(a) .......... 1
2
3
4
19. Sinto-me alegre ............................................. 1
2
3
4
20. Sinto-me bem ................................................ 1
2
3
4
VI - I
ANEXO VI
PARTE II
Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar
como você geralmente se sente.
Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se
aproximar de como você se sente geralmente.
AVALIAÇÃO
Quase sempre ......... 4
Às vezes .................... 2
Freqüentemente ...... 3
Quase nunca .............. 1
1. Sinto-me bem ......................................................................................................... 1
2
3
4
2. Canso-me facilmente ............................................................................................. 1
2
3
4
3. Tenho vontade de chorar........................................................................................ 1
2
3
4
4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser ................................ 1
2
3
4
5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente ................. 1
2
3
4
6. Sinto-me descansado(a) ......................................................................................... 1
2
3
4
7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo....................................... 1
2
3
4
consigo resolver ......................................................................................................... 1
2
3
4
9. Preocupo-me demais com coisas sem importância ................................................ 1
2
3
4
10. Sou feliz ............................................................................................................... 1
2
3
4
11. Deixo-me afetar muito pelas coisas ..................................................................... 1
2
3
4
12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) ................................................... 1
2
3
4
13. Sinto-me seguro(a) ............................................................................................... 1
2
3
4
14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas ......................................................... 1
2
3
4
15. Sinto-me deprimido(a) ......................................................................................... 1
2
3
4
16. Estou satisfeito(a) ................................................................................................ 1
2
3
4
preocupando ............................................................................................................... 1
2
3
4
18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça ........... 1
2
3
4
19. Sou uma pessoa estável ........................................................................................ 1
2
3
4
20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas do momento .. 1
2
3
4
8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as
17. Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me
VI - I
ANEXO VII
Questionário de Saúde Geral de Goldberg
Você ultimamente:
1. Tem se sentido perfeitamente bem e com boa
saúde?
1) melhor do que de costume
2) como de costume
3) pior do que de costume
4) muito pior do que de costume
2. Tem sentido necessidade de tomar fortificantes
(vitaminas)?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
3. Tem se sentido cansado (fatigado) e irritadiço?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
4. Tem se sentido mal de saúde?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
5. Tem sentido dores de cabeça?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
6. Tem sentido dores na cabeça?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
7. Tem sido capaz de se concentrar no que faz?
1) melhor do que de costume
2) como de costume
3) pior do que de costume
4) muito pior do que de costume
8. Tem sentido medo de que você vá desmaiar
num lugar público?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
9. Tem sentido sensações (ondas) de calor ou de
frio pelo corpo?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
10. Tem suado (transpirado) muito?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
11. Tem acordado cedo (antes da hor1) e não tem
conseguido dormir de novo?
1) melhor do que de costume
2) como de costume
3) pior do que de costume
4) muito pior do que de costume
12. Tem levantado sentindo que o sono não foi o
suficiente para lhe renovar as energias?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
muito mais do que de costume
13. Tem se sentido muito cansado e exausto, até
mesmo para se alimentar?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
14. Tem perdido muito sono por causa de
preocupações?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
15. Tem se sentido lúcido e com plena disposição
mental?
1) melhor do que de costume
2) como de costume
3) menos lúcido do que de costume
4) muito menos lúcido do que de costume
16. Tem se sentido cheio de energia (com muita
disposição)?
1) melhor do que de costume
2) como de costume
3) com menos energia do que de costume
4) com muito menos energia do que de
costume
ANEXO VII
17. Tem sentido dificuldade em conciliar o sono?
(pegar no sono)
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
18. Tem tido dificuldade em permanecer
dormindo após ter conciliado o sono (após ter
pego no sono)?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
19. Tem tido sonhos desagradáveis ou
aterrorizantes?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
20. Tem tido noites agitadas e maldormidas?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
21. Tem conseguido manter-se em atividade e
ocupado?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) um pouco menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
22. Tem gasto mais tempo para executar seus
afazeres?
1) mais rápido do que de costume
2) como de costume
3) mais tempo do que de costume
4) muito mais tempo do que de costume
23. Tem sentido que perde o interesse nas suas
atividades normais diárias?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
24. Tem sentido que está perdendo interesse na
sua aparência pessoal?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
muito mais do que de costume
25. Tem tido menos cuidado com suas roupas?
1) mais cuidado do que de costume
2) como de costume
3) menos cuidado do que de costume
4) muito menos cuidado do que de costume
26. Tem saído de casa com a mesma freqüência
de costume?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
27. Tem se saído tão bem quando acha que a
maioria das pessoas se sairia se estivesse em seu
lugar?
1) melhor que de costume
2) como de costume
3) um pouco pior
4) muito pior
28. Tem achado que de um modo geral tem dado
boa conta de seus afazeres?
1) melhor que de costume
2) como de costume
3) pior do que de costume
4)muito pior do que de costume
29. Tem se atrasado para chegar ao trabalho ou
para começar seu trabalho em casa?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
30. Tem se sentido satisfeito com a forma pela
qual você tem realizado suas atividades (tarefa
ou trabalho)?
1) mais satisfeito do que de costume
2) como de costume
3) menos satisfeito do que de costume
4) muito menos satisfeito do que de
costume
31. Tem sido capaz de sentir calor humano e
afeição por aqueles que o cercam?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
32. Tem achado fácil conviver com outras
pessoas?
1) mais fácil do que de costume
2) tão fácil como de costume
3) mais difícil do que de costume
4)muito mais difícil do que de costume
ANEXO VII
33. Tem gasto muito tempo batendo papo?
1) mais tempo do que de costume
2) tanto quanto de costume
3) menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
34. Tem tido medo de dizer alguma coisa às
pessoas e passar por tolo (parecer ridículo)?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
35. Tem sentido que está desempenhando uma
função útil na vida?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) menos útil do que de costume
4) muito menos do que de costume
36. Tem se sentido capaz de tomar decisões sobre
suas coisas?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
37. Tem sentido que você não consegue continuar
as coisas que começa?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
38. Tem se sentindo com medo de tudo que tem
que fazer?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
39. Tem se sentido constantemente sob tensão?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
40. Tem se sentido incapaz de superar suas
dificuldades?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
41. Tem achado a vida uma luta constante?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
42. Tem conseguido sentir prazer nas suas
atividades diárias?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) um pouco menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
43. Tem tido pouca paciência com as coisas?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) menos paciência do que de costume
4) muito menos paciência do que de costume
44. Tem se sentido irritado e mal-humorado?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
45. Tem ficado apavorado ou em pânico sem
razões justificadas para isso?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
46. Tem se sentindo capaz de enfrentar seus
problemas?
1) mais capaz do que de costume
2) como de costume
3) menos capaz do que de costume
4) muito menos capaz do que de costume
47. Tem sentido que suas atividades têm sido
excessivas para você?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
48. Tem tido a sensação de que as pessoas olham
para você?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
49. Tem se sentido infeliz e deprimido?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
50. Tem perdido a confiança em você mesmo?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
ANEXO VII
51. Tem se considerado como uma pessoa inútil
(sem valor)?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
52. Tem sentido que a vida é completamente sem
esperança?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
muito mais do que de costume
53. Tem se sentido esperançosos quanto ao seu
futuro?
1) mais do que de costume
2) como de costume
3) menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
54. Considerando-se todas as coisas, tem se
sentido razoavelmente feliz?
1) mais do que de costume
2) assim como de costume
3) menos do que de costume
4) muito menos do que de costume
55. Tem se sentido nervoso e sempre tenso?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
56. Tem sentido que a vida não vale a pena?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
muito mais do que de costume
57. Tem pensado na possibilidade de dar um fim
em você mesmo?
1) definitivamente, não
2) acho que não
3) passou-me pela cabeça
4) definitivamente, sim
58. Tem achado algumas vezes que não pode
fazer nada porque está muito mal dos nervos?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
59. Já se descobriu desejando estar morto e longe
(livre) de tudo?
1) não, absolutamente
2) não mais do que de costume
3) um pouco mais do que de costume
4) muito mais do que de costume
60. Tem achado que a idéia de acabar com a
própria vida tem se mantido em sua mente?
1) definitivamente, não
2) acho que não
3) passou-me pela cabeça
4)definitivamente,sim
ANEXO VIII
ANEXO VIII
ANEXO VIII
ANEXO VIII