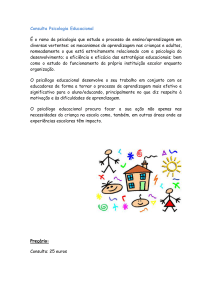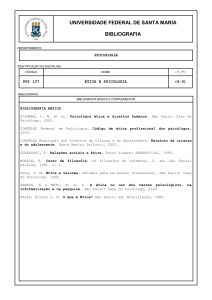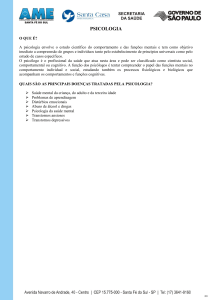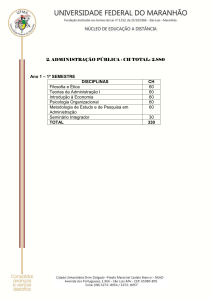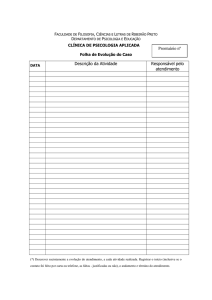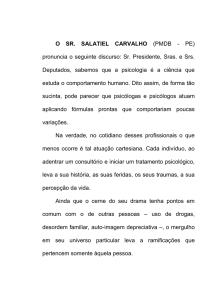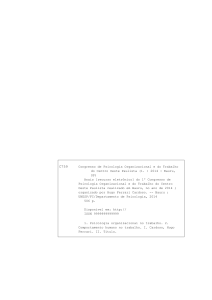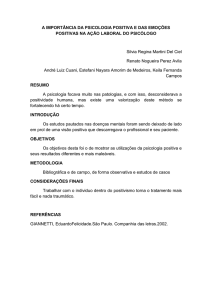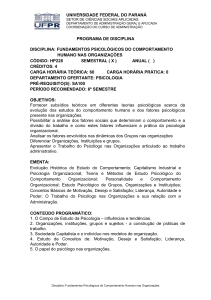Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
OS PERCURSSOS DE UM TRAUMA - UM OLHAR INTERDISCIPLINAR FRENTE
A UM ADOLESCENTE INTERNADO NA UTI PEDIATRICA
Fernanda Elisa Aymore Ladaga*
Jane Biscaia Hartmann
Tatyana Lopoch Campos
Bruno Volski Flóridi
Raphael Chalbaud Biscaia Hartmann
Karolina Reis dos Santos
Introdução
O evento traumático envolve experiências que afetam a maneira do indivíduo lidar
com idéias ou emoções relacionadas ao vivenciado, podendo às vezes durar semanas ou anos.
O trauma pode ser causado por vários tipos de eventos, mas há alguns aspectos em comum
entre os diferentes tipos de trauma, que geralmente envolvem o sentimento de completo
desamparo diante de uma ameaça real ou subjetiva à própria vida, ou à vida de pessoas
amadas, ou à integridade do corpo.
O trauma (do grego traûma, atos: "ferida") físico consiste numa lesão ou ferida mais
ou menos extensa, produzida por ação violenta, de natureza física ou química, externa
ao organismo. De seu significado físico este conceito migrou para o campo psicológico,
possibilitando considerar que um trauma ocorre quando as defesas psicológicas naturais são
transgredidas.
Infere-se que ao longo da vida, segundo Peres, Mercante e Nasello (2005) 51,2% das
mulheres e 60,7% dos homens tenham vivenciado pelo menos um evento potencialmente
traumático. A partir desta estimativa, Freud (1920/1996) considerou que o trauma psicológico
caracteriza-se por um afluxo de excitações que é excessivo em relação à tolerância do
indivíduo e à sua capacidade de dominar e elaborar tais excitações.
Importante destacar que as reações e os desdobramentos ao trauma diferem quanto aos
tipos de eventos traumáticos e a maneira como as pessoas processam o evento estressante,
após sua ocorrência, pode ser determinante para que o trauma seja configurado ou não como
tal. Assim, é possível afirmar que a caracterização de um evento como traumático não
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
depende somente do estímulo estressor, mas, entre outros fatores, da tendência do
processamento perceptual do indivíduo.
Trabalhar em situações traumáticas relacionadas com o processo de adoecer implica se
deparar com conceitos de humanização, qualidade de assistência, urgência/emergência,
cuidados paliativos entre tantos outros termos do campo da saúde, e exige dos profissionais, a
capacidade de perceber necessidades e adequar ações visando minimizar danos e maximizar
resultados, preferencialmente de forma individualizada e humanizada. Essa tarefa, entretanto
nem sempre consiste tarefa fácil aos profissionais da saúde, pois envolve a luta entre a vida e
a morte, luta contra doenças, oscila entre sentimentos de impotência e onipotência dos
profissionais treinados para enfrentar a morte com obstinação terapêutica.
Essa realidade tem sofrido impacto de diretrizes internacionais como a da Organização
Nacional de Hospices a partir de 1981, ao definir protocolos de pesquisa na área de cuidados
paliativos e levam a novos paradigmas envolvendo a morte com dignidade e as necessidades
dos pacientes gravemente enfermos. O cuidado paliativo é uma abordagem ou tratamento que
tem como foco a melhora na qualidade de vida do paciente quando este possui uma doença
que ameaça a vida. Além do paciente, esse cuidado tem o objetivo de auxiliar também os
familiares a lidarem com o momento de doença sofrido por seus entes. (Floriani, 2009)
Em muitas instituições hospitalares, as intervenções junto às pacientes internados em
situações graves ou terminais têm demandado olhares e ações plurais da equipe
multiprofissional, pois envolvem uma diversidade de variáveis que podem influir
sobremaneira na compreensão, no resultado do tratamento e no foco da intervenção da equipe,
que pode começar com o paciente e culminar com a família quando da morte deste. Essa visão
ampliada, também referida como holística, parte de um foco inicial de busca por um
diagnóstico para o paciente, tendo como meta final o tratamento e a readequação as seqüelas
deixadas pelo adoecer e tratar ou a comunicação de má-notícias e preparo para o processo de
luto-antecipatório junto a família. Ao longo deste processo as intervenções profissionais
muitas vezes têm que ser revistas e readequadas, exigindo flexibilidade da equipe no manejo
situacional, uma visão e atuação interdisciplinar, principalmente em função de ansiedades,
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
medos, frustrações, limitações, perdas e insucessos, tanto do paciente quanto da família ou
equipe.
É a partir dessa necessidade da ampliação da fronteira de analise de dados visando
uma compreensão psicodinâmica de cada caso e o compartilhamento de informações a partir
de diferentes perspectivas, para a definição de intervenções na saúde, que se apresenta uma
ilustração clinica articulada com ações fundamentadas, exercício poucas vezes desenvolvido
na academia quando da formação dos profissionais.
Objetivo
Pretende-se com este artigo, apresentar uma pluralidade de abordagens, um ir além do
tratamento médico e psicológico tradicional junto a um paciente pediátrico internado na UTI e
sua família, tendo como ponto de partida um trauma físico aparentemente simples (para o
paciente) e que culminou num evento traumático do ponto de vista psicológico (para a família
e a equipe) visto a abrangência das implicações e desdobramento do quadro patológico.
Método
A proposta deste artigo enquanto relato de experiência justifica-se no pressuposto de
que o estudo da inter-relação entre saúde-doença-tratamento constitui um importante espaço
de atuação do psicólogo e da equipe de saúde sendo necessárias produções teóricas que
apresentem, sistematizem e fundamentem propostas de intervenção, compartilhando ações e
resultados a partir da intervenção prática. Contextualizada numa problematização (vinheta
clínica), dados patológicos e formas de intervenção foram agrupadas visando oferecer a
possibilidade de construção de propostas análogas para outras situações similares. Neste
sentido, priorizou-se a descrição da evolução do processo saúde-doença e dos procedimentos
empregados ao longo do trabalho com um paciente e a família, sem que estes influenciem
conclusões e resultados. Além disso, o desenvolvimento e a história particular deste caso
determinam especificidades nos resultados evidenciados que podem servir de inspiração a
partir do relato de experiência discorrer em que circunstancias um caso evoluiu de um trauma
simples para um agravo de saúde que culminou na falência múltipla de órgãos e no óbito do
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
paciente, assumindo contornos de um evento traumático psicológico para os familiares e a
equipe. Apresentando as nuances relacionadas aos dados clínicos, ao histórico da doença e
hospitalização, os dados serão processados e articulados com aspectos teóricos pautados em
informações médicas, na psicanálise, psicologia da saúde e hospitalar e outros referenciais
que envolvem aspectos do trabalho em equipe, com a família e com o paciente.
Resultados e Discussão
Era uma vez...
O início, o meio e o fim da história de um menino de 12 anos...
que gostava de jogar bola e brincar ao ar livre. Num dia qualquer de brincadeira, jogando
bola, acabou sofrendo um trauma, tendo que engessar sua perna esquerda. Essa situação
aparentemente simples, cuja resolução é estimada num intervalo aproximado de dois meses,
entretanto, toma rumos inesperados, culminando num sofrimento emocional. Um trauma...
Começava aqui sua história.
Uma fratura fechada, não cominutiva (fratura em que os ossos quebram em vários
fragmentos), sem desvios importantes, seria tratada simplesmente imobilizando o membro e
aguardando a consolidação do osso, ocorrendo a nível ambulatorial. Num processo de
evolução dentro do esperado, consistiria num tratamento sem maiores complicações, que teria
pouca ou nenhuma repercussão psicológica no paciente. O gesso assumiria inclusive o papel
de mediador de reações afetivas como um “troféu” a ser exibido pelo paciente e a ser
“autografado” pelos amigos. Entretanto...
após dois dias de imobilização, com queixas de dor persistente, procede-se a retirada do
gesso e um dia após esta retirada, ocorre um agravamento da condição física do paciente,
conduzindo-o a uma internação em instituição hospitalar com gastroenterocolite aguda.
Esta evolução demonstra que o transcurso inesperado do tratamento do paciente em
questão, conduz a uma hipótese de que numa relação de contigüidade, uma resposta ao trauma
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
ou um simples machucado na pele, encoberto pelo gesso, podem ter sido foco suficiente para
entrada e proliferação importante de bactérias, levando a necessidade de uma internação
hospitalar.
A internação hospitalar, do ponto de vista psicológico, num primeiro momento, pode
levar à percepção por parte do paciente de que o agravamento de sua condição pode consistir
numa punição, castigo ou algo pelo qual ele próprio é culpado, gerando comportamentos
desadaptativos como: estranhamento ao ambiente hospitalar, sensação de abandono,
regressão, infantilização, passividade entre outros. Se as relações familiares são preservadas e
os cuidados da equipe e da família mantém um canal de comunicação adequado
(possibilitando a expressão de medos, angústias e fantasias) essa fase pode ser transposta sem
maiores dificuldades.
De acordo com Baldini e Krebs (1999) os psicólogos devem considerar que as
crianças doentes podem apresentar comportamentos regressivos importantes, podendo
retornar á fases anteriores do desenvolvimento. Eles devem se familiarizar com as formas de
comunicação da criança, procurando entendê-las. Defendem que a verdade sempre deve ser
dita em termos diretos para a criança, porém de forma tranquila e serena. Acreditam que uma
abordagem honesta sobre o assunto da dor e procedimentos médicos e de enfermagem
resultará em confiança e cooperação. Se a verdade for negada o paciente pode perceber a
realidade camuflada e entrar no jogo das mentiras e dos fingimentos e passar a fingir também.
É importante que a equipe esteja atenta a alguns sintomas que podem ocorrer durante a
internação e que classificaram como: a) psicofísicos: mal-estar, dores, irritabilidade,
distúrbios do apetite e do sono, estresse; b) comportamentos regressivos: reativação da
ansiedade da separação, chupar dedos, fala infantilizada, enurese, encoprese, distúrbios da
alimentação e do sono, hospitalismo, além de fantasias, ansiedade, passividade e mobilização
de defesas, com desesperança, insegurança, negação, fobias, hipocondria, reações histéricas e
alucinações acerca das funções corporais.
Em função destas peculiaridades, as informações devem ser dadas ao paciente
pediátrico conforme a sua capacidade de compreensão real no momento da hospitalização e
não segundo a capacidade esperada para sua faixa etária. Para tanto deve-se estar
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
familiarizado com as fases normais de crescimento e desenvolvimento físico e
neuropsicomotor em cada faixa etária, além das fases do desenvolvimento emocional e
cognitivo normais adaptando-as a situação atual identificada junto ao paciente.
Baptista e Dias (2003) sugerem que a avaliação e o atendimento do psicólogo no
hospital devem ser focal, imediato, resolutivo e atentar para as contingências que operam no
ambiente hospitalar, pois o paciente hospitalizado preocupa-se com sua saúde física,
gravidade, diagnóstico e prognóstico.
Dias, Baptista, & Baptista (2003, p.56) a hospitalização consiste “numa experiência
que não passa despercebida para o paciente que permanece internado e muito menos para seus
familiares e/ou acompanhantes”. Entende-se que estar doente significa estar em situação de
fraqueza e dependência, visto que a doença representa sofrimento orgânico e psicológico. O
indivíduo passa a viver em um ambiente estranho e é colocado em situações que favorece o
que se denomina “despersonalização”. Este termo refere-se a uma situação que leva o
paciente a ser afastado de seu ambiente, de seu núcleo familiar, de sua história e daquilo que
reconhece como seu. Muitas vezes perde sua identidade enquanto pessoa passando a ser
denominado e tratado por sua patologia ou por seus sintomas. Entre as diversas atribuições do
psicólogo no hospital, enfatiza-se que a assistência à criança consiste em dois princípios:
entender a rotina e as imposições relacionadas à doença do paciente, que se mostraram como
um estressor em potencial (ex. horário, manipulações, procedimentos). Contextualizando a
hospitalização com a idade do paciente podemos inferir, conforme já apontado por Dias,
Baptista e Baptista (2010) que dos seis aos 14 anos, quanto mais velha for a criança, mais
informada e consciente sobre o processo da doença ela fica e maior é sua capacidade de
abstrair informações. Se por um lado essa capacidade amplia as possibilidades do trabalho
psicológico, por outro lado aumenta a dificuldade de implementação de estratégias, pois estes
adolescentes, ao experimentarem danos ou ataques ao corpo, terão ampliado o foco no corpo
em virtude do próprio processo de estruturação do esquema corporal, típico da adolescência.
Seria como desequilibrar um processo ainda em estruturação.
Entretanto, se ocorre o afastamento dos familiares ou adultos de referência do paciente
na hospitalização, pode resultar em comprometimento no processo adaptativo deste e
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
favorecer o surgimento de crenças distorcidas que podem comprometer o desenvolvimento do
processo de tratamento em curso.
Quando essa hospitalização prolonga-se e essa separação permanece por um período
elevado, passa a mobilizar no paciente medo e ansiedades que vão aparecer no discurso ou no
isolamento do paciente. Por não saber como lidar com esse adoecimento e essa hospitalização
cabe ao psicólogo criar um clima psicológico adequado, valendo-se de recursos lúdicos
adequados à idade e realidade do quadro do paciente para falar desses medos e ansiedades.
Assim, através da utilização de desenhos, bonecos e de outros recursos como histórias,
filmes pode o psicólogo favorecer ao paciente a expressão de seus medos e ansiedades, pois
permite que projete suas angustias e fale de seus medos. Com esses recursos o psicólogo
consegue identificar alterações de comportamento frente a doença, a dificuldade de
compreensão do diagnóstico, do prognostico bem com a dificuldade de adaptação à rotina e a
unidade hospitalar onde está internado.
Após avaliar a condição psicológica do paciente, o profissional definirá o foco do seu
trabalho. Frente ao quadro deste caso, podemos inferir que o paciente sentia medo e
preocupação de morrer. Também podemos inferir que provavelmente, a queixa do paciente
não tenha sido valorizada, bem como a sua dor, as “coceiras”, a dificuldade de movimentação
do membro e a perda dos parâmetros passiveis de inspeção devido à cobertura do membro.
Isto fez com que se perdesse o foco e um tempo importante de intervenção.
É provável que o foco infeccioso não tratado, tenha garantido a proliferação de agentes
anaeróbicos, pelo tecido subcutâneo, de forma maciça, gerando um comprometimento
sistêmico.
Do ponto de vista médico, a antibiótico-terapia isolada parece ter se tornado
insuficiente para o tratamento, pela baixa permeabilidade do agente químico em meio ao
concentrado de bactérias em tecido desvitalizado, ou seja, de baixa perfusão sanguínea. A
disseminação bacteriana pelo sistema circulatório sanguíneo, gera um estado inflamatório
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
extenso, comprometendo gravemente o organismo, com choque circulatório, alterações da
coagulação e falência múltipla dos órgãos, expressa pelo paciente através de distúrbios
gastrointestinais, equimoses e rebaixamento de consciência.
Configura-se então um quadro que exige cuidados intensivos e especializados, motivo pelo
qual o paciente foi removido através da central de leitos do Estado, de um hospital geral do
interior (onde residia) para um hospital de nível de maior complexidade terapêutica
(hospital-escola a mais de 400 km de sua cidade de origem), pois necessitava de uma
Unidade de Terapia Intensiva. É transferido com sepse e rebaixamento da consciência.
A sepse refere-se à presença de infecção associada a manifestações sistêmicas, ou seja,
é um processo de resposta inflamatória sistêmica à infecção (Dellinger, Carlet, et al., 2008).
Origina-se do grego “sepsis” [podridão de matérias ou tecidos orgânicos], definida como
Síndrome de Resposta Inflamatória Secundária (SIRS), que surge a partir de um foco
infeccioso comprovado ou suspeito e, caso não seja diagnosticada e tratada a tempo, pode
comprometer o funcionamento de vários órgãos, evoluindo para o óbito (Knobel & Beer,
2005).
Após uma semana de intervenções cirúrgicas (drenagens e debridamento) e clínicas
(antibioticoterapia) na UTI, a equipe vê-se frente à necessidade de uma intervenção cirúrgica
ampliada (amputação do membro inferior esquerdo) visando erradicar o provável foco da
sepse.
O quadro apresentado pelo paciente exige medidas mais incisivas sobre o foco
infeccioso subcutâneo. Além disso, a exposição do sitio ao oxigênio ambiente também pode
auxiliar na contenção de bactérias anaeróbicas. Infelizmente, a desvitalização do membro e a
dificuldade em conter a proliferação bacteriana mesmo com o aporte de antibióticos
adequados e a abordagem cirúrgica inicial, a piora clinica e laboratorial do paciente, exigiam
a amputação do membro. Não podemos esquecer contudo, que a disseminação bacteriana
pelo sistema circulatório sanguíneo, gerando um estado inflamatório disseminado,
comprometeu extensamente o organismo, com choque circulatório, alterações da coagulação e
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
falência múltipla dos órgãos e ganha força a possibilidade de retirada de um órgão, membro
ou de parte dele, sendo que entre as condições que levam a uma amputação está a infecção
incontrolável (sepse).
Sabe-se que esse processo de retirada de um membro engloba uma complexidade de
fenômenos psicológicos e de interações da tríade paciente-família-equipe. A decisão de
amputar deve ser definida com cautela pela equipe e neste processo decisório, a comunicação
com o paciente (ou sua família) é fundamental, sendo necessário que a equipe esteja receptiva
a dúvidas e a questionamentos. Neste processo de comunicação equipe-paciente/família,
alguns pontos assumem fundamental importância, entre eles: a atenção individualizada do
profissional com o paciente/familiar; oferecimento de uma escuta ativa, com a capacidade de
identificar dúvidas, ansiedades e reações à intervenção proposta; a promoção de acolhimento
e espaço para perguntas e respostas honestas e claras, facilitando a aliança terapêutica; o uso
de linguagem acessível, utilização de recursos como fotos, vídeo e materiais de leitura sobre a
cirurgia e sua reabilitação posterior, para oferecer ao paciente/familiar a sensação de controle
e estimular a participação ativa no processo de decisão.
A amputação como medida extrema e por envolver questões bioéticas exige a
oficialização da adoção das ações terapêuticas indicadas, estando sujeita a assinatura do
Termo de Consentimento Informado e da Declaração de Autorização de Amputação assinada
pelos familiares e por testemunhas. Além de ser uma exigência legal, obriga a adoção de uma
intervenção que permite “racionalizar” a ação traumática e o sofrimento a ser vivido, pois
neste caso em específico, a perda do membro consistiria numa tentativa de tentar evitar a
perda do ente querido. Exige também a discussão por parte da equipe de saúde e o percurso de
um caminho em que a tomada de decisões é pautada pela gravidade e pelos riscos associados
aos procedimentos necessários na busca da manutenção da vida do paciente,
Ao longo do processo de internação na UTI pediátrica, estando lúcido e consciente, o
paciente além de receber cuidados de uma equipe multiprofissional, receberia atendimento
psicológico, visando trabalhar as seqüelas das intervenções sofridas e as conseqüências da
evolução do quadro até sua recuperação (a reconstrução de sua imagem corporal, os
sentimentos advindos da perda e da transformação corporal, o olhar do “outro” sobre o corpo
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
reconfigurado, o luto do corpo perdido, entre outras questões) procurando mediar a adaptação
psicológica necessária para a retomada de sua identidade e o surgimento de estratégias de
enfrentamento (coping).) Este trabalho, neste momento também composto pela equipe
multiprofissional (psicólogo, fisioterapeuta
ou educador físico e nutricionista, além do
medico e da enfermeira) visaria a reintegração do paciente dentro de uma estratégia
personalizada à necessidade deste caso.
Muitas das intervenções seriam extensivas aos
familiares, visando fortalecer vínculos e a readaptação do paciente pois sua “fragilidade”
física e emocional geralmente cria demandas que nem sempre a família consegue atender.
Segundo Mondardo (1997) citado por Dias, Baptista, & Baptista (2003) a
hospitalização consiste “numa experiência que não passa despercebida para o paciente que
permanece internado e muito menos para seus familiares e/ou acompanhantes” (p. 56).
Entende-se que estar doente significa estar em situação de fraqueza e dependência, visto que a
doença representa sofrimento orgânico e psicológico.
O indivíduo passa a viver em um ambiente estranho e é colocado em situações que
favorece o que se denomina “despersonalização”. Este termo refere-se a uma situação que
leva o paciente a ser afastado de seu ambiente, de seu núcleo familiar, de sua história e
daquilo que reconhece como seu. Muitas vezes perde sua identidade enquanto pessoa
passando a ser denominado e tratado por sua patologia ou por seus sintomas. Entre as diversas
atribuições do psicólogo no hospital, enfatiza-se que a assistência à criança consiste em dois
princípios: entender a rotina e as imposições relacionadas à doença do paciente, que se
mostraram como um estressor em potencial (ex. horário, manipulações, procedimentos).
No hospital, a criança passa a ter que submeter-se a horário que são impostos pelo
hospital, dietas determinadas pelos profissionais independente das preferencias e hábitos do
paciente, entre outros. Tudo isso leva a estresse e sofrimento.
Estando separado de sua família, o paciente na UTI vê-se privado de seus familiares.
Quando essa hospitalização prolonga-se e essa separação permanece por um período elevado,
passa a mobilizar no paciente medo e ansiedades que vão aparecer no discurso ou no
isolamento do paciente. Por não saber como lidar com esse adoecimento e essa hospitalização,
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
cabe ao psicólogo criar um clima psicológico adequado, valendo-se de recursos lúdicos
adequados a idade e realidade do quadro do paciente, para falar desses medos e ansiedades.
Neste trabalho é possível, através de técnicas e recursos mediadores (como a utilização
de desenhos, bonecos e de outros recursos como histórias, filmes) favorecer ao paciente a
expressão de seus de seus medos e ansiedades, permite que se identifique com situações e
reações e consiga projetar através de recursos externos suas angustias e seus medos. Com seu
trabalho o psicólogo consegue identificar alterações de comportamento frente a doença, a
dificuldade de compreensão do diagnóstico, do prognóstico bem com a dificuldade de
adaptação à rotina e a unidade hospitalar onde o paciente está internado.Após avaliar a
condição psicológica do paciente, esse profissional definirá o foco do seu trabalho.
Frente ao quadro deste caso, podemos inferir que o paciente sentia-se ameaçado, com
medo e preocupação de morrer. Para pacientes desta idade, segundo Baldine e Krebs (2012)
principalmente quando consistem em crianças internadas na UTI, estas costumam apresentar
primeiramente retraimento e comportamento passivo, depois ansiedade e finalmente
egocentrismo e comportamento negativista e exigente.
Ao perceber o agravamento de sua condição, é normal que a criança sinta-se culpado
por estar doente ou que se valendo de um pensamento mágico, acredite que está sendo
castigada ou que por ter em algum momento verbalizado um desejo de morrer, tenha
capacidade de fazer isso acontecer. Também é normal que a criança apresente as reações
descritas por Kubler-Ross (1998) que apareceu em fases descritas como: negação, barganha,
raiva, depressão, o que culminou num estagio de aceitação.
Devemos considerar a idade do paciente, doença, a evolução e as consequências. Na
adolescência, é normal que o indivíduo precise elaborar a perda do corpo infantil e passe a
reconhecer um novo corpo. Esse processo é difícil para o adolescente e o quadro se complica
quando, através de um procedimento médico, efetua-se uma amputação, que com certeza
desorganiza um processo de constituições da imagem corporal ainda em curso.
De acordo com Capisano (2010), imagem corporal não é mera sensação ou
imaginação, uma vez que esta consiste em uma figuração do corpo na mente de cada
indivíduo. Desse modo, a imagem do corpo é estruturada em nossa mente com base no
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
contato que o indivíduo tem com o mundo externo e consigo mesmo. O inconsciente
juntamente com outras ações como as anatômicas, fisiológicas, neurológicas, sociológicas,
entre outras contribuem para que haja a formação desta imagem corporal. É por isso que o
autor destaca a importância dos órgãos do sentido nesse processo, visto que as impressões
produzidas nas superfícies sensoriais dos estímulos externos são transportadas ao cérebro, que
ao recebê-las, elabora, e as transformam em sensações especiais: visuais, auditivas, olfativas,
gustativas e táteis.
Esse mecanismo funciona como uma forma de fazer com que o indivíduo entre em
contato com o mundo externo que o rodeia, permitindo assim, que por meio das propriedades
físicas do corpo possa, em cada momento específico da vida, experienciar as múltiplas
qualidades, sejam elas mutáveis ou fixas, úteis ou nocivas do ambiente em que vivemos.
Se a evolução do tratamento controlasse a infecção, e o prognóstico, o curso da doença
fosse favorável, caberia um trabalho de reconstrução da imagem corporal. Sendo assim, no
primeiro contato com o paciente, o psicólogo, procura saber as expectativas do mesmo, bem
como suas fantasias em relação à cirurgia que vai se submeter. As entrevistas descritas na
literatura demonstram que, independente do sexo, idade, condição socioeconômica, ou mesmo
da patologia, algumas preocupações imediatas, fantasias e medos estão presentes na grande
maioria dos pacientes. E por isso acabam revelando ansiedade, medo dos procedimentos, da
mutilação, e da morte; receio da anestesia, fantasia em relação a Unidade de internação; da
dor; aumento da sensibilidade, fragilidade emocional, falta de controle da situação, incerteza,
entre outros.
Com efeito, cabe ao profissional da área, trabalhar conteúdos trazidos pelo paciente,
de modo a minimizar esses medos, fantasias e angústias, uma vez que já são reações
esperadas. É válido destacar que no momento da hospitalização, o paciente se depara com
circunstâncias desconhecidas, ameaçadoras, assim como se encontra com a necessidade de
entregar seu corpo aos cuidados de profissionais da saúde até então desconhecidos.
Neste cenário, a atuação do psicólogo hospitalar, pode ocorrer antes, durante e depois
da cirurgia, dentro de três aspectos que compreendem: o paciente, a família e a equipe. É
importante ressaltar que a indicação da intervenção do psicólogo deve ser pautada nas
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
necessidades individuais de cada paciente, e sua atuação deve ser definida juntamente com a
equipe interdisciplinar atuante no caso.
O objetivo final sempre visa minimizar sofrimentos decorrentes da hospitalização, do
adoecimento e do procedimento cirúrgico, o que vai proporcionar o desenvolvimento da
autonomia e responsabilização no processo de tratamento.
Supõe-se que há um agravamento do quadro apresentado pelo paciente que começa a
verbalizar sua “depressão” frente a sua não evolução. Surge então um isolamento que pode ser
entendido, conforme a literatura psicológica hospitalar de uma regressão, que é comum frente
a situações ameaçadoras.
Os dias se sucedem após o procedimento cirúrgico e mesmo após a amputação do membro,
não se consegue a reversão do quadro grave do paciente. A família permanece visitando
esporadicamente (mãe e irmão mais velho).
Com esse agravamento do quadro e frente à possibilidade do paciente a óbito, então,
o foco do trabalho a ser efetuado muda. Passa-se a compor com a equipe, um monitoramento
do paciente, bem como oferecer à família suporte psicológico frente à possibilidade do
paciente vir a óbito. Deste modo, trabalha-se tanto a equipe quanto a família e o próprio P, se
estiver consciente.
Entretanto, isto não ocorre. No sexto dia pós operatório, o paciente, que permaneceu
inconsciente todo este tempo, evolui à óbito e a equipe solicita a presença da família no
hospital. O irmão mais velho comparece e após conversar com a equipe, dá inicio aos passos
de oficialização do óbito, orientado pela Assistente Social e viabiliza o transporte do corpo
do paciente para sua cidade de origem, instituindo os ritos iniciais que compõem o processo
de perda e luto frente a morte.
Para Walsh e McGoldrick (1998), a morte é um fator que traz desafios adaptativos
comuns, que exige uma reorganização imediata e a longo prazo, bem como mudanças nas
definições de identidade e objetivos da família. Assim, tais autoras sinalizam que o processo
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
de adaptação não denota a resolução, isto é, uma forma de aceitação completa e definitiva da
perda. Por outro lado, a adaptação é no sentido de descobrir maneiras de colocar a perda em
perspectiva a fim de seguir em frente com a vida.
McGoldrick (1998) pontua que o profissional em suas intervenções clínicas deve
fortalecer as potencialidades dos membros da família no enfrentamento de suas dificuldades,
visto que ao vivenciar um período de sofrimento e perdas, o sistema familiar pode
“desenvolver um sentido mais claro das prioridades da vida, uma maior valorização das
relações e uma capacidade aumentada de intimidade e empatia” (p. 52). Nesse sentido, ao
escutar a dor do paciente, segundo a autora, é uma forma de estar validando sua coragem, sua
luta e sua força.
Além da família e do paciente, a morte e a perda interferem também
significativamente na equipe multidisciplinar, uma vez que há confusão entre os limites dos
“nós” e “eles”, o que ressoa nas vulnerabilidades individuais. Tais fragilidades evolvem os
aspectos de encarar o fato inescapável da morte, a inevitabilidade da perda na vida e o terror
de nossa própria mortalidade, já que exige que o profissional aceite seus medos e limites da
morte. Por isso, cabe a equipe envolvida aceitar a morte como parte da vida, e a perda como
uma experiência transformadora, a fim de descobrir possibilidades de crescimento.
Pitta (1999) discorre sobre uma investigação feita por dois sociólogos e estes apontam
que aqueles que trabalham no hospital quando têm um paciente diagnosticado com uma
“morte certa”, tendem a enxergá-los com uma “morte incerta” e traçar um roteiro de atitudes
que se deve seguir. Assim, se o paciente “seguir o roteiro” o equilíbrio no ambiente hospitalar
é mantido, caso contrário há uma perturbação na instituição. Percebe-se que ao enfermo cabe
a tarefa de se comportar de maneira elegante e discreta, para que a tarefa de quem o observa
se torne mais suave.
Nesse sentido Pitta (1999), sinaliza para as respostas emitidas pelo individual e
coletivo daqueles que lidam no cotidiano com doenças e a morte. O profissional que trabalha
no hospital se depara diariamente com sentimentos e ansiedades intensos ao assumir cuidados
com pessoas doentes. Diante disso, os trabalhadores do hospital desenvolvem mecanismos de
defesas estruturadas socialmente, sendo eles: a) fragmentação da relação técnico-paciente
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
(onde se entende que quanto mais íntimo for o relacionamento do técnico com o paciente,
maior será a angustia e esse entendimento produz a iniciativa de parcelar as tarefas, reduzindo
o contato entre ambos); b) despersonalização e negação da importância do indivíduo (onde
um paciente é igual a qualquer outro paciente, sem que haja um registro afetivo ou onde o
paciente se transforma num numero ou num órgão afetado pois assim os “doentes” não se
individualizem e se personificam;c) distanciamento e negação dos sentimentos ( também
denominada as vezes como “calosidade” ou frieza profissional consistindo em
uma
consequência do desenrolar das outras duas primeiras defesas, visto que os sentimentos
devem ser controlados, o envolvimento e as identificações perturbadoras recalcadas.
Outra defesa ou estratégia advém da tentativa de eliminar decisões, evidenciada
através do desenvolvimento de um ritual de desempenho das tarefas, que padroniza condutas
e cria rotinas, postergando o controle de decisões a serem tomadas frente a inúmeras
demandas de cada doente. E finalmente, a redução do peso da responsabilidade pode ser
percebida nas frequentes verificações e contraverificações das tarefas fragmentadas, com o
intuito de fugir da angústia da responsabilidade e decisão.
É válido ressaltar que esses sistemas sociais de defesa exemplificam algumas formas
da complexa dinâmica da interação profissional-paciente numa instituição hospitalar, embora
estes não sejam os únicos.
Saindo das ações práticas e enveredando para questões mais subjetivas relativas ao
cuidado de saúde, Freitas e Oliveira (2010) afirmam em seu trabalho sobre os impactos
emocionais sofridos no contexto hospitalar frente a morte, ser possível identificar duas
espécies de angustias impactantes nos profissionais: a da repetição de mortes e a da
impossibilidade de dominá-las. Segundo as autoras, essas angústias levariam o sujeito de
encontro com os fantasmas de sua própria morte. A outra angústia seria aquela gerada pela
morte de um paciente, que reenviaria o sujeito a experiências anteriores de confrontação com
a morte de pessoas queridas e familiares.
Por fim, de acordo com Bromberg (citado por Freitas & Oliveira, 2010), a morte de
um paciente causa um impacto muito grande na identidade pessoal e profissional de toda a
equipe responsável pelos cuidados do mesmo, por mais que esta seja previsível e até esperada
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
– no caso de pacientes terminais. Sendo assim, constata-se que os profissionais não
conseguem lidar com as situações de luto antecipatórios existentes, visto que os
confrontamentos com a própria mortalidade e com os lutos revividos são inevitáveis.
Nesse sentido, é preciso trabalhar com a equipe a respeito das possibilidades do
“fracasso terapêutico”, em que a onipotência e a impotência dos profissionais, passam a
ocupar parte do trabalho. O psicólogo pode ajudar a equipe a lidar com estas questões. A
equipe que presta assistência na UTI está sujeito ao estresse do trabalho e ao estresse dos
resultados obtidos, ou não.
Dentro de uma filosofia voltada para a humanização da assistência, a equipe vai
adaptando-se as necessidades e condições do paciente e, por exemplo, no caso deste paciente
entrar em coma ou apresentar agravos e complicações do quadro, passa-se então à adoção de
cuidados paliativos ao paciente dentro de uma filosofia de não implementação de medidas
denominadas de obstinação terapêutica e intensificam-se também por outro lado, as ações de
acolhimento pela equipe das reações, medos e angustias dos familiares com comunicações de
notícias difíceis, com acolhimento de medos e pedidos extraordinários como ampliação de
horários de visitas monitoradas pelos psicólogos pelos membros de família mais mobilizado e
incentivo e orientação aos familiares de fazerem o possível dentro daquela realidade instalada.
Acolhimento, continência e escuta assumem papel fundamental neste momento pois aqui é
possível identificar necessidades, sentimentos e delinear prováveis complicadores do luto.
O trabalho da equipe pode ter seu ápice com o óbito da paciente quando então
comunicação do evento morte merece cuidado especial. Cabe ao médico a comunicação do
óbito e o resgate da evolução da doença e do tratamento, função essa que pode ser efetuada
em equipe e que pode contar com o psicólogo no momento da notícia e posteriormente,
quando os rituais de despedida são iniciados pela família.
Conforme Walsh e McGoldrick (1998) o reconhecimento da perda é facilitado quando
existe uma comunicação aberta sobre os fatos e circunstâncias, de tal modo, que as
informações são fornecidas de forma clara e adequadas a situação vivida pela família. Neste
espaço físico e psicológico, o serviço social pode também neste momento consistir num
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
recurso da equipe importante, que aliado ao trabalho psicólogo e a equipe médica, podem
favorecer a entrada no processo de luto a ser vivenciado por essa família.
Conclusão
Foi um longo e sofrido percurso vivido pelo paciente e sua família desde o trauma
inicial até o desfecho morte, um final não esperado no inicio do trauma. Intervindo junto a
este paciente e sua família foi possível identificar como, ao longo do tratamento e do
agravamento do quadro apresentado pelo paciente, o foco do trabalho da equipe foi se
deslocando do tratar para o de cuidados paliativos e preparação para o luto considerando a
possibilidade do evento morte ocorrer, já então na perspectiva da família.
Um paciente jovem como este, que demandou esforços de diversas ordens da equipe
de saúde foi de um trauma externo com perspectiva de boa resolução, para uma situação de
agravo cujo complicação do quadro (sepse) culminou em morte, leva obrigatoriamente a uma
análise da equipe a respeito das possibilidades de intervenção e do desgaste físico e
psicológico. Passar da perspectiva do tratar rebaixamento da consciência) para a perspectiva
de cuidados paliativos e humanização consistem num exercício de reconhecimento das
limitações impostas no campo da saúde frente a situações graves e terminais. O psicólogo
hospitalar enquanto membro da equipe pode servir de mediador no desenvolvimento das
intervenções junto ao paciente e a família, oferecendo oportunidade de interação entre as
partes envolvidas e promovendo a expressão dos processos vividos.
Referências
Baldini, S.; Krebs, V. (1999). A criança hospitalizada. Pediatria São Paulo, 21(3),
182-190.
Capisano, H. F. (2010). Imagem corporal. In J. Mello-Filho, et al., Psicossomática
Hoje (pp. 255-270). Porto Alegre: Artmed.
Dellinger, R. P., Levy, M. M., Carlet, J. M., et al. (2008). Surviving sepsis campaign:
international guidelines for management of severe sepsis septic shock. Crit Care Med, (36)1,
296-327.
Anais V CIPSI - Congresso Internacional de Psicologia
Psicologia: de onde viemos, para onde vamos?
Universidade Estadual de Maringá
ISSN 1679-558X
___________________________________________________________________________
Dias, R. R., Baptista, M. N., & Baptista, A. S. D. (2003). Enfermaria de pediatria:
avaliação e intervenção psicológica. In R. R. Dias, & M. N. Baptista, Psicologia hospitalar –
teoria, aplicações e casos clínicos (pp. 53-71). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A.
Floriani, C. A. (2009). Moderno movimento hospice: fundamentos, crenças e
contradições na busca da boa morte. Rio de Janeiro: s. n.
Freud. S. (1996). A etiologia da histeria. Em S. Freud. Edição Standard Brasileira
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (Vol. 3, pp. 177-203). Rio de Janeiro:
Imago (original publicado em 1920).
Knobel, E., & Beer, I. (2005).
[Internet],
7(38).
Recuperado
Objetivos hemodinâmicos na sepse. PratHosp
em
11
de
maio,
2012,
de
www.praticahospitalar.com.br/pratica/2038/ paginas /materia_2023-38.html
Kubler-Ross, E. (1998). Sobre a morte e o morrer, 8 ed. São Paulo: Martins Fontes.
Mcgoldrick, M. (1998). O legado da perda. In M. Mcgoldrick (Org.), Morte na
família: sobrevivendo às perdas (pp. 129-152). Porto Alegre: ArtMed.
Peres, J. F. P., Mercante, J. P. P., & Nasello, A. G. (2005). Promovendo resiliência
em vítimas de trauma psicológico. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, 27, 2, 131138.
Pitanguy, I., & Salgado, F. (2010). Aspectos filosóficos e psicossociais da cirurgia
plástica. In J. Mello-Filho [et all], Psicossomática hoje (pp. 356-367), 2 ed. Porto Alegre:
Artmed.
Pitta, A. M. F. (1999). Hospital: dor e morte como ofício, 3 ed. São Paulo: Hucitec.
Walsh, F., & Mcgoldrick, M. (1998). A perda e a família: uma perspectiva sistêmica.
In M. Mcgoldrick (Org.), Morte na família: sobrevivendo às perdas (pp.129-152). Porto
Alegre: ArtMed.
Eixo temático: 4. Psicologia, Saúde e processos Clínicos.