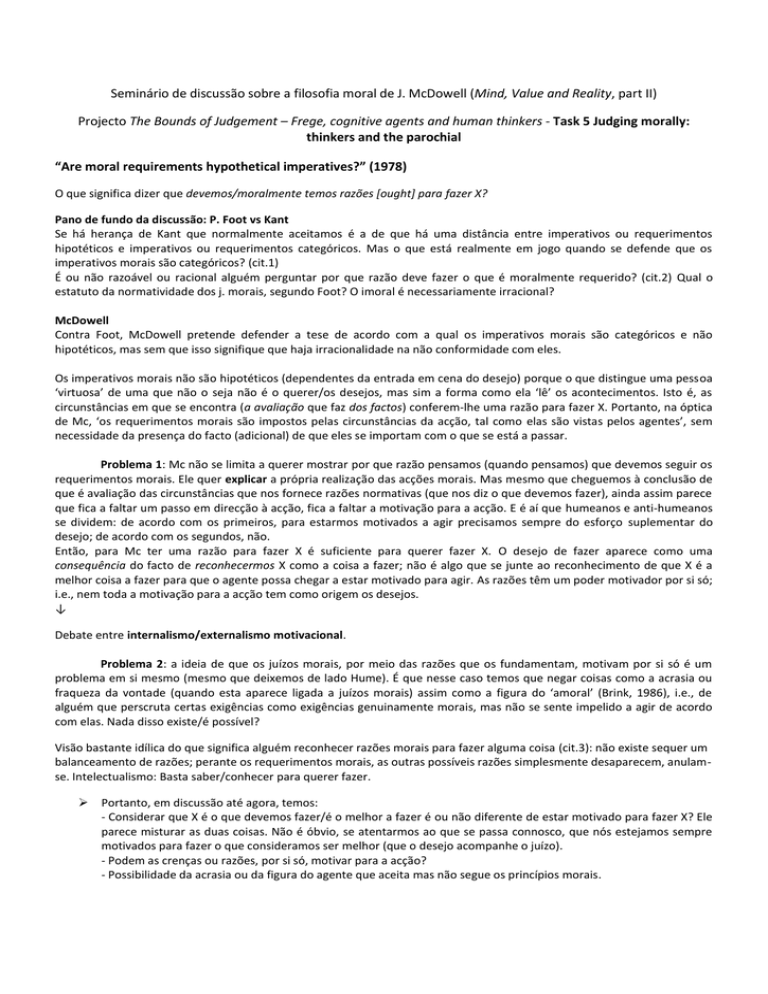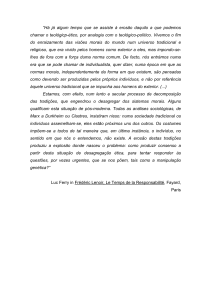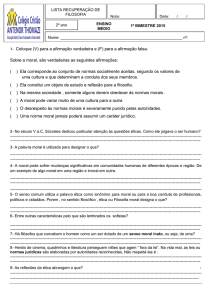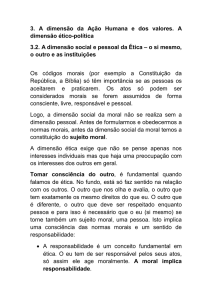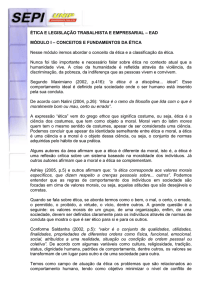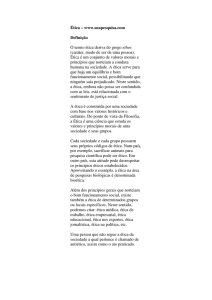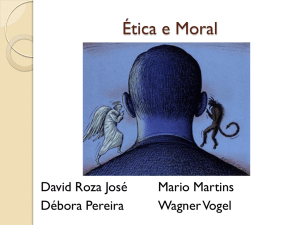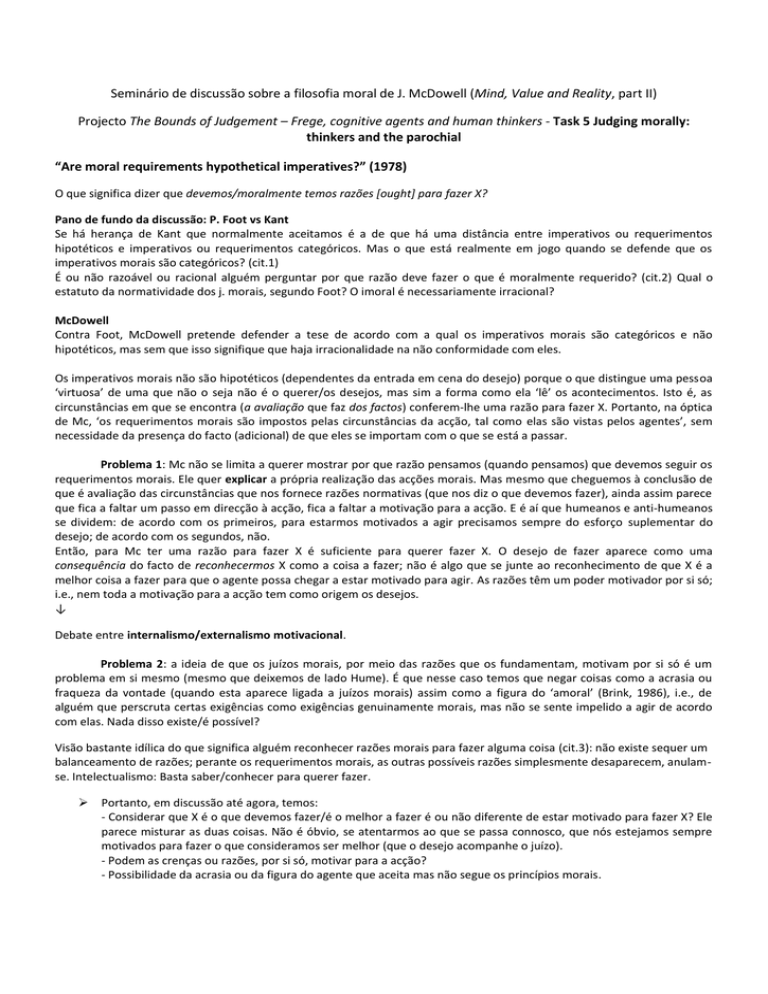
Seminário de discussão sobre a filosofia moral de J. McDowell (Mind, Value and Reality, part II)
Projecto The Bounds of Judgement – Frege, cognitive agents and human thinkers - Task 5 Judging morally:
thinkers and the parochial
“Are moral requirements hypothetical imperatives?” (1978)
O que significa dizer que devemos/moralmente temos razões [ought] para fazer X?
Pano de fundo da discussão: P. Foot vs Kant
Se há herança de Kant que normalmente aceitamos é a de que há uma distância entre imperativos ou requerimentos
hipotéticos e imperativos ou requerimentos categóricos. Mas o que está realmente em jogo quando se defende que os
imperativos morais são categóricos? (cit.1)
É ou não razoável ou racional alguém perguntar por que razão deve fazer o que é moralmente requerido? (cit.2) Qual o
estatuto da normatividade dos j. morais, segundo Foot? O imoral é necessariamente irracional?
McDowell
Contra Foot, McDowell pretende defender a tese de acordo com a qual os imperativos morais são categóricos e não
hipotéticos, mas sem que isso signifique que haja irracionalidade na não conformidade com eles.
Os imperativos morais não são hipotéticos (dependentes da entrada em cena do desejo) porque o que distingue uma pessoa
‘virtuosa’ de uma que não o seja não é o querer/os desejos, mas sim a forma como ela ‘lê’ os acontecimentos. Isto é, as
circunstâncias em que se encontra (a avaliação que faz dos factos) conferem-lhe uma razão para fazer X. Portanto, na óptica
de Mc, ‘os requerimentos morais são impostos pelas circunstâncias da acção, tal como elas são vistas pelos agentes’, sem
necessidade da presença do facto (adicional) de que eles se importam com o que se está a passar.
Problema 1: Mc não se limita a querer mostrar por que razão pensamos (quando pensamos) que devemos seguir os
requerimentos morais. Ele quer explicar a própria realização das acções morais. Mas mesmo que cheguemos à conclusão de
que é avaliação das circunstâncias que nos fornece razões normativas (que nos diz o que devemos fazer), ainda assim parece
que fica a faltar um passo em direcção à acção, fica a faltar a motivação para a acção. E é aí que humeanos e anti-humeanos
se dividem: de acordo com os primeiros, para estarmos motivados a agir precisamos sempre do esforço suplementar do
desejo; de acordo com os segundos, não.
Então, para Mc ter uma razão para fazer X é suficiente para querer fazer X. O desejo de fazer aparece como uma
consequência do facto de reconhecermos X como a coisa a fazer; não é algo que se junte ao reconhecimento de que X é a
melhor coisa a fazer para que o agente possa chegar a estar motivado para agir. As razões têm um poder motivador por si só;
i.e., nem toda a motivação para a acção tem como origem os desejos.
↓
Debate entre internalismo/externalismo motivacional.
Problema 2: a ideia de que os juízos morais, por meio das razões que os fundamentam, motivam por si só é um
problema em si mesmo (mesmo que deixemos de lado Hume). É que nesse caso temos que negar coisas como a acrasia ou
fraqueza da vontade (quando esta aparece ligada a juízos morais) assim como a figura do ‘amoral’ (Brink, 1986), i.e., de
alguém que perscruta certas exigências como exigências genuinamente morais, mas não se sente impelido a agir de acordo
com elas. Nada disso existe/é possível?
Visão bastante idílica do que significa alguém reconhecer razões morais para fazer alguma coisa (cit.3): não existe sequer um
balanceamento de razões; perante os requerimentos morais, as outras possíveis razões simplesmente desaparecem, anulamse. Intelectualismo: Basta saber/conhecer para querer fazer.
Portanto, em discussão até agora, temos:
- Considerar que X é o que devemos fazer/é o melhor a fazer é ou não diferente de estar motivado para fazer X? Ele
parece misturar as duas coisas. Não é óbvio, se atentarmos ao que se passa connosco, que nós estejamos sempre
motivados para fazer o que consideramos ser melhor (que o desejo acompanhe o juízo).
- Podem as crenças ou razões, por si só, motivar para a acção?
- Possibilidade da acrasia ou da figura do agente que aceita mas não segue os princípios morais.
Pergunta-teste: é possível 2 pessoas terem exactamente a mesma percepção das circunstâncias em que se encontram,
avaliar os factos da mesma forma, e verem razões diferentes para agir? Se assim for, é porque para ter uma razão para fazer
X não basta ter a percepção exacta dos factos; é preciso ainda o desejo adicional.
A resposta de Mc é negativa: não há uma percepção neutral dos factos que seja partilhada por todos, e à qual depois se
adicione uma camada motivacional. O que distingue uma pessoa virtuosa de uma pessoa não virtuosa é a forma de ver as
coisas.
Problema 3: Claro que a visão de Mc vai contra a posição mais ou menos canónica de acordo com a qual há uma
separação entre estados puramente cognitivos (crenças) e não cognitivos (desejos) (e agora sim voltamos a Hume). Se eu
reconheço que a coisa a fazer é entregar a carteira ao senhor, e estou motivada a agir nesse sentido, mas o mundo é tal que
é motivacionalmente inerte – assim, portanto, as minhas crenças acerca dele – então, esse estado motivacional é algo que
dependerá de mim (dos meus desejos) e não da forma como o mundo é. McD diz que não temos que partir do pressuposto
de que o mundo é motivacionalmente inerte (mas isso é algo que deixa para explicar melhor em outros artigos) ou de que
crenças e desejos têm existências distintas.
↓
Modelo besire: A pessoa virtuosa, de acordo com McD, está na posse de determinados estados psicológicos que podemos
designar como híbridos – não são crenças ou desejos, mas são crenças que são ao mesmo tempo desejos (besires), estados
cognitivo-afectivos num só. Ele dá um exemplo: o que se passa quando alguém tenta mostrar ao outro a saliência moral de
uma dada situação, quando o incita a ver as coisas da mesma forma que uma pessoa virtuosa veria, isso, não é um apelo ao
sentimento, mas à razão.
Em conclusão:
Foot – Não é irracional da minha parte perguntar ‘por que razão devo fazer X?’. Então, o facto de X aparecer como a melhor
coisa a fazer não é suficiente para me sentir motivada a fazer X. Preciso de, além disso, ter o desejo correspondente. → os
imperativos morais são hipotéticos
Mc – se alguém vê as coisas tal como uma pessoa virtuosa, então vê o que há a fazer, e simplesmente não precisa perguntar
por que há-de seguir os requerimentos morais. A diferença não está no desejo que não se tem mas na forma de olhar que é
distinta. → os imperativos morais são categóricos
No entanto,
- em consonância com Foot, Mc defende que o facto de não reconhecermos certos traços da realidade, de não vermos a
saliência moral de certas situações (como uma pessoa virtualmente perfeita do ponto de vista moral veria), não é sinal de
irracionalidade. Mc considera que os requerimentos morais são imperativos categóricos porque uma vez que sejam
reconhecidos motivam necessariamente quem os reconhece, sem a necessidade de um desejo adicional, e não porque sejam
requerimentos reconhecíveis por todas as pessoas racionais.
↓
Isto afasta, mais do que aproxima, Mc de Kant, por exemplo, ou de outro racionalista convicto, defensor das potencialidades
da razão prática (cit.4). Para Kant, qualquer pessoa racional faz o que deve fazer. Para Mc a racionalidade não é o que mais
importa. É preciso ser o tipo certo de pessoa, ter aprendido a ver as coisas a uma certa luz para ser capaz de detectar a
saliência moral das situações. Neste sentido, Mc está muito mais perto de Aristóteles – ser ‘virtuoso’ é uma questão de
aprendizagem, talvez também de hábito, não uma questão a branco e preto, que separa o que é racional do que é irracional.
Por outro lado, se é preciso que eu seja um certo tipo de pessoa – uma pessoa caridosa – educado de uma certa forma, para
ter uma razão para fazer X, então a acção moral não pode objectiva e racionalmente justificada, como queria Kant
(universalmente válida para todos os seres racionais). Onde Kant queria uma moral válida universalmente, McDowell deixanos com uma moral válida apenas para os virtuosos.
Se temos de ser o tipo certo de pessoas, com a educação adequada, não estamos mais perto de Hume (e dos seus escritos
acerca de simpatia e empatia) do que de Kant?
Não temos aqui outro problema em termos de coerência interna do seu discurso? Se, por um lado, Mc diz que não é
irracional aquele que não vê razões para agir moralmente, por outro, diz também que essas capacidades que nos permitem
ver a saliência moral das situações não podem ser lidas de um ponto de vista ‘naturalístico’ (pensando em natureza como ela
é vista pelas ciências naturais, como opondo-se a razão). Essas capacidades pertencem a uma segunda natureza, que será
racional. Portanto, é porque somos seres racionais (porque temos uma gramática, porque somos criaturas linguísticas) que
somos seres morais – isto é kantiano. Tanto é assim que apenas criaturas racionais, como nós, são capazes de pensamento
moral, e tentar mostrar a saliência moral de alguma coisa, é apelar à razão e não ao sentimento. Apesar disso, porém, não é
irracional não agir de acordo com os requerimentos morais (ou seja, esses requerimentos não têm de ser reconhecidos por
todos os seres racionais, como diria Kant). Há aqui algum problema?