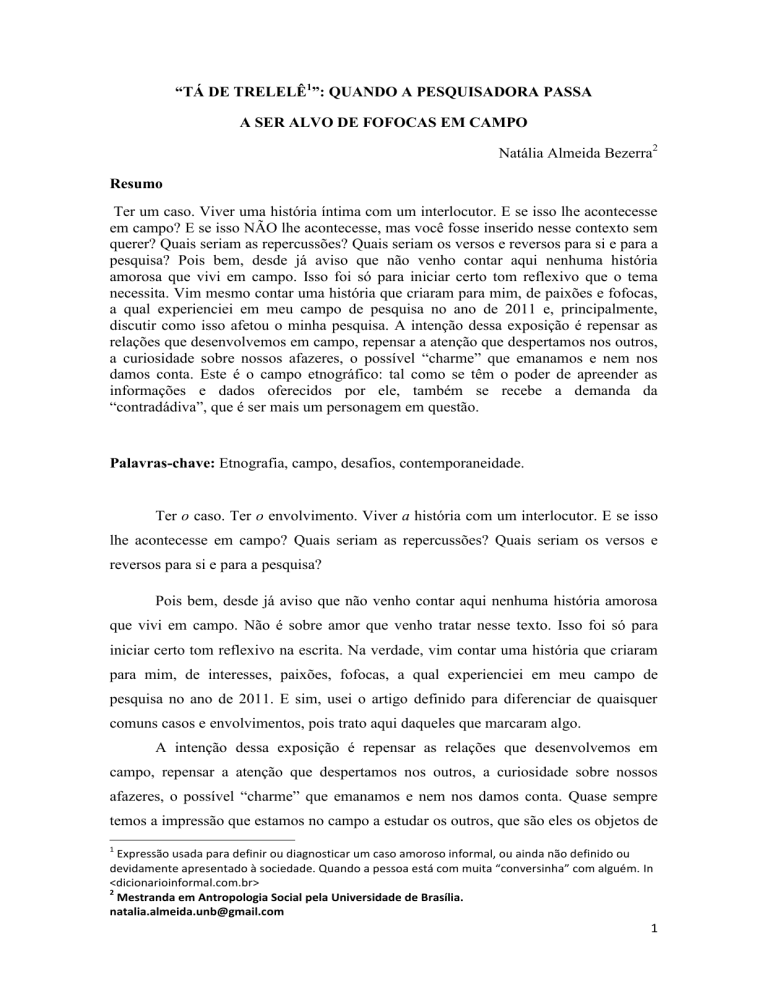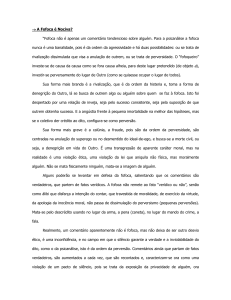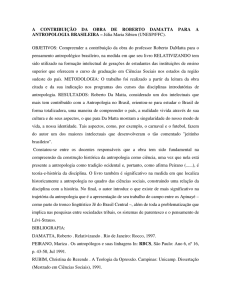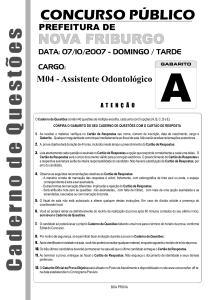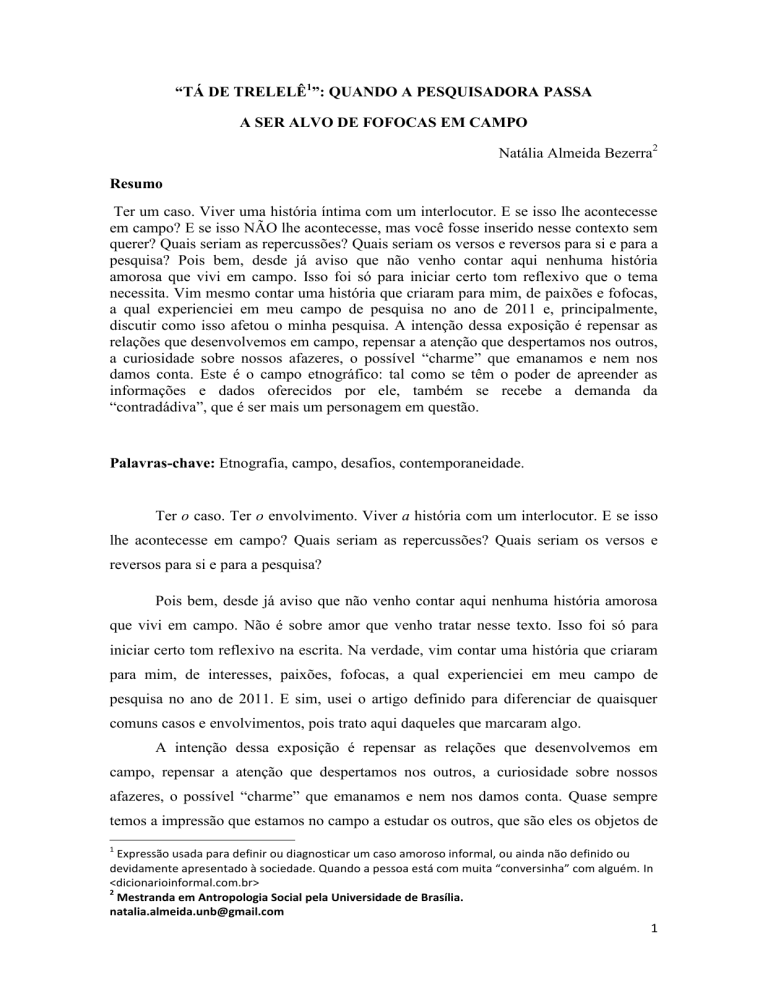
“TÁ DE TRELELÊ1”: QUANDO A PESQUISADORA PASSA
A SER ALVO DE FOFOCAS EM CAMPO
Natália Almeida Bezerra2
Resumo
Ter um caso. Viver uma história íntima com um interlocutor. E se isso lhe acontecesse
em campo? E se isso NÃO lhe acontecesse, mas você fosse inserido nesse contexto sem
querer? Quais seriam as repercussões? Quais seriam os versos e reversos para si e para a
pesquisa? Pois bem, desde já aviso que não venho contar aqui nenhuma história
amorosa que vivi em campo. Isso foi só para iniciar certo tom reflexivo que o tema
necessita. Vim mesmo contar uma história que criaram para mim, de paixões e fofocas,
a qual experienciei em meu campo de pesquisa no ano de 2011 e, principalmente,
discutir como isso afetou o minha pesquisa. A intenção dessa exposição é repensar as
relações que desenvolvemos em campo, repensar a atenção que despertamos nos outros,
a curiosidade sobre nossos afazeres, o possível “charme” que emanamos e nem nos
damos conta. Este é o campo etnográfico: tal como se têm o poder de apreender as
informações e dados oferecidos por ele, também se recebe a demanda da
“contradádiva”, que é ser mais um personagem em questão.
Palavras-chave: Etnografia, campo, desafios, contemporaneidade.
Ter o caso. Ter o envolvimento. Viver a história com um interlocutor. E se isso
lhe acontecesse em campo? Quais seriam as repercussões? Quais seriam os versos e
reversos para si e para a pesquisa?
Pois bem, desde já aviso que não venho contar aqui nenhuma história amorosa
que vivi em campo. Não é sobre amor que venho tratar nesse texto. Isso foi só para
iniciar certo tom reflexivo na escrita. Na verdade, vim contar uma história que criaram
para mim, de interesses, paixões, fofocas, a qual experienciei em meu campo de
pesquisa no ano de 2011. E sim, usei o artigo definido para diferenciar de quaisquer
comuns casos e envolvimentos, pois trato aqui daqueles que marcaram algo.
A intenção dessa exposição é repensar as relações que desenvolvemos em
campo, repensar a atenção que despertamos nos outros, a curiosidade sobre nossos
afazeres, o possível “charme” que emanamos e nem nos damos conta. Quase sempre
temos a impressão que estamos no campo a estudar os outros, que são eles os objetos de
1
Expressão usada para definir ou diagnosticar um caso amoroso informal, ou ainda não definido ou
devidamente apresentado à sociedade. Quando a pessoa está com muita “conversinha” com alguém. In
<dicionarioinformal.com.br>
2
Mestranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília.
[email protected]
1
interesse, temos até a noção que também somos mais uma pessoa presente no cenário,
mas não reparamos no modo como estamos sendo notados.
Este é o campo etnográfico: tal como se têm o poder de apreender as
informações e dados oferecidos por ele, também se recebe a demanda da “contradádiva”, que é ser mais um personagem em questão. E hoje não escolho outro
personagem que não a mim mesma, pois acredito que a descrição e a análise destas
relações podem trazer para o meio acadêmico e profissional informações e discussões
tão importantes quanto os resultados da própria investigação.
Para isso, apresentarei primeiro a experiência vivida e, depois, dialogo com
alguns autores sobre diversos recortes suscitados por ela. Com isso, pretendo alcançar
alguns pontos que tangenciam as questões sobre neutralidade, condução das regras e
fazeres antropológicos quanto às relações estabelecidas por antropólogos em campo.
CONTEXTUALIZANDO
Minha pesquisa etnográfica, à época, pertence à área da Antropologia da Saúde e
também da Tecnologia. Ela buscou conhecer as experiências dos moradores da
Ceilândia Sul-DF em relação às doenças crônicas, como a Diabetes e a Hipertensão,
com foco no uso de aparelhos tecnológicos biomédicos, como os medidores de glicemia
capilar e os de pressão arterial. A ideia central é entender como estes aparelhos
participam da vida dos doentes, entender e buscar as concepções culturais e sociais que
sustentam a lógica do uso destes aparelhos. A ação de verificar/medir o nível de açúcar
ou a força do sangue é uma realidade subjetiva e delineadora de comportamentos que
cabe ser conhecida. (BEZERRA, 2011; FLEISCHER&BEZERRA, 2013).
Dentro desse contexto, eu trabalhei junto ao mundo biomédico. Na maior parte
do tempo, pesquisei dentro de um Centro de Saúde e em sua vizinhança, entre março a
julho de 2011. O centro de saúde n. 04 possui especialidades como clínica médica,
pediatria, gineco/obstetrícia, odontologia, serviço social e nutrição. Oferece também aos
seus usuários atendimento especial para acompanhamento de doenças crônicas, esse
geralmente realizado em pequenos grupos, com aproximadamente 12 pessoas. Para este
contexto, me deterei apenas ao meu campo dentro do posto3.
3
Utilizarei a expressão “posto” por ser mais usual. Também é o nome preferido por meus
interlocutores.
2
No centro de saúde há uma sala especial que serve de acompanhamento/
monitoramento de pressão arterial ou glicemia, para todo tipo de pessoa, seja ela
portadora de doenças como hipertensão ou diabetes ou não, que é chamada de sala de
acolhimento. Os pacientes passam por esta sala para ter seus níveis de glicose e/ou
pressão arterial aferidos pelos profissionais de saúde, geralmente, duas auxiliares de
enfermagem. Como é uma sala perto da entrada do centro de saúde e que fica ao lado do
balcão de atendimento, é procurada pelos pacientes para resolver diversos tipos de
problemas, ou seja, é palco para outras situações, além da medição. Muitas pessoas
batem à porta para perguntar algo, tirar uma dúvida, buscar medicamentos, para “pegar
ou trocar receitas”, para confirmarem uma consulta, descobrir que horas os médicos
estarão presentes. Medir é só um dos motivos. Mas também é nesta pequena sala que as
conversas mais informais entre profissionais de saúde acontecem, onde eles se
descontraem, lancham, fofocam, quando não há paciente por perto.
Em campo, eu me ocupava dos grupos de atendimento aos pacientes crônicos, da
fila de espera para as consultas e da própria sala de acolhimento, ou seja, minha
presença era notada em diferentes locais. Mas era a sala de acolhimento o meu tesouro
em campo. Em poucas visitas, estava me sentindo à vontade para perguntar, questionar,
comentar, sorrir junto às duas auxiliares de enfermagem que ficam na sala. Toda vez
que eu chegava, batia à porta e elas, prontamente, me convidavam para entrar. Tinha
sempre “minha” cadeira junto à mesa. Meu lugar ficava em frente às auxiliares, e era
possível observar diretamente as aferições e as conversas que aconteciam, quaisquer
delas.
Mas há também a contradádiva da sala de acolhimento. Nela fui “pressionada” a
dar explicações, falar sobre o meu curso ou o que eu estava pesquisando exatamente,
falar sobre o que tanto eu escrevia no meu caderno de campo. Natural isso, despertamos
a curiosidade alheia. Alguém mais jovem, não vestindo branco ou jaleco, mas que
observava o movimento, entrava e saia do interior do posto e anotava tudo em um
caderninho, conversava com todos, era ou não uma situação que despertava atenção e
interesse?
Tanta atenção e curiosidade me renderam diferentes papéis em campo. Esta é
uma reflexão importante porque, somente a partir daí, foi possível perceber como se
deram os diálogos com as pessoas que conheci e encontrei [qual o tipo de status que
elas viam em mim]. Fui notada como “estudante de farmácia” ou “estudante de
3
medicina”. Também achavam que eu era “pesquisadora do governo” – a maior parte das
pessoas falava de política comigo, me perguntavam se eu estava ali para ver o que
precisava ser melhorado. Outros achavam que eu era paciente e completavam: “Mas
você é tão nova para ter pressão alta”. Quando não, eu era “representante farmacêutica
de aparelhos biomédicos”, após uma pequena conversa, as pessoas quase sempre me
pediam para que eu arranjasse aparelhos de glicemia. Especialmente a esse último
grupo, penso que represento um pouco a ideia ou imagem que as pessoas têm dos
representantes farmacêuticos. Unhas e sobrancelhas feitas, roupa ajustada, não uso do
jaleco, mochila, bloco de anotações, trânsito livre pelo posto, entre outras
características, afirmavam tal condição. Esses questionamentos, descreve Salem (1978)
dos interlocutores sobre meu contexto pessoal é parte importante do processo de
pesquisa, pois expressa a forma como os entrevistados procuram situar o entrevistador
em seu universo. Quando apareciam essas questões, eu as corrigia e lembrava que
estava ali para fazer uma pesquisa para minha faculdade, em Antropologia [sempre
tentava explicar o termo].
Várias classificações me foram atribuídas em campo, na tentativa de
compreender minha presença, seja pelos pacientes ou pela equipe dirigente. As pessoas
têm vontade de saber mais sobre nossas práticas pouco usuais dentro do cenário de uma
instituição de saúde, sobretudo quando pegamos nosso caderno de campo e anotamos
vigorosamente, ao invés de oferecer atendimento ou serviços de saúde de forma ativa.
“PRAZER, ROBERTO”
Ao apresentar todo esse cenário, intento deixar claro que também meu
interlocutor máximo [falarei em instantes dele] tinha algumas ideias sobre mim. Todo
esse movimento em torno da minha figura também despertaram a atenção dele. Bem,
essa é uma hipótese minha.
Eu costumava conversar muito com os pacientes na fila de espera das consultas.
Eles me contavam sobre tudo: a vivência com suas doenças, problemas em casa,
família, medicamentos, chás, em especial, sobre o uso dos aparelhos... E até mesmo as
fofocas sobre a relação entre eles e com seus médicos eu ficava sabendo.
Dentre elas, a mais comum era a reclamação, diria “velada”, sobre o Doutor
Roberto. Ele era clínico geral, trabalhava pelas manhãs no posto e atendia,
especialmente, os pacientes dos grupos de adoecidos crônicos. Quase todos tinham
4
medo dele. Diziam que ele era bravo, mal humorado, carrancudo e atendia em três
minutos [verdade, eu contei um dia], não explicava para que eram os medicamentos,
entre outros fatos. A figura dele era de um coroa alto, de uns 50 anos, pele bem branca,
rosto afilado, cabelos grisalhos, mais para brancos, magro e casado. Realmente não era
de sorrir muito. Pude perceber isso porque geralmente nos víamos nas “trocas” de
pacientes, isso quando ele vinha à porta chamar algum paciente. Atendia uma sequência
de dez pacientes em um pouco mais de meia hora. Posteriormente, descobri também que
os próprios servidores do posto tinha certo receio dele, em especial, as duas auxiliares
de enfermagem da sala de acolhimento, devido a diversas situações de grosserias que
ele fez com elas ou que as mesmas presenciaram. Eu, sinceramente, não o tinha na
minha lista de possíveis conversas em campo, afinal seu até seu apelido denotava sua
pessoa, era “Dr. porco-espinho”.
Certo dia, em uma visita à sala de acolhimento, já perto de findar o expediente
da manhã, aproveitei a calmaria para conversar melhor com as auxiliares de
enfermagem. Anotando vigorosamente as diversas informações que estava colhendo, o
Dr. Roberto entra na sala. Eu não notei. Percebi que as duas se levantaram e saíram, mas
não me distraí. Nisso, ele puxou a cadeira que estava a minha frente, sentou e me olhou.
Quando eu percebi quem era... Fiquei toda sem jeito. Tinha em minha mente que ele
seria levemente grosseiro comigo, que talvez me perguntasse sobre meus interlocutores,
e eu não estava preparada para isso, alias, nem mesmo para querer compartilhar minhas
ideias com ele. Então ele começou:
R: Você é estudante de Farmácia? Nutrição? O que você faz?
N: Não. De Antropologia. Já tem um tempo que estou fazendo
minha pesquisa aqui no posto... Com pacientes crônicos...
R: Isso eu sei. Vejo você sempre aqui.
[Silêncio]
R: Eu gosto de Antropologia. Prazer, Roberto!
N: Natália.
R: Queria mesmo até falar com você. Tenho uma proposta para te
fazer... Bem, mas hoje já não dá mais tempo. Você vai vir quinta?
Pode me procurar às 11h30?
N: Hum... Tá bom.
R: Então tá, até quinta.
(Diário de 26 de maio de 2011)
Foi uma conversa bem estranha. [Ele gostava de antropologia? Como assim?]
Depois que ele se despediu, as meninas voltaram à sala e perguntaram se estava tudo
bem e, lógico, sobre o que ele tinha falado. Eu disse que estava tudo bem sim e que ele
5
queria saber mais sobre minha pesquisa. Despedi-me delas e fui embora pensando no
que poderia ser o assunto.
A TAL PROPOSTA
Dois dias depois, volto ao posto. Para pesquisar, que fique claro, mas também
bem curiosa. Depois das minhas conversas na fila de espera, entro na sala de
acolhimento, deixo minhas coisas e dou um pulo lá na copa. Volto e encontro as duas
auxiliares de enfermagem e uma outra funcionária do administrativo, sentadas à mesa.
Pergunto assim: “O Dr. Roberto tá ai? Ele queria falar comigo!”. As meninas
respondem: “Tá hoje não!”, a outra funcionária completa: “Você tem certeza que ele
queria falar com você?!” [usando um tom esquisito] e as meninas replicam: “Queria
sim, eles estão de “TRELELÊ”. Eu sorri um pouco sem graça, peguei minhas coisas e
fui saindo, dizendo que o encontrava na outra semana. Naquele instante eu percebi que
estava em uma situação delicada. Eu não me senti bem com aquele comentário, virei
fofoca do posto. As meninas me olharam diferente, foram simpáticas, mas olharam
diferente, a gente sente. Nesse momento percebi que algo não estava como antes. Esse é
o cerne desta escrita.
Bem, na semana seguinte, quando nós dois conseguimos nos encontrar, foi mais
complicado ainda. Dessa vez ele apareceu na porta da sala em que se realizava o grupo
dos hipertensos. Cumprimentou-me em voz alta e disse que ao final da manhã me
aguardava para conversar. Foi tenso porque senti que também entre meus interlocutores
pacientes ele criou uma situação complicada, distanciadora, pois acredito que muitos
deles não entenderam aquele gesto vindo do Dr. Roberto. Deviam pensar: o que será
que ele queria contar? Ou descobrir? Será que o que ela ouve aqui, ela conta para ele?
São apenas algumas suposições, para quais, somente bem depois, eu me atentei. Mais
tarde, já na sala de acolhimento, mais uma vez na frente das meninas, ele perguntou se
eu poderia acompanhá-lo a sua sala. Elas ficaram se olhando e eu imaginei o teor do
olhar, agora que elas já tinham traçado a história do “Trelelê”. Mas o que fazer? Segui
com Roberto.
Poderia deixar no ar a dúvida do que realmente o Dr. Roberto queria, isso
poderia aguçar sentidos. Mas não serei cruel assim. Para você leitor(a) que chegou até
aqui, contarei tudo o que ele me propôs. O que não consigo evitar é se você será
6
“inocente” como eu fui à época ou esboçará a expressão no rosto igual a de todos que já
ouviram essa história. É uma escolha.
Ele sentou em sua cadeira e me convidou a sentar na outra (paciente). Começou
dizendo o seguinte: “O segredo do sucesso é o silêncio, por isso estamos conversando
aqui!”. Entendi que ele queria manter certa discrição. Começou a me falar sobre uma
ideia que queria desenvolver em seu mestrado, a qual era trabalhar com terapias
alternativas em grupos de adoecidos crônicos. E divagou. Para ser sincera, eu não
entendi muito bem o que ele queria realizar. Usava uma linguagem técnica, não
biomédica, mas de gestão de negócios.
Ele me propôs que eu pensasse, enquanto antropóloga, como determinar que
tipos de terapias melhor atenderiam as necessidades de certo tipo de perfil de paciente,
para que gerasse sucesso no tratamento dos mesmos. Eu achei isso bem difícil de
mensurar, visto que cada grupo, cada pessoa, responde de uma maneira diferente aos
tipos de tratamento ou estímulo, e acima de tudo, não é só uma questão de “corpo x
tratamento x resposta”, o meio também influencia os resultados, a família, as amizades,
as interações sociais. Enfim, “detalhes” que eu achava que o mundo biomédico não se
ocupava tanto e a antropologia sim. Expliquei tudo a ele. Disse que poderíamos até
tentar traçar um perfil, acompanhar um grupo “piloto”, mas nada generalista. Sugeri, de
forma bem pretensiosa, que ele começasse a olhar diferente para os seus próprios
pacientes no posto, pois muitas vezes eles querem contar histórias de vida, experiências
que estão ajudando a encarar o tratamento, detalhes que poderiam ajudar a pensar essas
terapias. Mas, infelizmente, ele não me deixou terminar de falar. Não é bom ouvinte.
Tivemos algumas outras conversas parecidas, sempre com discrição [fico
pensando que discrição se todos sabiam]. Mas para quem, como as meninas, pensou
outra coisa, foi só isso. Não houve caso algum, envolvimento algum. Nem ao menos
intenção concreta da parte dele. O projeto não foi para frente devido à impossibilidade
antropológica para atender ao convite. Como fazer uma etnografia com mais de dois mil
pacientes?!
A alguns olhos essa história pode parecer sem muita importância, até mesmo por
não ter gerado nenhum envolvimento, mas ela repercutiu dentro do meu campo e entre
meus interlocutores, de uma forma que, para mim, foi reflexiva e reconstruiu algumas
de minhas relações.
7
O “FARDO” DO “TRELÊLE”
A questão aqui está longe de ser definir as reais intenções dele nessa história ou
julgar se a proposta tinha coerência ou aplicação, mas é pensar como essa aproximação
revelou e transformou minhas relações dentro do campo. E como muitas relações que
você leitor vive hoje em seu campo podem redefinir seus rumos.
Decidi colocar aspas na palavra “fardo”, porque bem na semana de escrita deste
texto, me levaram a pensar que a fofoca às vezes pode fazer parte integral de um
cenário, ser ela a responsável por conduzir ou equilibrar as relações, nesse sentido se
tornando positiva. No meu caso, os impactos diretos para a pesquisa, de certo modo,
foram ruins, mas levando em consideração que geralmente fofocamos sobre quem
conhecemos, acho que me senti pertencente/íntima ao meu campo de vez. É exatamente
isso que aponta Claúdia Fonseca em seu livro Família, Fofoca e Honra (2000):
A literatura antropológica nos fornece diversas pistas para
compreender a força da fofoca. Por exemplo, pode reforçar o
sentimento de identidade comunitária ao criar uma história social
do grupo (Gluckman, 1963). (...) A fofoca seria instrumental da
definição dos limites do grupo — não se faz fofoca sobre
estranhos, pois a estes não se impõem as mesmas normas; ser
objeto, sujeito da fofoca, representa a integração no grupo. A
fofoca pode ter uma função educativa. Em vez de adultos
explicarem as normas morais a seus filhos, estes, ao ouvir as
histórias de comadres, aprenderiam as nuances práticas dos
princípios morais do grupo (ver Handman, 1983). A fofoca
também pode ter grande importância em termos de comunicação,
sobretudo entre analfabetos; é assim que se descobre o novo
endereço de um parente e o paradeiro de velhos amigos (ver
Hannerz, 1969, sobre uma comunidade negra em Washington,
EUA). Finalmente, a fofoca serve para informar sobre a reputação
dos moradores de um local, consolidando ou prejudicando sua
imagem pública. (p. 23)
Ao levar-se em consideração que a fofoca tem uma função social, percebi que
ser sujeito da fofoca atesta a integração ao grupo, o que é ótimo quando pesquisamos.
Mas, por outro lado, revela qual a reputação que está contribuindo para a formação da
nossa imagem pública. Na minha experiência, trouxe instabilidade à minha imagem
[desconfiança], atestou-me certo receio das minhas interlocutoras da sala de
atendimento e também de alguns pacientes.
Receios delas de continuarem conversando tão abertamente comigo, pois antes,
havia presenciado algumas vezes comentários negativos sobre Dr. Roberto. Elas sempre
8
mudavam de assunto ou se calavam quando ele adentrava a sala. Tinham receio de seu
comportamento. Era compreensível. Mas agora, ter alguém “próxima” a ele,
presenciando as conversas, seria bom? Por isso digo que senti uma mudança de
comportamento por parte delas. Assuntos sobre aparelhos, medições, doenças, ainda
eram contados, mas aquela naturalidade de antes, não havia mais.
Quanto aos pacientes - aqueles que estavam presentes no grupo dos hipertensos,
no dia que ele falou comigo - também ficaram receosos. Alguns me perguntaram: “Você
é amiga do Dr. Roberto?”. Como disse antes, suspeitei que era algo como: “ela é amiga
dele, será que conta nossas coisas? Nossas reclamações?”. Afinal, muitos deles já
haviam me contado sobre as consultas rápidas [leia-se ruins] do doutor.
***
Um espaço que eu busquei conquistar por meses, estava agora na berlinda. A
entrada em campo e o início do contato com informantes merecem atenção especial por
caracterizar o início de uma relação que pretende ser de confiança. E eu sentia que essa
tinha sido abalada. Ainda conseguia meus dados, mas em maior quantidade com
interlocutores novos. Antes eu não imaginava que uma simples aproximação seria, de
certa forma, negativa para minha pesquisa. Mas o campo nos surpreende.
Após a conversa com Roberto, voltei ao posto umas três vezes ainda e tive essa
mesma sensação. Pensando melhor, acho que minha inexperiência na época me
atrapalhou um pouco na condução dessa história. Eu poderia ter explorado melhor o fato
de ter me tornado protagonista de uma fofoca. Quero dizer que naquele momento eu já
estava findando meu campo para começar a escrever. Não tive tempo e oportunidade
para avaliar a situação posteriormente. Mas a pergunta que ficou é: e se a pesquisa não
tivesse acabado, como seria dar continuidade a este “jogo”? Como seria voltar a campo
hoje? Será que evitar essas situações se resguardando ao máximo é ideal ou devemos
viver o campo em sua intensidade e surpresas? Entre as duas, fico com a última e com
Geertz (2001) que diz:
A característica mais marcante do trabalho de campo antropológico
como forma de conduta é que ele não permite qualquer separação
significativa das esferas ocupacional e extraocupacional da vida.
Ao contrário, ele obriga a essa fusão. (in Rojo, 2004)
9
Se ele obriga essa fusão, pesquisador e pessoa, a neutralidade ainda estaria
resguardada? De que forma? Schuch e Fleicher (2010) revelam uma reflexão um pouco
diferente quando dizem:
O que parece estar em jogo aqui são questões que relacionam a
Ética com autorreflexões sobre os domínios da autoridade e
posicionalidade do antropólogo, num contexto em que suas
responsabilidades sociais são imensas, na medida em que seu
trabalho pode ter muitos desdobramentos políticos e sociais para a
vida das comunidades em questão. (p. 186)
Pareceu-me essa ser a outra face da questão. Há que se lembrar das nossas
responsabilidades em campo. Apenas como uma ideia bem superficial, se devo lidar
também com o lado emocional na pesquisa [extraocupacional], tenho que ter cuidado
para não sobrecarregá-lo, pois há uma ética de pesquisa e uma posição em campo para
com os desdobramentos políticos e sociais que a pesquisa oferece, as quais não podem
trabalhar com algo tão subjetivo como as emoções. Aqui entra a ideia de limite, o qual o
status de Ciência da Antropologia clama por objetividade e razão. O equilíbrio é
fundamental entre as duas esferas.
E há mais. Dentre essas, outras suposições surgiram posteriormente. Há
específicos recortes para se pensar sobre a vulnerabilidade da mulher em campo; pensar
numa hierarquia social do poder biomédico; questões quanto aos limites da convivência;
a conquista da liberdade com os outros e dos outros conosco. Isso só para ter uma
imagem do que essa vivência me fez pensar. Mas preciso me deter ao meu objetivo
central. Pena que o espaço aqui é pequeno para tantos desdobramentos interessantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao descrever essa situação de fofoca no campo, não tive nenhuma intenção de
estipular regras de conduta ou comportamento em campo, apenas de trazer uma fonte de
reflexão sobre nossas práticas antropológicas e nosso envolvimento emocional com a
pesquisa e os resultados disso.
Penso que os objetivos propostos foram atingidos, pois apresentei o contexto da
situação de “tensão” em campo, a qual acabou por se transformar, de modo geral, em
um “dificultador” das conversas para com meus interlocutores.
Ao me tornar um personagem do texto, o que não é tarefa fácil, busquei expor
uma parte da pesquisa que nem sempre é incluída nos textos etnográficos, pelo limite
10
imposto pela razão e neutralidade de nosso fazer. Aproximo-me muito do que conclui
Rojo (2004) em sua pesquisa:
(...) futuros pesquisadores podem se relacionar tanto com sua
afetividade em campo, o que alguns poucos já o fazem, quanto
com os reflexos desta afetividade em seus trabalhos, que até agora
têm estado restrito ao que um colega chamou de “seção de fofocas”
da Antropologia.
Retirando esse contexto da “seção de fofocas”, espero ter contribuído para
algum tipo de liberdade que ainda há de se tornar comum nos diálogos
intradisciplinares.
BIBLIOGRAFIA
BEZERRA, Natalia. Bombinha, reloginho ou pera: O uso de equipamentos biomédicos
no cuidado da saúde de pessoas vivendo com hipertensão e diabetes na Guariroba,
Ceilândia, DF. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em
Antropologia). Brasília, 2011.
FLEISCHER & SCHUCH, Soraya e Patrice (orgs.). Ética e regulamentação na
pesquisa antropológica. Rosana Castro, Bruna Seixas, Daniel Simões (Colaboradores) –
Brasília: LetrasLivres : Editora Universidade de Brasília, 2010.
FLEISCHER & BEZERRA. A popularização de esfigmomanômetros e glicosímetros
no bairro da Guariroba/DF. Revista Sociedade e Cultura. UFG. V. 16. 2013.
FONSECA, Cláudia. Família, fofoca e honra: etnografia das relações de gênero e
violência em grupos populares. Porto Alegre: UFGRS. 2010
GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2001.
SALEM, T. Entrevistando famílias: notas sobre o trabalho de campo. In: NUNES, E.
O. A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 47-64.
ROJO, Luiz Fernando. Rompendo Tabus: a subjetividade erótica no trabalho de campo.
Revista Cadernos de campo, n. 12. 2004.
11