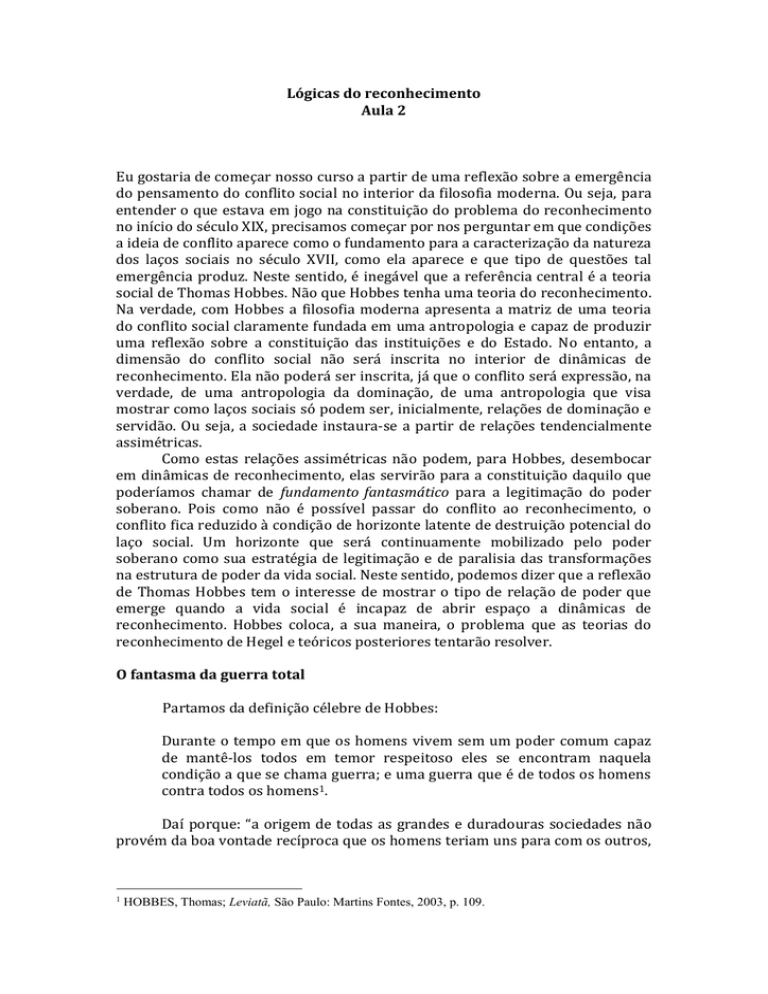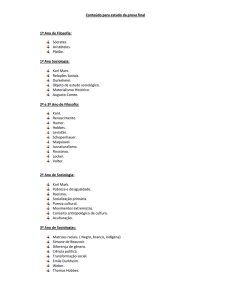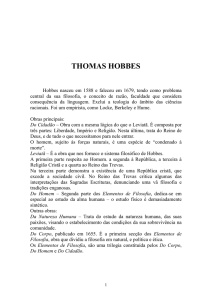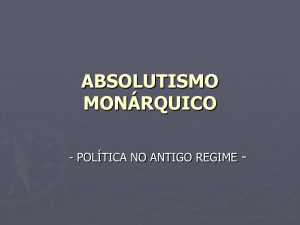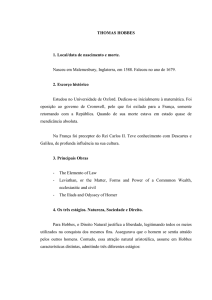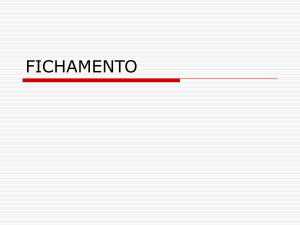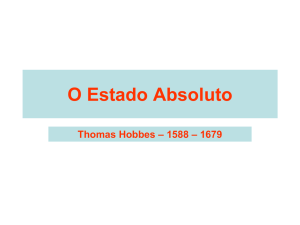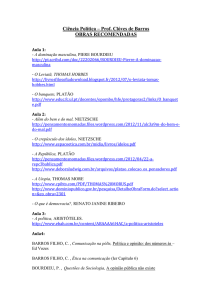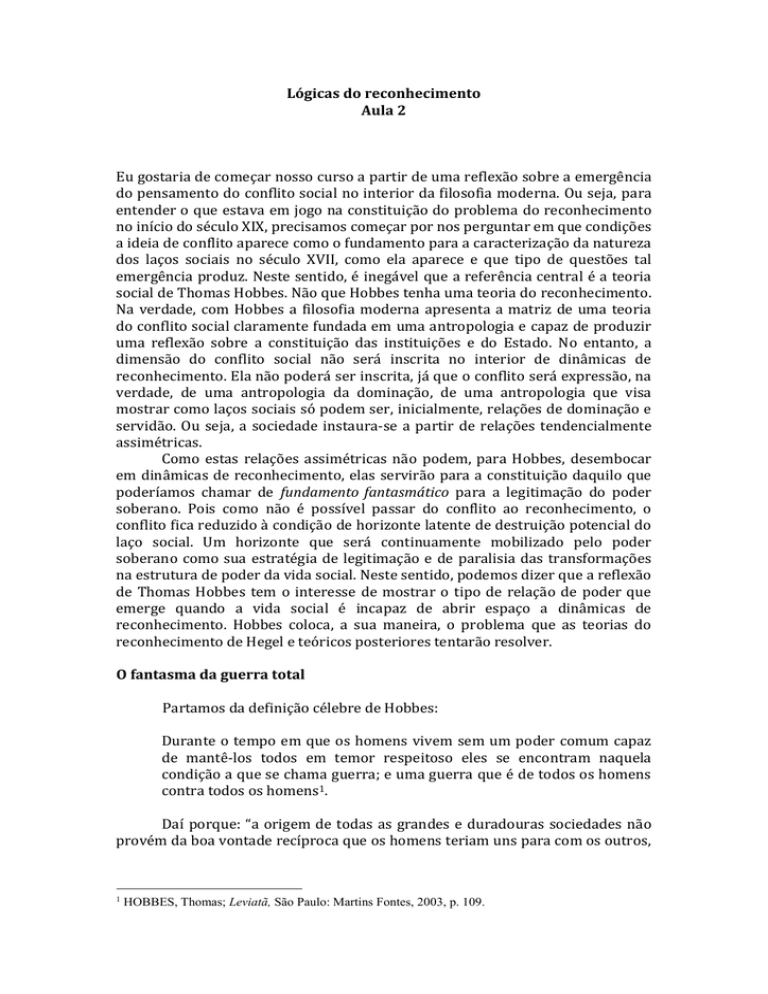
Lógicas do reconhecimento
Aula 2
Eu gostaria de começar nosso curso a partir de uma reflexão sobre a emergência
do pensamento do conflito social no interior da filosofia moderna. Ou seja, para
entender o que estava em jogo na constituição do problema do reconhecimento
no início do século XIX, precisamos começar por nos perguntar em que condições
a ideia de conflito aparece como o fundamento para a caracterização da natureza
dos laços sociais no século XVII, como ela aparece e que tipo de questões tal
emergência produz. Neste sentido, é inegável que a referência central é a teoria
social de Thomas Hobbes. Não que Hobbes tenha uma teoria do reconhecimento.
Na verdade, com Hobbes a filosofia moderna apresenta a matriz de uma teoria
do conflito social claramente fundada em uma antropologia e capaz de produzir
uma reflexão sobre a constituição das instituições e do Estado. No entanto, a
dimensão do conflito social não será inscrita no interior de dinâmicas de
reconhecimento. Ela não poderá ser inscrita, já que o conflito será expressão, na
verdade, de uma antropologia da dominação, de uma antropologia que visa
mostrar como laços sociais só podem ser, inicialmente, relações de dominação e
servidão. Ou seja, a sociedade instaura-se a partir de relações tendencialmente
assimétricas.
Como estas relações assimétricas não podem, para Hobbes, desembocar
em dinâmicas de reconhecimento, elas servirão para a constituição daquilo que
poderíamos chamar de fundamento fantasmático para a legitimação do poder
soberano. Pois como não é possível passar do conflito ao reconhecimento, o
conflito fica reduzido à condição de horizonte latente de destruição potencial do
laço social. Um horizonte que será continuamente mobilizado pelo poder
soberano como sua estratégia de legitimação e de paralisia das transformações
na estrutura de poder da vida social. Neste sentido, podemos dizer que a reflexão
de Thomas Hobbes tem o interesse de mostrar o tipo de relação de poder que
emerge quando a vida social é incapaz de abrir espaço a dinâmicas de
reconhecimento. Hobbes coloca, a sua maneira, o problema que as teorias do
reconhecimento de Hegel e teóricos posteriores tentarão resolver.
O fantasma da guerra total
Partamos da definição célebre de Hobbes:
Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz
de mantê-los todos em temor respeitoso eles se encontram naquela
condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens
contra todos os homens1.
Daí porque: “a origem de todas as grandes e duradouras sociedades não
provém da boa vontade recíproca que os homens teriam uns para com os outros,
1
HOBBES, Thomas; Leviatã, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 109.
mas do medo recíproco que uns tinham dos outros”2. Esta definição determina
uma das condições centrais do estado de natureza, a saber, a insegurança e a
guerra iminente. Uma guerra que não é apenas o tempo da batalha, mas a
disposição contínua à violência contra o outro. É uma reflexão sobre a guerra que
funda a reflexão política moderna. Ou seja, o problema político fundamental em
Hobbes estará ligado ao destino da destrutividade. A saída do estado de natureza
e de sua guerra de todos contra todos, estado este resultante de uma igualdade
natural que não implica consolidação da experiência do bem comum mas conflito
perpétuo entre interesses concorrenciais, se faria pelas vias da internalização de
um “temor respeitoso” constantemente reiterado e produzido pela força de lei de
um poder soberano. Pois:
se os bens forem comuns a todos, necessariamente haverá de brotar
controvérsias sobre quem mais gozará de tais bens, e de tais
controvérsias inevitavelmente se seguirá o tipo de calamidades, as quais,
pelo instinto natural, todo homem é ensinado a esquivar3.
Proposição que ilustra como as individualidades seriam animadas por algo como
uma força de impulso dirigido ao excesso. Não pode haver bens comuns porque
há um desejo excessivo no seio dos indivíduos, desejo resultante da “natureza
ter dado a cada um direito a tudo”4 sem que ninguém esteja assentado em
alguma forma de lugar natural. Como lembrará Leo Strauss, a respeito de
Hobbes: “o homem espontaneamente deseja infinitamente” 5 . Tal excesso
aparece, necessariamente para Hobbes, não apenas através do egoísmo
ilimitado, mas também através da cobiça em relação ao que faz o outro gozar, da
ambição por ocupar lugares que desalojem aquele que é visto preferencialmente
como concorrente. Pois o excesso, como é traço comum de todos os homens, só
pode acabar como desejo pelo mesmo. “Muitos, ao mesmo tempo, têm o apetite
pelas mesmas coisas”6. A guerra será inevitável se lembrarmos que o direito
natural (jus naturalis) é o direito de tudo fazer para preservar minha própria
natureza, ou seja, minha vida. Da mesma forma, a lei natural (lex naturalis)
prescreve a proibição de fazer e aceitar aquilo que è destrutivo à minha vida.
Assim, Hobbes descreve como o aparecimento histórico de uma sociedade de
indivíduos liberados de toda forma de lugar natural ou de regulação coletiva
predeterminada só pode ser compreendido como o advento de uma “sociedade
da insegurança total”7.
Notemos pois como o conflito entre indivíduos se dá como consequência
necessária da expressão da natureza de seus desejos. É na verdade uma reflexão
sobre o desejo como disposição humana fundamental que inaugura uma das
bases da filosofia política moderna. O que demonstra como o desejo é, para os
modernos, uma categoria política por excelência. Segundo Hobbes, os desejos
são miméticos. Deseja-se o mesmo que o outro, vejo como o outro deseja para
2
HOBBES, Thomas; Do cidadão, São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 28
HOBBES, Thomas; Do cidadão, op. cit., p. 7
4
Idem, p. 30
5
STRAUSS, Leo; The political philosophy of Thomas Hobbes, University of Chicago Press, 1963, p.
10
6
HOBBES, Do cidadão, p. 30
7
CASTEL, Robert; L’insécurité sociale: qu’est-ce qu’être protégé?, Paris: Seuil, 2003, p. 13
3
saber como desejar, ou seja, há desde o início uma certa forma de dependência
entre os seres humanos, mas esta racionalidade mimética não se traduz em
empatia ou tendência à cooperação. Ela se traduz em rivalidade e violência
direta. É a expressão do desejo que coloca os indivíduos na rota de uma luta de
vida ou morte. No entanto, esta luta não pode ser regulada pelos próprios
contendores. Dela, não emerge nada a não ser um impasse, já que todos os
indivíduos são portadores de força relativamente igual. A força maior de um não
irá muito mais além do que a força de dois ou três unidos. A luta só pode ser
superada então através da introdução de um terceiro elemento, que neutraliza a
rivalidade da relação dual, a saber, através da instauração do direito e do Estado.
No entanto, há de se entender melhor qual é a natureza deste direito. É ele
expressão da liberdade dos indivíduos e sua capacidade de criar instituições? Ou
é o Estado a expressão de uma coerção consentida, de uma restrição legítima
como condição para a não desagregação do laço social? Qual a natureza do pacto
que produz o advento do Estado?
A fim de responder tal questão percebamos que é contra a destrutividade
amedrontadora desse excesso que coloca os indivíduos em perpétuo movimento,
fazendo-os desejar o objeto de desejo do outro, levando-os facilmente à morte
violenta, que se faz necessário o Estado. Ou seja, como nenhuma forma de pacto
imanente entre indivíduos é possível, como a própria figura do indivíduo
portador de interesses já é a consolidação da inevitabilidade do conflito, já que
luto pelos meus interesses a despeito dos interesses do outro, não haverá outra
saída para a regulação social que o aparecimento de uma força externa chamada
de “governo” capaz de estabelecer um pacto feito da auto-restrição mútua e da
limitação de si.
Notemos, no entanto, um ponto importante. Este estado de natureza é
composto de indivíduos que parecem naturalizar princípios de conduta baseados
na concorrência, no sentimento de posse e na propriedade. Daí porque Hobbes
dirá que os três principais motivos de conflito são: a concorrência, a
desconfiança e a glória. Ou seja, e esta é uma tese avançada pela primeira vez por
Macpherson no clássico A teoria do individualismo possessivo, tudo se passa como
se Hobbes tivesse naturalizado a emergência do indivíduo moderno liberal em
situação de ator animado pela exigência de reconhecimento de seus interesses,
colocando-o no fundamento de uma antropologia normativa do humano. Mesmo
sem ser exatamente um teórico liberal, já que Hobbes submete o direito da
propriedade individual às condições de sobrevivência do Estado, vemos
claramente como sua teoria política é, na verdade, resultado da naturalização
antropológica dos pressupostos imanentes à individualidade liberal.
O medo como afeto que funda o laço social
Neste sentido, há de se estar atento para o circuito de afetos que
constituirá o fundamento possível desta forma de vida social. Pois a
possibilidade mesma da existência do governo e, por consequência, ao menos
neste contexto, a possibilidade de estabelecer relações através de contratos que
determinem lugares, obrigações, previsões de comportamento, fornecendo à
sociedade sua racionalidade, estaria vinculada à circulação do medo como afeto
instaurador e conservador de relações de autoridade. A emergência do indivíduo
moderno é indissociável da elevação do medo à condição de afeto social central.
Ninguém melhor que Carl Schmitt descreve os pressupostos desta passagem
hobbesiana do estado de natureza ao contrato fundador da vida em sociedade:
Este contrato é concebido de maneira perfeitamente individualista. Todos
os vínculos e todas as comunidades são dissolvidos. Indivíduos
atomizados se encontram no medo, até que brilhe a luz do entendimento
criando um consenso dirigido à submissão geral e incondicional à
potência suprema8.
Notemos o sentido da elevação do medo como afeto político instaurador
de laços sociais. Esse medo teria a força de estabilizar a sociedade, paralisar o
movimento e bloquear o excesso das paixões, viabilizando assim a perpetuação
de nossas formas sociais. Isto leva comentadores, como Remo Bodei, a insistir
em uma “cumplicidade entre razão e medo”, não apenas porque a razão seria
impotente sem o medo, mas principalmente porque o medo seria, em Hobbes,
uma espécie de “paixão universal calculadora” por permitir o cálculo das
consequências possíveis a partir da memória dos danos, fundamento para a
deliberação racional e a previsibilidade da ação9. Ou ainda, como dirá Esposito,
em Hobbes, o medo “não determina apenas fuga e isolamento, mas também
relação e união. Não se limita a bloquear e imobilizar, mas ao contrário, leva a
refletir e neutralizar o perigo: não tem parte com o irracional, mas com a razão. É
uma potência produtiva. Politicamente produtiva: produtiva de política”10. Por
isto, o medo ligado à força coercitiva da soberania, ou seja, o medo que tenho do
soberano, deve ser visto apenas como certa astúcia para defender a vida social
de medo maior:
porque os vínculos das palavras são demasiado fracos para refrear a
ambição, a natureza, a avareza, a cólera e outras paixões dos homens, se
não houver o medo de algum poder coercitivo – coisa impossível de supor
na condição de simples natureza, em que os homens são todos iguais, e
juízes do acerto dos seus próprios temores (2003, p. 119).
É verdade que Hobbes também afirma: “As paixões que fazem os homens
tenderem para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são
necessárias para uma vida confortável e a esperança de consegui-las por meio do
trabalho”11. Ou seja, parece não haver apenas um afeto, mas três: medo, desejo e
esperança. Da mesma forma, ele lembra que, sendo a força da palavra demasiado
fraca para levar os homens a respeitarem seus pactos, haveria duas maneiras de
reforçá-la: o medo ou ainda o orgulho e a glória por não precisar faltar com a
palavra. Tais considerações parecem abrir espaço à circulação de outros afetos
sociais, como a esperança e um tipo específico de amor-próprio ligado ao
reconhecimento de si como sujeito moral. Renato Janine Ribeiro, por exemplo,
insistirá que “pode-se reduzir a pares a multiplicidade das paixões: medo e
SCHMITT, Carl; Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes: sens et échec d’un
symbole politique, Paris: Seuil, 2002, p. 95.
9
BODEI, Remo; Geometria delle passioni: Paura, speranza, felicità – filosofia e uso politico, Milão:
Feltrinelli, 2003, p. 86.
10
ESPOSITO, Roberto; Communitas, op.cit., p. 6
11
HOBBES, Thomas; Leviatã, p. 111
8
esperança, aversão e desejo ou, em termos físicos, repulsão e atração. Mas não é
possível escutar a filosofia hobbesiana pela nota só do medo, que não existe sem
o contraponto da esperança”12.
No entanto, a antropologia hobbesiana faz com que tais afetos circulem
apenas em regime de excepcionalidade, o que fica claro em afirmações como: “de
todas as paixões, a que menos faz os homens tender a violar as leis é o medo.
Mais: excetuando algumas naturezas generosas, é a única coisa que leva os
homens a respeitá-las”13. Faltaria à maioria dos homens a capacidade de se
afastar da força incendiária das paixões e atingir esta situação de esfriamento na
qual o vínculo político não precisaria fazer apelo nem ao temor nem sequer ao
amor (que, enquanto modelo para a relação com o Estado, acaba por construir a
imagem da soberania à imagem paterna, modelando a política na família14). Ou
seja, o esfriamento das paixões aparece como função da autoridade soberana e
condição para a perpetuação do campo político, mesmo que tal esfriamento se
pague com a moeda da circulação perpétua de outras paixões que parecem nos
sujeitar à contínua dependência.
Por isto, mais do que expressão de uma compreensão antropológica
precisa, que daria a Hobbes a virtude do realismo político resultante da
observação desencantada da natureza humana, seu pensamento possui como
horizonte uma lógica do poder pensada a partir de uma limitação política, no
caso, a impossibilidade de pensar a política para além dos dispositivos que
transformam o amparo produzido pela segurança e pela estabilidade em afeto
mobilizador do vínculo social. Política na qual “o protego ergo obligo é o cogito
ergo sum do Estado”15. Difícil não chegar em uma situação na qual esperamos
finalmente por “um quadro jurídico no interior do qual não exista realmente
mais conflitos – apenas regras a colocar em vigor”16. O que fica claro em
afirmações como:
entre os homens são muitos os que se julgam mais sábios e mais
capacitados do que os outros para o exercício do poder público. E esses
esforçam-se por empreender reformas e inovações, uns de uma maneira e
outros doutra, acabando assim por levar o país à perturbação e à guerra
civil17.
As reformas e inovações são um convite à perturbação e à guerra civil.
Pois o estado hobbesiano é, acima de tudo, um Estado de proteção social, ou seja,
Estado baseado na promessa de amparo, que se serve de todo poder possível,
instaurando um domínio de legalidade própria neutro em relação a valores e
verdade. Estado que precisa realizar sua tarefa sem constrangimento externo
algum, ou seja, como uma máquina administrativa que desconhece coerções em
sua função de assegurar a existência física daqueles que domina e protege. Um
12
RIBEIRO, R.J.; Ao leitor sem medo: Hobbes escrevendo contra seu tempo, Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2004, p. 23
13
HOBBES, Leviatã, p. 253
14
Ver, por exemplo, RIBEIRO, op. cit., p. 53
15
SCHMITT, Carl; O conceito do político – Teoria do partisan, Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 56
16
BALIBAR, Etienne; Violence et civilité, Paris: Galilée, 2010, p. 56
17
HOBBES, Thomas; Leviatã, op. cit., p. 146
Estado construído a partir da dessocialização de todo vínculo comunitário,
constituindo-se como o espaço de uma “relação de não-relações”18.
Não é por acaso que este Estado será comparado a um Leviatã. A metáfora
não poderia ser mais adequada. O Leviatã é um monstro aquático dotado de
força descomunal que aparece no Livro de Jó. O contexto de sua aparição é
sintomático. Sem entender os desígnios divinos, enfermo e despossuido de tudo
o que tinha, Jó expressa sua perplexidade. Sendo um servo temente, por que
sofre tanto? Jeová então lhe aparece não para lhe responder a apazigua-lo, mas
para mostrar a desmedida entre a ciência divina e a ciência humana. Ou seja, ele
está diante de Jó para dizer : quem es tu que questiona meus desígnios? Neste
contexto, Jeová apresenta a figura de duas forças descomunais: uma aquática (o
Leviatã) e outra terrestre (Behemooth). “Não há nada mais tremendo sobre a
terra que se lhe possa comparar”, dirá a Bíblia. Ou seja, fazer do Estado um
Leviatã é inscrever-lhe a força de uma imagem teológica que visa anular o
sofrimento e a restrição como disposição de revolta.
A única limitação que Hobbes reconhece ao poder do Estado é o direito
dos indivíduos à auto-defesa quando a vida está ameaçada pelo poder soberano,
o que decorre do respeito ao primeiro direito natural. Se o soberano atenta
contra minha vida, tenho o direito de a ele me contrapor, pois o que me liga a ele
é um pacto de proteção que não existe mais. No entanto, o soberano guarda o
direito de continuar sua ação contra mim já que pode tudo fazer para garantir a
proteção social e a permanência do Estado.
Por isto, não é possível dizer que o Estado opere aqui a partir de uma
lógica do reconhecimento. Ele opera, ao contrário, através da impossibilidade de
reconhecer aquilo que seria constitutivo da natureza humana. Pois há uma
violência elevada à condição de determinação metafísica do humano. Violência
que só pode aparecer como desagregação de todo e qualquer laço social. Notem
que há uma decisão, prenhe de consequências, que faz a violência vinda do
caráter excessivo do desejo ser expressa apenas como tendência à despossessão
do outro, de sua vida e de seus bens.
Cabe ao Estado usar o medo para impor aos indivíduos a limitação de seus
desejos e a restrição de suas possibilidades de reconhecimento. Cria-se assim
uma duplicidade fundamental na estrutura dos sujeitos que são cidadãos e
cidadãs de tal Estado. Como cidadão e cidadã do Estado ajo como sujeito capaz
de me auto-limitar, sujeito dotado de controle. No entanto, o que me vincula a tal
personalidade é um afeto responsável pela restrição e repressão de meus reais
impulsos. Por isto, a própria noção de personalidade será comparada por Hobbes
a uma máscara, recobrando o sentido originário do termo persona entre os
gregos. Máscara que não reconhece, mas que encobre algo a ser reprimido para
que o laço social possa existir. Como se vê, não é possível dizer que lá onde o
medo aparece como afeto político central o reconhecimento pode se realizar.
Medo social e reconhecimento são processos contrários, como vemos facilmente
em situações atuais concretas.
A função do amparo
18
ESPOSITO, Roberto; Communitas, op. cit., p. 12
Mas nos atentemos para outro aspecto do nosso problema. Ele diz
respeito ao modelo geral de gestão social quando as exigências de
reconhecimento são bloqueadas. Pois o Estado não será apenas a instância que
opera a repressão. Ele será o gestor da lembrança contínua de que há algo a se
reprimir. Ele não será apenas o bombeiro da vida social, mas também o próprio
piromaníaco. Pois o fato fundamental no interior desta relação de não-relações é
a necessidade que a legitimação da soberania pela capacidade de amparo e
segurança tem da perpetuação contínua da imagem da violência desagregadora à
espreita, da morte violenta iminente caso o espaço social deixe de ser controlado
por uma vontade soberana de amplos poderes. O segredo da legitimidade do
Estado é a perpetuação da iminência da guerra de todos contra todos. O
fundamento fantasmático deste Estado será a figura do conflito social reduzida à
condição de guerra de todos contra todos. Daí uma conclusão importante de
Agamben: “A fundação não é um evento que se cumpra uma vez por todas in illo
tempore, mas é continuamente operante no estado civil na forma da decisão
soberana”19. Este mecanismo de fundação que necessita ser continuamente
reiterado diz muito a respeito da continuidade do medo como força de reiteração
da relação do Estado ao seu fundamento.
Sendo o Estado nada mais que “a guerra civil constantemente impedida
através de uma força insuperável”20, ele precisa provocar continuamente o
sentimento de desamparo, da iminência do estado de guerra, transformando-o
imediatamente em medo da vulnerabilidade extrema, para assim legitimar-se
como força de amparo fundada na perpetuação de nossa dependência. Na
verdade, devemos ser mais precisos e lembrar que a autoridade soberana tem
sua legitimidade assegurada não apenas por instaurar uma relação baseada no
medo para com o próprio soberano, mas principalmente por fornecer a imagem
do distanciamento possível em relação a uma fantasia social de desagregação
imanente no laço social e de risco constante da morte violenta. Uma fantasia
social que Hobbes chama de “guerra de todos contra todos”. É através da
perpetuação da iminência de sua presença que a autoridade soberana encontra
seu fundamento. É alimentando tal fantasia social que se justifica a necessidade
do “poder pacificador” da representação política, ou seja, do abrir mão de meu
direito natural em prol da constituição de um representante cujas ações
soberanas serão a forma verdadeira de minha vontade. Só assim o medo poderá
“conformar as vontades de todos”21 os indivíduos, como se fosse o verdadeiro
escultor da vida social.
É importante ainda salientar que essa fantasia pede uma dupla
fundamentação. Por um lado, ela apela à condição presente dos homens. Não
sendo uma hipótese histórica, o estado de natureza é uma inferência feita a
partir da análise das paixões atuais. Isto leva comentadores como Macpherson a
afirmar que, longe de ser uma descrição do ser humano primitivo, ou do ser
humano aparte de toda característica social adquirida, o estado de natureza
19
AGAMBEN, Giorgio; Homo sacer, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, p. 115.
SCHMITT, Carl; Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes: sens et échec d’un
symbole politique, op. cit., p. 86
21
HOBBES, Thomas; Leviatã, op. cit., p. 147
20
seria: “a abstração lógica esboçada do comportamento dos homens na sociedade
civilizada” 22.
Hobbes pede que lembremos como “todos os países, embora estejam em
paz com seus vizinhos, ainda assim guardam suas fronteiras com homens
armados, suas cidades com muros e portas, e mantém uma constante vigilância”.
Lembra ainda como os “particulares não viajam sem levar sua espada a seu lado,
para se defenderem, nem dormem sem fecharem – não só as portas, para
proteção de seus concidadãos – mas até seus cofres e baús, por temor aos
domésticos”23. Mas notemos um ponto central. A espada que carrego, as trancas
na minha porta e em meus baús, os muros da cidade na qual habito são índices
não apenas do desejo excessivo que vem do outro. Eles são índices indiretos do
excesso do meu próprio desejo. Como se Hobbes afirmasse: “olhe para suas
trancas e você verá não apenas seu medo em relação ao outro, mas o excesso de
seu próprio desejo que lhe desampara por querer lhe levar a situações nas quais
imperam a violência e o descontrole da força”. A retórica apela aqui a uma
universalidade implicativa.
De toda forma, como não se trata de permitir que configurações atuais
sejam, de maneira indevida, elevadas à condição de invariante ontológica, faz-se
absolutamente necessário também a produção contínua dessas construções
antropológicas do exterior caótico e do passado sem lei. Ou seja, mesmo não
sendo uma hipótese histórica, não há como deixar de recorrer à antropologia
para pensar o estado de natureza. Assim, aparecem construções como esta que
leva Hobbes a acreditar que:
os povos selvagens de muitos lugares da América, com exceção do
governo de pequenas famílias, cuja concórdia depende da concupiscência
natural, não possuem nenhuma espécie de governo, e vivem nos nossos
dias daquela maneira brutal que antes referi24.
Ou seja, sociedades sem Estado como nós, os povos de muitos lugares da
América, são mobilizadas continuamente para lembrar à sociedade europeia
porque a soberania é legítima. No interior desta lógica de legitimação, esta é
nossa função. Ou ainda:
sabemos disso também tanto pela experiência das nações selvagens que
existem hoje, como pelas histórias de nossos ancestrais, os antigos
habitantes da Alemanha e de outros países hoje civilizados, onde
encontramos um povo reduzido e de vida breve, sem ornamentos e
comodidades, coisas essas usualmente inventadas e proporcionadas pela
paz e pela sociedade25.
Sociedades da violência e sociedades da penúria estão à nossa espreita seja em
uma diferença geográfica, seja em uma diferença histórica. Na verdade, sempre
deverá haver um “povo selvagem da América” à mão, o Estado sempre deverá
22
MACPHERSON, C.B.; The political theory of possessive individualism: Hobbes to Locke, Oxford
University Press, 1962, p. 26.
23
HOBBES, Thomas; Do cidadão, p. 14.
24
Idem, p. 110.
25
HOBBES, Thomas; Os elementos da lei natural e política, São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 70
criar um risco de contaminação da vida social pela violência exterior,
independente de onde esse exterior esteja, seja geograficamente no Novo Mundo
ou no Oriente Médio, seja historicamente em uma cena originária da violência.
Ao menos neste ponto, Carl Schmitt é o mais consequente dos hobbesianos
quando afirma que:
Palavras como Estado, república, sociedade, classe e ademais soberania,
Estado de direito, absolutismo, ditadura, plano, Estado neutro ou total etc.
são incompreensíveis quando não se sabe quem deve ser, in concreto,
atingido, combatido, negado e refutado com tal palavra26.
Já temos aqui os problemas que uma teoria do reconhecimento deverá
lidar. Ela deve, inicialmente, quebrar o vínculo entre antropologia da violência e
legitimação do Estado. Isto implica operar duas saídas possível. A primeira seria
fornecer uma outra imagem antropológica, insistindo, por exemplo, na
imanência de relações de empatia a fundar campos intersubjetivos cuja primeira
expressão é não-conflitual. Retira-se assim o conflito da posição de fundamento
da existência social, deslocando-o para o que pode ser regulado devido à
presença de um horizonte normativo de experiências de empatia. Esta empatia
pode estar presente na vida social, sendo necessária apenas reconstruir as bases
normativas de nossa sociedade a partir do que está presente em vários campos
da vida social, como fará Axel Honneth. Ou ela pode estar soterrada pelos
processos de modernização social, sendo necessário recuperar a força de coesão
do que foi reprimido em sua origem. Esta é, por exemplo, a estratégia de
Rousseau e de sua outra imagem do estado de natureza baseado na compaixão,
na expressão e na cooperação.
Haverá, no entanto, ainda outro caminho. Ele consistirá em conservar a
compreensão da centralidade do conflito como dado instaurador dos laços
sociais, mas procurando constituir um conceito mais amplo de conflito cuja
expressão não se reduza à despossessão dos bens e à morte violenta. Para tanto
será necessário, por exemplo, retomar a teoria do desejo que serve de base a
Hobbes e inseri-la no interior de uma noção mais ampla de “negatividade” cuja
satisfação e reconhecimento poderá se dar de formas variadas, como tentará
fazer Hegel. Ou seja, a estratégia aqui consiste também em modificar a base
antropológica da política, mas sem recusar a centralidade ontológica da noção de
conflito. Dentro desta dinâmica, poderemos ainda reinserir o conflito no interior
de uma lógica na qual a célula elementar não são as auto-afirmações individuais,
mas a experiência de pertencimento a uma classe, como faz Marx ao redescrever
a noção da sociedade como guerra civil diferida a partir da concepção reguladora
de luta de classes, e não mais a partir da noção de guerra de todos contra todos.
Veremos cada um destes casos no decorrer de nosso curso.
26
SCHMITT, Carl; O conceito de político – Teoria do partisan, Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 32