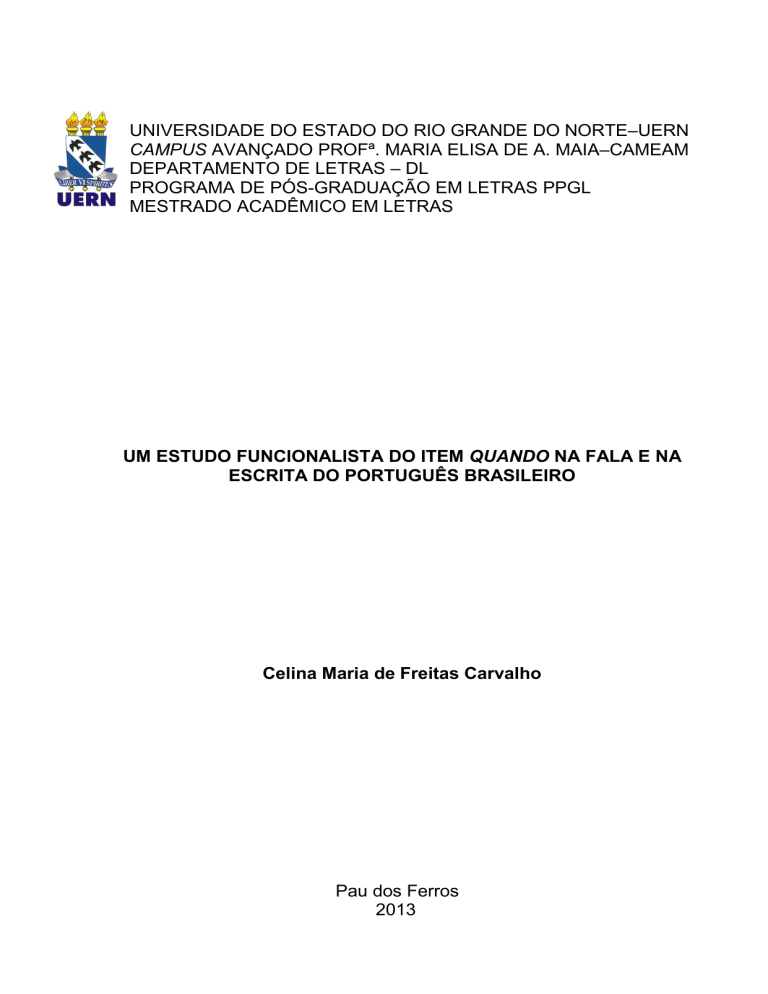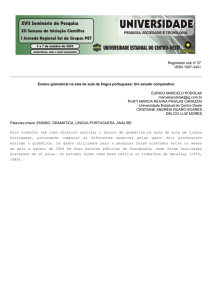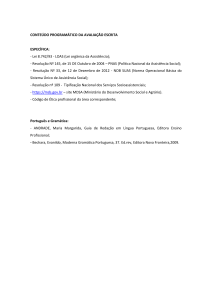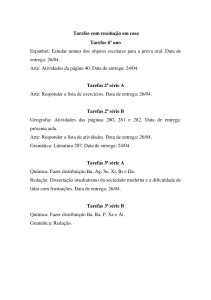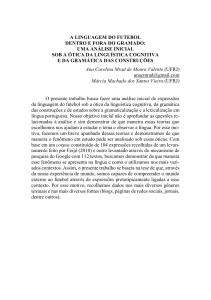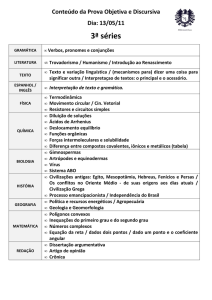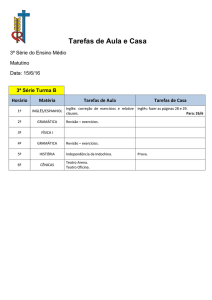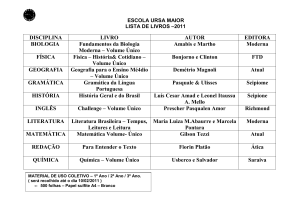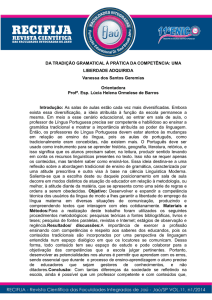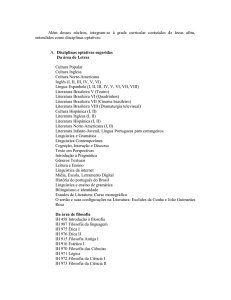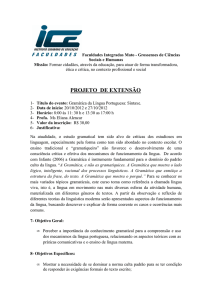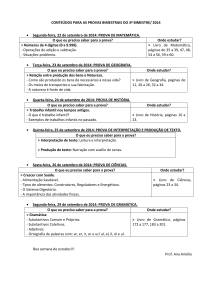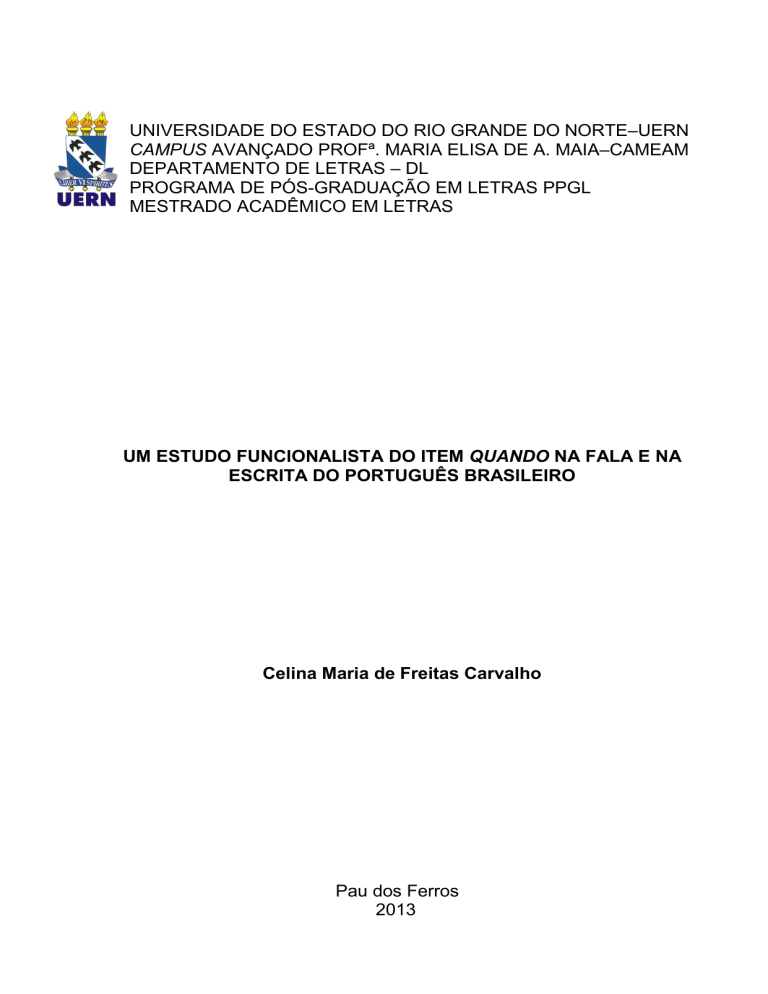
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE–UERN
CAMPUS AVANÇADO PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA–CAMEAM
DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS PPGL
MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS
UM ESTUDO FUNCIONALISTA DO ITEM QUANDO NA FALA E NA
ESCRITA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Celina Maria de Freitas Carvalho
Pau dos Ferros
2013
CELINA MARIA DE FREITAS CARVALHO
UM ESTUDO FUNCIONALISTA DO ITEM QUANDO NA FALA E NA
ESCRITA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Letras da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte, como requisito
parcial para a obtenção do grau de Mestre em
Letras.
Orientadora: Profª. Dra. Rosângela Maria Bessa Vidal
Pau dos Ferros
2013
Catalogação da Publicação na Fonte.
Carvalho, Celina Maria de Freitas
Um estudo funcionalista do item quando na fala e na escrita do
português brasileiro / Celina Maria de Freitas Carvalho. – Pau dos
Ferros, RN, 2013.
92 f.
Orientador (a): Prof.ª Dra. Rosângela Maria Bessa Vidal.
Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte. Departamento de Letras. Programa de PósGraduação
em Maia
Letras.
de Concentração: Estudos do
Bibliotecário:
Tiago Emanuel
Freire /Área
CRB - 15/449
Discurso e do Texto.
1. Funcionalismo – Dissertação. 2. Gramaticalização –
Dissertação. 3. Item Quando – Dissertação. I. Vidal, Rosângela Maria
Bessa. II. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. III.Título.
UERN/BC
CDD 401.41
Dedicatória
Aos meus pais, Francisca das Chagas de Freitas Carvalho e
Claudionor Medeiros de Carvalho (in memoriam), que mesmo
não tendo tido a oportunidade de vivenciar os mais elevados
graus de estudos, fizeram de tudo para que esse direito fosse
garantido a mim e aos meus oito irmãos. A eles, o meu eterno
amor e gratidão!
AGRADECIMENTOS
Agradecer é sempre um ato de consideração àqueles que, de alguma forma,
contribuem para que um sonho ou um desejo se torne um acontecimento. Por esse motivo,
registro aqui os meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para
a concretização dessa pesquisa. Deixo claro, no entanto, que a ordem de colocação
dos nomes não significa maior ou menor importância. É, sim, apenas uma forma de
organização.
Ao AMOR, maior e mais puro sentimento que move a minha vida.
À Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/CAMEAM/PPGL.
A todos os colegas do PPGL, que muito contribuíram para o crescimento do meu
conhecimento, com as discussões durante as aulas presenciais. E, em especial,
agradeço a Rosângela Ferreira, companheira de pesquisa, pois foi com ela que mais
conversei e dividi as alegrias e angústias durante todo o Curso.
À forma de tratamento a mim dada pela minha orientadora, Dra. Rosângela Maria
Bessa Vidal.
A todos os professores que ministraram disciplinas, pelo constante incentivo de
busca para a realização desse meu projeto de vida acadêmica.
Às pessoas de Marília e Ricardo, pela execução do belo trabalho desenvolvido
enquanto membros do setor administrativo do PPGL.
Aos meus irmãos: Sales, Dimas, Elias, Zé Edmilson, Ana Alice, Antonio, Nila e Raimundo.
Que estão sempre juntos em todas as situações.
Às duas pessoas que mais cobraram a minha presença durante esses dois anos e que
sempre pularam de alegria quando me viam chegar: Beatriz e Gabriela.
A todos os meus sobrinhos, pela convivência agradável.
A todos os meus amigos e amigas que construí durante esses dois anos de estudo,
e a todos que guardo no coração de outros tempos.
À Escola Estadual “Gilney de Souza”, em especial a todos os alunos que aceitaram
de bom grado que outra pessoa exercesse as minhas atividades docentes durante o
Mestrado.
A Jaílson José dos Santos, pela amizade e pela disponibilidade em aceitar traduzir o
resumo da dissertação.
À Escola Municipal Avelino Pinheiro e à Secretaria de Educação do Município de
São Miguel, pela liberação do meu trabalho durante os dois anos em que durou o
Mestrado.
O Quando de Deus
Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói;
Quando se acabam as forças, Deus renova;
Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria;
Quando não há mais amor, Deus o faz nascer;
Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção;
Quando parecer ser o final, Deus dá novo começo;
Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz;
Quando a doença assola, Deus é quem cura;
Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível;
Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer;
Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta;
Quando você diz: não vou conseguir, Deus diz: não temas, pois estou contigo;
Quando o coração é machucado por alguém, Deus é quem derrama o bálsamo
curador;
Quando não há possibilidade, Deus faz o milagre;
Quando só há morte, Deus nos faz persistir;
Quando a noite parece não ter fim, Deus faz nascer o amanhecer;
Quando caímos num profundo abismo, Deus estende sua mão e nos tira de lá;
Quando tudo é dor, Deus dá o refrigério;
Quando o calor da provação é grande, Deus dá a sombra da sua presença;
Quando o inverno parece infinito, Deus traz o verão;
Quando não existe mais fé, Deus diz: acredita;
Quando estamos a um passo do inferno, Deus nos dá a direção do céu;
(Autor Desconhecido)
LISTA DE TABELAS
TABELA 01- O QUANDO NO D & G DE NATAL --------------------------------------------65
TABELA 02- O QUANDO NO D & G DO RIO DE JANEIRO ----------------------------71
TABELA 03- O QUANDO NO D & G - JUIZ DE FORA------------------------------------75
TABELA 04- RESUMO GERAL DO QUANDO NOS CORPORA-----------------------79
TABELA 05- OS SENTIDOS DO QUANDO NOS TRÊS CORPORA----------------79
TABELA 06- O ITEM QUANDO NOS GÊNEROS TEXTUAIS ---------------------------82
TABELA 07- O ITEM QUANDO NA FALA E NA ESCRITA--------------------------------82
TABELA 08- O QUANDO COM SENTIDO DE TEMPO POR D & G ----------------83
TABELA 09- O QUANDO COM SENTIDO DE CONDIÇÃO POR D & G -----------83
TABELA 10- O QUANDO COM SENTIDO DE PROPORÇÃO POR D & G -------84
TABELA 11- O QUANDO COM SENTIDO DE CONCESSÃO POR D & G --------84
TABELA 12- O QUANDO COM SENTIDO DE LUGAR POR D & G ------------------85
TABELA 13- O QUANDO COM SENTIDO DE CONSEQUÊNCIA POR D & G---- 85
TABELA 14- O QUANDO NA LINGUAGEM DOS HOMENS E DAS MULHERES--86
RESUMO
O propósito desta pesquisa é analisar a funcionalidade do item linguístico quando
nos corpora D & G de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de fora, com o intuito de verificar
que outros sentidos o referido item pode assumir, além da forma prototípica, a
temporal, como classificada pela gramática normativa. A análise foi realizada tendo
como base teórica, o funcionalismo linguístico norte-americano, abordagem que
defende o estudo da linguagem baseada no uso da língua. Dentre os quais os
estudos funcionalistas mais conhecidos são os trabalhos de Hopper (1980; 1991);
Givón (2001); Neves (1997; 2006); Furtado da Cunha (2007; 2008); Martelotta,
Oliveira, Cezario et. al. (2008); Martelotta (2008; 2011), entre outros. Usamos,
portanto, os padrões e processos de abordagem que podem detectar as possíveis
tendências de variação, mudança e gramaticalização do item quando. É uma
pesquisa explicativa que segue o método indutivo de investigação. Procuramos
identificar as situações em que o item quando assume outros sentidos que não a
circunstância de tempo. Para a concretização dessa pesquisa, analisamos as visões
de gramáticos como Rocha Lima (1985), Bechara(2002)e Cunha e Cintra ( 2008 ).
Partimos, primeiramente de uma revisão de literatura, observando o tratamento
atribuído ao item quando pela gramática normativa, os estudos realizados sobre o
referido item, para em seguida, com base na abordagem da linguística centrada no
uso, apresentar os resultados obtidos, os quais revelam uma tendência de variação,
mudança de sentido no uso do item quando. Pois sentidos como o de condição, de
proporção, de concessão e de lugar aparecem nos corpora analisados, mostrando
que o sentido de tempo mesmo aparecendo, em grande número, não é único. As
variáveis, como por exemplo, o uso linguístico, e as diferenças de gênero, idade, o
sexo e a diversidade de gêneros textuais contribuem para que o quando assuma
outros sentidos e não funcionem apenas como temporal, pois o sentido é definido
pelas as necessidades comunicativas do usuário da língua.
PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Gramaticalização. Item quando.
ABSTRACT
This research aims at analyzing the function of linguistic term when at Natal D & G
corpora, at the Rio de Janeiro and Juiz de Fora, by the purpose of investigate other
meanings that the term when can take to, beside of prototypic one, without time, as
classified by traditional ruled grammar. Our analysis took place taking into account
background theory from linguistic functionalism; this approach take the position that
language studies has to be seen as based on use. So we point out the most
representative works, whose propositions are done by Hopper (1980; 1991); Givón
(2001); Neves (1997; 2006); Furtado da Cunha (2007; 2008); Martelotta, Oliveira,
Cezario et. al. (2008); Martelotta (2008; 2011), among others. Therefore, we use
standards and process approaches that show us possible tendencies of variation,
change and grammaticalization of the term when. This is an explicative kind research
that follow the inductive method of investigation. We search to identify output
language situation in which the term when take other meanings but time sense
circumstances. To the effective concrete of this research we analyzed grammar
conceptions by Rocha Lima (1985), Bechara (2002) and Cunha e Cintra (2008). The
woks begins with a background literature review, taking attention given to the term
when by traditional ruled grammar. We also saw studies about when term, after that
we follow an analysis based on linguistic use, so we show obtained results. These
results reveal us a variation tendency and the change meaning of the term when.
Meaning as those of condition, proportion, and place concession appear at the
analyzed corpus and this show the meaning of when as time sense, even appearing
in a larger proportion is not the unique sense. Variables items, such as linguistic use
and genre differences, age, sex, and also text genre diversity prove that traditional
time sense (of when), do not give the right needs to language use.
KEY WORDS: Functionalism. Grammar. When term.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12
CAPÍTULO
I
–
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CONECTIVO
QUANDO:
DA
GRAMÁTICA TRADICIONAL À LINGUÍSTICA MODERNA ...................................... 24
1.1 O CONECTIVO QUANDO NA ABORDAGEM DA GRAMATICA TRADICIONAL
........................................................................................ ..........................................24
1.2 ESTUDOS SOBRE O QUANDO E A SUBORDINAÇÃO DE
TEMPORALIDADE.................................................................................................... 29
1.3 AS CONSTRUÇÕES TEMPORAIS COM O QUANDO SOB O ENFOQUE DA
LINGUÍSTICA MODERNA......................................................................................... 35
CAPÍTULO II- A TEORIA NORTEADORA DA PESQUISA : O FUNCIONALISMO
LINGUÍSTICO........................................................................................................... 41
2.1 O FUNCIONALISMO NORTE- AMERICANO .................................................... 41
2.2 VARIAÇÃO, MUDANÇA E GRAMATICALIZAÇÃO...... ..................................... 48
CAPÍTULO III- O MATERIAL PARA A ANÁLISE: OS CORPORA DISCURSO &
GRAMÁTICA ............................................................................................................. 52
3.1 OS CORPORA DISCURSO & GRAMÁTICA DE NATAL, RIO DE JANEIRO E
JUIZ DE FORA .......................................................................................................... 52
3.2 VARIÁVEIS ......................................................................................................... 54
3.2.1 LINGUÍSTICAS ............................................................................................... 55
3.2.2 SOCIAIS ........................................................................................................... 55
3.3 TRATAMENTO METODOLÓGICO DOS DADOS .............................................. 56
CAPÍTULO IV- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ........................................... 59
4.1
O CONECTIVO QUANDO
NA LÍNGUA FALADA E ESCRITA DO
PORTUGUÊS BRASILEIRO ..................................................................................... 59
4.2 USOS DO QUANDO EM NATAL/RN ................................................................. 64
4.3 USOS DO QUANDO NO RIO DE JANEIRO ....................................................... 71
4.4 USOS DO QUANDO EM JUIZ DE FORA ........................................................... 74
4.5 USOS DO QUANDO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO ....................................... 78
4.5.1 O quando nos gêneros textuais........................................................................ 81
4.5.2 O quando na modaliade oral e escrita ............................................................. 82
4.5.11 O quando na linguagem dos homens e das mulheres ................................... 86
CONCLUSÃO........................................................................................................... 88
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 92
13
INTRODUÇÃO
Refletir sobre linguagem por ela mesma é um grande desafio para o usuário
e/ou estudioso de uma língua. Pois, para muitas pessoas, estudar a língua significa
apenas analisar os aspectos linguísticos de forma restrita, limitada. É o que temos
observado ao longo das muitas reflexões que se tem feito a respeito do uso destes
aspectos. A partir dessa constatação, percebemos a necessidade de realizar
estudos e pesquisas, para que
analisemos como o item quando entre outras
conjunções estão sendo trabalhados (ensinados) e estudados, na
maioria das
escolas brasileiras, para podermos entender os novos percursos que a educação
brasileira vem assumindo no que se refere ao trabalho com a linguagem, seja ela
oral ou escrita.
Se faz necessário e urgente, também, saber qual é a verdadeira função da
escola. E é importante lembrar que a função dela vai muito além de trabalhar ou
repassar conteúdos. O professor de precisa entender que as aulas de língua
portuguesa seriam mais interessantes se não se restringissem a maioria do seu
tempo, da utilização do ensino das regras gramaticais. Assim sendo, a escola não
pode esquecer o seu papel principal, que é o de capacitar os alunos a utilizarem a
linguagem como instrumento de aprendizagem. Ela não pode, acima de tudo, se
prender a uma única forma de trabalho. É importante saber que existem várias
linhas de pensamentos e conhecê-las, para que possamos usar a mais adequada à
realidade de quem está envolvido no processo educacional, poderia ser o caminho
mais próximo para se alcançar o sucesso dos que fazem a escola.
Esquecermo-nos de trabalhar a língua em sua funcionalidade, poderia não ser
a melhor opção, pois, de acordo com a perspectiva funcionalista, o trabalho com o
uso real da linguagem pode ser uma seta de indicação para um caminho mais
seguro, uma vez que o funcionalismo linguístico surge como mais uma linha de
pensamento através da qual os professores poderiam ajudar os alunos a
desenvolverem a sua capacidade de usar a língua e de se comunicarem de forma
mais competente. Dessa forma, poderão tornar-se capazes entender as condições
de produção de um discurso mais condizente com um usuário nativo da língua
portuguesa, pois se eles já o fazem, necessitam ser conscientes das habilidades que
possuem.
14
Nesse sentido, e com o pensamento de buscar novos rumos para o trabalho
feito com a linguagem, é que nos propusemos analisar as manifestações discursivas
do item quando a partir do banco de dados que é composto pelos textos dos
informantes que constituem os corpora da cidade de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de
Fora. Dados estes, que foram coletados por um grupo de professores das
Universidades existentes nas cidades citadas, os quais constituem o Corpus
Discurso & Gramática doravante D & G.
Pelos estudos já existentes, o item quando vem apresentando em contextos
diferentes sentidos de tempo com uma sobreposição de outras relações. E ele,
mesmo exercendo a sua função de conjunção temporal nas maiorias dos casos, tem
uma sobreposição de relações o que para muitos usuários essas relações são
entendidas como novas significações. Partimos, pois, desses levantamentos, para
saber se esse é um dos itens que têm passado pelo processo de gramaticalização.
E para saber que outros sentidos ele assume nos corpora acima mencionados, além
do sentido prototipicamente temporal. Isto é, se ele sofreu mudanças ou variação
isso pode indicar a ocorrência do processo de gramaticalização. Esse processo
acontece no momento em que um item lexical/construção passa a assumir, em
determinadas circunstâncias, um novo status como item gramatical ou quando itens
gramaticais se tornam ainda mais gramaticais, podendo mudar de categoria sintática o que
chamamos de recategorização, receber propriedades funcionais na sentença, sofrer
alterações semânticas e fonológicas, deixar de ser uma forma livre e até mesmo
desaparecer como consequência de uma cristalização extrema.
Os PCN do Ensino Médio (1999), para explicar fatos como esses, colocam
que os estudos gramaticais, nas escolas, têm se centrado, em grande parte, no
entendimento da nomenclatura gramatical como eixo principal do ensino. Segundo
esse documento, a descrição e a norma se confundem na análise da frase, onde, na
maioria das vezes, essa aparece deslocada do uso, da função e do próprio texto. E
deixa exemplos para que fique claro o seu posicionamento.
Tomemos como exemplo um acontecimento escolar. A professora ensinou
que “azul, verde, branco, as cores em geral” eram adjetivos e solicitou que os
alunos construíssem frases com as palavras. Um dos alunos escreveu: “O
azul do céu é bonito. O branco significa paz etc”. Logicamente um X foi
colocado sobre as frases. O porquê, o aluno nunca soube. (BRASIL 1999,
p.137)
15
Se observarmos bem, veremos que o trabalho feito com as cores
mencionadas no exemplo exposto pelos PCN, que o aluno usou, em frases,
passaram a representar o sujeito de cada uma delas, deixando, assim, de serem
adjetivos, pois pela posição que elas ocupam, nesse contexto, é de substantivo.
Posição essa, que modifica totalmente o sentido da palavra e acaba por desmitificar
duas afirmações que a gramática normativa faz. A primeira, é que as cores não são
sempre adjetivos, e a segunda é que não é apenas o substantivo que pode ser
sujeito de uma oração. Outras classes gramaticais também podem exercer o papel
de sujeito, mas claro que a situação de uso é quem pode determinar esses
acontecimentos. É a forma de trabalhar as classes gramaticais que os PCN
questionam. Pois para os mesmos, a escola aplica uma análise mais formalista,
enquanto aquele prima por um ensino mais direcionado para a discursividade.
Diante do exposto, é oportuno levantar alguns questionamentos. Que
influência o contexto tem na mudança de sentido das palavras? O tempo e o espaço
provocam essa influência? Para responder esses questionamentos e para
esclarecer algumas classificações atribuídas às palavras pela gramática normativa,
resolvemos analisar o uso do item quando nos corpora D & G de Natal, Rio de
Janeiro e Juiz de Fora do Corpus Discurso e Gramática que reúne entrevistas com
usuários da língua, entrevistas estas que reunidas formam um banco de dados que
possibilitam o estudo sobre o Português Brasileiro.
É essa forma de ver e compreender a língua, de partir de algo real para se
trabalhar a realidade, que pode tornar mais instigante o uso da linguagem, porque se
alguma coisa nos inquieta precisamos saber o que e como fazer para sanar essa
inquietude e onde encontrar o material necessário para nos auxiliar na resolução do
que entendemos como problema e delimitar o que pensamos realizar é um dos
primeiros passos. Sendo assim, após a escolha feita do assunto e do material que
serviu para a construção do corpus da nossa dissertação, delimitamos o tema, que
ficou da seguinte forma: UM ESTUDO DO ITEM QUANDO NA LÍNGUA FALADA E
ESCRITA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO.
Após essa delimitação, partimos para a elaboração do nosso objetivo geral
que ficou da seguinte forma: analisar as manifestações discursivas do item quando
na fala e na escrita do português brasileiro. A partir do qual se desenrolaram os
chamados objetivos específicos, aqueles que delimitam os caminhos que vão aos
poucos sendo trilhados, 1- Averiguar como a Gramática Normativa classifica o item
16
quando, a partir do trabalho de renomados gramáticos brasileiros, como Rocha Lima
(1985), Cunha e Cintra (2008), Bechara (2002), entre outros nomes como o de
Castilho e Othon Garcia, sendo que os dois últimos já têm seus trabalhos mais
direcionados para o funcionalismo. 2- Identificar as possíveis manifestações
discursivas do item quando, tendo como suporte a teoria funcionalista, mais
especificamente, o Funcionalismo linguístico norte-americano, sendo Givón
o
representante de mais destaque dessa linha de pensamento. Para, em seguida, 3Comparar a classificação atribuída pelos gramáticos normativos, ao item quando,
com suas manifestações discursivas, nas produções orais e escritas que compõem o
D & G da cidade de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Para, posteriormente 4Fornecer, a partir dos dados coletados, possibilidades de reflexões sobre o trabalho
que se faz com a gramática nas aulas de língua portuguesa.
Elaborados os objetivos, escolhemos a bibliografia a ser utilizada, isto é, fizemos
um levantamento para saber qual o material que existe na área, mais especificamente,
tentamos recolher as obras referentes ao tema em estudo. Nesse caso, focalizamos o
Funcionalismo linguístico norte-americano, uma vez que pretendíamos descobrir as funções
exercidas por um conector interfrástico em situações reais e concretas de uso, pois,
compreendemos que esse é um dos suportes teóricos mais cabíveis para o tipo de análise
que pretendíamos realizar no momento.
E por entendermos também que essa linha de pensamento é uma das setas
que podem indicar outras formas de caminhar, outras possibilidades de trilhar um
caminho, sem querer, em nenhum momento, impor uma forma de trabalho, mas
tentar compreender que enquanto professores de língua, conhecendo outras linhas
de pensamento, podemos escolher a que melhor se adequar a nossa prática para
facilitar o trabalho enquanto usuário da língua portuguesa e, acima de tudo,
enquanto formador de opinião e pessoa responsável pelo ensino de gramática.
Partimos para a leitura dos textos de fundamentação teórica, fichando e
organizando o que entendemos das leituras concretizadas. Realizamos a leitura dos
documentos - D & G, das três cidades citadas, tentando compreender cada texto,
observando, especialmente, a ocorrência do item quando, tanto nas produções
orais, quanto nas escritas. A partir dessas ocorrências, tentamos entender como se
aplica a teoria em estudo ao nosso corpus, como teoria que busca analisar o uso
das palavras, é nossa intenção ter como base a verificação das manifestações
discursivas desse item na fala e na escrita do português brasileiro, percebendo se
17
acontecem de maneira semelhante ou não à classificação que a gramática
normativa lhe atribui.
O item quando foi analisado e a partir dessa análise foi encontrada uma
maioria com sentido temporal e sobreposição também temporal e ao lado dessas
outras
manifestações
de
sentido
temporal
com
sobreposição
condicional,
proporcional entre outras. Faz parte de nossa pesquisa mostrar quais as outras
circunstâncias que mais aparecem, depois da circunstância de tempo, uma vez que
esta ainda se sobressai em relação às demais, no entanto, muitos outros sentidos já
despontam contrariando assim, a versão da gramática normativa que trata o quando
apenas como temporal, pois pela nossa análise, essa posição da gramática
tradicional é questionada.
Assim, conhecendo o que a Gramática Tradicional diz a respeito dessa
palavra e sendo conhecedores também do seu papel, o item quando enquanto
construtor de sentido, num determinado contexto, é apresentado como trabalho que
está dentro dos parâmetros funcionalistas, uma vez que a língua não deve ser vista
como algo estático, parado. Mas é algo em movimento que o tempo e o espaço
podem fazer com que sofra algumas modificações, pois nenhuma teoria ou
nenhuma linha de pensamento deve ser imposta, apenas deve ser mostrada para
que cada usuário faça a escolha da que melhor se adequar à sua realidade. E seria
importante que os professores se preocupassem em assumir esse trabalho de
buscar o aperfeiçoamento e o conhecimento, no mínimo da existência das diversas
teorias existentes que tratam do trabalho com a língua.
Seria preciso descobrir o verdadeiro papel que a escola desempenha na vida
do usuário da língua e como devem atuar os profissionais da educação,
especialmente, o professor de português, aquele a quem foi atribuída a missão de
ensinar, a fazer o uso adequado da língua, mesmo sabendo que fazer o bom uso da
língua é uma necessidade de todos os usuários, porque as adequações são
exigências da própria língua e situações comunicativas em que esta é utilizada seja
por professores ou não. Não são as exigências da Gramática Normativa que
devemos obedecer, mas as exigências da gramática interna da língua.
No entanto, as escolas públicas e/ou particulares, durante muitos anos,
tinham como preocupação principal o trabalho com a Gramática Tradicional, com as
normas e regras gramaticais, mais especificamente trabalhavam apenas a função
18
sintática das palavras, em frases soltas e isoladas, desconsiderando, assim, o papel
social da língua. Como esclarece Antunes:
as oportunidades de escrita limitam-se a uma escrita com finalidade escolar
apenas; ou seja, uma escrita reduzida aos objetivos imediatos das disciplinas,
sem perspectivas sociais inspiradas nos diferentes usos da língua fora do
ambiente escolar. Por exemplo, a produção escrita, no ensino médio, é
orientada especificamente para a dissertação, com vistas à redação do
vestibular (ANTUNES, 2005, p. 26).
Acreditamos ser essa uma realidade ainda muito próxima. É fato que até
pouco tempo, raramente se trabalhava o texto em sala de aula, com outro objetivo
diferente do citado por Antunes (2005) e, com base na declaração da referida
autora, quando isso acontecia é porque se pensava o texto apenas como pretexto
para se trabalharem os aspectos linguísticos. Não se via o texto como ele deve ser
visto e é preciso que ele
seja olhado e entendido como uma manifestação
linguística produzida por alguém, em uma situação concreta (contexto), com
determinada intenção. Pois quem escreve precisa saber para quem e por que se
está escrevendo. Portanto, fica muito difícil escrever bem sem se ter claro o seu
interlocutor e quais os seus objetivos propostos para determinado fim.
Dessa forma, todos nós, envolvidos no processo educacional, somos
conhecedores dessa realidade e, sendo também sabedores dessa prática, nas
escolas, é que resolvemos trabalhar as manifestações linguísticas do item quando
buscando explicações para algumas das muitas questões polêmicas, que envolvem
o uso da Língua Materna, seja nas escolas ou fora delas.
Escolhemos então, a conjunção quando, classificada como temporal pela
gramática normativa a fim de compreendermos as suas funções e/ou os seus efeitos
reais, enquanto conector interfrástico, funções estas nem apresentadas, nem
comentadas pela gramática tradicional, visto que as palavras podem promover uma
relação de dependência e independência entre as orações, mas não é interessante
observarmos apenas o aspecto estrutural da frase. O semântico e o pragmático são
de fundamental importância para a compreensão de um texto.
Essa compreensão vai muito além que o simples fato de depender ou
independer uma oração da outra, coisa que só percebemos quando os vocábulos
estão contextualizados, no uso real e não em frases criadas, isoladas. Para melhor
19
compreendermos as relações que se estabelecem entre as palavras, que é parte
central do nosso trabalho, é importante partirmos do tratamento dado a elas por
alguns gramáticos normativos, para analisar e até mesmo comparar visões
diferentes. E só temos condições de definir um posicionamento, afirmando se essa
teoria é mais adequada para o que se pretende alcançar, se de fato tivermos
conhecimento de uma outra, que por sua vez não podemos comparar o que não
conhecemos.
Partimos, então, para a utilização do funcionalismo linguístico, como suporte
teórico e embasamento de reflexão na nossa pesquisa, uma vez que sendo
professora de língua portuguesa o nosso contato maior foi sempre com a gramática
tradicional, e ao conhecer a outra vertente chamada de funcionalismo linguístico,
houve um despertar em compreender como uma e outra tratam o trabalho com a
língua, uma vez que aquela defende o trabalho pautado nas regras e normas e
grande parte dessa difusão de ideias acontece nas aulas de Língua Portuguesa, e o
funcionalismo prima pelo trabalho da língua em uso, em situações concretas e reais
de comunicação. São apresentadas as duas versões para que o usuário possa
também comparar o que melhor lhe convém. Após essa comparação, o professor ou
qualquer outra pessoa que se interesse pelo assunto, terá condições de se utilizar
da teoria mais adequada para a situação por ele vivida. O importante é que ele saiba
das possibilidades de caminhos que se pode seguir, observando aquilo que é mais
adequado às situações vivenciadas pelo usuário da língua, tanto dentro da escola
quanto fora dela.
A escolha do material para construção do corpus se deu, primeiramente, pelo
desejo de compreender os processos de mudança de sentido pelos quais uma
palavra pode passar e como os corpora são organizados a partir de entrevistas
coletadas com diferentes informantes de regiões também diferentes a partir disso,
verificar que outros sentidos o item quando apresenta no corpus analisado que não
o sentido de tempo, como apresenta a gramática normativa, pois se o contexto não
é o mesmo, a situação comunicativa varia, é possível que as palavras se adaptem a
estas situações variando o seu sentido. Enquanto professores de língua portuguesa,
teríamos muitas opções para construir um corpus, entretanto, dentre as várias
possibilidades de escolha, preferimos trabalhar o item quando e suas manifestações
discursivas nos corpora D & G da cidade de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora.
Visto que a classificação, atribuída pela Gramática Normativa a esse conector, não
20
leva em consideração o contexto. E como o Grupo Discurso e Gramática reúne
entrevistas de usuários da língua que poderão servir de instrumentos de pesquisa e
estudos sobre o português brasileiro e esses estudos são coletados em cidades
diferentes, escolhemos os corpora das cidades acima mencionadas, pelo fato de
duas delas, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, estarem bem próximas geograficamente e
Natal mais distantes de ambas, a fim de perceber se a aproximação geográfica
apresenta aproximação também nos sentidos que o item quando estabelece, e que
relações de sentidos mais se estabelecem em cada corpora.
Fizemos um levantamento da etimologia do item quando, o que se fez
necessário para a compreensão dos resultados obtidos em nossa análise. Diante do
que já existe a respeito do uso do conectivo quando, é de nosso interesse
aprofundar o conhecimento até então organizado. Verificar o que existe de novo,
além do já encontrado por outros estudiosos. Se o quando não funciona apenas
como conjunção temporal, que outros sentidos ele assume nos corpora D & G de
Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora? Esse questionamento serviu de impulso para a
busca de outras descobertas, outros sentidos que o item analisado assumiu nesse
novo contexto por nós escolhido.
A partir dos questionamentos levantados, traçamos os caminhos que seriam
percorridos, através dos objetivos, os quais, quando alcançados, foram de suma
importância para respondermos aos nossos questionamentos. Nesse sentido, e com
o intuito de aprofundar o nosso conhecimento em relação ao tema em estudo, é que
estabelecemos os nossos objetivos e as questões de pesquisa, sendo uma mais
geral e outras mais específicas. A nossa questão mais abrangente foi: Que
manifestações discursivas o item quando apresenta nos corpora D & G de Natal, Rio
de Janeiro e Juiz de Fora? E para que o nosso objetivo geral fosse alcançado, e a
questão maior fosse respondida, precisamos organizar uma sequência de passos
através de objetivos específicos e respectivas questões os quais apresentaram uma
lógica procedimental.
1-Como a Gramática Normativa classifica o item quando, levando em consideração
o trabalho de renomados gramáticos brasileiros?
2- Quais as possíveis manifestações discursivas do item quando nos corpora D & G
de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora?
3-O que aproxima e o que distancia a classificação atribuída pelos gramáticos
normativos, ao item quando, de suas manifestações discursivas, nas produções
21
orais e escritas que compõem o D & G da cidade de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de
Fora.
4- Que possibilidades de reflexões podem surgir, a partir dos dados coletados, sobre
o trabalho que se faz com a gramática nas aulas de língua portuguesa?
Após a exposição das questões de pesquisa e dos objetivos geral e
específicos é importante destacar as escolhas feitas porque se queremos entender
suas manifestações, é importante que tenhamos um conhecimento básico de visões
divergentes a fim de compreender o processo e as relações que as palavras estabelecem
entre si. Para, a partir desse conhecimento, ter condições de identificar as diferentes
manifestações pragmáticas do item quando nos corpora das cidades acima mencionados.
Tomando como base todo o levantamento feito, a fim de comparar a
classificação atribuída pela gramática normativa ao item quando com suas
manifestações discursivas nesse novo contexto, fornecendo, assim, a partir dos
dados, possibilidades de reflexões sobre o trabalho que o usuário faz com a
gramática, seja apenas enquanto falante, seja enquanto estudioso da língua, e
também nas aulas de Língua Portuguesa ou fora da escola, pois os funcionalistas
concebem a linguagem como um instrumento de interação social, alinhando-se,
assim, à tendência que analisa a relação entre linguagem e os atos comunicativos
dentro da sociedade.
Essa nossa escolha se deu primeiramente, pelo fato de trabalhar com o
ensino de língua e me interessar pelo trabalho com os aspectos gramaticais. E num
segundo momento, por vontade de conhecer outras possibilidades de trabalho com
os itens linguísticos, uma vez que a forma como a gramática normativa trabalha
esses aspectos, como por exemplo, o enquadramento de todas as palavras em
classes, às vezes nos causa algumas inquietações. Essas inquietações nos
incentivaram a escolher o quando como objeto de estudo, a fim de entender melhor
como se dá cada manifestação linguística, desse item, no momento em que um
usuário interage com outro.
Dessa forma, surge um questionamento que poderá ser respondido a partir
de nossa pesquisa: Nos corpora em análise, que outros sentidos o item quando
apresenta, além da classificação prototípica de advérbio temporal? A partir dessa
pergunta, traçamos o itinerário investigativo das possíveis manifestações que o
quando possa desempenhar num determinado contexto, escolhemos assim, os três
corpora anteriormente citados pela afinidade com os gêneros que os compõem e por
22
consideramos importantes para o avanço do trabalho com a língua da qual somos
usuários, pois trata da linguagem em uso, e todos nós enquanto falantes tentamos
nos adequar às necessidades e daí podem nascer manifestações sugestivas,
diferentes do que costumamos ver nas frases soltas e isoladas.
A nossa dissertação está organizada da seguinte forma: O primeiro capítulo
assim
nomeado
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CONECTIVO
QUANDO:
DA
GRAMÁTICA TRADICIONAL À LINGUÍSTICA MODERNA faz uma apresentação do
item quando desde sua etimologia, passando pela classificação dada pela
Gramática Normativa, mais especificamente abordamos o tratamento dado ao item
quando por Rocha Lima (1985), Cunha e Cintra (2008), entre outros que auxiliam
nas nossas reflexões em relação à divisão de palavras em classes e ao
enquadramento destas em uma das dez classes gramaticais. Apresentamos alguns
estudos sobre o quando e a subordinação de temporalidade até chegar
às
construções temporais com o quando à luz da linguística moderna.
O segundo capítulo, que se apresenta como A TEORIA NORTEADORA DA
PESQUISA: O FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO NORTE-AMERICANO, trata da
fundamentação teórica, que tem como base o Funcionalismo linguístico.
Nesse
espaço, é que definimos essa corrente teórica, falamos de seu surgimento, como se
desenvolveu e quais os seus representantes. É nesse espaço também que falamos
sobre variação, mudança e
gramaticalização, fatores que nos ajudam a
compreender a mudança de sentidos que o item quando apresenta nos corpora
analisados.
O terceiro capítulo, O MATERIAL PARA A ANÁLISE: OS CORPORA
DISCURSO & GRAMÁTICA, mostra como se constituiu o corpus. Faz uma
exposição dos três corpora, o da cidade do Natal, o do Rio de Janeiro e o Juiz de
Fora, bem como as variáveis linguísticas e sociais. E mostra também qual os
procedimentos que foram adotados para a coleta e análise dos dados, descrevendo
todos os procedimentos adotados para que o nosso trabalho se concretizasse.
No quarto e último capítulo, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS,
apresentamos como o item quando se manifesta no corpus analisado e quais os
sentidos que se destacam além do temporal, considerado prototípico. Sendo feita,
em primeiro momento, uma análise individualmente dos anais para, num segundo
momento, fazer uma amostra geral, incluindo o resultado dos três corpora e levando
em consideração que os referidos corpora são produzidos em pontos distintos do
23
Brasil. É a partir da coleta e análise dos dados que alcançamos as respostas
necessárias para responder aquelas perguntas levantadas no início desta pesquisa.
Que os dados encontrados possam se tornar o ponto de partida para novas
investigações e novas descobertas, oferecendo ao usuário da língua um novo olhar
no tocante às manifestações linguísticas.
Foram feitas as considerações finais, para a conclusão dessa pesquisa e não
para o tema em questão, pois muito existe ainda para ser estudado, lapidado
construído e reconstruído. Por último, referenciamos os nomes dos autores citados
no texto e não todos os que nos serviram de suporte, para preparação da
dissertação, pois muitas outras leituras foram feitas. E todas foram de grande valia
para o aprofundamento de nosso conhecimento em relação ao tema discorrido. No
entanto, é regra usarmos apenas aqueles que foram citados no decorrer do texto.
Diante do exposto, entendemos que a nossa pesquisa é de grande
importância nas instâncias acadêmica, pedagógica e social. Pois, na academia,
percebemos as inquietações dos que trabalham e estudam a língua. Primeiro, pelo
fato de a maioria dos alunos chegarem à universidade apenas com a visão
apresentada pela gramática normativa e depois por sentirem que os estudos
apresentados pela academia, na maioria das vezes, não respondem às dúvidas e às
expectativas existentes.
Em relação ao aspecto pedagógico, esse trabalho pode também oferecer
algumas contribuições necessárias à prática pedagógica que seria proporcionar o
despertar do professor em relação ao ensino de línguas nas escolas, pois entender
que existem várias possibilidades de se trabalhar a língua é o caminho mais curto
para a escola atingir os seus objetivos. Dessa maneira, novos olhares e novas
perspectivas ensino pode repercutir de forma de ensinar , tornando-a significativa
na vida social do usuário, porque o que é aprendido na escola fica mais fácil de ser
entendido dentro da própria instituição ou fora dela, onde cada pessoa se relaciona
com outras através da linguagem, seja na escrita ou na oralidade, em situações
reais de comunicação.
24
I
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CONECTIVO
QUANDO:
DA
GRAMÁTICA
TRADICIONAL À LINGUÍSTICA MODERNA
Neste capítulo, fazemos uma resenha do item quando desde sua origem
passando pela classificação dada ao item analisado pela Gramática Normativa
brasileira até as suas manifestações à luz da linguística moderna.
1.1 O CONECTIVO QUANDO NA ABORDAGEM DA GRAMATICA TRADICIONAL
Observando o conceito que é dado ao item quando, a maioria dos
gramáticos brasileiros concorda que um dos papéis que ele assume de mais
característico é o papel de conjunção, pois este pensamento se encontra em várias
gramáticas, como exemplo, a Gramática Metódica da Língua Portuguesa (1979), de
Napoleão Mendes de Almeida; A Estrutura Morfo-Sintática do Português (1982), de
José Rebouças Macambira, a Nova Gramática do Português Contemporâneo
(1985), de Celso Cunha & Lindley Cintra e a
Gramática Normativa da Língua
Portuguesa(1985), de Carlos Henrique da Rocha Lima. Em todas elas, percebemos
que as definições apresentadas concorrem para uma definição unânime que poderia
se propagar da seguinte maneira: “Conjunção é a palavra que serve para ligar
orações e termos de mesma função sintática”.
No entanto, mesmo tendo esse pensamento em comum, algumas
divergências são notadas. Nem todos os gramáticos concordam com todas as
afirmações que os outros fazem. Almeida (1979), quando faz a sua definição sobre
conjunção, não anota nenhuma possibilidade de a conjunção ligar não apenas
orações, mas também termos de uma mesma função sintática. Isto é, ele define
conjunção fazendo o confronto com a preposição, atribuindo a esta a função de ligar
palavras, e àquela, a função única e exclusiva de conectivo oracional: “Conjunção: é
toda palavra que serve para ligar, não palavras, como a preposição, mas orações.
Ex.: Fomos cedo e voltamos tarde. Desejo que venhas” (ALMEIDA, 1979, p. 81).
Ele sugere essa definição e ele mesmo não parece satisfeito com o que
afirma, por isso, propõe outra definição mais completa, acrescida de exemplos.
Conjunção é o conectivo oracional, isto é, a palavra que liga orações: “O
rústico, porque é ignorante, vê que o céu é azul; mas o filósofo, porque é
25
sábio e distingue o verdadeiro do aparente, vê que aquilo que parece céu
azul, nem é azul, nem é céu”. Nesse período, os vocábulos porque, mas, e,
que, nem, são conjunções, porque são os conectivos das orações (ALMEIDA,
1979 p.345)
Pelo exposto, Almeida (1979) acha que o estudo da conjunção está ligado
exclusivamente
ao estudo
da análise de
classes, apenas à
Morfologia,
desconsiderando o papel semântico e o contexto. Entretanto, ele é apenas um dos
que privilegiam o trabalho com a estrutura, compartilhando com muitos outros, ideias
semelhantes.
Observemos como Rocha Lima (1985), um dos mais renomados gramáticos
da Língua Portuguesa expõe o item quando Uma de suas primeiras afirmações é
que o quando é conjunção adverbial temporal. Para ele, conjunções são palavras
que
relacionam
entre
(substantivo+substantivo,
si:
a)
Dois
adjetivo+adjetivo,
elementos
da
mesma
advérbio+advérbio,
natureza
oração+oração,
etc.); b) Duas orações de natureza diversa, das quais a que começa pela conjunção
completa o sentido da outra ou lhe junta uma determinação. As conjunções do
primeiro tipo chamam-se coordenativas; as do segundo tipo são chamadas de
subordinativas.
E as suas explicações podem não ser tão objetivas, claras, apenas
apresentam essas denominações, fazendo a distribuição de apalavras por classes:
as coordenativas se distribuem em cinco classes (aditivas, adversativas, alternativas,
conclusivas e explicativas) E atribui uma definição a cada uma delas. Diz por
exemplo, que “as aditivas relacionam pensamentos similares. E diz serem apenas
duas: e e nem. A primeira une duas afirmações; a segunda (equivalente a e não),
duas negações. Veja como Rocha Lima faz a exposição das conjunções em sua
Gramática normativa da língua portuguesa através das amostras 1 e 2.
Amostra 1: O médico veio e telefonou mais tarde.
Amostra 2:
O médico não veio, nem telefonou.
Para ele, nesse momento, só existem duas conjunções coordenativas
sindéticas aditivas. Ele não faz referência a nenhuma outra. E nem esclarece o
motivo de entender dessa forma. Exemplifica cada conjunção com uma frase. No
entanto, não apresenta outras possibilidades em que os sentidos desses conectores
pudessem assumir sentidos diferentes. Não cita, pois, outros exemplos.
26
Logo depois, ele vai definindo cada uma das outras conjunções chamadas
coordenativas. Aquelas que ligam orações coordenadas, independentes. E como
entender ou saber quando é que a oração é independente? Busquemos o que nos
diz o Dicionário de Linguística (1999-2004, p. 337). Ele conceitua o verbete
“independente” da seguinte forma: “Chama-se oração independente uma oração que
não depende de nenhuma outra (que não é encaixada em nenhuma frase) e da qual
não depende nenhuma oração (que não serve de matriz a uma oração encaixada)”.
Partindo dessa definição e da definição da gramática tradicional, em relação
às coordenadas, podemos dizer que elas
realmente podem ser consideradas
independentes? Baseados em que aspectos os gramáticos tradicionais podem
afirmar isso?
De acordo com a maioria das gramáticas tradicionais, as conjunções são
classificadas de acordo a relação de dependência sintática que elas estabelecem
entre os termos ligados por elas. Se conectarem orações ou termos pertencentes a
um mesmo nível sintático, são chamadas de conjunções coordenativas. Quando
conectam duas orações que apresentem diferentes níveis sintáticos, isto é, quando
uma oração é um parte sintática da outra ou completa o sentido da primeira, são
chamadas de conjunções subordinativas.
Mas apenas essa exposição não é suficiente, não atende todas as
possibilidades de ligação que essa classe gramatical pode realizar. Para que se
entenda a classe das conjunções, seria necessário um esforço maior dos
gramáticos, uma exposição mais clara e objetiva, pois todas as palavras, se
colocadas em frases ou períodos, estão se relacionando umas com as outras,
independente de ser ou não conjunção. Seria necessário perceber que tipos de
relações são estabelecidas entre as palavras, em cada situação, e os vários
sentidos que a palavra pode assumir para que a mensagem se faça compreender
pelo seu interlocutor.
E essa compreensão se torna um tanto difícil pelo fato de muitos gramáticos
tratarem mais de classificações que das manifestações linguísticas das palavras.
Assim, elas são enquadradas em classes gramaticais. Para Cunha (1986), a oração
é coordenada, quando, à semelhança da principal, não é um termo da oração nem a
ele se refere; justapõe-se ou liga-se com conjunção coordenativa a outra
coordenada, com a qual pode relacionar-se, mas em sua integridade. Sendo
27
consideradas independentes, apenas diferenciando-se pela presença ou ausência
dos conectivos.
Segundo Rocha Lima (1985), no período composto por subordinação, há
uma oração principal, que prende a si outra ou outras orações dependentes, as
quais são chamadas de orações subordinadas, porque exercem o papel de um
termo da oração principal. E se elas representam os desdobramentos dos vários
termos da oração principal, é claro que, quanto à função, elas configurarão as
funções próprias de cada classe gramatical à qual o termo pertença, seja ele
substantivo, adjetivo ou advérbio. Já quanto à forma e ao modo como se articulam
com a oração principal, podem ser chamadas de desenvolvidas, reduzidas e
justapostas.
As orações desenvolvidas, no momento, são as que mais nos interessam,
pois trazem o verbo em forma finita, isto é, um verbo conjugado e por sua vez, a
segunda oração é introduzida por uma conjunção, pronome relativo ou no caso da
interrogação indireta, por um pronome ou pó um advérbio interrogativo.
O item quando é apresentado pela gramática normativa como conjunção
subordinada adverbial temporal, pois exerce a função própria de advérbio de tempo.
No entanto, essa classificação não satisfaz por completo todas as necessidades do
usuário da língua, por sabermos da possibilidade da existência de outros sentidos
assumidos pelo item analisado, e como sempre ficam algumas inquietações, por
isso, acreditamos serem supridas mais algumas dessas questões com essa
pesquisa que ora realizamos.
O nosso trabalho apresenta alguns desses outros sentidos assumidos pelo
quando. E isso confirma que o tempo e o espaço influenciam a questão semântica
de algumas palavras. Dessa forma, esse processo de mudança está dentro do que
chamamos de gramaticalização, onde a palavra pode se tornar mais ou menos
gramatical de acordo com o uso que uma determinada comunidade faz de um termo.
Para compreendermos esse processo, é importante também que saibamos o que é
gramática.
De acordo com Franchi, para muitos professores a concepção de gramática
está ligada ao que corresponde à Gramática Normativa, para alguns professores
que foram observados através da correção das produções de seus alunos, em um
de seus trabalhos, ela diz que eles demonstraram em suas análises que a gramática
é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos
28
especialistas, com base no uso da língua consagrada pelos bons escritores. E essa
é uma concepção bem antiga, podendo trazer raízes dos gramáticos lá de PortRoyal, onde os estudiosos da época atribuíam o bom uso da linguagem à arte de
pensar. (Cf. FRANCHI, 2006). Ao que parece todo aquele pensamento foi sendo
difundido pelas escolas. E foi também sendo bem aceito por todos que faziam uso
da língua, principalmente, em situações mais padronizadas.
Até os dias atuais, esse pensamento ainda é entendido de forma semelhante
por algumas pessoas. Basta olharmos para algumas situações em que se pergunte
sobre o bom professor de português que a resposta será, em sua maioria, aquele
que melhor dominar as regras e normas gramaticais. Assim, foram ganhando
respaldo os gramáticos mais tradicionais. A maioria dos gramáticos brasileiros,
considerados tradicionais, tem como uma de suas principais características
utilizarem o método classificatório para enquadrar as palavras do nosso idioma. De
acordo com o que essa maioria nos mostra, todas as palavras devem fazer parte de
uma das dez classes gramaticais. (substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral,
verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição). Assim, mediante o
pensamento dos gramáticos, essas dez classes devem absorver todas as palavras
da língua, tendo que assumir o caráter de uma ou de outra classe, visto de forma
isolada e em outras vezes, em curtas frases.
Mas a língua não deve ser trabalhada tendo como apoio apenas as frases
curtas. Existem também frases mais longas, existem os textos, os quais são
formados de períodos simples e compostos. Isto é, por frases com mais de uma
oração. E quando acontecer de existir mais de uma oração no período, elas
precisam de algo que possa fazer a conexão entre uma oração e outra. A essas
palavras que ligam termos semelhantes, chamamos de conectores. E entre esses
conectores se destacam as palavras classificadas como conjunção, pela gramática
normativa, para realizar a nossa análise.
O
item quando, classificado como uma conjunção temporal, serve para
introduzir uma segunda oração, a qual deverá receber o nome de oração
subordinada adverbial temporal, uma vez que, no período simples, a circunstância
de tempo é representada por esse tipo de advérbio. Dessa forma, é necessário
entender como se dão as manifestações linguísticas do referido item em um
determinado contexto para podermos entender o pensamento dos gramáticos ou
ainda, conhecer apenas a exposição dos gramáticos não seria suficiente para se
29
entender a variação de sentido de uma palavra, mas é interessante partir do que já
temos conhecimento.
1.2 ESTUDOS SOBRE O QUANDO E A SUBORDINAÇÃO DE TEMPORALIDADE
A conjunção subordinada adverbial temporal é aquela que introduz uma frase,
indicando sentido de tempo, momento em que a ação se realiza na oração principal.
Assim, fica dependendo dela o modo verbal, bem como o caráter finito ou não finito
da oração dita subordinada. As orações que têm a forma verbal no tempo finito, isto
é, quando o verbo estiver conjugado, vai aparecer a conjunção ou a locução
conjuntiva de subordinação temporal para indicar a circunstância de tempo. Isto é,
uma sequência de duas ou mais palavras que têm a distribuição e o comportamento
de conjunções subordinativas. Quando a forma verbal estiver no infinitivo, a
conjunção não aparece, e a oração será chamada de reduzida. Dessa forma, vai
depender do aparecimento ou não das conjunções, o modo verbal e o caráter finito
ou não finito da subordinada.
As conjunções subordinativas temporais introduzem subordinadas finitas e
escolhem os modos e as formas verbais a serem usados, podendo aparecer no
indicativo com tempo passado e presente ou subjuntivo, no caso de se tratar de
tempo futuro. As conjunções temporais mais utilizadas são: quando, mal, enquanto e
apenas. Para alguns gramáticos, existem as locuções conjuntivas de subordinação
para cada situação comunicativa. As conjunções que introduzem as subordinadas
finitas que exigem indicativo, citadas agora que e desde que. Para introduzir as
subordinadas finitas que exigem complemento, a locução conjuntiva indicada é:
antes que. Um número maior de locução conjuntiva de subordinação temporal são
as que introduzem subordinadas finitas e selecionam indicativo com tempo passado
e presente ou conjuntivo, no caso de se tratar de tempo futuro, assim que, logo que,
depois que, até que, sempre que, todas as vezes que e cada vez que. E para
introduzirem as subordinadas infinitivas, são citadas apenas duas: antes de, e
depois de, mesmo que haja indicadores que estes termos devem ser tratados como
locuções prepositivas.
A linguística moderna defende que os sintagmas devem ser classificados no
tripé: semântica, morfossintaxe e pragmática e que as análises linguísticas
aconteçam
de
forma
contextualizada,
pois
a
característica
ortodoxa
de
30
independência, atribuída aos períodos compostos por coordenação se apresenta
como insuficiente, uma vez que é preciso explicitar em quais aspectos, se dá essa
independência, já que, como é apresentado nos estudos funcionalistas, podem ser
orações autônomas estruturalmente, mas que se apresentam semanticamente
dependentes. Isto é, subordinadas às outras que receberiam então não mais o título
de coordenadas assindéticas e sim de orações principais, se nos basearmos pelos
parâmetros do período composto por subordinação.
Ducrot, em sua semântica da enunciação, dando continuidade as ideias de
Bally (1944) quando procura mostrar que dentro do que a Gramática Tradicional
considera como coordenação e subordinação podem identificar relações diferentes
quanto à natureza e à organização dos enunciados. Assim, é possível distinguir dois
tipos básicos de elementos de conexão interfrástica. São os conectores de tipo
lógico e os encadeadores do tipo discursivo, os quais colaboram para determinar
que palavras se adéquam às necessidades comunicativas do usuário da língua.
A função dos conectores lógicos é apontar o tipo de relação lógica que o
locutor estabelece entre o conteúdo de duas proposições. Neste caso, trata-se de
um único enunciado, resultante de um ato de fala único, já que nenhuma das
proposições
constitui
objeto
de
um
ato
de
enunciação
compreensível
independentemente da outra, ou seja, as duas orações estão ligadas num único ato
de enunciação, correspondente a uma única intenção. Quando isso acontece,
estamos vivenciando um caso de subordinação semântica.
As relações do tipo lógico são classificadas, em nossas gramáticas, umas
como relação de coordenação (por exemplo, as disjuntivas), outras como relação de
subordinação (por exemplo, a condicionalidade, a causalidade). E sabermos apenas
do conceito de conjunção, pode tronar-se uma inadequação dessas noções, uma
vez que outras noções existam. Primeiro, por se tratar de conceitos estritamente
sintáticos (pouco sensíveis a uma abordagem discursiva); segundo por serem
discutíveis do ponto de vista semântico e por se mostrarem inutilizáveis do ponto de
vista pragmático.
Já os encadeadores discursivos caracterizam o que Ducrot chama de
coordenação semântica. Eles são os responsáveis pela estruturação de enunciados,
em textos, por meio de encadeamentos sucessivos, cada um dos enunciados
resultantes de um ato de fala diferente. Por isso, as relações do tipo discursivo
também são chamadas de pragmáticas, argumentativas, retóricas ou ideológicas e
31
são marcadas, portanto, por encadeamentos sucessivos de enunciados, cada um
dos quais resultantes de um ato de linguagem particular.
É por isso que a língua tem mais vida quando está em uso. É no uso, na fala,
no discurso que ela se transforma, que ela também gera transformações. Muitas
palavras podem adquirir sentidos diferentes em diferentes contextos. Seria nesse
sentido um ponto negativo da classificação gramatical atribuída às palavras,
enquadrando-as em determinada classe, pois, seria mais importante mostrar que
existem as exceções, pois as classificações deveriam partir do momento do uso. Por
isso, é necessário compreender que as palavras devem ser classificadas apenas no
contexto em que elas se encontram no momento da enunciação. Para outros
contextos, certamente deverão ser atribuídas outras classificações.
De acordo com a maioria dos gramáticos brasileiros, o item quando pode
exercer a função de advérbio de tempo, pronome interrogativo e de conjunção. É
sobre o quando enquadrado nessa última classe gramatical, fazendo a conexão
entre as orações que abordamos nesse espaço. E como conjunção, o referido item,
é usado para introduzir as chamadas orações subordinadas que são dependentes
de outras por serem introduzidas por uma conjunção subordinativa. De acordo com
esta conjunção e com a relação que ela estabelece entre as orações, podemos
classificá-las em substantivas, adjetivas e adverbiais. As adverbiais são aquelas
introduzidas por um advérbio ou por um adjunto adverbial. Assim, todas as
adverbiais são classificadas conforme a circunstância expressa pela conjunção. Elas
podem ser causais, concessivas, condicionais, finais, consecutivas, comparativas,
conformativas, proporcionais e temporais.
Dentre as conjunções adverbiais as que são mais citadas nessa nossa
pesquisa são as temporais, cuja conjunção ou locução conjuntiva é temporal e faz
com que a oração subordinada represente também a circunstância de tempo. Neves
(2000, p. 787) afirma que a análise das orações temporais pode ser representada
pela análise das orações iniciadas pela conjunção quando, pois esta seria a principal
conjunção temporal. O fato do item quando está enquadrado nessa classificação e
por ser ele o nosso objeto de análise e por ele assumir o seu papel de temporal,
justifica-se a exposição da circunstância de temporalidade nesta seção. No entanto,
esse item pode representar outro sentido que não seja o de tempo, dependendo do
contexto em que está sendo usada.
32
Neves (2000) afirma também que as orações temporais podem apresentar
relações lógico-semânticas associadas à relação temporal estabelecida entre
orações. Para ela, essas relações são licenciadas por conectores neutros, como o
quando e que se deve levar em conta o tempo e o modo verbal empregado em cada
uma dessas orações. Isso pode levar o item em estudo a estabelecer uma relação
de tempo, bem como relações com outros sentidos. Como, por exemplo, o
condicional, o proporcional, o concessivo e o causal entre outros.
A dificuldade de se entender a língua é na maioria das vezes a forma como
ela é trabalhada. Observando ainda o que Rocha Lima diz a respeito das
conjunções, algo nos surpreende. Quando chega às subordinativas, o autor
simplesmente cita as conjunções que se enquadram nessa classificação e
exemplifica, sem dizer pelo menos, o que é ser subordinado e o que significa ser
principal. Coisa que nesse capítulo (13) ele ainda deixa a desejar, pois se é para
mostrar como as normas e regras regem a língua, é necessário, pois, apresentá-las
todas, discuti-las e tentar visualizá-las dentro de algo concreto. Algo desprezado
pelos gramáticos, principalmente, pelo referido autor. Veja como ele apresenta as
conjunções temporais:
Temporais
Apenas, mal, quando, até que, assim que, antes que, depois que, logo
que, tanto que, etc.
Para exposição e explicação das conjunções, eis os exemplos citados por ele:
[Apenas a vi], marejaram-me as lágrimas.
Restituir-lhe-ei os livros, [tanto que você deles precise].
Essa é a única exposição que Rocha Lima faz sobre as conjunções temporais
sem nada mais acrescentar. Após citar as dez subordinadas, ele apenas faz uma
observação em relação às coordenadas.
Mas é no capítulo 17 (dezessete), mais especificamente na página 232
(duzentos e trinta e dois) que ele esclarece que, no período composto por
subordinação, existe uma oração principal que traz presa a si, outra, ou outras,
sendo assim, chamadas de dependentes, pelo fato de exercer o seu papel como
termo ou termos da oração principal.
Quando chega à subordinada adverbial temporal, ele diz que esta oração
assim se chama, porque é seu papel trazer à cena um acontecimento ocorrido antes
de outro, depois de outro, ou ao mesmo tempo em que outro. E diz que para cada
33
um desses aspectos possui a oração temporal, quando desenvolvida, conjunções
apropriadas. A conjunção quando, é dita por ele a mais geral das partículas. É com
ela e através dela que se exprime, de maneira mais ou menos vaga, a ocasião em
que passa um fato: Quando a morte chegou, /encontrou-o em paz com Deus.
De acordo com o pensamento do referido autor, existe uma conjunção
apropriada para cada oração. Mas será que existe mesmo essa apropriação definida
de uma conjunção para cada oração ou é a situação comunicativa que vai
determiná-la? Segundo ele e outros autores que defendem o mesmo ponto de vista,
o contexto e o usuário não têm nenhuma influência sobre os resultados do uso de
determinadas palavras, o que para a teoria funcionalista esse é fato refutável. No
que se refere ao que o autor em estudo apresenta em relação às palavras que
indicam tempo, ele disse que , para assinalar um fato imediatamente anterior a
outro, a língua dispõe de determinadas conjunções como assim que, logo que, tanto
que, mal que, mal, apenas.
Mas para assinalar um fato posterior a outro são usadas conjunções como:
antes que, primeiro que. Já para mostrar a duração ou simultaneidade de
acontecimentos é usado apenas o conector temporal enquanto. E para interação, ou
repetição periódica usam-se as locuções conjuntivas sempre que, cada vez que,
todas as vezes que.
Essas são as regras apresentadas por Rocha Lima para explicar o uso das
conjunções. Uma situação que nos inquieta, enquanto usuários da língua e que
queremos saber, é se essas mesmas palavras que são usadas como conjunções
temporais podem assumir outros papéis em situações diferentes. E o professor de
língua precisa ter esse conhecimento, porque os profissionais que tomam por base
para a análise linguística apenas a regra pela regra, ensinando nas escolas e
exercitando por meio de frases soltas e descontextualizadas, e se considerarem
apenas um critério de análise em suas categorizações, se tornam inconsistentes em
diversas situações. Por isso, tais análises se tornam, na maioria das vezes,
insuficientes e artificiais.
Guimarães (2007), em sua gramática sobre o estudo das conjunções, diz que
o item quando mesmo sendo considerado uma conjunção subordinativa, pode sofrer
alterações de sentido. Se forem feitas alterações no modo de estruturar a oração,
isto é, se trocarmos a posição de uma conjunção na frase, ela pode ter modificações
de sentido, por exemplo, se houver uma inversão das orações, se forem feitas
34
outras articulações por sobre os limites de frase, ou se transformar a oração em
pergunta, o modo de encadeamento do texto e ainda a forma de dividir as orações
para dois locutores numa conversa, o quando pode ser entendido de maneira
diferenciada. (Cf. GUIMARÃES, 2007).
Para Cunha e Cintra (2008), as conjunções são os vocábulos gramaticais que
servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma
oração. Denominam-se subordinativas as conjunções que ligam duas orações, uma
das quais determina ou completa o sentido da outra. Comparemos as duas amostras
apresentadas pelo autor citado.
1. Eram três horas da tarde quando cheguei às arenas romanas.
(U. Tavares Rodrigues, JE 183)
2. Pediram-me que definisse o Arpoador.
(C. Drummond de Andrade, CB, 106)
Percebemos, assim, a dependência do primeiro elemento em relação ao
segundo. Essa dependência é que apresenta a diferença de sentido entre as
coordenadas e as subordinadas, pois as coordenadas são as consideradas
sintaticamente
independentes,
enquanto
que
as
subordinadas
apresentam
dependência sintática em relação à oração principal. Nesse ponto, a maioria dos
gramáticos está de acordo. No entanto, Cunha e Cintra (2008) após exemplificarem
as conjunções ainda fazem uma ressalva topicalizada de polissemia conjuncional,
onde dizem que:
Algumas conjunções subordinativas (que, como, porque, se, etc.) podem
pertencer a mais de uma classe gramatical. Sendo assim, o seu valor está
condicionado ao contexto em que se inserem, nem sempre isento de
ambiguidades, pois que há circunstâncias fronteiriças: a condição da
concessão, o fim da consequência, etc. (CUNHA E CINTRA, 2008, p.95)
Ao dizer que o valor da classe gramatical está condicionado ao contexto, os
autores começam por aproximar suas ideias em relação ao uso das mesmas, vão
com isso também se aproximando do Funcionalismo que defende a análise da
palavra em uso, diferenciando-se, dessa forma da maioria dos gramáticos
considerados tradicionais, o que mostra que está havendo uma evolução em busca
de teorias, que pode aos poucos, ir apresentando diferenças significativas nas
questões de ensino.
35
1.3 AS CONSTRUÇÕES TEMPORAIS COM O QUANDO À LUZ DA LINGUÍSTICA
MODERNA
Partimos do conhecimento que temos sobre o ponto de vista da Gramática
Tradicional, para conhecer também o ponto de vista de alguns estudiosos da Língua,
aqueles que construíram concepções diferenciadas, especialmente quando se trata
do estudo de gramática que, num primeiro momento, para nós parece adequado ao
nosso trabalho, especialmente quando o nosso objetivo é compreender as relações
das palavras num contexto além dos limites da sentença. A linguística funcional vem
ajudar a refletir mais sobre a linguagem, pois com a ajuda dela encontramos as
funções que as unidades estruturais podem exercer observando, dessa forma, as
bases explanatórias e os processos diacrônicos recorrentes que apresentam, em
sua maioria, motivação funcional (Cf. Pezatti, 2004).
A partir do que foi discutido, percebemos que não podemos tratar a língua
como um acontecimento isolado. Tanto na fala quanto na escrita, há necessidade de
interlocutores, pois quem fala ou escreve o faz para alguém e num determinado
tempo, em situações reais para um determinado fim, com uma intenção específica. A
língua é muito mais rica quando é vista como algo em movimento. Quando há
alguém fazendo uso dela para se comunicar, para conquistar, persuadir, informar e
muitos outros laços que ela é capaz de construir. O uso linguagem possibilita aos
usuários da língua os meios de falar e ser entendido, compreendido e por vezes
também até mesmo de ser rejeitado, isto é, ter o seu discurso interpretado de
maneira diferente. A todo esse processo de comunicação e interação que se pode
fazer com a língua, Bakhtin chama de “Interação verbal”. Interação essa que
acontece sempre que usamos a palavra para expressar os nossos pensamentos,
quando a língua se concretiza através da linguagem e faz com que cada vocábulo
produz um efeito de sentido. E diz também que
a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações (BAKHTIN,
1981, p. 123).
36
É com esse pensamento que queremos mostrar o resultado de nossa
pesquisa, principalmente como se manifesta uma palavra em um contexto
determinado e usuários também reais. Pois de acordo com o que foi dito, os nossos
resultados encontrados a partir
dessa investigação científica
foi analisar o
emprego/uso do conector interfrástico quando nos corpora (a língua falada e escrita
na cidade do Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora), sendo todos eles produzidos em
duas modalidades: oral e escrita.
Os três corpora foram analisados a partir da visão funcionalista, porque o
Funcionalismo linguístico é uma das correntes linguísticas que se opõem ao
Estruturalismo, ao Gerativismo e a qualquer outra corrente que privilegia o trabalho
apenas com a estrutura da palavra, e ao contrário dessas correntes, o
Funcionalismo prima pelo estudo da relação entre a estrutura gramatical da língua e
os diferentes contextos comunicativos em que a língua é usada. Dessa forma, a
abordagem funcionalista mostra além de algumas propostas teóricas também ela
apresenta concepções diferenciadas no que se refere aos objetivos de análise
linguística, ao uso da linguagem, aos métodos de trabalho que utiliza e ao
tratamento dado ao trabalho com a linguagem.
Por tudo isso, é justificável o interesse de utilização dessa teoria suporte
embasador de nossa pesquisa, pois com essas características ela pôde auxiliar no
alcance do nosso objetivo maior, que é o de entender como se dão as
manifestações linguísticas do item quando, no contexto, dos D & Gs das cidades de
Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, pois dessa maneira se confirma que, em outras
situações concretas, o item quando pode apresentar outras manifestações, assumir
outros papéis e/ou funções com outros sentidos, dependendo das necessidades
linguísticas do usuário diferentemente da classificação atribuída pela GT.
Assim sendo, pretendemos também que os resultados de nossa pesquisa
cheguem ao conhecimento de outras pessoas, especialmente, que os referidos
resultados estejam ao alcance de um público maior que consideramos muito
importante: os professores de língua portuguesa, sejam de escolas públicas ou
privadas, pois são eles que estão mais próximos das crianças e jovens ensinando o
que estes poderão usar durante todas suas vidas, por isso que têm uma
necessidade maior de entender como se processa a linguagem e as diversas formas
37
e possibilidades de uso que a língua apresenta.
Entendemos, pois, que ensinar é,
para todos os profissionais da educação, uma grande responsabilidade. E para o
professor de língua essa responsabilidade é ainda muito maior, pois fazer um
trabalho igual ao que veio sendo feito até poucos anos pode se tornar difícil, pelas
exigências comunicativas que a própria língua nos impõe.
E todo usuário de uma língua precisa saber uso das palavras e adequar o
vocabulário às situações de comunicação. Assim, como todo aluno é também falante de
uma língua, ele precisa de bons professores para que o orientem, pois aprender sozinho é
muito mais complicado, mais difícil. Conforme o pensamento de Cunha (2008, p. 158) “a
língua não constitui um conhecimento autônomo, independente do comportamento social.
Ao contrário, reflete uma adaptação, pelo falante, às diferentes situações comunicativas”. E
se forem mostradas aos falantes as novas concepções e teorias que vão surgindo, para
explicar como acontecem esses processos, certamente até poderiam achar mais
interessante estudar português.
Dessa forma, compreendemos que podemos contribuir para que se abram
novos caminhos para aqueles que se interessam pelo trabalho com a língua, mais
especificamente com o trabalho com a gramática, pois este é um campo no qual se
encontram vários estudos realizados, dentre eles, alguns, tratam a respeito do item
quando. E sentimos que seria necessário que houvesse uma ampliação desse tipo
de trabalho, para que pudéssemos ter oportunidades maiores de reflexão sobre a
língua em uso. Mas existem autores que apresentam uma preocupação maior em
relação ao trabalho com a gramática interna da língua e sua aplicabilidade.
Confirmam isso quando fazem uso de textos e buscam outras formas de leitura,
atentando para o que está além da estrutura da frase, possibilitando também por ao
interlocutor, reflexão sobre o uso de sua fala.
E essa reflexão pode passar pela forma de que cada professor se utiliza
para trabalhar a gramática. Pensando nas conjunções e em suas funções de
coordenadas e subordinadas, observamos que há uma diferença de vários
gramáticos de explicarem esses dois processos.
Enquanto muitos gramáticos
tratam da dependência total das coordenadas, Bechara (2002) acha por bem
nomear essa noção de dependência parcial, pois acredita numa certa liberdade das
coordenadas, mas não é uma liberdade completa. E, a partir dessa hipótese, se
apresentam, dentro da linguística moderna, vários questionamentos que colocam à
38
prova, hoje, até mesmo os conceitos de “coordenação” e de “subordinação” dentro
da análise do período composto.
Depois de observar o tratamento atribuído ao item quando pela gramática
normativa, destacamos outros estudos sobre o mesmo item à luz da linguística
moderna. Cunha (2010) desenvolveu uma pesquisa cujo objetivo foi descrever as
propriedades gerais de 28 ocorrências do conector quando presentes em um corpus
de análise formado por sequências narrativas de reportagens das revistas “Época” e
“Veja” ambas publicadas em janeiro de 2010. Pudemos observar que, naquela
pesquisa, o maior número das ocorrências do conector encontradas no corpus
marca realmente relações temporais, seja de sucessão ou de regressão, porque
concatena acontecimentos de sentido temporalmente claro na relação de uns com
os outros.
A Gramática Normativa trata o quando como conjunção subordinada adverbial
temporal e como pronome interrogativo, mas existem outros trabalhos que
apresentam o quando funcionando com outros sentidos distintos, dependendo dos
contextos em que o referido item está sendo utilizado. Por exemplo, Vanessa Pernas
Ferreira tem como título de sua dissertação de Mestrado “A CONJUNÇÃO
SUBORDINATIVA QUANDO NA PERSPECTIVA FUNCIONAL DISCURSIVA” pela
Universidade do Rio de Janeiro, defendida no primeiro semestre de 2008, onde são
analisadas amostras retiradas de três corpora, VARPORT, D & G - RJ e O GLOBO.
A partir deste trabalho, Ferreira mostrou que o uso do item quando e outros
termos que o acompanham, como o verbo no passado e a posição(posposta ou
anteposta)do item analisado, determina diretamente a classificação linguística. E
pelas análises realizadas, a autora constatou que, embora os gramáticos tradicionais
brasileiros classifiquem o item quando apenas como conjunção subordinativa
temporal, esta pode apresentar outros valores semânticos além do valor temporal,
considerado prototípico. Os casos registrados por ela no corpus de seu trabalho,
conforme as informações colhidas foram os sentidos de tempo, condição, causa,
concessão e proporção.
E assim vão aparecendo outros estudiosos que vão aos poucos mostrando
que a língua é dinâmica e que há fatores externos que modificam aquela
classificação dada aos vocábulos. As situações comunicativas influenciam a
mudança de sentidos até então conhecidos e repassados. Valéria Adriana Maceis
(PG-UEM) e Maria Regina Pante (UEM) em seu trabalho cujo título é “NOTAS
39
SOBRE O CONECTIVO QUANDO EM ORAÇÕES HIPOTÁTICAS ADVERBIAIS NA
FASE ARCAICA DA LÍNGUA PORTUGUESA” mostram que, assim como outros
conectivos da língua portuguesa, o conectivo quando, analisado em textos dos
séculos XV e XVI além da relação lógico-semântica de tempo, também pode
expressar causa e condição.
Segundo Barreto (1999), a conjunção quando existe há muito tempo e já era
usada no Latim e continua na língua portuguesa desde o século XII. De acordo com
a autora (1999, p. 219), o quando é o acusativo feminino singular do relativo, quam,
adverbializado que se somou à preposição indo-europeia – do – que significava
„para‟ e se constituiu enquanto palavra. Palavra essa, que era empregada no Latim
como advérbio interrogativo - indefinido ou conjunção subordinativa que variava de
sentido, aparecendo com sentido temporal, em Plauto, e com sentido causal, em
textos de Terêncio e Cícero.
Para ela, o quando tinha como sentido inicial „para o qual‟, referindo-se a
tempo, e determinou, através de um processo metafórico, o sentido temporal da
conjunção e do advérbio interrogativo, fazendo decair o sentido causal. Com o valor
temporal de „em que época‟, „em que ocasião‟, o “quando” passou ao português
também, como advérbio ou conjunção.
Barreto (1999) afirma ainda que a conjunção quando gramaticalizou-se ainda
no latim, uma vez que passou ao português com a mesma forma e o conteúdo
semântico temporal que já possuía na língua de origem. Outros estudos e a análise
dos dados, no entanto, mostram que observando o aspecto semântico, o quando
deixou de ser visto apenas como temporal, porque analisava-se com mais afinco o
aspecto sintático e hoje atentando para os outros sentidos percebemos que ele vem
apresentando
traços
condicionais,
causais
e
concessivos,
entre
outros,
contradizendo o que sempre foi ensinado nas escolas, mas que vem sendo
mostrado graças à divulgação de novas teorias como por exemplo, a linguística
funcional.
Com isso não queremos dizer que não se deve trabalhar gramática na escola,
Neves (2000, p.52) também é favorável ao ensino de gramática. Ela argumenta que
devemos ensinar
a língua e também a gramática mas é preciso fazê-lo de maneira
eficientemente propiciando e conduzindo a reflexão sobre o funcionamento da
linguagem, de uma modo claro e objetivo, partindo do uso linguístico, para chegar aos
resultados e efeitos de sentido. Porque as pessoas falam exercem a linguagem
40
usando a língua com o objetivo de produzir sentidos. E desse modo, estudar
gramática é, exatamente, pôr sob exame o exercício da linguagem, o uso da língua,
através da fala. Isso significa que a escola não pode criar no aluno uma ideia
deturpada e uma falsa noção de que falar ou escrever não têm nada que ver com
gramática.
41
II A TEORIA NORTEADORA DA PESQUISA: O FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO
Neste capítulo, apresentamos a Linguística Funcional norte-americana
defendida pelo linguista Talmy Givón e seus seguidores. Teoricamente é ela que
embase à nossa pesquisa. E dentro desse contexto falamos especialmente do
processo mudança, variação e gramaticalização, o que constitui um dos casos mais
especiais de mudança linguística.
2.1 O FUNCIONALISMO
O Funcionalismo é uma das correntes linguísticas que concebe a linguagem
como recurso de interação social. O funcionalismo linguístico norte-americano, por
sua vez, é quem recupera os primeiros trabalhos desenvolvidos nos EUA que tinham
como preocupação fornecer evidência das motivações discursivas geradoras das
estruturas sintáticas. Assim, Sankoff, Brown, Givón, Hopper, Traugott, Thompson e
vários outros autores são citados, alem de outros como Heine e Kuteva, que, mesmo
estando na Alemanha, identificam-se com os princípios da escola norte-americana.
A perspectiva funcionalista se fortaleceu nos Estados Unidos a partir da
década de 1970, cuja maior expressão está nos trabalhos de linguistas como Sandra
Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón. É essa teoria com seus respectivos
representantes que serve de suporte teórico para a análise de nossa pesquisa, a
qual busca mostrar as manifestações linguísticas do item quando em uso, uma vez
que a palavra pode ter o sentido alterado conforme a sua contextualização e a
situação comunicativa em que ela está envolvida. Ela não significa por si só. Neves
(2000) diz que nem a língua (e nem a gramática) podem ser descritas como
sistemas autônomos, já que a gramática não pode ser entendida sem parâmetros
como cognição e comunicação, processamento mental, interação social e cultura,
mudança e variação, aquisição e evolução. Esses são fatores que determinam uma
visão diferente sobre o uso da língua, isto é, uma nova proposta de trabalho com a
gramática.
É importante perceber que a abordagem funcionalista apresenta não apenas
propostas teóricas distintas acerca da natureza geral da linguagem, mas diferentes
42
concepções no que diz respeito aos objetivos da análise linguística, aos métodos
nela utilizados e ao tipo dos dados utilizados como evidência empírica. Por isso, tal
corrente tem como objeto de estudo a relação entre a estrutura do sistema da língua
e seus fins comunicativos. Neves orienta para um real sentido do trabalho que
poderia ser feito com a gramática, uma vez que ela não está desvinculada da vida
do usuário. Afirma ainda que o Funcionalismo:
É uma teoria que se liga, acima de tudo, aos fins a que servem as unidades
linguísticas, o que é o mesmo que dizer que o Funcionalismo se ocupa,
exatamente, das funções dos meios linguísticos de expressão. (...) E liga-se
à Escola Linguística de Praga, ainda por assentar uma consideração
dinâmica da linguagem, pela qual as relações entre estrutura e função são
vistas como estáveis, dada a força dinâmica que está por detrás do
constante desenvolvimento da linguagem. Cabe então, investigar, o efeito
de sentido que esse tipo de análise pode proporcionar para todos nós,
enquanto estudiosos da língua e enquanto pessoas que se preocupam com
a questão da produção textual nas escolas. (NEVES, 2006, p.17)
Essa corrente se opõe a estruturalismo pelo fato de considerar aspectos que
vão além da imanência do sistema linguístico. Mas o estruturalismo não é a única
corrente a que o Funcionalismo se opõe. Ele também se opõe ao Gerativismo, ou
seja, ele difere das abordagens formalistas, num primeiro momento, por considerar a
linguagem como instrumento de interação social e depois porque o seu interesse
vai além da investigação linguística, além da estrutura gramatical, buscando no
contexto discursivo a motivação para os fatos da língua. Dessa forma, o
funcionalismo procura explicar as regularidades observadas no uso interativo da
língua, analisando as condições discursivas em que se verifica este uso, porque,
para essa corrente teórica, a linguagem transcende a estrutura gramatical da
língua.Esse é um fato bastante notório nas escritas de Furtado da Cunha e Souza,
2007 e 2008.
Diante dessa concepção, o Funcionalismo passa a ser entendido como ação
e esta, por sua vez, está atrelada às funções comunicativas. Não pode e nem deve,
em nenhum momento, ser considerada como algo distante do falante, pois é através
deste que a língua se concretiza. E, conforme Neves (1997, p. 110), “por constituir
uma estrutura cognitiva é que a gramática é sensível às pressões de uso”.
Compreendemos, dessa forma, que a língua é dinâmica e pode sofrer alterações
43
todos os dias. E o contexto é um dos fatores que propõem essas mudanças. Então,
é neste momento de mudanças que as análises linguísticas de orientação
funcionalista vão ganhando sentido, pois asseguram que o postulado básico de que
a língua é uma estrutura maleável, sujeita às pressões do uso e que se constitui um
código parcialmente arbitrário. E foi a partir das orientações de Givón (1971), Hopper
(1993), Traugott (1993), Haiman e Thompson entre outros, que o modelo de análise
funcionalista procurou explicar a forma da língua a partir das funções que ela pode
desempenhar no momento da interação. Deste modo, a língua não se organiza de
forma autônoma. Ela é dependente do comportamento social, adaptando-se às
diferentes situações comunicativas e necessidades do falante. (Cf. FURTADO DA
CUNHA, 2008).
Mesmo havendo alguns pontos divergentes entre as teorias, os pressupostos
de Saussure tornaram-se a base de fundamentação teórica para os estudos
funcionalistas. Podemos dizer, então, que levando em consideração que a função é
vista a partir de uma forma, estruturalismo e funcionalismo estão estreitamente
ligados. Podendo dizer que uma depende da outra. Há, portanto, um dinamismo
entre a forma e a função da língua, ou seja, entre os componentes linguísticos e
pragmáticos em contextos de interação verbal. Givón (apud NEVES, 2004) defende
que a língua não pode ser descrita como um sistema autônomo, pois há
uma
interdependência entre gramática e parâmetros como: cognição e comunicação,
processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e
evolução.
Todo bom funcionalista precisa entender, portanto, que não se pode analisar
a função se não existir uma forma. No entanto, a função não é definida apenas pela
forma, pela estrutura. O contexto tem um papel importantíssimo na concretização da
função, pois o funcionalismo vê e analisa a função da forma num determinado
contexto, mas a inversão dos fatos nem sempre acontece. Torna-se claro, assim,
que um dos principais papéis da situação comunicativa é motivar, expor e
determinar a estrutura gramatical, o que implica dizer que precisamos considerar
que as construções gramaticais se moldam por motivações de ordem semânticopragmática e não apenas sintática. Assim percebemos que vai se confirmando o que
Neves afirma:
44
A gramática é sensível às pressões de uso exatamente por constituir uma
estrutura cognitiva, ou, em outras palavras, a partir de núcleos nocionais a
gramática é passível de acomodação sob pressões de ordem comunicativa
(NEVES, 2004, p.22).
Foi a partir do Circuito Linguístico de Praga, fundado em 1926, que surgiram
as primeiras análises de base funcionalista. Foi o estruturalismo linguístico que
propiciou a criação de um movimento que engloba outros específicos, tais como o
Formalismo e o Funcionalismo. Sendo que o funcionalismo representou uma grande
contribuição para o estudo da linguística na medida em que formulou novos
postulados teóricos, uma nova metodologia e uma nova divisão epistemológica ao
separar Fonética e Fonologia e ao atribuir, à última, autonomia em relação às outras
disciplinas da Linguística.
O funcionalismo constituiu-se como um modo de pensamento e um modo de
analisar a linguagem e suas relações com o mundo. Ele surge a partir dos trabalhos
do Círculo de Praga e do Círculo de Copenhague, a partir do qual nasce a Fonologia
com, Troubetskoï e a Glossemática, com Hjelmslev. A linguística oriunda do Círculo
de Praga constitui um tipo de revolução epistemológica nos enfoques europeus da
língua, nos anos 20 do século passado. Foram definidos os papéis do Estruturalismo
e do Funcionalismo a partir do postulado geral de que a estrutura das línguas é
determinada por suas funções características.
O postulado de que a língua tem uma função representou um grande avanço
no estudo da Linguística na medida em que se constatou que é necessário fatores
extralinguísticos na análise linguística. Dessa forma, a língua é aqui um sistema
orientado para uma finalidade que é a da comunicação, ou seja, a língua possui
funções. Sob essa perspectiva, pode-se dizer que o termo função é entendido como
a junção do estrutural (sistêmico) com o funcional (Cf. NEVES, 2006).
O Funcionalismo nasce dentro do Estruturalismo com Ferdinand de Saussure
no momento em que alguns estudiosos investigavam e buscavam respostas para
muitas dúvidas em relação à língua e a linguagem. Por isso, enquanto corrente
teórica, o funcionalismo não é algo novo, pode até ser considerado novo para
algumas pessoas, mas que já tem décadas de existência, embora tenha se
destacado com trabalhos recentes, e seja mais compreendido nessa nova
contextualização.
45
Mas para entendê-lo é necessário
também conhecer aqueles que
contribuíram para o desenvolvimento dos postulados funcionalistas. Foram pessoas
como Jakobson, Charles Bally, Halliday, Trubetskoi, Hjelmslev, entre outros. Foi a
partir deles que surgiam novos horizontes e os primeiros passos para uma longa
caminhada, a qual levou anos para ganhar mais fôlego. E só muito depois é possível
uma avaliação de sua importância a partir de trabalhos de outras correntes teóricas.
Na década de 1980, alguns trabalhos da Linguística e da Psicolinguística
passaram a noção de ensino-aprendizagem de língua escrita que se concebia
a língua apenas como código e, dessa forma, entendia a leitura apenas como
decodificação e a escrita somente como produção grafo motriz. A linguagem
deixava de ser encarada, pelo menos teoricamente, como mero conteúdo
escolar e passa a ser entendida como processo de interlocução (SANTOS,
2002, p.30).
Segundo Santos (2002), não é uma preocupação apenas em nossos dias, o
estudo da língua em funcionamento. No entanto, essa preocupação não era geral,
de todos os profissionais que trabalham com a língua, era uma preocupação apenas
de alguns estudiosos. E hoje essa inquietação ainda não é de todos, mas já vem
atingindo um público bem maior, à medida que o tempo vai passando, mais pessoas
vão se envolvendo nesse processo de compreensão das relações comunicativas.
Hoje, a língua passa a ser estudada com mais intensidade baseada em
textos, discursos e situações reais que ocorrem em situações comunicativas do dia a
dia, por meio dos mais diversos gêneros textuais e em diferentes contextos. E esses
estudos vêm se intensificando a cada dia, pois muitas inquietações surgem,
principalmente, se analisarmos a língua, por apenas um viés, como a GT fez até
hoje, se preocupando apenas com organização estrutural. Ela não se resume
apenas ao sistema. Para compreendermos a língua, precisamos analisá-la além da
estrutura, a partir de outras perspectivas. Nesse sentido,
a língua é entendida enquanto produto da atividade constitutiva da linguagem,
ou seja, ela se constitui na própria interação entre os indivíduos. Passou-se,
assim, a prescrever que a aprendizagem da leitura e da escrita deveria
ocorrer em condições concretas de produção textual. Desloca-se o eixo do
ensino voltado para a memorização de regras da gramática de prestígio e
nomenclaturas (SANTOS, 2002, p. 30).
Foi a partir de alguns estudos linguísticos, que houve uma grande
contribuição para a inserção de estudos e análises textuais nos currículos escolares.
46
A partir desse novo cenário que se vem organizando nos últimos anos, a gramática
passa a ser abordada a partir da observação de outros fatores como, por exemplo, a
compreensão da gramática por meio do trabalho com o sentido do texto, a influência
da semântica e do discurso para que um evento comunicativo aconteça. E os
estudos realizados nas últimas décadas foram ocasionando mudanças na
concepção do que é língua. Mudanças estas, que possibilitam a concepção da
língua como fator social.
Por esse motivo, a língua passa a ser concebida numa perspectiva mais
cognitiva e social, deixando de lado o caráter imutável e imanentista a ela atribuído
pelas abordagens formalistas. Isto quer dizer que tanto a comunicação como a
organização interna da língua são funcionais, pois, segundo Neves (2006, p. 18),
“estruturas linguísticas são configurações de funções, e as diferentes funções são os
diferentes modos de significação no enunciado, que conduzem à eficiência da
comunicação dos usuários de uma língua”.
Diante das discussões apresentadas, compreendemos que é de suma
importância o trabalho que ora realizamos, E devemos considerar um aspecto
importante ao falarmos de texto, pois ele é sempre dirigido a alguém, ou seja, a
situação de produção de um texto supõe a existência de um interlocutor, se o autor o
produz ele tem um objetivo a alcançar. Antunes (2005) esclarece esse fato dizendo
que:
Escrever, a outros e de forma interativa, é, pois, uma atividade
contextualizada. Situada em algum momento, em algum espaço, inserida em
algum evento cultural. Os valores que, convencionalmente, se atribuem a
esses momentos ou espaços determinam certas escolhas linguísticas. Dessa
forma, não se escreve da mesma maneira, com os mesmos padrões, em
contextos diferentes. A descrição de um apartamento será diferente, por
exemplo, se ela é feita por um corretor, interessado em vendê-lo, se ela é
feita por um comprador interessado em conseguir baixar o preço do imóvel ou
se ela é feita por algum arquiteto que pretende fazer o projeto de sua
decoração (ANTUNES, 2005, p. 29-30).
Logo, quem produz o discurso, em qualquer situação, está realizando um
modelo linguístico em uma situação concreta. Então, o que vai dar sentido a esse
texto não é apenas a forma como as palavras estão organizadas na frase é, sim, a
combinação dos três fatores básicos: o linguístico, o contextual e o intencional. E
esta forma de interagir desses três aspectos possibilita uma infinitude de
combinações que permite ao falante realizar suas escolhas e produzir seus
47
enunciados de acordo com as suas necessidades de falante de uma língua. E para
expressar-se bem é preciso ter domínio de algumas habilidades, assim
Basta lembrar que saber expressar-se numa língua não é simplesmente
dominar o modo de estruturação de suas frases, mas é saber combinar essas
unidades sintáticas em peças comunicativas eficientes, o que envolve a
capacidade de adequar os enunciados às situações, aos objetivos da
comunicação e às condições de interlocução. E tudo isso integra gramática.
(NEVES, 2002, p. 226).
Dessa forma, o ambiente social também influencia as escolhas feitas por um
usuário da língua, pois cada indivíduo faz parte de uma comunidade e possui
objetivos específicos a serem atingidos quando se
usa alguns aspectos da
linguísticos, isto é, quando se faz uso da linguagem. E esta, por sua vez, é
influenciada por fatores sociais, o que é confirmado nos textos produzidos pelos
informantes dos corpora analisados. Quando o informante usa a oralidade para se
comunicar, o que ele mais quer é ser entendido, por isso se utiliza de uma
linguagem de acordo com o nível de conhecimento de seu interlocutor, sua
aproximação, intimidade entre outros. Da mesma forma, quando quer se comunicar
através da escrita.
Segundo Neves (2004), o funcionalismo se interessa em analisar como se dá
a comunicação a partir de uma língua natural, ou seja, como os usuários desta
língua se comunicam e de que se utilizam para que suas palavras tenham um efeito
de sentido desejado. Isso significa colocar sob exame a competência comunicativa
do falante, levando em conta as estruturas das expressões linguísticas consideradas
como configurações de funções. Não significa atribuir graus de importância à forma
de falar de nenhum grupo social e muito menos de um indivíduo sobre outros. É
papel da teoria funcionalista mostrar apenas como se dá o uso da linguagem em
cada situação e não fazer julgamentos.
Ao fazer a análise de uma situação comunicativa, são observados todos os
envolvidos no processo: o contexto, os propósitos da fala e os participantes. E são
esses fatores que podem influenciar nas mudanças de sentido das palavras até que
elas passem a ser menos ou mais gramaticais.
48
2.2 VARIAÇÃO, MUDANÇA E GRAMATICALIZAÇÃO
A Gramaticalização é conhecida como o processo que leva itens lexicais e
construções sintáticas a assumir funções determinadas no que se refere à
organização interna do discurso ou a estratégias comunicativas. O processo de
gramaticalização tem recebido várias definições, dentro da perspectiva funcionalista.
Foi
Meillet
o
primeiro
autor
a
apresentar
formalmente
o
conceito
de
gramaticalização. Esse conceito se firmou no momento em que ele definiu o
processo como a atribuição de um estilo gramatical a uma palavra anteriormente
autônoma. (Cf MEILLET, 1912).
E só muito tempo depois aparece a clássica definição de gramaticalização
apresentada por Heine et alii (1991), que não diverge de Meillet, porém vem reforçar
o que foi definido antes, porque Heine também continua conceituando a
gramaticalização como um processo em que uma estrutura ou morfema passa de
uma forma lexical a uma gramatical ou de uma forma menos gramatical a uma mais
gramatical. Este processo se dá via repetição, pois quanto mais os falantes de uma
língua utilizam determinada estrutura, o uso constante vai fazendo com que o
vocábulo vá assumindo outras dimensões e, assim, vai fixando o sentido deste
através do uso. Dessa forma, quanto mais fixo for ficando aquele sentido, mais
possibilidades de tornar-se gramaticalizado. E quanto menos usada, mais tendência
tem uma palavra de diminuir ou até mesmo desaparecer de um vocabulário. Para
Furtado da Cunha, esse é um processo natural que pode acontecer com uma
palavra, por isso ela diz que
A gramaticalização, designa um processo unidirecional, segundo o qual
itens lexicais e construções sintáticas, em determinados contextos, passam
a assumir funções gramaticais”. O comum é que o processo aconteça com
itens e expressões muito frequentes, fazendo com que o termo
normalmente se desgaste foneticamente e perca sua expressividade. Com
isso, o elemento não faz mais referência ao mundo biossocial, pois assume
funções de caráter gramatical, tais como: ligar elementos textuais, sugerir
categorias gramaticais, como o tempo de um verbo ou o gênero de um
nome, entre outros. (FURTADO DA CUNHA, 2008, p.170)
Para ela, a gramaticalização realizava essencialmente a trajetória léxico >
gramática, sendo que esta última apresentava uma sequência interna formada por
sintaxe > morfologia. Nesse sentido, o que é a visão dominante, nos estudos sobre o
assunto até hoje, é o trajeto percorrido pelas três dimensões léxico > sintaxe >
49
morfologia. Usamos o processo de gramaticalização como suporte de análise nessa
nossa pesquisa por ser um termo amplo que abrange dois processos investigados
pela linguística funcional: variação e mudança linguística das palavras. Já existem
estudos que mostram algumas possibilidades de variação e mudanças, como o de
Ferreira (2009), por exemplo, ao mostrar a passagem do item quando por outros
sentidos diferentes do sentido de tempo e, segundo ela, não é tão simples classificar
um item linguístico.
Os casos de difícil classificação, ou fronteiriços, vêm confirmar a hipótese de
que a gramaticalização é um processo linguístico abalizado no uso e que a
conjunção subordinativa quando está num continuum dentro deste processo;
tal continuum vai desde o valor temporal, considerado prototípico, até o valor
proporcional – valor este que apresenta apenas uma nuance – passando por
valores como o condicional, o causal e o concessivo, valores estes que
vigoram na escala de gramaticalização TEMPO > CAUSA > CONCESSÃO,
descrita por (FERREIRA 2009, p 1331)
Podemos dizer, então, que a gramaticalização ocorre quando um item lexical
passa a assumir, em determinadas circunstâncias, um novo status como item
gramatical, tornando-se menos gramatical ou quando itens gramaticais se tornam
ainda mais gramaticais e, até mesmo, em alguns casos, podem mudar de
categoria,isto é, um adjetivo pode assumir a posição de outra categoria como o
advérbio ou o substantivo, o que chamamos de recategorização. Mas para que haja
gramaticalização é necessário que o item lexical passe pelo processo de variação e
mudança, pois, dependendo do grau de alterações semânticas e fonológicas desses
processos, é que a palavra pode receber propriedades funcionais na sentença,
deixando assim, de ser uma forma livre e até desaparecer o seu sentido ou em
outros casos se fortalecer.
A maioria dos estudos funcionalistas sobre gramaticalização se destacaram,
nas décadas de 80 e 90, onde vários autores estabeleceram maior discussão sobre
o problema da transição, assegurando que o gradualismo é essencial aos
fenômenos de gramaticalização estudados. Destacamos, então, a necessidade de
que a gramaticalização tem de existir, pelo fato de ser ela um fenômeno contínuo na
língua. Ou melhor, ela é um contínuo "fazer-se" da gramática, porque existe uma
gramática sempre emergente, partir da qual ele propõe explicar o processo de
variação/mudança pelas quais um item lexical pode passar, chegando a assumir
novos sentidos e novas funções. É nesse momento e através desse processo que
50
os itens sofrem alterações semânticas ao perderem um sentido já consagrado na
língua. Na maioria das vezes, os principais mecanismos responsáveis por tais
mudanças são a metáfora e a metonímia.
Dessa maneira, a gramaticalização não é um processo que possa se
extinguir. Isso vem tornar claro que os princípios da teoria Sociolinguística laboviana
estão certos quando defendem que os fatores que produzem mudanças, tanto no
âmbito linguístico, quanto no da vida humana, são imprevisíveis, todavia atuam lenta
e gradualmente e é por esse motivo que a mudança linguística requer a observação
de dois ou mais estágios de uma língua.
No que se refere à mudança linguística, existem estágios intermediários em
que formas em conflito se distribuem irregularmente entre falantes e ouvintes num
processo que pode aparentemente durar séculos. As mudanças não afetam um
sistema linguístico em sua totalidade e, nesse sentido, podemos falar em um
continuum evolutivo diacrônico, que pode ser paralelo ao continuum categorial
sincrônico. Como então compreender o processo de gramaticalização de um item
linguístico? Quais os fatores internos ou externos que determinariam uma mudança
que se opera do léxico à gramática?
Essa seria a resposta procurada desde o século XIX por alguns estudiosos da
língua por isso, desde essa época, desenvolvem-se estudos que tentam explicar
como se originam e se desenvolvem as categorias gramaticais, para que possamos
entender o processo de mudança que ocorre dentro de uma língua. E a trajetória do
processo chamado mudança se daria pela regularização do uso da língua que
ocorreria a partir da criação de expressões novas e de rearranjos vocabulares feitos
pelo falante para atender a seus propósitos comunicativos, sendo esse fato
observado, numa perspectiva de caráter mais funcionalista.
Hopper & Traugott (1993) destacam que existe uma diversidade de sentido do
termo gramaticalização, ressaltando que o fenômeno pode ser estudado dentro de
uma perspectiva histórica, na qual, em geral, se prefere o termo gramaticalização,
ou numa perspectiva sincrônica, na qual o termo gramaticização é o preferido. A
perspectiva histórica, que mais nos interessa aqui, vê a gramaticalização como um
subconjunto da mudança linguística. Segundo Traugott & Heine (1991, p.3), é “um
tipo de mudança sujeita a certos processos gerais e caracterizado por certas
consequências, tais como a mudança na gramática”.
51
Segundo Coelho (2006), uma forma linguística ao se gramaticalizar, sofre
algumas modificações, que passam a constituir evidências empíricas de um
processo de gramaticalização. De acordo com o pensamento da autora, a primeira
dessas mudanças é a alteração semântica, ou seja, o item sofre uma perda gradual
de seu conteúdo nocional e incorpora um conteúdo gramatical, registrando-se,
assim, uma redução dos seus usos concretos e, consequentemente, uma ampliação
de seus usos abstratos, o que acaba por provocar a polissemia do termo.
Castilho (1997) afirma que a gramaticalização é um fenômeno que vem sendo
estudado por diferentes correntes teóricas, embora nem sempre se saiba claramente qual
delas se refere aos inúmeros estudos realizados. O principal ponto da discussão não é
chegar à conclusão de que é o discurso, como privilegiam os funcionalistas, ou a gramática,
como apregoam os formalistas, que desencadearia os processos de gramaticalização, mas
que haveria processos cognitivos anteriores que ativariam as potencialidades dos itens
lexicais. Concebemos, assim como Castilho (1997, p. 59), o Léxico “como o módulo central
da língua, em que estão depositados itens já marcados por propriedades gramaticais,
discursivas e semânticas”.
Outra característica do processo de gramaticalização é uma frequência maior
do item, pois o item quando passa a desempenhar funções tanto gramaticais quanto
lexicais. Essa característica é uma evidência empírica de um processo de
gramaticalização em curso, que buscamos constatá-lo em nossas análises, uma vez
que o item quando, enquanto conector, classificado como conjunção temporal pela
gramática normativa, é um dos aspectos gramaticais, entre tantos outros, que têm
deixado muitas interrogações e dado margem a outros tantos questionamentos. E
que, na maioria das vezes, os nossos alunos e, porque não dizer até mesmo
professores, não compreendem e nem conseguem fazer deles o uso adequado às
situações do discurso, por ter se prendido durante muito tempo ao que é dito pela
gramática tradicional nas escolas.
52
III O MATERIAL PARA A ANÁLISE: OS CORPORA DISCURSO & GRAMÁTICA
Esse capítulo faz uma apresentação do material utilizado para a construção
do corpus de nossa pesquisa. O qual corresponde ao D & G de Natal, do Rio de
Janeiro e o de Juiz de Fora, bem como as variáveis sociais e linguísticas. Faz
também a exposição das variedades linguísticas e sociais que se destacam e o
tratamento que é dado aos corpora durante a nossa pesquisa.
3.1 OS CORPORA
O nosso objeto de estudo é o item quando nos corpora D & G da cidade de
Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Sendo estes, elaborado a partir de estudos
sobre o português do Brasil e publicados pelas Editoras Universitárias das
respectivas cidades. E como cada corpora é composto por entrevistas de vários
informantes, acreditamos ser esse um material proveitoso e suficiente para o
alcance de nosso objetivo porque quanto maior a variedade de pessoas, maior
também são as possibilidades de atos comunicativos, de relação de discursos dos
interlocutores,pois está contido neles uma variedade de textos que nos parece
suficiente e adequada aos nossos objetivos, que pela qualidade e especificidade
desses textos, poderão esclarecer como uma determinada palavra funciona em
situações reais, uma vez que todos os textos foram produzidos a partir da vivência e
interesse do informante, especialmente, no que se refere à escolha do assunto. Os
informantes de cada corpus são de escolaridade, sexo e idades diferentes, sendo
respeitados esses critérios nos três corpora analisados, o que favorece ainda mais a
diversidade de textos e temas.
Os informantes distribuem-se da seguinte forma: quatro informantes da
classe de alfabetização, com uma faixa etária entre 5 e 8 anos. Quatro informantes
da 4ª
série do primeiro grau com uma faixa etária entre 9
a 11 anos; quatro
informantes da 8ª série do primeiro grau, com uma faixa etária entre 13 a 16 anos.
Quatro informantes da 3ª série do segundo grau, com uma faixa etária entre de 18 a
20 anos. E quatro informantes do último ano do terceiro grau, com uma faixa etária
acima de 23 anos de idade. Em todos os graus de escolarização dois informantes
são de sexo masculino e dois do feminino.
53
O Grupo de Estudos Discurso & Gramática, conhecido também como D & G,
foi fundado no Departamento de Linguística e Filologia da Faculdade de Letras em
1991. E o seu primeiro projeto integrado, apoiado pelo CNPq, foi chamado de
Iconicidade na fala e na escrita, com duração de dois anos. Durante esse período,
os membros do grupo D & G organizaram amostras da língua falada e escrita com
informantes em cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande, Juiz de
Fora e Niterói.
O Grupo Discurso & Gramática trabalha com pesquisa na área da Linguística
Funcional, focalizando os processos de mudança linguística e gramaticalização. E
desde o início da década de 1990, seus pesquisadores vêm publicando livros e
artigos nesta área. Eles procuram, não apenas divulgar os fundamentos teóricos
funcionalistas, mas acima de tudo desejam apresentar novas propostas de análise
acerca do Português Brasileiro e de outras línguas antigas como, por exemplo, o
grego e o latim.
Os integrantes desse grupo tentam também manter a unificação do mesmo ,
a partir de seminários que se realizam anualmente, com o objetivo de os
pesquisadores das três universidades fazerem exposição de suas pesquisas
analisarem e discutirem os seus resultados. É um evento de dimensão nacional e já
foi sediado em grandes polos acadêmicos, especialmente nas cidades onde existem
as células que integram o Corpus, Discurso & Gramática, UFF, UFRN e UFRJ.
No ano de 2007, o D & G inovou os trabalhos do grupo com a organização de
eventos internacionais recebendo os professores como Elizabeth Closs-Traugott,
Bernd Heine e Tânia Kouteva. Além do desenvolvimento de estudos científicos, o
Grupo D & G atua também na coleta, organização e armazenamento eletrônico do
banco de dados intitulado Corpus Discurso & Gramática - a língua falada e
escrita, referentes às cidades envolvidas nesse trabalho.
O D & G DE NATAL é um dos corpora que nos serviu de suporte para a
construção do corpus desta dissertação. É composto por depoimentos de 20
informantes, cujas informações: idade, sexo e escolaridade são distintas, e todos,
individualmente, produziram cinco tipos diferentes de textos orais (narrativa de
experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento
e relato de opinião) e, a partir de cada texto oral, produziram também cinco textos
escritos, com o objetivo de garantir a comparabilidade entre os canais falado e
escrito, o que totaliza 200 registros ao todo.
54
O D & G DO RIO DE JANEIRO é um dos corpora que apesenta um maior
número de informantes, pois é composto por produções de 93 informantes. E esse
número de depoimentos do Rio de Janeiro foi motivado pelo tamanho da cidade,
com milhões de habitantes e está divido em duas partes. A primeira contempla os
informantes do Ensino Superior, Ensino Médio e os relatos de interação, e a
segunda, os informantes de oitava, quarta série, CA (curso de alfabetização de
adultos) supletivo e CA(curso de alfabetização) infantil.
Os informantes distribuem-se da seguinte forma: 15 informantes de classe
de alfabetização infantil, 8 informantes de alfabetização de adultos (supletivo), 34
informantes de 4ª série, 12 informantes de 8ª série do primeiro grau, 16 informantes
da 3ª série do segundo grau e 8 informantes do último ano do terceiro grau. Sendo
os informantes de todos os graus de ensino pertencentes aos dois sexos.
O D & G DE JUIZ DE FORA, assim como o D & G de Natal, tem o seu corpus
composto por depoimentos de 20 informantes. Cada um dos informantes também
produziu cinco tipos distintos de textos orais e, a partir desses, cinco textos escritos.
Além dos depoimentos dos informantes, ainda consta, no D & G de Juiz de Fora, os
relatos de interação, os quais explicam todos os procedimentos para concretização
das entrevistas.
Os três corpora citados são objetos de estudos analisados nesse corpus de
dissertação e, a partir da análise realizada, compreendemos o contexto em que o
item quando apresentou os vários sentidos exercidos por ele os quais apareceram o
prototípico temporal, o condicional, proporcional, concessivo entre outros.
3.2 VARIÁVEIS
A nossa pesquisa é composta por produções de diversos informantes. E
como são diferentes, apresentam também as diversidades no que se refere ao modo
de falar, de se comunicar. Dentre essas diversidades, destacamos as diferenças que
mais nos interessam, nesse momento, para a nossa pesquisa, que são as
diferenças linguísticas e as sociais, sendo que a primeira pode ser influenciada pela
segunda.
3.2.1 LINGUÍSTICAS
55
Coseriu (2001 apud Chagas 2003, p. 150) já dizia que “a língua nunca está
pronta. Ela é sempre algo por refazer. A cada geração, ou mesmo em cada situação
de fala, cada falante recria a língua”. Com essa recriação, vão surgindo as
diversidades linguísticas, as quais estão diretamente ligadas com os níveis de
formalidade e de informalidade dentro de uma língua, isto é, os níveis de fala dos
usuários de uma língua. Essas diferenças podem ser históricas, geográficas, sociais
e culturais. Todos esses fatores influenciam na forma de falar e de escrever dos
usuários de uma mesma língua, fazendo com que cada uma fale ou escreva de um
modo diferenciado, de acordo com o lugar, a idade, o sexo, a escolaridade e a
época em que as pessoas vivem. Assim, essas variedades podem constituir a
evolução da língua. O vocabulário de uma região pode não ser o de outra, e a forma
como o vacabulário é usado define os níveis de linguagem de uma população.
Baseados no entendimento do que são as variedades linguísticas, o como e
por que elas acontecem, percebemos que a maioria dos informantes dos D & G
analisados usam a variedade popular, isto é, uma linguagem mais informal porque
nem todos os informantes de ensino superior utilizam nos textos da modalidade oral,
a formaliade. Quanto mais elevado o nível de escolaridade mais formal será a fala,
no entanto, nem todas as pessoas que estudam fazem valer essa regra, até porque
as relações de convivência com quem não tem o mesmo nível de linguagem faz com
que nos adaptemos às situações de fala do dia a dia.
A linguística também é influenciada, pelas classes sociais, assim como o
grau de estudo, a idade e o sexo apresentam uma linguagem diferenciada. Esse um
fato comprovado nos corpora analisados e obedecem a uma distribuição dos textos
baseados nesses aspectos.
3.2.2 SOCIAIS
As variedades sociais também não acontecem por si sós. Esse tipo de
variedade é, geralmente, influenciado por tantos outros fatores que afetam um
determinado grupo de pessoas, isto é, uma sociedade. Por exemplo, o nível
socioeconômico, o grau de instrução, a idade e o sexo fazem com que se agrupem
os indivíduos em determinadas esferas da sociedade. No entanto, a variação social
não compromete o entendimento entre os indivíduos. E o uso de certas variantes
pode até indicar o nível socioeconômico de uma pessoa, mas isso não impede que
56
essa mesma pessoa venha a atingir um padrão de grande prestígio dentro da
sociedade, caso alguns daqueles fatores que influenciam o social sejam superados.
Se considerarmos, por exemplo, a língua culta e a coloquial, percebemos que
socialmente elas não têm o mesmo valor.
O valor social é diferente. Enquanto uma variante é prestigiada – avaliação.
Embasada por noções específicas de elegância e cultura -, quem usa uma
segunda forma é discriminado, considerado inculto e ignorante. Mais esse
valor social não tem o menor fundamento linguístico, e nada mais é do que o
reflexo da divisão da sociedade em classes, da distribuição desigual da
renda, e sobretudo, da ideologia hegemônica. Tanto é assim que esse
julgamento social que distingue o „certo‟ do „errado‟ é historicamente
determinado, e, no mais das vezes, a forma errada de hoje será a forma certa
de amanhã. (Luchesi, 2006, p. 45)
Os corpora analisados mostram que as variedades sociais que se apresentam
nesse trabalho contêm uma grande diversidade social e esse é um fator importante
e necessário, principalmente quando se busca uma análise linguística. E é por isso
que os D& G estão organizados com entrevistas de pessoas de idade, sexo e grau
de escolaridades diferentes, o que favorece a identificação dos motivos pelos quais
a variedade acontece.
E pela nossa análise, a maioria dos informantes é
pertencente à classe menos favorecida, das chamadas classes populares e de
setores diferentes das cidades.
E cada um vai usando o quando de acordo com a necessidade, mesmo
porque esta forma tem que se adaptar às situações de uso, que é uma exigência da
própria língua e que lhe possibilite a conveniência no momento do ato comunicativo.
Assim, percebemos que as mulheres fazem uso do quando com maior frequência
que os homens, que os informantes das séries iniciais usam o item menos que os
das séries mais elevadas. E quanto menor a série, os informantes usaram o quando
com o sentido de tempo. A manifestação de outros sentidos se deu com maior
frequência nas entrevistas dos informantes do Ensino Médio e do Ensino Superior.
3.3 TRATAMENTO METODOLÓGICO DOS DADOS
Foi a partir do banco de dados formado pelos corpora D & G de Natal, D &
G do Rio de Janeiro, e D & G de Juiz de Fora, que extraímos o material para
construir o corpus de nossa dissertação. Realizamos a leitura dos três corpora,
57
identificamos todos os itens quando presentes. Discutimos e descrevemos a função
e manifestações discursivas do item quando através da análise dos corpora citados.
E isso foi muito positivo, porque os textos estão centrados na experiência vivenciada
pelo próprio falante, pois é ele quem faz a escolha do assunto, do fato, processo ou
procedimento em cada evento enunciativo. E é ele mesmo quem passa o texto de
uma modalidade à outra.
Partimos para a leitura dos textos de fundamentação teórica, fichando e
organizando o que entendemos das leituras realizadas. Realizamos a leitura dos
documentos - D & G, das três cidades citadas, tentando compreender cada texto,
observando, especialmente, a ocorrência do item quando, tanto nas produções
orais, quanto nas escritas, para, a partir dessas ocorrências, entender como se
aplica a teoria em estudo ao nosso corpus, tendo como base a verificação das
manifestações discursivas desse item, percebendo se acontecem de maneira
semelhante ou não à classificação que a gramática normativa lhe atribui.
A escolha do material para construção do corpus se deu, primeiramente, pelo
desejo de compreender os processos de mudança de sentido pelos quais uma
palavra pode passar e, a partir disso, verificar que outros sentidos o item quando
apresenta no corpus analisado que não o sentido de tempo, como apresenta a
gramática normativa. Encerrado o levantamento dos dados, fizemos a comparação
do item quando usado nos corpora citados, com o tratamento que é dado a ele pela
gramática normativa. E percebemos que o quando apresentou o sentido de tempo,
considerado prototípico, mesmo assim apareceram outros sentidos como a
condição, a proporção, e o lugar, entre outros. Isso mostra que o sentido de tempo
não é o único manifestado pelo quando. Vários fatores como o contexto e a situação
comunicativa influenciam nessa manifestação.
A nossa pesquisa é qualitativa com base nos dados quantitativos, podendo
ser chamada de quanti-qualitativa, pois a frequência do item quando justifica o
enquadramento de um item no processo de gramaticalização, ou não, porque a
frequência é um dado que indica se existem tendências de variação e mudança de
um item dentro de um contexto ou determinada época. Assim a contagem da
frequência do item quando nessa nossa pesquisa e comparada a outras, foi também
para verificar se ele, no decorrer do tempo, passou ou se está passando pelo
processo de gramaticalização, pois a regularidade de uso serve não somente para a
compreensão de suas manifestações, mas também para esse outro fim.
58
Essa pesquisa é também de natureza bibliográfica e explicativa, na qual
adotamos o método indutivo de investigação, por compreender que esse seja o
método de abordagem mais adequado às características exigidas pelo campo da
investigação feita, porque ele parte de um caso particular para que possamos tirar
outras conclusões mais gerais. O corpus escolhido é para nós esse particular, de
onde, analisando as situações reais apresentadas, podemos compreender que se,
nesse contexto, o item quando diverge do que é ensinado pela Gramática
Normativa, em outras situações reais, esse tipo de manifestação também é possível
de acontecer.
Adotamos o método indutivo de investigação, método esse de abordagem
adequado às características exigidas, nessa investigação, o qual considerarmos
mais adequado ao tipo de pesquisa escolhido, pois partimos de uma questão de
pesquisa que necessita de uma reposta, que se refere ao sentido do item quando
usado no D & G de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. E partimos de algo mais
particular para se entender o geral, porque acreditamos que todo nativo de qualquer
língua tem algum conhecimento do uso de sua língua-mãe, mas se faz necessário
que utilize uma base para um maior aprofundamento. E nada melhor do que partir
de sua própria realidade, já que esse é um trabalho voltado para a linguagem em
uso. E cada informante escreveu sobre experiências vivenciadas por eles mesmos
ou contadas por alguém, mas que eles tiveram o conhecimento por vivenciar ou de
ouvir falar.
59
IV ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
No quarto e último capítulo, apresentamos toda a nossa análise, desde a
busca e contagem do item quando até o resultado final, momento em que fazemos
uma exposição de todos os achados. Nesse espaço, o número de itens é
apresentado identificando o sentido de cada um, seja de sentido temporal ou não.
4.1 O CONECTIVO QUANDO NA LÍNGUA FALADA E ESCRITA DO PORTUGUÊS
BRASILEIRO
Essa análise consiste em identificar todos os sentidos representados pelo
item quando, tanto nas produções orais quanto nas produções escritas, no material
mencionado anteriormente, pois alguns de nós, enquanto falantes e usuários da
língua portuguesa, sabemos que esse conector é classificado pelas gramáticas
normativas do Brasil como uma conjunção subordinada adverbial temporal. Mas
nem todo usuário da língua sabe disso e nem é necessário que saiba, saber desse
fato é necessário para os estudiosos, e alguns, com visão mais funcionalista que
outros, também concorda que o quando esteja embutida do sentido temporal, mas
que pode surgir outras manifestações de sentidos.
E o nosso objetivo maior é saber como esse item aparece nos textos
produzidos pelos informantes do D & G da cidade do Natal, Rio e Juiz de Fora. Se
ele se apresenta como nos diz a GT e, se não, quais as outras manifestações
assumidas pelo quando no material analisado, uma vez que o uso pode determinar a
função de uma determinada palavra para um momento x, pois como afirma Pezatti,
(2004) “a linguagem é vista como uma ferramenta cuja forma se adapta as funções
que exerce e, desse modo, ela pode ser explicada somente com base nessas
funções, que são em última analise comunicativas.”
A partir do material coletado, a frequência do item em quando pode parecer
menor que o real. Mas como, em alguns casos, se trata de fala e, às vezes, o
informante sente a necessidade de reestruturar a fala, acontece um espaço como se
fosse uma lacuna, e a frequência é contada apenas com o quando que realmente
funciona, naquele contexto em que ele se manifesta e apresenta um sentido, seja de
60
tempo ou um dos outros sentidos como os que se apresentam em estudos
anteriores. A esse acontecimento algumas pessoas
chamam de truncamento,
outros apenas de interrupção de fala. O que não pode e nem deve ser considerado
defeito, é sim, apenas a possibilidade que a língua oferece ao falante de dizer algo
de outra maneira. Exemplos desse fato estão nas amostras 1 e 2
Amostra (1)
o ponto mais alto acho que dessa viagem... foi Esteios... ou ...a Reserva do
Taim ... a Reserva do Taim ... uma cidade também que eu tinha muita
vontade de conhecer fica logo próximo de Rio Grande assim... Rio Grande...
quando chega... quando chega em Rio Grande... aí você entra assim...
(D &G de Natal, narrativa de experiência pessoal, língua falada, p.103)
Percebemos, assim, que o primeiro quando a ser pronunciado “quando
chega...” foi e nesse caso não consideramos como truncamento pois sentido da
frase foi cortado. E ao ser a interrompida a fala, o informante tenta organizar o
raciocínio que foi descontínuo ou até mesmo para estruturar de outra forma o que
estava querendo expor através de sua fala e, assim,
a circunstância só se
concretiza no segundo momento em que a frase é completada: “quando chega em
Rio Grande...”
Amostra (2)
num alojamento anti-bombas né ... explodia com pessoas... milhares de
pessoas.... e ainda hoje a gente vê né? quando...quando é alguma coisa
do
interesse
é...
dominante...
da
classe
dominante
eles...eles
disfarçam...novamente o ... (D &G de Natal, narrativa de experiência
pessoal, língua falada, p.103).
Ao pronunciar o item no primeiro momento a frase foi cortada, isto é, o
informante precisou de tempo para refazer o seu pensamento. Ele reelabora a sua
61
fala usando um recurso linguístico que está arquivado em sua memória, por isso o
quando foi pronunciado, e o informante interrompeu o raciocínio. Nesse caso e nos
outros semelhantes, o item quando não foi contado. A frequência, neste contexto, foi
contada apenas uma vez, porque somente o segundo quando , usado na frase
completa, dá ideia de tempo. Em todos os corpora analisados, são muitos os casos
em que há truncamento de fala, isto é, na oralidade o usuário pode contar com
recursos como esse, o que é menos provável na escrita. Nela há uma preocupação
maior do falante pelo fato de saber, que ao ler o texto escrito, o autor nem sempre
está próximo para fazer correções ou refazer o trabalho com a linguagem. Por isso,
há um cuidado maior por parte dos informantes.
Nas próximas amostras, do número 3 ao número 5, as quais foram retiradas
do D & G de Natal, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, respectivamente, o item quando
indica a circunstância de tempo. Está fortemente marcada a temporalidade nos três
contextos distintos. Dessa forma, todas as vezes que acontecem casos como esses,
nós contamos o item que realmente manifestar a circunstância, seja ela de tempo ou
não. E percebemos que na maioria dos casos em que o item analisado apareceu,
condizem com a classificação atribuída pela gramática tradicional, ou melhor, essa é
a manifestação que prevalece em todos eles, exercendo o papel que a gramática
normativa apresenta.
Mesmo assim, surgem os outros sentidos já mostrados pelos estudos
citados anteriormente, porém em menos quantidade, mas que contradizem a
padronização do quando como indicador apenas de tempo. Ele surge manifestando
sentidos que variam desde sentido de tempo, perpassando pela condição até
aqueles que representam o sentido de lugar.
Amostra (3)
porque era um desafio... era um...mostrar pra mim que eu já era
homem...que eu já podia caminhar sozinho...longe de meus pais...da minha
terra e tudo mais...essa experiência que você viveu quando saiu de
Fortaleza....
falada, p. 94)
(D & G de Natal, narrativa de experiência pessoal, língua
62
Amostra(4)
quando eu... eu me virei pra conversar com(amiga) quando eu voltei a
olhar ele estava caído no chão... (D & G de Juiz de Fora, narrativa
experiencial, língua falada, p. 02)
Amostra(5)
eu vou contar uma história triste... eu tinha um/quando eu estudava no
segundo grau...quando eu fiz meu segundo grau...ali na Escola Estadual
Antonio Prado Junior... na Praça da Bandeira...eu tinha dois amigos...um era
o Jucinei e o outro era o Paulo... (D & G do Rio (a), narrativa recontada,
língua falada, p. 54)
Nessas três amostras, o item quando assume o papel de indicar a
circunstância de tempo, como nos diz a Gramática Tradicional. Ele apresenta um
alto índice de temporalidade e corresponde ao seu sentido tradicional. Por isso, foi a
base de nossa pesquisa buscar saber se, em todos os contextos, o seu sentido é o
mesmo ou se acontece alguma variação. Porém, é importante perceber que mesmo
o quando sendo temporal, ele pode surgir com uma ideia de maior ou menor
temporalidade em outras situações, apresentando uma tendência a exercer outros
sentidos e até mesmo assumir uma função que não é mostrada pela GT, como a
que se encontra na amostra (6):
63
Amostra (6)
Tenho um amigo chamado Enéas e ele contou-me que estava vindo da
faculdade em direção a sua casa e quando chegou perto de uma ponte,
começou a observar que estava sendo seguido, logo que percebeu isso, ele
começou a apertar suas passadas. Quando mais andava depressa, o
indivíduo se apressava e desesperando começou a correr, logo que chegou
do outro lado da rua ele percebeu q/ o sujeito também correu a acabou se
deparando com outro indivíduo e sendo cercado pelos dois... (D & G de Juiz de
Fora, narrativa recontada, língua falada, p. 18)
Percebemos que o segundo item quando na amostra (6), (Quando mais
andava depressa, o indivíduo se apressava) assume um caráter mais de proporção
que de tempo. À medida que ele andava mais rápido, o outro que o seguia também
acelerava os passos para que pudesse chegar mais próximo. Diferente do quando
que aparece no primeiro momento na mesma amostra (quando chegou perto de
uma ponte), no momento, na hora em que chegou próximo da ponte, pois uma ação
daquele se altera à medida que a outra também
se modifica, aparecendo uma
circunstancia distinta daquela que o quando assume na visão da gramática
normativa. Por isso, não é justo classificarmos as palavras baseando-nos apenas
em frases soltas e isoladas. É no contexto que podemos perceber as várias
possibilidades de funcionalidade de uma palavra.
Podemos, então, compreender que o quando pode surgir de forma mais
temporal e/ou menos temporal, dependendo do contexto em que está sendo usado.
E, em outros casos, pode até assumir verdadeiramente outra classificação, se
apresentar de maneira que desapareça o valor conectivo, mesmo com a indicação
que parece ser de tempo, é apenas uma forma de reforçar da circunstância,
conforme amostra de número 7.
64
Amostra (7)
Certo dia o homem ficou só em casa e a mulher dele e os filhos saíram para
acidade, o gato foi encontrado morto na beira da estrada, sujo, mais sem
ferimentos nenhum, o homem pegou o gato e enterrou no cemitério. Quando foi à
noite o homem estava em casa, quando o gato apareceu todo sujo e com miado
esquisito, muito agressivo, e querendo agredir o homem, pegou um cano e
assustou o gato. Quando foi no outro dia a família estava de volta e a filha dele
foi logo perguntando pelo gato, o pai dela inventou uma istória para enganá-la,
mas logo depois a menina ficou insistindo e ele dando desculpas. (D e G de Natal,
narrativa recontada, língua falada, p. 46)
Na amostra (7), aparecem três itens quando. Dois deles aparecem formando
uma expressão instigante: quando foi... Nas duas expressões quando foi à noite e
quando foi no outro dia, o sentido do quando é diferente desse outro: quando o
gato apareceu. Este último indica a circunstância de tempo, já nas duas expressões
anteriores o quando pode até indicar tempo por estar unido à expressão à noite e no
outro dia, no entanto a parte quando foi poderia ser omitida que não prejudicaria o
sentido da frase. “à noite o homem estava em casa e no outro dia a família
estava de volta” A partícula citada desaparece, mas a mensagem da oração é a
mesma, embora menos enfática. Nos três corpora, a frequência desse tipo de
expressão é uma constante, porém ela só aparece com mais ênfase na oralidade,
pode ser uma maneira de reforçar o momento do acontecimento.
4.2 USOS DO QUANDO EM NATAL/RN
No D & G de Natal, encontramos uma frequência de 641 (seiscentos e
quarenta e um) item quando, deixando de contar as formas truncadas, pois o
truncamento é um recurso linguístico muito usado na modalidade da língua falada,
pelo corte voluntário ou não do pensamento ou pelo tempo em que o falante leva
para organizar a fala. Quando há o truncamento, o item que aparece, no primeiro
momento, deixa de concluir a expressão do sentido que vai ser mais evidente na
65
forma seguinte. Assim, da frequência encontrada no D & G de Natal, 514
(quinhentos e catorze) apresentam o sentido prototípico temporal, 112 (cento e
doze) com sentido condicional, 6 (seis) proporcional, 8 (oito) de lugar e 1(um)
concessivo. O que constatamos na tabela 1, onde está contido o sentido do item
linguístico, o total de ocorrências e o valor em porcentagem.
TABELA 1 – O QUANDO NO D & G DE NATAL
Relação semântica do item
quando
Quando - Sentido de Tempo
Quando - Sentido de Condição
Quando - Sentido de Lugar
Quando - Sentido de Proporção
Número de
ocorrências
514
112
8
6
Valor em %
Quando - Sentido de Concessão
Total
1
641
0,2
100
80,2
17,5
1,2
0,9
De acordo com a tabela 1, o sentido mais recorrente do item quando é o que
manifesta o sentido prototípico de tempo, com um total de 514 (quinhentos e
catorze) ocorrências, representando, assim, 80,2% (oitenta virgula dois) por cento.
Em segundo lugar, com 112 (cento e doze) ocorrências, chegando a 17,5%
(dezessete vírgula cinco) por cento, aparece o quando indicando uma circunstância
mais de condição que de tempo. Em terceiro lugar, surge 8 (oito) quando com
sentido de lugar, representando 1,2% (um virgula dois) por cento. Esses números
vão aos poucos desmistificando o pensamento de que o item analisado deve ser
tratado apenas como temporal. Ele, pelo contexto e necessidades comunicativas, vai
assumindo outros sentidos e criando outras possibilidades de uso, com funções
novas para a forma já existente. E, por último, surge 1 ( um ) quando com um valor
concessivo, correspondendo a 0,2% (zero virgula dois ) por cento, do D & G da
cidade do Natal. Quase todos esses sentidos já foram encontrados em estudos mais
recentes como no de Ferreira(2008), com exceção do quando que se faz mais
espacial que temporal, nesse contexto. Ela não faz nenhuma referência ao
surgimento do quando expressando sentido de tempo com sobreposição de lugar.
Depois de apresentar a frequência do quando no corpus da cidade do Natal
através de tabela, trazemos
também algumas amostras dos tipos de relação
66
estabelecidas pelo quando e seus sentidos. Procedimento esse, que adotamos para
com os outros dois corpora analisados.
Quando com sobreposição do sentido de tempo
Amostra (8)
é ... tem uma que eu vivi quando eu estudava o terceiro ano científico lá no
Ateneu... né... é:: eu gostava muito do laboratório de química... (D & G de
Natal, narrativa de experiência pessoal, língua falada, p. 50).
Nesse caso, de certa forma, fica clara a noção de tempo. Como diz a própria
gramática normativa, a circunstância de tempo é expressa pela conjunção quando
no momento em que ela se refere a tempo. E, nesse caso, o sentido é o mesmo que
“na época”, “no ano”, “no período”. São sinônimos que poderiam substituir o quando
sem nenhum prejuízo para a compreensão da frase, pois mostra que a ideia aqui é
realmente temporal. Uma das formas de confirmarmos esse fato é substituí-lo por
outro advérbio que expresse a noção também de tempo. Para descobrirmos as
outras relações podemos proceder da mesma maneira, substituindo o quando por
outra conjunção que tenha o sentido idêntico ou aproximado.
Quando com sobreposição do sentido de condição
Amostra (9)
eu corro dois dias e três dias eu faço exercícios parado... localizados mesmo...
porque nós temos muitas barras aí ... nós temos paralelas é ... o ... alguns
garotos levam é ... material de alteres ... e então a gente faz um trabalho
localizado e na... eu no meu caso... quando quero... eu corro... (D & G de
Natal, descrição de local, língua falada, p.117).
67
Esse é um caso em que a conjunção apresenta um sentido também
condicional além do temporal, pois o quando pode ser substituído por uma
conjunção condicional “se” sem, no entanto, dificultar a compreensão da mensagem.
Fazendo a substituição, teríamos: Se eu quiser eu corro. Se não quiser, se não tiver
vontade, não há carreira nenhuma. O se pode ser o vocábulo da substituição. Há,
portanto, aqui uma intenção de condicionalidade e não apenas de temporalidade,
uma vez que condição e tempo são possíveis simultaneamente.
Mas a condicionalidade não é a única circunstância que foge do padrão
estabelecido pela GT. Existem outros casos em que o item quando se apresenta
com um sentido diferente, por exemplo, na amostra 10, em que ele expressa mais a
ideia de proporção que de tempo. Dessa maneira, é importante, pois, entender o que
significa proporção para a Gramática Normativa para se compreender o que
apresentamos. Para a GT, as conjunções subordinativas proporcionais são aquelas
que expressam a simultaneidade e a ideia de simultaneidade também está atrelada
a tempo, assim, a proporcionalidade da evolução dos fatos contidos na oração
subordinada acontece com relação aos fatos da oração principal. As conjunções
subordinativas proporcionais mais conhecidas são: à proporção que, à medida que,
quanto mais... (tanto) mais, quanto mais... (tanto) menos, quanto menos... (tanto)
menos,
quanto
menos...
(tanto)
mais
etc.
Analisando
essas
indicações,
compreendemos que o sentido do quando pode ser de tempo com sobreposição de
proporcionalidade de acordo com o que se apresenta da amostra 10
Quando com sobreposição do sentido de proporção
Amostra (10)
então a velocidade é bem pequena ... o floco vai ... vai andando também...
então o que é que vai acontecer? ...quando a velocidade é pequena o floco
é pesado...ele vai:: o floco vai decantar ... certo? por isso que chama
decantador... (D & G de Natal, relato de procedimento, língua falada,
p.198).
Aumentando a velocidade, ou melhor, à medida em que a velocidade é
aumentada, certamente o peso do floco vai diminuindo. Se ele pesa mais porque a
velocidade é pequena, é correto afirmar que o aumento da velocidade faz com que
68
esse peso vá aos poucos desaparecendo, isto é, um se modifica à medida em que
o outro passa a se modificar. O que poderia ser dito é que à proporção que uma
coisa vai acontecendo a outra também acontece.
Quando com sobreposição do sentido de lugar
Amostra(11)
Ítalo... mas me diz uma coisa é ... aquela área ali num é muito barulhenta
não ... quando começa o movimento dos carros? não... Marcos... é...
quando nós entramos cinquenta metros da ... Via Costeira ali da ... no lado
direito...nós já não ouvimos nada de carros...(D & G de Natal, descrição de
local, língua falada, p. 122)
Se considerarmos o sentido das palavras que se relacionam com o item
quando, na amostra 11, encontramos uma noção mais de espaço, de lugar que de
tempo.
Nesse
texto,
o
informante
descreve
um
local
e
comenta
que
aproximadamente cinquenta metros da Via Costeira, à distância de cinquenta
metros, naquela área, do lado direito, já não se ouvia o barulho de carros. À
distância, naquele local, o barulho de transporte desaparece. Percebemos que o
quando nesse trecho está indicando mais o espaço que percorre para que o barulho
desapareça que do que tempo decorrido. Outro caso mais claro que justifica o uso
do quando com sentido de lugar é o que se apresenta na amostra 12.
Amostra (12)
voltando pro... pro prédio dois tem também a lanchonete...do lado esquerdo
também quando você entra...lá...tem é o auditório...ao lado também tem o
... a sala dos professores...e o prédio dois... voltando pro... pro prédio dois
tem também a lanchonete né ... do lado esquerdo também quando você
entra...lá...tem a lanchonete...tem a secretari/ é a secretaria...tem a
tesouraria... (D & G de Natal, descrição de local, língua falada, p.09)
69
O uso do item quando não está indicando a hora em que a pessoa entra
naquela instituição, mas o local; é tanto que o informante vai aos poucos indicando
as referências de extremidade, de localização. Não é só na hora da entrada que
existem a lanchonete, a secretaria, a tesouraria, o auditório. Eles existem
independentemente de sua entrada, enfim esses espaços servem como ponto de
orientação para uma possível situação espacial e não temporal.
Quando com sobreposição do sentido de concessão
Amostra (13)
E: você costuma fazer de quê?
I: de... morango... morango e...é...é o que eu costumo fazer mais... até
quando eu tinha a essência dele... geralmente de frutas... natural...
E: frutas?
I: é... porque é natural né...aí fica melhor...(D & G de Natal,relato de
procedimento, língua falada p.287)
O informante diz que costuma preparar a receita com fruta natural, mesmo
tendo a essência, ele prefere a fruta que é natural. O fato de ter a essência em sua
casa não significa que tenha que preparar a receita com ela.
Mesmo apresentando as manifestações do quando com seus diferentes
sentidos, ainda há outras observações importantes a fazer em relação ao uso desse
item linguístico. Nos textos em que os informantes usam outros termos como aí e né,
o uso do item quando diminuiu bastante. Como a conjunção assume o papel de
conector, de fazer a ligação entre as orações ou termos destas, a presença
constante de outros vocábulos utilizados na fala como aí , né e daí vai aos poucos
fazendo desaparecer o uso do quando ou de outras conjunções. Isto é, a fala
possibilita o uso de outros recursos ao informante porque na realidade, algumas
delas t6em de fato, valor conjuntivo.
70
Amostra (15)
eu tinha i/ eu tinha” ido pro colégio...aí ti/ aí eu disse assim... “tia...minha irmã
vai bem cedinho pra casa”...aí tia ficou rindo...rindo...aí eu disse... “tia porque
tu tá rindo?” aí tia disse... “porque você me disse com bem muita graça” aí eu
comecei a rir também...tia/aí tia foi soltou todo mundo pra ir pro pátio. (D & G
de Natal, narrativa de experiência pessoal, língua falada, p.427)
Amostra (16)
eu vou contar um filme... que eu assisti faz pouco tempo...um...filme...eu
assisti no cinema...é Mudança de hábito...ele narrava a história de uma
mulher...né... que cantava à noite...cantava em boates...e ela tinha um caso
né...com um homem... que ele ...é... trabalhava...mexia assim com drogas...
não é?... com tráfico...um ladrão assim...né...(D & G de Natal, narrativa
recontada, língua falada, p.276)
Amostra (17)
o que que você tem pra me vender aí de três milhões de dólares?” daí ele
disse...”nada”...daí ele disse... “me arranja um carro” ele arranjou um carro todo
doido de picolé e fugiu com o carro...com a mulher...daí ele tava chupando
picolé...daí o homem chegou perto dele...do lado do carro...daí ele pegou o
picolé...jogou na cabeça do homem... (D & G de Natal, narrativa recontada,
língua falada, p.412-413)
A partir das amostras 15, 16 e 17, constatamos que o uso do quando diminui
nos contextos em que os itens aí né e daí foram usados, como já foi dito
anteriormente. Não é que essas expressões substituam o quando, mas como é
71
possível que elas exerçam a mesma função de ligar, conectar acabam por inibir a
frequência do quando, uma vez que outro termo já realizou o trabalho que deveria
ser feito por um conector. Não cabe aqui o estudo dessas partículas, são apenas
constatações que podem ser estudadas e analisadas em momentos distintos, caso
haja interesse de pesquisadores no assunto.
4.3 USOS DO QUANDO NO RIO DE JANEIRO
No D & G do Rio de Janeiro, a frequência do item quando foi de um total de
623 (seiscentos e vinte e três) item quando. Dessa forma, observando a
manifestação do sentido, o total de ocorrências do quando que manifesta o sentido
temporal é de 563 (quinhentos e sessenta e três) o que corresponde a
90,4%(noventa vírgula quatro) por cento, 58 (cinquenta e oito) item quando tem uma
sobreposição de relação condicional o que chega a 9,3 (nove vírgula três) por cento,
1 (um) que se manifesta com valor concessivo e 1(um) estabelecendo a relação de
lugar, que cada um desses dois últimos resultados representa( zero vírgula dois)por
cento, conforme se apresenta na tabela 2
TABELA 2 O QUANDO NO D & G DO RIO DE JANEIRO
Relação semântica do item quando
Quando - Sentido de Tempo
Quando - Sentido de Condição
Quando - Sentido de lugar
Quando - Sentido de Concessão
Total
Número de
ocorrências
563
58
1
1
623
Valor em %
90,4
9,3
0,2
0,2
100
Se o quando está passando por alguma variação de sentido, acreditamos
que possa ser substituído por outras conjunções que não sejam temporais, o que
justifica a classificação diferente nos corpora do Rio de Janeiro e no de Natal,
daquela que aprendemos nas escolas, isto é, o referido item se apresenta
72
assumindo outras funções. Assim, uma multifuncionalidade do quando vai surgindo
e com isso surge também a necessidade de verificarmos se este item está passando
pelo processo de mudança através do uso da língua.
Poderia, portanto, haver orientações nesse sentido tanto nas escolas quanto
nas universidades para que os nossos alunos fossem percebendo a necessidade de
entender que os sentidos das palavras podem estar ligados ao uso que o falante faz
delas. Especialmente, é importante entender função social da língua. Para melhor
entender essa manifestação de sentido do item quando, apresentamos as amostras
que vão de 16 a 19.
Quando com sobreposição do sentido de tempo
Amostra (16)
Eles então foram e interferiram no assalto houve perseguição e troca de tiros
entre meu marido, meu compadre, e os bandidos. Meu marido contou que
quando chegou em uma praça bastante movimentada os bandidos largaram
o carro e fugiram a pé, pois o combustível do carro deles tinha acabado... (D
& G do Rio(b), narrativa recontada, língua escrita, p.107)
Na amostra 16 poderíamos fazer a substituição do quando por expressões
de sentidos semelhantes, como: no momento ou na hora em que ele chegou na
praça. Se o item quando fosse substituído por uma dessas expressões,
perceberíamos que a circunstância de tempo é claramente apontada, nesse caso.
Ele manifesta aqui o sentido que realmente lhe é atribuído pela gramática normativa.
Mas isso não significa que em outros contextos ele se apresente exercendo a
mesma função, o mesmo sentido.
Quando com sobreposição do sentido de condição
Amostra (17)
73
no meio de ano assim eu senti falta do outro colégio...Campo Grande...
aí...minha mãe falou que talvez...quando eu passasse/ se eu passasse pro
segundo grau... ela ia me voltar pra lá...mas... que eu passei pra oitava
série...(D & G do Rio (b), relato de opinião, língua falada, p.15 )
O informante já usa o quando como uma condição, pois além de usar a
palavra talvez que indica apenas uma possibilidade, uma dúvida se ele será
aprovado ou não. Para se confirmar a ideia de condição, em seguida, ele ainda faz
uma correção substituindo o quando pela conjunção condicional se e reelabora a
frase “se eu passasse pro segundo grau”
Quando com sobreposição do sentido de lugar
Amostra (18)
Agora vou descrever como é este lugar: o Rio da Prata possui várias árvores, as
ruas do que temos que passar quando subíamos os morros não são calçadas,
são todas de barros e envolta é cercado de árvores e capins, mais adiante
vamos ver umas pedras granddes que vem escorrendo águas em finas, rios
bem largos com pedrinhas de várias cores (D& G do Rio de Janeiro(b),
descrição de local, língua escrita p. 08)
Nesse caso, o informante está descrevendo o Rio da Prata. Nessa
descrição, o quando poderia ser substituído pela expressão por onde tem que
passar. A referência a “os morros não são calçados”, pode está assim usada para
determinar o espaço e não o momento em que a pessoa passa por lá. Assim, os
morros e as ruas continuam a existir, no mesmo lugar independentemente de
horário, pois, ao dizer, “as ruas do que temos que passar quando subíamos os
morros não são calçadas, são todas de barros” Se fosse indicada a circunstância de
tempo, será que depois da passagem, as referidas estradas, ruas desapareceriam?
Isso não acontece. Dessa forma, as palavras “envolta”, “cercado de árvores” e “mais
74
adiante” ajudam a indicação de lugar, fazendo com que haja um esvaziamento de
sentido de tempo no referido item.
Quando com sobreposição do sentido de concessão
Amostra (19)
Deus mudou minha vida...eu era...muito...muito...sei lá...às vezes eu estava em
casa com minha irmã...e quando eu estava bêbado ninguém percebia que eu
estava bêbado... (D & G do Rio, relato de opinião, língua falada, p. 127)
O item quando nessa amostra pode ser substituído por uma conjunção
concessiva, que, iniciando uma oração subordinada, se refere a uma ocorrência
oposta à ocorrência da oração principal, não implicando essa oposição em
impedimento de uma das ocorrências (expressão das oposições coexistentes). De
acordo as informações da GT, as conjunções subordinativas concessivas mais
usadas são: embora, mesmo que, ainda que, posto que, por mais que, apesar de,
mesmo quando, etc.
Assim, é possível substituirmos a conjunção quando por qualquer uma das
conjunções concessivas acima e permanecer o sentido de concessão, como nos
exemplos: Embora eu estivesse bêbado, ninguém percebia. Mesmo que eu estivesse
bêbado, ninguém percebia... Dessa forma, vai sendo diminuído o sentido de tempo e
se destacado o de concessão.
4.4 USOS DO QUANDO EM JUIZ DE FORA
O D & G de Juiz de Fora apresenta 114 (cento e catorze) frequência do
quando. Desse número, 108 (cento e oito) estabelecem relação de tempo, o que
corresponde a 94,7% (noventa e quatro vírgula sete)por cento e 3 ( três) itens
quando com sentido de condição, o que equivale a 2,6% (dois vírgula seis)por cento,
2 (dois) quando expressando o sentido de consequência, que corresponde a 1,8
%(um vírgula oito) por cento
e 1 (um) quando com sentido de proporção,
75
equivalente a 0,9% (zero vírgula nove ) por cento , conforme apresentação da tabela
04.
TABELA 3 O QUANDO NO D & G DE JUIZ DE FORA
Relação semântica do item quando
Quando - Sentido de Tempo
Quando - Sentido de Condição
Quando - Sentido de Consequência
Quando - Sentido de Proporção
Total
Número de
ocorrências
108
3
2
1
114
Valor em %
94,7
2,6
1,8
0,9
100
Em percentual, dos três corpora analisados, o D & G de Juiz de Fora é o que
apresenta um maior número de itens quando com um total de 94,7% estabelecendo
a relação temporal. A relação de tempo nesse corpus se sobressai, em relação às
demais. No entanto, o surgimento dos novos sentidos atribuídos ao quando pode ser
um indício de tendências à gramaticalização. As amostras que vão do número 20 a
23 expõem manifestações do quando com os respectivos sentidos demonstrados na
tabela de número 3.
Quando com sobreposição do sentido de tempo
Amostra (20)
Depois quando o susto passou, meu pai pegou dois peixes, eu peguei um peixe
e seu amigo também pegou um...(D & G de Juiz de Fora,narrativa de experiência
pessoal, língua escrita, p.64) .
A palavra depois, segundo a GT, é um advérbio de tempo e o verbo passou
e pegou, que se encontram no pretérito perfeito do indicativo, podem ser
considerados um indício de que a relação estabelecida pelo item quando na amostra
é de tempo. A partir do uso do item quando no amostra 20, podemos interpretar
como
“no
momento
em
que
o
susto
passou”,
“na
hora
seguinte”,
76
“consequentemente”, “após”. Assim, o contexto e as palavras nele utilizadas,
contribuem para uma mudança de sentido do item quando.
Quando com sobreposição do sentido de condição
Amostra (21)
principalmente porque:: não...não rola mais isso... acho que ... eh ... as
pessoas só ficam grávidas quando querem...entendeu? ( D & G de Juiz de
Fora, língua falada, p. 28).
Nessa amostra 21, percebemos que o item quando estabelece mais uma
relação de condição que de tempo, em que o referido item poderia ser substituído
por uma das conjunções condicionais se ou caso. “as pessoas só ficam grávidas se
quiserem”, “caso queiram, as pessoas podem engravidar”. Assim sendo, a frase
permaneceria com o mesmo sentido transmitido pelo informante. Até porque ele
destaca que existem métodos anticoncepcionais hoje e que a pessoa pode ter uma
vida sexualmente ativa sem necessariamente engravidar, ter filhos. A não ser que
queira realmente ter filhos ou que não queiram usar o preservativo, o que
provavelmente levará a uma gravidez.
Já a amostra de número 22 apresenta outro caso de relação estabelecida
pelo item quando: a relação de consequência. Relação essa estabelecida pelas
conjunções que ligam duas orações, sendo que a segunda oração expressa a
consequência de uma situação proclamada na primeira oração. Geralmente, as
orações consecutivas são representadas por palavras (tão)... que, (tal)... que,
(tamanho)... que, (tanto)... que, de forma que, etc. No entanto, esse tipo de oração
está representado por uma conjunção que foge a esse padrão estabelecido pela
gramática normativa. E o quando assume, nesse novo contexto comunicativo, o
sentido de consequência.
77
Quando com sobreposição do sentido de consequência
Amostra(22)
Uma vez a minha colega me contou que o namorado dela vinha descendo um
morro super em pé de moto. Estava descendo uma garota também. O
namorado da minha colega foi olhar para esta bendita moça quando
desequilibrou e levou um tombo. (D & G de Juiz de Fora, narrativa recontada,
língua escrita, p. 53).
A queda indicada pela informante foi consequência da “olhada” em que o
moço direcionou a uma outra pessoa, a qual levou o rapaz ao desequilíbrio e, por
isso, ele sofreu um tombo. Segundo a GT, a conjunção consecutiva é aquela que
inicia uma oração na qual se indica a consequência da oração principal, geralmente
um “que” combinado com uma das palavras “tal”, “tanto”, “tão” ou tamanho,
presentes na oração anterior. Contudo, outra conjunção pode expressar a mesma
ideia de consequência sem apresentar essa sequência, como se deu na amostra
acima.
Quando com sobreposição do sentido de proporção
Amostra(23)
Começou a observar que estava sendo seguido, logo que percebeu isso,
ele começou a apertar suas passadas. Quando mais andava depressa o
indivíduo se apressava e desesperando começou a correr... (D & G de Juiz
de Fora, narrativa recontada, língua escrita, p. 18).
A ideia de proporção é mostrar que algo aumenta ou diminui à medida que
isso também vai acontecendo com outra coisa. Geralmente essa ideia é
representada pelas conjunções à medida que, à proporção que... Os passos de um
iam aumentando à medida que o outro também adiantava sua maneira de andar.
78
Esse quando estabelece uma proporção. Sentido também diferente do exposto pela
gramática normativa.
4.5 USOS DO QUANDO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Realizamos a leitura de todos os textos que formam os três documentos. E
encontramos uma frequência de (641 quando no D& G de Natal, 623 no do Rio de
Janeiro e 114 no do Juiz de Fora). O número de itens encontrado pode ser, dessa
forma, distribuído pelo total de produções que formam cada corpora, pois quanto
maior o texto, mais possibilidades de uso de um determinado vocábulo.
Com base nos dados coletados, percebemos que o quando surge com
vários outros sentidos nos três corpora analisados. Em nenhum deles apareceu
apenas o quando com sentido prototípico de tempo. Mesmo havendo uma
predominância em todos eles, outros sentidos como o de condição, de concessão,
consequência, proporção e de lugar estão presentes.
A constatação desse fato
fortalece a fala de Decat (2001, p. 123) quando diz que o conector quando exerce
outras funções porque todas estas relações lógico-semânticas podem estar
passando por um processo de “esvaziamento semântico”. Certamente é preciso se
esvaziar de alguma coisa que se está preenchido para que se possa se encher de
algo. O tempo e o espaço reconstroem os contextos, as situações comunicativas,
possibilitando essas novas manifestações do item estudado.
A partir dessas constatações, vai se admitindo que podem existir variações
de sentido e vão sendo mostrados os caminhos pelos quais o item quando vem
passando e tem passado ao longo dos anos, até se concretizar o processo de
gramaticalização e, por isso, também se justificam os outros sentidos assumidos por
ele em contextos distintos. Assim, de acordo com as afirmações feitas, a conjunção
pode realmente ter sofrido alterações de sentido através do tempo. O que será
exposto nas tabelas 4 e 5 que apresenta o resumo geral do uso do item quando e
seus respectivos sentidos manifestados nesse trabalho.
79
TABELA 4 RESUMO GERAL DO QUANDO NOS CORPORA
O item quando nos corpora
Quando - D & G de Natal
A
Número de
ocorrências
641
Valor em %
46,5
Quando - D & G do Rio de Janeiro
623
45,2
Quando - D & G de Juiz de Fora
114
8,3
Total
1378
100
tabela de número quatro representa o total de item quando que foram
encontrados nos três corpora, e que, após a análise feita, constatamos, na tabela
de número 5, os sentidos por ele assumidos.
TABELA 5 - OS SENTIDOS DO QUANDO NOS TRÊS CORPORA
Relação semântica do item quando
Quando - Sentido de Tempo
Quando - Sentido de Condição
Quando - Sentido de Lugar
Quando - Sentido de Proporção
Quando - Sentido de Consequência
Quando - Sentido de Concessão
Total
Número de
ocorrências
1185
173
9
7
Valor em %
2
0,1
2
1378
0,1
100
86,0
12,6
0,7
0,5
O total geral de ocorrências do item quando encontrado nos corpora
analisados somou 1.378 (mil trezentos e setenta e oito), sendo 641 no D & G de
Natal, 440 no D & G do Rio de Janeiro (b), 183 no D & G do Rio de Janeiro (a), e
114 no D & G de Juiz de Fora. Desses, 1185 (mil cento e oitenta e cinco)
estabelecem uma relação temporal. Os demais quando apresentam novos sentidos,
como, por exemplo, 173 (cento e setenta e três) itens quando com sentido
condicional, 9 (nove ) espacial, de lugar, 7 (sete) com valor proporciona, 2 (dois) que
80
estabelecem relação de concessão e 2 (dois)
consecutivo. Sentidos esses não
comentados e nem explorados pela gramática normativa.
Achamos importante citar ainda algumas constatações importantes, as quais
podem nos ajudar na compreensão do resultado geral. Na maioria dos textos da
modalidade oral, aparece um número maior do quando que nos textos escritos. É
também nessa modalidade que se apresenta uma diversidade maior de sentidos,
Todos os informantes desde a classe de alfabetização até o terceiro grau fazem o
uso do item quando.
São exigências que a língua faz ao usuário, pela própria
necessidade, uma vez que este não faz uso desses termos somente por querer,
mas porque o uso real da língua possibilita o falante o que mais se adapta ao
momento da fala. Os informantes de alfabetização,por exemplo, usam muito bem as
conjunções no texto oral, como se apresenta na amostra de número 23.
Amostra (23)
aí...quando é ...criança...tem um bocado de brinquedo...quando é adulto
joga tudo fora...((riso)) como a minha mamadeira... eu só tomei mamadeira
até cinco ano...quando foi no meu aniversário... tia colocou no lixo...eu
chorei tanto... e eu fiquei segurando meu primo...( D & G de Natal, relato de
opinião, língua falada, p. 208)
Na amostra 23, a informante usa o item quando com a mesma habilidade
com que os informantes dos outros níveis de ensino também o fazem, mas na
escrita, algumas delas não fazem a ligação das orações com esse conector, pois
para as crianças, a escrita ainda parece ser algo muito complicado, principalmente,
na fase de alfabetização. Para se comunicar através da escrita, é necessário saber
fazer uso de algumas regras que a língua estabelece, o que na infância ainda está
em desenvolvimento. E, na maioria das vezes, o que as crianças conhecem ou
entendem de gramática é o que se ensina na escola e pelo pouco tempo que elas
têm de escolaridade, não apresentam tanta desenvoltura, ou mesmo a habilidade de
organizar as palavras em frases mais longas. E porque, nessa faixa etária, as
construções que elas conseguem através da modalidade escrita são frases curtas, e
81
os textos que elas produzem, geralmente, são organizados com pequenas
sentenças como na amostra (24)
Amostra (24)
Eu gosto di se criamsa poqe Eu gamno caiXa de chocolate brico
não
arumo casa i gamno briqedo. Aduto e rui poqe não gamna briqedo. (D & G
de Natal, relato de opinião, língua escrita, p.209)
Na amostra 24, o quando não aparece. O texto é a transcrição da
modadlidade falada para a escrita, feita pelo mesmo informante, que aquela
apresenta várias vezes o item em análise, mas desaparecem quando a modadlidade
da língua varia.
4.5.1. O quando nos gêneros textuais
O item quando aparece em todos os gêneros textuais, nos três D & G
analisados, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Mas foi na narrativa de
experiência pessoal que apareceu uma maior frequência do item estudado: um total
de 428 (quatrocentos e vinte e oito) ocorrências. Esse fato pode estar diretamente
ligado ao fato desse gênero textual ter como características principais a sequência
temporal dos fatos narrados. Em segundo lugar, aparece muito próxima, a narrativa
recontada com um total de 410 (quatrocentos e dez) ocorrências do item quando. O
terceiro colocado é o relato de procedimento com 201 (duzentos e um), seguido do
relato de opinião com uma frequência de 173 itens e, por último e em menor
quantidade, aparece a descrição de local com 139 ocorrências, uma vez que o
objetivo maior da descrição, é indicar as características existentes e não estabelecer
sequência de fatos como faz a narrativa.
82
TABELA 6 – O ITEM QUANDO NOS GÊNEROS TEXTUAIS
GÊNEROS TEXTUAIS
Narrativa de experiência pessoal
Número de
ocorrências
428
Narrativa recontada
Relato de procedimento
Relato de opinião
Descrição de local
Total
Valor em %
31,7
410
201
173
139
1351
30,3
14,9
12,8
10,3
100
4.5.2 O quando na modalidade oral e escrita
Na modalidade oral, o item quando apresenta uma frequência maior que a
escrita. Ela se sobressai com um total de 1036 (mil e trinta e seis) quando nas
produções orais dos corpora. Na oralidade, o informante tem mais liberdade de
expor o pensamento, sem se policiar tanto quanto o faz na escrita. O sentido que
mais aparece na referida modalidade é o temporal, mas ele não é o único. Surgem
outros como o condicional, proporcional, concessivo e consecutivo. E ele aparece
nos cinco gêneros trabalhados nos corpora.
TABELA 7 - O ITEM QUANDO NA FALA E NA ESCRITA
MODALIDADES
Oral
Número de
ocorrências
1036
Valor em %
75,2
Escrita
342
24,8
Total
1378
100
Nas tabelas de número 8 a 13 apresentamos os sentidos manifestados pelo
item quando, em todos os níveis de escolaridade.
83
TABELA 8 – O QUANDO COM SENTIDO DE TEMPO POR D & G
O quando com
Ensino
Sentido de
Infantil
tempo por D & G
D & G de Natal
17
D & G do Rio de
94
Janeiro
D & G de Juiz de
13
Fora
Total
124
4ª série do
Ensino
Fundamental
52
220
8ª série do
Ensino
Fundamental
101
102
21
293
Ensino Ensino
Médio Superior
182
86
162
61
26
27
21
229
295
244
No que se refere ao quando com sobreposição de tempo, percebemos que
ele apareceu em todos os níveis de ensino. Até os informantes de Ensino Infantil
usaram uma boa frequência.
TABELA 9 – O QUANDO COM SENTIDO DE CONDIÇÃO POR D & G
O quando com
Ensino
Sentido de
Infantil
condição por D
&G
D & G de Natal
2
D & G do Rio de
6
Janeiro
D & G de Juiz de
_
Fora
Total
8
4ª série do
Ensino
Fundamental
8ª série do
Ensino
Fundamental
Ensino Ensino
Médio Superior
4
15
28
20
47
9
31
8
_
1
1
1
19
49
57
40
O quando com sobreposição do sentido de condição, aparece nos três
corpora e exceto no Ensino Infantil e na 4ª série do Ensino Fundamental do D & G
de Juiz de Fora.
84
TABELA 10 – O QUANDO COM SENTIDO DE PROPORÇÃO POR D & G
O quando com
Ensino
Sentido de
Infantil
proporção por D
&G
D & G de Natal
D & G do Rio de
Janeiro
D & G de Juiz de
Fora
Total
-
4ª série do
Ensino
Fundamental
8ª série do
Ensino
Fundamental
Ensino Ensino
Médio Superior
-
1
-
1
-
4
-
-
-
-
1
-
1
1
5
Com sobreposição do sentido de proporção, o quando é usado pelos
informantes da 8ª série do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no Ensino
Superior. Os outros dois níveis de ensino não apresentam nenhuma frequência do
quando com esse sentido.
TABELA 11 – O QUANDO COM SENTIDO DE CONCESSÃO POR D & G
O quando com
Ensino
Sentido de
Infantil
concessão por D
&G
D & G de Natal
D & G do Rio de
1
Janeiro
D & G de Juiz de
Fora
Total
1
.
4ª série do
Ensino
Fundamental
8ª série do
Ensino
Fundamental
Ensino Ensino
Médio Superior
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
O quando com sentido de concessão aparece uma vez no Ensino Médio do D
& G de Natal e uma no Ensino Infantil do D & G do Rio de Janeiro.
85
TABELA 12 – O QUANDO COM SENTIDO DE LUGAR POR D & G
O quando com
Ensino
Sentido de lugar Infantil
por D & G
D & G de Natal
D & G do Rio de
Janeiro
D & G de Juiz de
Fora
Total
-
4ª série do
Ensino
Fundamental
-
8ª série do
Ensino
Fundamental
2
-
-
Ensino Ensino
Médio Superior
3
1
3
-
-
-
-
2
4
3
Pela nossa leitura, o item quando expressa o sentido de lugar e ele aparece
nos três níveis de ensino mais elevados que aparecem na tabela 12. O D & G de
Juiz de Fora não apresenta essa sobreposição de sentido.
TABELA 13 – O QUANDO COM SENTIDO DE CONSEQUÊNCIA POR D & G
O quando com
Ensino
Sentido de
Infantil
consequência
por D & G
D & G de Natal
D & G do Rio de
Janeiro
D & G de Juiz de
Fora
Total
-
4ª série do
Ensino
Fundamental
8ª série do
Ensino
Fundamental
Ensino Ensino
Médio Superior
-
-
-
-
-
1
-
1
-
1
-
1
Na 8ª série do Ensino Fundamental e no Ensino Médio apresentam um item
quando expressando o sentido de consequência. Nos outros dos corpora, esse
sentido não é expresso em nenhum dos níveis de ensino.
A análise do sentido do quando por nível de ensino ou escolaridade mostra
que todos os níveis fazem uso do quando seja com uma sobreposição do sentido de
86
tempo seja com outros sentidos e quem define o sentido em que o item é usado é o
contexto e a necessidade linguística que o informante tem para se comunicar.
4.5.3 O quando na linguagem dos homens e das mulheres
Dos 1.378 (mil trezentos e setenta e oito) itens quando encontrados nos
corpora analisado 623 (seiscentos e vinte e três) foram usados por pessoas do sexo
masculino O item quando apareceu 755 (setecentos e cinquenta e cinco) vezes, nos
textos de informantes do sexo feminino, tendo as mulheres usado o item quando 132
(cento e trinta e duas) vezes a mais que os homens.
No entanto, essa diferença pode está relacionada ao número de informantes.
Os dois sexos fazem usam do item quando assumindo tanto o sentido de tempo
quanto o de condição, proporção, concessão e consequência. E quanto a variável
sexo, é importante lembrar que esse é um dos aspectos que podem mostrar a
mudança de sentido de determinadas palavras. E as mulheres têm um vocabulário
ou linguagem que difere da linguagem masculina, em alguns casos.
TABELA 13 – O QUANDO NA LINGUAGEM DOS HOMENS E DAS MULHERES
Informantes
Masculino/Feminino
Número de
ocorrências
Valor em %
Mulheres
Homens
755
623
54,8
45,2
Total
1378
100
Após a análise do item quando, constatamos que há uma forte presença de
duas conjunções juntas sem ser locução, iniciando uma segunda oração. Fato esse
também não comentado e nem estudado pela GT, pois de acordo com as normas
gramaticais, a oração recebe sua classificação de acordo com a conjunção que a
inicia.
E foram muitos os casos em que apareceram duas ou mais conjunções
iniciando uma oração. Poderia ser esse um caminho para outra grande e boa
87
pesquisa, por isso que não serão expostos e nem comentados nesse trabalho, uma
vez que o nosso foco foi outro.
88
CONCLUSÃO
A partir da análise do material escolhido, percebemos que o item quando,
nos corpora D & G de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora assume outros sentidos
diferentes daquela classificação atribuída pela Gramática Tradicional, pois enquanto
esta apresenta o item em estudo como conjunção subordinada adverbial temporal,
ele surge assumindo funções distintas. O quando apareceu com valor condicional,
consecutivo, proporcional, concessivo e de lugar como é o caso dos D & G
analisados. Mas para perceber esse fato, precisamos do auxílio de uma teoria
adequada à situação. E foi embasando-nos na abordagem funcionalista que
encontramos esse resultado, pois para o funcionalismo linguístico e sua gramática
devem ser pontos centrais: o uso da língua em relação a todo o sistema, o
significado em relação às formas linguísticas e o social em relação às escolhas
individuais do falante (Cf. NEVES, 2004).
Na investigação feita, no corpus D & G de Natal, obtivemos um total de 641
ocorrências do item quando, sendo que desses 514, corresponde a 80,2% do total e
apresentavam o sentido preconizado pela gramática tradicional: o quando com
sentido temporal; 112, correspondendo a 17,5% por sua vez, apresentavam sentido
de condição; 8, correspondendo a 1,2% do total, apresentavam sentido de lugar; 6,
correspondendo a
0,9%
do total, apresentavam sentido de
proporção e 1,
correspondendo a 0,2% do total, apresentava sentido de concessão.
No D & G do Rio de Janeiro, a frequência do item quando foi de 440
(quatrocentos e quarenta) no D & G Rio (b) e 183 (cento e oitenta e três) no Rio (a),
ficando a soma das duas partes num total de 623 (seiscentos e vinte e três) itens
quando. Dessa forma, o Rio de Janeiro (b) apresenta 398 (trezentos e noventa e
oito) onde o quando manifesta o sentido temporal, 41(quarenta e um) condicional, e
1 (um) concessivo. Já o Rio de Janeiro (a) apresenta 183 (cento e oitenta e três)
estabelecendo a relação temporal, 17(dezessete) com valor condicional e 1(um) de
com sentido de lugar.
O D & G de Juiz de Fora apresenta uma frequência de 114 (cento e catorze)
itens quando. Desse número, 108 (cento e oito) estabelecem relação de tempo, o
que corresponde a 94,7 (noventa e quatro virgula sete)%, 3 (três) itens quando com
sentido de condição, o que equivale a 2,6 (dois virgula seis) %, 2 (dois) quando
89
expressando o sentido de consequência, que se refere a 1,8 (um virgula oito)% e 1
(um) quando com sentido de proporção, equivalente a 0,9 (zero virgula nove )% .
O total geral de itens quando encontrado, nos corpora analisado, somou ao
todo 1.378 (mil trezentos e setenta e oito), sendo 641 no D & G de Natal, 440 no D &
G do Rio de Janeiro (b), 183 no D & G do Rio de Janeiro (a) e 114 no D & G de Juiz
de Fora. Desses, 1185 (mil cento e oitenta e cinco) estabelecem uma relação
temporal. Mesmo assim, surgem outros quando com novos sentidos, como por
exemplo, 173 (cento e setenta e três) itens quando com sentido condicional, 02(dois)
que estabelecem relação de concessão, 7 (sete) com valor proporcional, 2 (dois)
consecutivo e 9 (nove) espacial, de lugar. Sentidos esses, não comentados e nem
explorados pela gramática normativa.
Observamos, na análise que, mesmo exercendo a sua classificação
prototípica de circunstância de tempo, em muitos dos casos, ele aparece
expressando
em
outras
circunstâncias:
condição,
concessão,
proporção,
consequência e lugar. Isso vem confirmar que o Funcionalismo é a teoria linguística
adequada ao nosso trabalho, por tratar do estudo da relação entre a estrutura
gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são
usadas. Esses diferentes contextos em que o usuário da língua se apropria da
palavra para formular o seu discurso tem influência e ajuda a determinar a função
que cada item pode assumir.
A manifestação de novos sentidos para as formas já existentes revelam o
caráter dinâmico da língua, caracterizando-se uma possível variação ou mudança
linguística que acontece por meio do processo da gramaticalização a qual é
estudada através do Funcionalismo. De acordo com pensamento dos estudiosos
dessa corrente teórica, os sentidos das formas linguísticas podem se tornarem
novos dependendo do uso que fazemos, isto é, dependendo da necessidade do
falante já que o discurso comporta formas pré-estabelecidas que, em razão das
situações comunicativas e circunstâncias discursivas, podem ter os seus sentidos
alterados. E, assim, vão surgindo novas funções, num movimento contínuo, uma vez
que a língua não é estática.
E se ela não é estática, há sempre possibilidade de mudanças que, ocorridas
numa determinada língua, precisam ser compreendidas como movimentos iniciados
a partir do momento em que um sujeito produz seu discurso para um interlocutor
particular em situação comunicativa ímpar (Cf. MARTELOTTA, 2003). Desta feita, se
90
a gramática da língua a qual também possui restrições, limita a produção discursiva
por um lado, por outro, ela pode constituir um processo criador no qual o falante
pode se utilizar de algumas formas com outros sentidos segundo as restrições de
sua cognição e de acordo com as necessidades impostas pelo contexto. Essas
restrições podem se estabelecerem como situações de mudanças, caso sejam
percebidas, apreciadas e adotadas, ou seja, elas podem se tornar permanentes ou
não. De outra forma, os novos sentidos manifestados pelas palavras estão
associados a forças extralinguísticas de caráter inovador, como o propósito
comunicativo de cada falante, o contexto e a modalidade do gênero textual.
Por tudo isso, é importante observar que, mesmo o sentido prototípico de
tempo, tendo se manifestado ainda com muita frequência, a presença dos demais
sentidos nos três corpora, em todos os níveis de ensino, em todos os gêneros
textuais e na modalidade oral e escrita, se constitui como uma manifestação da
linguagem em uso e pode ser uma tendência do item quando ao processo de
gramaticalização. Esse fato vem reforçar a ideia de que a gramática da língua
origina-se do discurso como é apontado por Givón (2001).
Tudo isso fortalece o que a teoria funcionalista defende, que é direcionar um
olhar para a linguagem em uso, em ação, pois essa forma de olhar as palavras vai
aos poucos mostrando que a gramática tradicional não cobre todas as exigências
que a língua impõe, uma vez que ela sofre alterações dependendo do contexto e
das situações.
Segundo Neves (2004), o Funcionalismo se interessa em analisar como se
dá a comunicação a partir de uma língua natural, ou seja, como os usuários desta
língua se comunicam com eficiência. Isso significa colocar sob exame a
competência comunicativa do falante, levando em conta as estruturas das
expressões linguísticas consideradas como configurações de funções.
Portanto, no Funcionalismo, ao se analisar uma situação comunicativa, são
observados todos os envolvidos no processo: o contexto, os propósitos da fala e os
participantes. Sob essa perspectiva, podemos dizer que o termo função é entendido
como a junção do estrutural (sistêmico) com o funcional (NEVES, 2006).
Com isso, podem ser abertos novos caminhos para que busquemos outros
estudos, outras análises de problemas ou de situações que envolvem o uso da
linguagem. Uma sugestão seria estudar a língua em uso partindo das aulas de
língua portuguesa, tanto nas escolas quanto nas universidades, trabalhando dessa
91
maneira, o ensino deixaria de ser artificial, como comumente fazemos quando
apenas reproduzimos o que está nos livros didáticos.
Em outras palavras, se quisermos um ensino produtivo, precisamos
conhecer a função mais importante da língua que não é outra senão a de
proporcionar interação entre os usuários da língua, que atuam ora enquanto
falantes, ora como ouvintes. Consequentemente, deveríamos repassar isso para o
nosso aluno que, aos poucos pode perceber que a gramática de uma língua natural
é dinâmica e flexível, adaptando-se às pressões internas e externas de forma
contínua nas interações.
92
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, N. M. Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva,
1979.
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola
Editorial, 2003.
ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola
Editorial, 2005.
AZEREDO, J.C. de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2004.
BAKHTIN, M. (Volochinov). Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução de
Michel Lahud, Yara Frateschi Vieira. São Paulo. Hucitec, 2009.
BARRETO, T. M. Gramaticalização das conjunções na história do português.
Salvador, 1999. Tese (Doutorado em Letras) – Instituto de Letras, Universidade
Federal da Bahia.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretária da Educação
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa – 5ª a 8ª
séries. Brasília: SEF, 1998.
CASTILHO, A. T. de. A gramaticalização. Estudos linguísticos e literários.
Salvador: Universidade Federal da Bahia, n. 19, pp. 25-63, mar. 1997.
CHAGAS, P.A. Mudança linguística. In: FIORIN. J.L. (org). Introdução à linguística:
Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2003.
COELHO, S. M. Estudo diacrônico do processo de expansão gramatical e
lexical dos itens ter, haver, ser, estar e ir na língua portuguesa.2006.321fl. Tese
(doutorado) – Universidade Federal Minas Gerais, Faculdade de Letras. Belo
Horizonte.
CUNHA, C. F. Gramática da Língua Portuguesa. FAE. Rio de Janeiro
CUNHA, Gustavo Ximenes. Análise do funcionamento atípico do conector
quando como marca de reformulação. ReVEL, v. 9, n. 17, 2011. [www.revel.inf.br].
CUNHA, M. A. F. da. Funcionalismo. In: MARTELOTTA, Mário Eduardo (Org.).
Manual de linguística. São Paulo, Contexto, 2008, p. 157-176.
DUBOIS, J.; G. M. et al. Dicionário de Linguística. São Paulo: Editora Cultrix, 19992004.
93
DUCROT, O. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987.
DUCROT, O. Dizer-não dizer, princípios de semântica linguística. São Paulo:
Cultrix,1977.
FERREIRA. V. P. A conjunção subordinativa quando: uma análise funcional –
discursiva. Rio de Janeiro: 2009. Dissertação (Mestrado em letras) Universidade
federal do Rio de Janeiro.
FRANCHI, C. Mas o que é mesmo “gramática”? São Paulo: Parábola Editorial,
2006.
FURTADO DA CUNHA, Maria Angélica. (Org.). Corpus Discurso & Gramática – a
língua falada e escrita na cidade do Natal. Natal: EDUFRN, 1998.
FURTADO DA CUNHA, Angélica. Funcionalismo In: MARTELLOTA, M. E. (org.).
Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2008.
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro. FGV, 1990.
GERALDI, J. W. Portos de passagem. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes,1997.
GIVON, T. Historical sintax and synchonic morfology:na archealogist’s field
trip. Chicago Linguistic Society 7, 1971.
GUIMARÃES. E. Texto e argumentação: um estudo de conjunções do
português. São Paulo: Pontes 4 ed. 2007.
HOPPER, P. J.; TRAUGOTT, E. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge
University Press, 1993.
KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997.
KOCH, I. V. A articulação entre orações no texto. In cadernos de estudos
linguísticos, Campinas, (28):9-18, jan/jun.1995.
LUCHESI, D. Fora de órbita. In: Discutindo Língua Portuguesa. São Paulo: Escala
Educacional, 2006.
MEILLET, A.
Lévolution des formes gramaticales. In: Linguistique historique et
linguistique générale, Paris: Champion, 1912.
NEVES, M. H. de M. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
NEVES, M. H. de M. A gramática: história, teoria e análise, ensino. São Paulo:
Editora UNESP, 2002.
OLIVEIRA, M. R. ; VOTRE, S. Corpus discurso & gramática: a língua falada e
escrita da cidade do Rio de Janeiro: EDFURN, 1995.
94
OLIVEIRA, M. R. ; VOTRE, S. Corpus discurso & gramática: a língua falada e
escrita da cidade de Juiz de Fora: EDFURN, 1995.
PERINI, M. A. Para uma Nova Gramática do Português. Série Princípios. São
Paulo: Ática, 1995.
ROCHA LIMA, C. H. da. Gramática normativa da língua portuguesa. 26 ed. Rio
de Janeiro: José Olympio, 1985.
SANDMANN, J. Análise e crítica da classificação tradicional e construtural dos
coordenativos. Curitiba: UFPR, 1982.
SANTOS, C. F A formação em serviço do professor e as mudanças no ensino
de língua portuguesa. ETD-Educação Temática digital, Campinas, 2002.