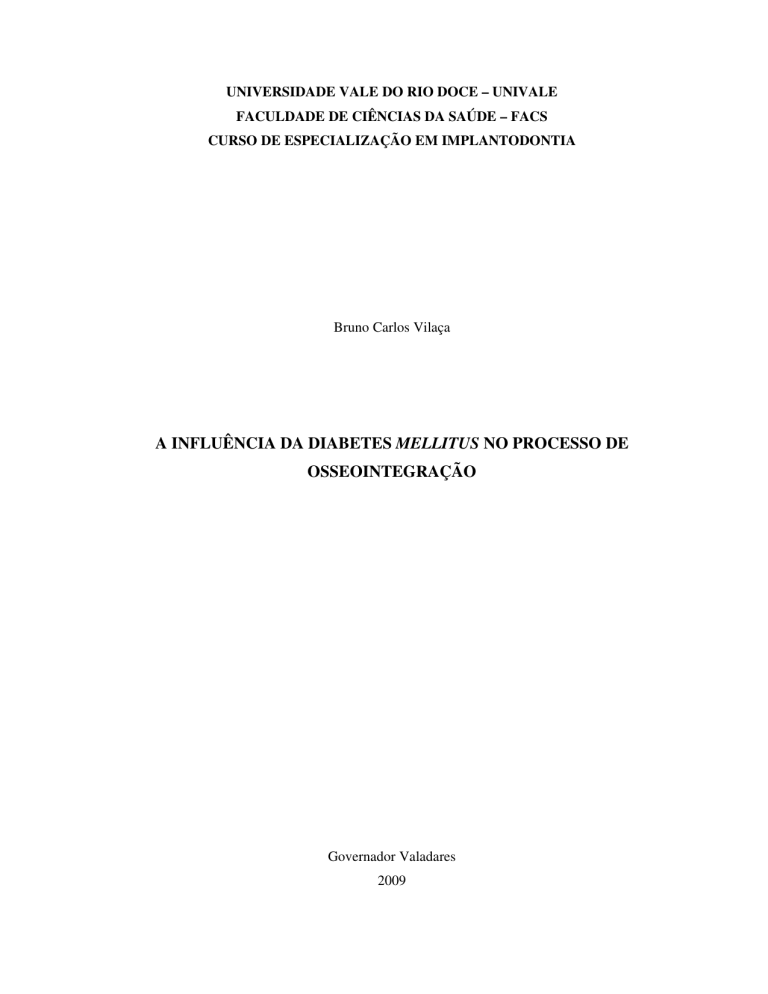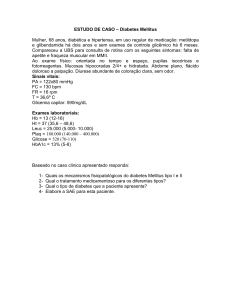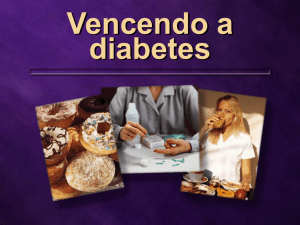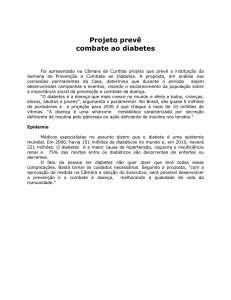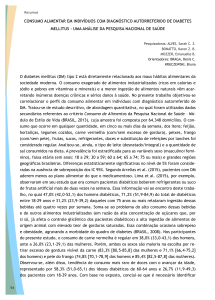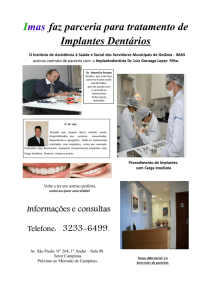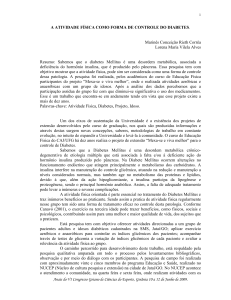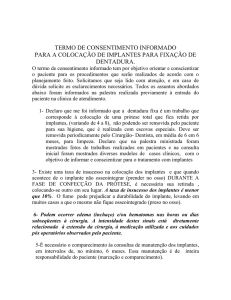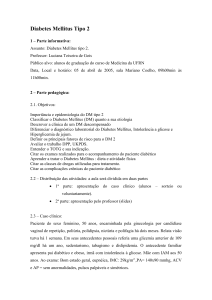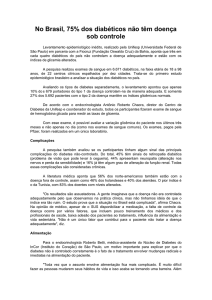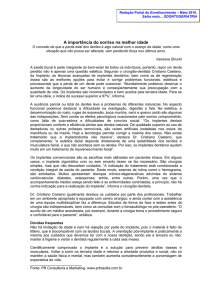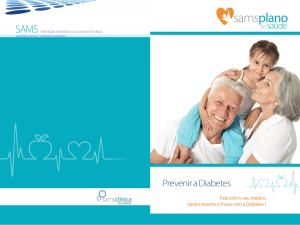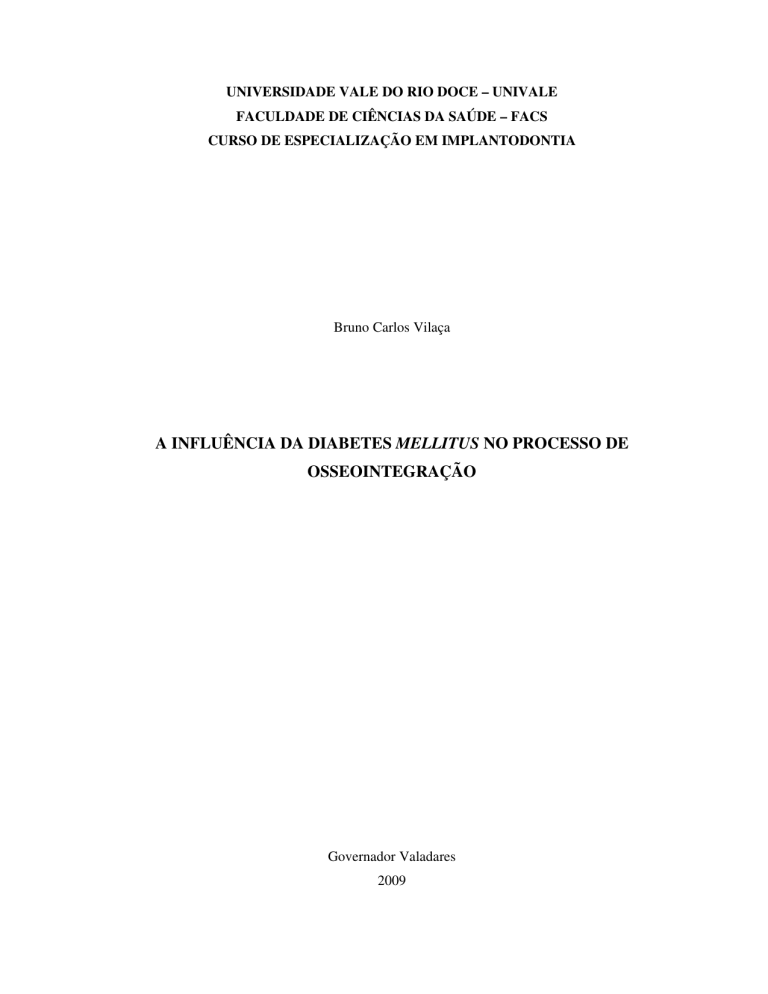
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FACS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
Bruno Carlos Vilaça
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Governador Valadares
2009
BRUNO CARLOS VILAÇA
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Monografia
submetida
ao
curso
de
Especialização em Implantodontia da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce, como requisito para obtenção do título
em especialista em Implantodontia.
Orientador: Ms. Celso Henrique Najar Rios
Governador Valadares
2009
BRUNO CARLOS VILAÇA
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Monografia
submetida
ao
curso
de
Especialização em Implantodontia da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce, como requisito para obtenção do título
em especialista em Implantodontia.
Governador Valadares, ____ de outubro de 2009.
Banca Examinadora
__________________________________________
Prof. Ms. Celso Henrique Najar Rios
Universidade Vale do Rio Doce
__________________________________________
Prof. Ayla Norma Ferreira Matos
Universidade Vale do Rio Doce
__________________________________________
Prof. Suely
Universidade Vale do Rio Doce
Dedico a Deus, Senhor absoluto da minha vida,
que esteve presente em todos os momentos desta
caminhada, do início até a concretização deste
sonho. Obrigada pela dádiva desta conquista. A
minha avó Delina e minha tia Maria, vocês
serão sempre exemplos a ser seguidos em minha
vida. Amo vocês!
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, pela força e perseverança;
Aos meus pais Jurandir e Marineuza pelo apoio e auxilio nos momentos difícies e
obrigado por cada mão que vocês estenderam nos momentos de desespero, a Deleon e Ramon
que além de irmãos, são parceiros e amigos. Amo todos vocês;
Á minha avó Laura, pelas constantes orações;
À minha noiva Roberta, pelo companheirismo, compreensão, carinho, amor e, por
compreender meus momentos de ausência;
Aos meus professores, pela dedicação, incentivo e, ao orientador Prof. Ms. Celso
Henrique Najar Rios por não medir esforços na realização desse trabalho;
A todos os meus colegas de curso, em especial a Luíz e Stella por momentos de
aprendizado juntos;
A Lili, minha ACD e amiga e a Dra. Fernanda Matos, pela amizade sempre;
A minha equipe de PSF, em especial a Dra. Kamila, por me inspirar a trabalhar em
equipe;
E a todos, que direta e indiretamente contribuíram para realização deste.
5
“Falar é completamente fácil, quando se tem palavras em mente que
se expresse sua opinião...
Difícil é expressar por gestos e atitudes, o que realmente queremos
dizer.
Fácil
é
julgar
pessoas
que
estão
sendo
expostas
pelas
circunstâncias...
Difícil é encontrar e refletir sobre os seus próprios erros.
Fácil é fazer companhia a alguém, dizer o que ela deseja ouvir...
Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer a verdade quando for
preciso.
Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre a
mesma...
Difícil é vivenciar esta situação e saber o que fazer.
Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo o deixa
irritado...
Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece.
Fácil é viver sem ter que se preocupar com o amanhã...
Difícil é questionar e tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às
vezes impetuosas, a cada dia que passa.
Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar...
Difícil é mentir para o nosso coração.
Fácil é ver o que queremos enxergar...
Difícil é saber que nos iludimos com o que achávamos ter visto.
Fácil é ditar regras e,
Difícil é segui-las”...
Carlos Drummond de Andrade
6
RESUMO
Este estudo teve como tema “A influência da Diabetes mellitus no processo de
osseointegração”, com o objetivo de pesquisar, através de revisão de literatura, a influência do
processo de osseointegração na reabilitação oral através de implantes dentários em pacientes
diabéticos, verificando as indicações e contra-indicações para aplicações clínicas. Concluiu-se
que o diabetes não é uma contra-indicação absoluta para a colocação de implantes dentários.
O importante é o paciente a ser implantado nestas condições mantê-la controlada,
especialmente durante o período de osseointegração. É recomendável que os pacientes nesta
condição, já na primeira consulta, revelem o fato e realizem um controle mais estrito que
inclua o uso de hipoglicemiantes orais ou de insulina, além da orientação adequada de uma
dieta, para que a doença seja controlada e o tratamento para a colocação dos implantes possa
ser realizado com maior segurança.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Osseointegração; Reabilitação Oral; Implantes Dentários.
7
ABSTRACT
This study had the theme "The influence of diabetes mellitus in the process of
osseointegrated" with the aim of searching through literature review of the influence of the
process of osseointegrated in oral rehabilitation through dental implants in diabetic patients,
noting the indications and contra-indications for clinical applications. It was concluded that
the diabetes is not a contraindication for the absolute laying of dental implants. What is
important is the patient to be implanted in these conditions to keep it controlled, especially
during the osseointegração. It is recommended that patients in this condition, since the first
consultation, reveals the fact and make a more strict control that includes the use of oral
hypoglycemic agents or insulin, in addition to the guidance of a proper diet, so that the
disease is controlled and treatment for the placement of implants can be performed with
greater security.
Key-words: Diabetes Mellitus; Osseointegrated; Oral Rehabilitation; Dental Implants
.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL) pra diagnóstico de diabetes
Mellitus e seus estágios pré-clínicos..............................................................................
15
Figura 2- Implantes mandibulares com abutments......................................................
21
Figura 3 - Radiografia panorâmica dos implantes mandibulares................................
21
Figura 4 - Implantes mandibulares com Hader bar....................................................... 22
Figura 5 - Prótese total mandibular posicionada........................................................... 22
9
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................
10
2 METODOLOGIA.......................................................................................................
12
3 REVISÃO DE LITERATURA..................................................................................
13
3.1 DIABETES MELLITUS............................................................................................
13
3.2
INFLUÊNCIA
DO
DIABETES
MELLITUS
NO
PROCESSO
DA
OSSEOINTEGRAÇÃO..................................................................................................... 18
4 DISCUSSÃO...............................................................................................................
32
5 CONCLUSÕES............................................................................................................
36
REFERÊNCIAS..............................................................................................................
37
10
1 INTRODUÇÃO
A verdadeira revolução da Implantodontia Oral tem como marco inicial a descoberta
da osseointegração em 1952 pelo professor Branemark. Este realizava estudos sobre
microcirculação em mecanismos de reparação óssea e constatou uma ancoragem óssea direta
e forte entre a câmara de titânio (que estava cirurgicamente inserida na tíbia de um coelho) e o
tecido ósseo do referido animal (BRÄNEMARK et al., 1987).
Uma nova era iniciou-se na Odontologia através da incorporação da osseointegração,
uma vez que esta proporciona uma conexão funcional e estrutural direta entre o tecido ósseo
bem organizado e uma superfície absorvente de um implante. O desenvolvimento dos
implantes dentais revolucionou as possibilidades de reabilitação para pacientes parcial ou
totalmente edêntulos fornecendo uma solução confiável e segura para a substituição de dentes
perdidos (VIDIGAL JR e GROISMAN, 2007).
O sucesso na Implantodontia está diretamente ligado ao bom senso e capacidade do
profissional em usar todas as informações disponíveis e a colaboração do paciente, em seguir
corretamente a orientação do cirurgião-dentista nos seguintes aspectos pós-cirúrgicos:
alimentação adequada, comunicação imediata de alterações locais e de saúde geral,
comparecimento aos retornos programados e higienização oral com técnica adequada. Os
insucessos representam por volta de 5 a 10% dos trabalhos realizados, porém, na maioria dos
casos em que ocorre, poderá ser realizada uma nova implantação com grandes probabilidades
de sucesso (PARENTI FILHO, 2007).
Estima-se que de 3 a 4% dos pacientes adultos que se submetem a tratamento
odontológico são diabéticos, por se tratar de uma patologia associada à sequelas sistêmicas
adversas, como alterações da cicatrização da ferida e, alterações fisiológicas que diminuem a
capacidade imunológica, potencializando a susceptibilidade às infecções, pode afetar a
osseointegração de implantes dentários (OLSON et al., 2000; SOUSA et al., 2003).
O Diabetes Mellitus se constitui num transtorno do metabolismo intermediário
consequente ou à falta de insulina ou à sua inadequada utilização pelos tecidos, o que se
traduz laboratorialmente pela elevação da taxa de glicemia. Paralelamente aos transtornos
metabólicos, ou através deles, ocorrem alterações vasculares as quais são as grandes
11
responsáveis pela maior parte das manifestações clínicas do diabetes e causadoras de
considerável morbidade e mortalidade. Quase todos os tecidos do organismo são afetados, em
maior ou menor grau, em decorrência de tais alterações vasculares, particularmente dos
pequenos vasos. Entretanto, as lesões em alguns órgãos são mais frequentes ou mais graves: o
rim, o coração e o sistema arterial periférico. Além destes, a retina, a pele e o sistema nervoso
periférico também são sede de lesões provocadas pelo diabetes, com importantes prejuízos à
saúde do indivíduo (LAURENTI, 1982).
Tendo em vista as inúmeras particularidades do paciente diabético, o mesmo é
considerado paciente especial e necessita cuidados na consulta de rotina, medicação, anestesia
e controle (KITAMURA et al., 2004).
Com a evolução dos implantes dentários e o crescente interesse da população por tal
recurso cirúrgico, tornou-se importante verificar se os pacientes diabéticos estariam aptos para
receber implantes e se estes desenvolveriam uma osseointegração satisfatória (BALSHI e
WOLFINGER, 1999).
Neste contexto, este estudo tem como objetivo pesquisar a influência do processo de
osseointegração em pacientes diabéticos na reabilitação oral com implantes dentários.
12
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização deste estudo é a pesquisa bibliográfica,
baseada na revisão de títulos de livros, artigos científicos publicados, teses e revistas
especializadas, utilizando os seguintes unitermos: Diabetes Mellitus; osseointegração;
reabilitação oral; implantes dentários. Serão consultadas as bases de dados Medline, Lilacs,
Pubmed, Cocrhane, Scielo e BBO, sendo consideradas publicações em inglês, português e
espanhol.
13
3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 DIABETES MELLITUS
Os primeiros registros escritos sobre o diabetes foram encontrados num papiro egípcio
datado de 1.500 a.C.. Por volta do ano 100 da nossa era, médicos gregos deram o nome
“diabetes” à doença. A palavra diabetes significa “sifão”, pois o sinal mais óbvio da doença é
o aumento no volume da urina. Os médicos gregos observaram também que as formigas eram
especialmente atraídas pela urina dos diabéticos. Por volta de 1650, o médico britânico
Thomas Willis descobriu o porquê dessa atração das formigas, ao testar a urina de um de seus
pacientes diabéticos. Ele anotou em seus registros que ela era “maravilhosamente doce”. O
nome da doença passou então a ser denominada Diabetes Mellitus, ou seja, “sifão de mel”
(MESSINA e SETCHELL, 2002).
Diabetes é considerada um problema de saúde pública por sua magnitude, risco e
dificuldades no seu controle. Destaca-se também por sua alta frequência na população, suas
complicações, mortalidade, altos custos financeiros e sociais envolvidos no tratamento e
deterioração significativa da qualidade de vida (PÈRES, 2006).
O diabetes é uma síndrome heterogênea que resulta de defeitos na secreção e na ação
da insulina (REIS et al., 2002 apud FRANCO et al., 2003). A causa da Diabetes Mellitus é
desconhecida ou idiopática na maioria dos casos (PESSUTO e CARVALHO, 1998). Porém,
nesta patologia vários fatores podem estar associados a sua etiologia como o sedentarismo, o
estresse, o tabagismo, a idade, a história familiar, o peso e os fatores dietéticos.
É uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia consequente a anormalidades
no metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. As pessoas com diabetes têm organismos
que não produzem ou respondem à insulina, um hormônio produzido pelas células beta do
pâncreas que é necessário para o uso ou armazenamento de combustíveis corpóreos. Sem a
insulina eficiente, a hiperglicemia ocorre e pode levar à complicações a curto e longo prazo,
como a disfunção e falência de vários órgãos (especialmente rins, olhos, nervos, coração e
14
vasos sanguíneos), proteinúria, neuropatia periférica, ulcerações crônicas nos pés, infecções
cutâneas de repetição dentre outros. (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003).
Para Bjeland et al. (2003), o Diabetes é uma doença crônica e caracterizada pela
hiperglicemia e elevação de hemoglobina glicosilada. É definido como a insuficiência
absoluta ou relativa de insulina, causada por um distúrbio endócrino caracterizado pelas
alterações metabólicas dos carboidratos, lipídeos e proteínas. A insuficiência de insulina pode
ser provocada pela baixa produção pelo pâncreas ou pela falta de resposta dos tecidos
periféricos à insulina.
Para Moore, Zgibor e Dasanavake (2003), o Diabetes Mellitus caracteriza-se por uma
hiperglicemia crônica, onde ocorre uma diminuição da produção de insulina ou pela
resistência dos tecidos por esse hormônio e pode ser considerado como multifatorial.
O diabetes não é uma doença homogênea e várias síndromes distintas têm sido
delineadas. O National Diabetes Data Group (1979, apud BATISTA et al, 2005), classifica o
diabetes em:
a) Diabetes Mellitus Insulino – dependente (tipo 1): o paciente pode ser de
qualquer idade, embora a grande maioria dos casos se desenvolva antes do
trinta anos. São indivíduos geralmente magros e o início dos sintomas é
usualmente súbito com significativa perda de peso, poliúria e polidipsia. São
insulinopênicos com tendência a cetoacidose, portanto, dependentes de terapia
com insulina. Apresentam associação com antígeno de histocompatibilidade
(HLA-DW3, DW4), fatores ambientais e genéticos.
b) Diabetes Mellitus (tipo II) (Obeso e não obeso): manifesta-se geralmente após
os trinta anos de idade. Os pacientes podem ser assintomáticos ou levemente
sintomáticos, têm frequentemente história familiar de diabetes e 60% são
obesos. Não têm tendência a cetoacidose, exceto durante períodos de estresse.
Não são absolutamente dependentes de insulina exógena para a sobrevivência,
embora a terapia com a insulina possa ser usada para controlar a hiperglicemia.
c) Diabetes Gestacional: início ou descoberta de intolerância à glicose durante a
gravidez.
15
d) Outros tipos: secundário a doenças pancreáticas, endocrinopatias, drogas e
agentes químicos; e associado a anormalidades dos receptores de insulina
(acantose nigricans), síndromes genéticas, desnutrição, etc.
O diagnóstico de Diabetes Mellitus em adultos (e mulheres não grávidas) deve se
restringir aos que seguirem um dos seguintes critérios (BATISTA et al, 2005) (Fig. 1):
a) Glicose plasmática > 200mg/dl com sinais e sintomas clínicos de Diabetes
Mellitus: polidipsia, poliúria e perda de peso;
b) Glicose plasmática de jejum > 140mg/dl em pelo menos duas ocasiões;
c) Glicose plasmática de jejum <140mg/dl com níveis plasmáticos de glicose
mantidos elevados durante pelo menos dois testes orais de tolerância à glicose.
A amostra de duas horas e pelo menos uma hora entre zero e duas horas após a
dose de 75 g de glicose oral deve ser >200 mg/dl. O teste oral de tolerância à
glicose não é necessário se a glicose plasmática de jejum é <140 mg/dl.
Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL)
Para Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Seus
Estágios Pré-Clinicos
Figura 1 – Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL) pra diagnóstico de diabetes Mellitus e seus estágios préclínicos.
Fonte: Arquivo Próprio
16
Algumas complicações poderão vir a surgir no indivíduo diabético, as agudas são a
hipoglicemia, cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar, e as tardias incluem a retinopatia,
nefropatia, neuropatia e complicações vasculares, portanto a doença requer um controle
contínuo de forma a atenuar essas complicações (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003).
O tratamento do paciente diabético visa controlar a hiperglicemia na tentativa de evitar
as complicações da doença. Inclui dieta, hipoglicemiantes orais, monitoração da glicose,
insulinoterapia e exercícios. É de extrema importância também à educação do paciente sobre
sua doença, fazendo com que ele próprio esteja capacitado a reconhecer os sintomas de
descompensação e manejá-la. A dieta deve ser direcionada para levar o paciente ao seu peso
ideal e manter normais os níveis sanguíneos de glicose. A insulina está indicada no tratamento
do diabetes tipo I e tipo II que não responderam à dieta e hipoglicemiantes orais, nas
descompensações agudas e na gravidez (FRANCO et al., 2003). A integração de vários
profissionais, especialmente nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, cirurgiões-dentistas
e professores de educação física, é vista como bastante enriquecedora (BRASIL, 2002).
Barcellos et al. (2000) relataram que muitos pacientes podem apresentar diagnóstico
de Diabetes Mellitus e não apresentar o quadro clínico tradicional, principalmente àqueles
com alterações discretas do metabolismo. Segundo Gross et al. (2002), em algumas
circunstâncias o diagnóstico do tipo de Diabetes Mellitus torna-se mais difícil, podendo ser
necessária à utilização de alguns exames laboratoriais para estabelecer a possível causa do
diabetes, como por exemplo, marcadores de auto-imunidade, medida de auto-anticorpos
relacionados à insulite pancreática e a avaliação da reserva pancreática de insulina através da
medida do peptídeo C e da fase rápida de secreção de insulina.
A prevalência de Diabetes Mellitus na população urbana brasileira é de 7,6% e
calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de diabéticos no país (BRASIL,
2002).
É mais comum em afroamericanos, hispânicos, nativos norte-americanos, ásio-
americanos e originários das ilhas do Pacífico (PERNO, 2001).
Além da manutenção da saúde geral, a saúde bucal também é fator importante a ser
considerado, visto que, como não há cura para o Diabetes Mellitus, ele deve ser controlado. O
diabetes causa espessamento dos vasos sanguíneos, o que resulta na diminuição do fluxo de
nutrientes e da remoção de resíduos nocivos, podendo debilitar a resistência dos tecidos
bucais a infecções e aumentar os períodos de cura. Além disso, certas bactérias se alimentam
17
de açúcares como a glicose. Para o profissional, é de suma importância a percepção de sinais
e sintomas bucais que podem indicar a presença de Diabetes Mellitus não diagnosticado ou
não controlado. Dentre estes sintomas encontram-se a inflamação gengival severa, os
abscessos agudos gengivais ou periodontais, que podem ser múltiplos e recorrentes, e o
avanço rápido da doença periodontal (PERNO, 2001).
Conforme relatado por Sartorelli e Franco (2003), a prevalência do Diabetes Mellitus
tipo II tem se elevado vertiginosamente e pode aumentar ainda mais. Na América Latina há
uma tendência de aumento da frequência entre as faixas etárias mais jovens, cujo impacto
negativo sobre a qualidade de vida e a carga da doença ao sistema de saúde é relevante. O
aumento das taxas de sobrepeso e obesidade associado às alterações do estilo de vida e ao
envelhecimento populacional, são os principais fatores que explicam o crescimento da
prevalência do diabetes tipo 2. As modificações no consumo alimentar da população
brasileira, com baixa frequência de alimentos ricos em fibras e aumento da proporção de
gorduras saturadas e açúcares da dieta, associadas a um estilo de vida sedentário compõem
um dos principais fatores etiológicos de obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas.
Segundo Vargas (2004), diversos processos patogênicos estão envolvidos no
desenvolvimento do diabetes, que vão desde destruição auto-imune das células β do pâncreas,
com consequente insulinodeficiência, até anormalidades que resultam na resistência à ação da
insulina. Frequentemente, secreção de insulina alterada e defeitos na sua ação, coexistem no
mesmo paciente, e em geral não se sabe bem qual anormalidade, ou se apenas uma delas, é a
causa primária da hiperglicemia.
Para Madeiro, Bandeira e Figueiredo (2005), o Diabetes Mellitus é uma doença que
deve ser considerada no planejamento e tratamento odontológico, uma vez que, o tratamento
dos pacientes portadores dessa patologia deve ser cauteloso e ponderado. Devido à suas
inúmeras complicações, é fundamental que o cirurgião-dentista saiba das limitações,
alterações e distúrbios que os pacientes diabéticos não compensados podem apresentar.
Pacientes diabéticos descompensados devem realizar o controle da doença para que o
tratamento odontológico possa ser realizado com maior segurança e o profissional deve
assistir a cada paciente de forma peculiar, uma vez que, a doença assume características
próprias em cada indivíduo.
18
Devido ao aumento de sua incidência, o Diabetes Mellitus é considerado um grave
problema de saúde pública. Por ser uma doença sistêmica, tem influência em todo o
organismo, inclusive na cavidade bucal, sendo os pacientes mal controlados, os que têm maior
predisposição a apresentarem problemas bucais. Portanto, a chance de um cirurgião-dentista
se deparar com um paciente diabético acometido por uma avulsão dentária é cada vez maior,
tornando imprescindível o conhecimento da enfermidade, de seu tratamento médico e as
implicações que ambos podem acarretar no tratamento odontológico. Inclusive faz-se
necessário também que o cirurgião-dentista faça parte da equipe multidisciplinar que cuida
dos pacientes com Diabetes Mellitus, cabendo ao mesmo, conhecer melhor essa patologia e
suas manifestações orais e, estar preparado para atuar em casos de hipoglicemia durante o
tratamento, para que possa providenciar cuidados preventivos e terapêuticos mais efetivos.
(ALVES et al., 2006).
3.2
INFLUÊNCIA
DO
DIABETES
MELLITUS
NO
PROCESSO
DA
OSSEOINTEGRAÇÃO
A coexistência do Diabetes Mellitus, pode levar a um aumento das taxas de falhas dos
implantes. Iyama et al. (1997) compararam a quantidade e a distribuição regional da formação
óssea ao redor de implantes de hidroxiapatita em ratos normais (controle) e ratos com diabetes
induzida. No sétimo, décimo quarto e vigésimo primeiro dia após a inserção dos implantes,
calceína, alzarina e tetraciclina foram injetados nos animais, sendo eutanaziados no vigésimo
oitavo dia. Os cortes histológicos foram preparados para leitura por microscopia confocal de
varredura a laser. No grupo controle o tecido ósseo formou-se em um padrão laminado com
três camadas de cores (calceína, alzarina e tetraciclina), mas no grupo dos diabéticos, não
observaram a presença da tetraciclina. Concluíram que no grupo controle foi observada
intensa formação óssea a partir do endósseo e do periósteo, enquanto no grupo experimental
(diabéticos) esta formação foi quase suprimida, principalmente próximo ao vigésimo primeiro
dia pós-inserção.
Para Takeshita et al. (1997) o mecanismo pelo qual o doente com Diabetes Mellitus
descompensado pode diminuir o índice de osso ao redor dos implantes são: diminuição de
19
cálcio no sangue, aumento de cálcio e fosfato na urina e produção diminuída do colágeno. O
estado de hiperglicemia aumenta a secreção de um hormônio da paratireóide, o qual estimula
os osteoclastos. Além disso, a secreção do hormônio do crescimento é diminuída quando a
concentração da insulina sérica é baixa. Os autores concluíram que os indivíduos portadores
dessa doença apresentam contra-indicação relativa ao tratamento com implantes.
Existe um impasse sobre a utilização do implante em pacientes tipo 2 compensados.
Lauda, Silveira e Guimarães (1998) afirmam que são contra-indicados, já que o problema do
diabetes não está na fase reparacional ou cirúrgica, e sim na formação e remodelação da
interface. No caso de suspeita de diabetes, o cirurgião-dentista deve solicitar exames
laboratoriais para avaliar a glicemia dos pacientes, encaminhando-o para o serviço médico
caso estes se apresentem alterados.
Nevins et al. (1998) realizaram um estudo objetivando identificar os efeitos do
diabetes induzido por streptozotocina na osseointegração. A doença foi induzida em ratos com
40 dias de idade através de injeção intraperitoneal de 70 mg por quilo de streptozotocina.
Quatorze dias após a injeção, os implantes foram colocados no fêmur de 10 ratos diabéticos e
10 ratos normais da mesma idade. Os animais foram sacrificados com o passar de 28 e 56 dias
após a instalação. A taxa de formação do osso novo numa zona limitando 250 µm ao redor
dos implantes foi similar para os animais diabéticos e de controle (P > 0,05). Entretanto, o
contato do osso e implante reduziu significativamente para os animais diabéticos (P <
0,0001). Os autores puderam concluir, levando em consideração que o modelo usado no
estudo foi de um estado diabético sem controle, que pacientes com níveis de glicose elevados
não devem ser tratados com implantes dentários.
El Askaryet al. (1999) enfatizam que pacientes portadores do Diabetes Mellitus não
controlados devem postergar a cirurgia até que controlem seu metabolismo.
Para Balshi e Wolfinger (1999) o Diabetes Mellitus é uma síndrome complexa que a
cavidade oral se associa a xerostomia, aumento de níveis salivares de glicose, com aumento
de incidência de cárie. Os autores realizaram uma pesquisa em 34 pacientes que receberam
227 implantes do sistema de Implantes Bränemark, com idades entre 34 e 79 anos. Todos os
pacientes receberam antibioticoterapia de largo espectro durante 10 dias antes da cirurgia e
aconselhamento para manterem um controle da doença. Entre abril de 1987 e maio de 1998,
observaram sucesso de osteointegração em 214 implantes (94,3%). Dos 13 mal sucedidos, um
20
foi devido a bruxismo, ou seja, sobrecarga da prótese. Dos três que tiveram insucesso foram
feitos com carga imediata e o restante teve-se uma osteointegração insatisfatória. Concluíram
que o uso de implantes dentários em diabéticos pode ser utilizado, porém estes pacientes
devem estar com a doença sob controle e submeterem a tratamento com antibióticos de largo
espectro, diminuindo a porcentagem de insucessos.
Herkovits, Devoto e Scholnik (2000) apresentaram um caso clínico de um paciente de
52 anos de idade, com diabetes tipo II, que recebeu um implante dentário. Sete meses após a
inserção do implante, quando de seu carregamento, os resultados eram de prognóstico
favorável, uma vez que, os parâmetros de higiene bucal e glicemia mostravam resultados
satisfatórios. O paciente seguiu com o controle mensal, apresentando, continuamente,
resultados positivos. Ao controle no décimo sexto mês, o implante apresentou mobilidade e,
na radiografia, constataram presença de reabsorção. Os valores glicêmicos (301 mg/dl)
encontravam-se muito altos e com presença de glicose na urina, sendo extremamente
perigosos para a estabilidade do implante e para a saúde do paciente. Os autores concluíram
que pacientes com diabetes tipo II podem ser tratados com implantes dentais, sempre e
quando os controles de higiene bucal e o estado de sua glicemia estiverem estabilizados.
McCracken et al. (2000), avaliaram a osseointegração de 32 ratos machos da raça
Sprague-Dawley divididos em dois grupos (n = 16): G1 – grupo controle; G2 – diabéticos
induzidos por meio de injeção parenteral de streptozotocina (Sigma-Aldrich®) em uma dose
de 65 mg/kg diluída em sal de fosfato cinco dias antes da cirurgia. Instalaram parafusos de
titânio (Ti-6A1-4V®) medindo 1,5 x 8 mm. Após um período de 14 dias de cicatrização, os
ratos foram eutanasiados com inalação de dióxido de carbono. As tíbias foram removidas,
limpas de tecido mole e fixadas em paraformaldeíde de fosfato por 12 horas. Os espécimes
foram desidratados com alcoóis progressivos sob vácuo durante 14 dias. As amostras foram
preparadas para microscopia através de técnicas de corte e moagem usando o sistema Exakt®.
As amostras foram examinadas para a análise histomorfométrica usando um sistema de
imagem e análise computadorizada. Três quantidades diferentes foram determinadas para
cada amostra: porcentagem de osseointegração, porcentagem do volume ósseo ao redor do
implante e a frequência do contato do osso ao longo da superfície do implante. Os sintomas
nos ratos diabéticos incluíam perda de peso, poliúria, polifagia e polidpsia e, durante o curso
da experiência, os animais de controle ganharam peso enquanto os animais diabéticos
perderam. G2 demonstrou significativamente menos osseointegração do que G1. Entretanto, a
21
porcentagem do volume ósseo em G2 foi aproximadamente quatro vezes maior do que em
G1. As análises bioquímicas foram misturadas; animais diabéticos demonstraram níveis
elevados de osteocalcina comparados aos controles, mas fosfatase alcalina diminuída.
Baseados nos resultados do estudo, os autores concluíram que a reação óssea associada com
os implantes de liga de titânio nas tíbias de ratos diabéticos foi diferente dos não-diabéticos,
onde os diabéticos apresentaram menos osseointegração, especialmente na área do canal
medular.
De acordo com Olson et al., 2000; Sousa et al., 2003 pacientes diabéticos
descompensados apresentam maior risco de desenvolver infecções e complicações vasculares.
O processo de cicatrização é afetado pelo comprometimento da função vascular, quimiotaxia,
comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio. O metabolismo
da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada. A regeneração
dos nervos é alterada e a angiogênese, comprometida.
Olson et al. (2000) apresentaram um estudo para avaliar o sucesso de implantes de
forma de raiz de dois estágios (três diferentes sistemas de implante) colocados na sínfise
mandibular de 89 pacientes diabéticos do sexo masculino, com idade média de 62.7 anos
(variação de 40 a 78 anos). Aproximadamente 14 dias antes da cirurgia de colocação de
implante de primeiro estágio, o controle da diabete dos pacientes foi avaliado e os níveis de
FBG e HbA1c foram determinados. Cada um dos 89 pacientes recebeu dois implantes
endósseos em forma de raiz colocados na sínfise mandibular seguindo as instruções do
fabricante (Figs. 2 e 3).
Figura 2 – Implantes mandibulares com abutments.
Fonte: Olson et al., 2000.
Figura 3 – Radiografia panorâmica dos implantes
mandibulares.
Fonte: Olson et al., 2000.
22
Uma prótese total maxilar convencional e uma overdenture implantossuportada Hader
retida por clip foram fabricadas para cada paciente (Figuras 4 e 5).
Figura4 – Implantes mandibulares com Hader bar.
Fonte: Olson et al., 2000.
Figura 5 – Prótese total mandibular posicionada.
Fonte: Olson et al., 2000.
Segundo este mesmo autor, os implantes foram encobertos aproximadamente quatro
meses após a colocação, sendo restaurados com a overdenture que foi mantida em exames de
coleção de dados nos acompanhamentos programados durante os 60 meses depois da carga.
Dezesseis dos 178 implantes falharam. Métodos de tabela de sobrevivência calcularam
aproximadamente 88% de sobrevida de implantes, desde a colocação da prótese até o fim do
acompanhamento (60 meses). Nenhum implante falhou no período entre a colocação cirúrgica
e o descobrimento, cinco falharam no ato do descobrimento, sete falharam depois da
descoberta e antes da colocação da prótese, e 4 falharam depois da prótese instalada. Os
valores FPG e hemoglobina glicosilado (HbA1c) foram determinados antes da colocação do
implante e aproximadamente 4 meses depois do descobrimento cirúrgico. Os resultados dos
implantes em um período de 5 anos foram analisados contra as seguintes variáveis de
previsão: a) valores de FPG do inicio e acompanhamento; b) valores HbA1c do inicio e
acompanhamento; c) idade do paciente; d) duração do diabetes (anos); e) terapia diabética do
inicio; f) histórico de fumo; e, g) comprimento do implante. A análise encontrou somente a
duração da diabete (P < 0,025) e o comprimento do implante (P < 0,001) como previsores
estatisticamente significativos de falha de implante. Os autores concluíram que a colocação de
implante endósseo na sínfise mandibular de pacientes diabéticos do tipo 2 é um procedimento
previsível e que a duração da diabete pode ser associada à falha de implante, sendo que,
implantes mais compridos experimentam menos falhas.
23
Segundo Dinato e Polido (2001) a Diabetes Mellitus é uma das doenças mais
preocupantes devido a alteração na reparação das feridas cirúrgicas, alterações micro e
macrovasculares presentes principalmente em diabéticos mal controlados. As complicações
orais do diabetes podem incluir diminuição do fluxo salivar e seus constituintes. Tal condição
predispõe o aumento ao risco de infecções, diminuindo as defesas do organismo dificultando
a cicatrização.
Farzad, Andersson e Nyebrg (2002) avaliaram o resultado da reabilitação de pacientes
diabéticos com implantes osseointegrados, utilizando uma amostra composta por 25
prontuários de pacientes diabéticos que foram submetidos à reabilitação com implantes, sendo
analisados: idade, tipo de diabetes, sobrevida dos implantes, inflamação de periimplante, e
perda óssea. Além disso, a opinião dos pacientes sobre o resultado do tratamento foi
registrada. A taxa de sucesso dos implantes registrada foi de 96,3% durante o período de
cicatrização e 94,1% um ano após a cirurgia. Poucas complicações foram registradas e todos
os pacientes, com exceção de um, estavam satisfeitos com o tratamento. Os autores
concluíram que houve grande prosperidade na reabilitação de pacientes diabéticos edêntulos,
inclusive no tratamento de enxertia óssea. Nos casos em que os níveis de glicose estavam
controlados, as taxas de sucesso encontradas na reabilitação de diabéticos, por meio de
implantes dentários, foram estatisticamente próximas das taxas de pacientes normais.
Van Steenberghe et al. (2002) avaliaram a influência de fatores endógenos e locais
sobre a ocorrência da falha de implante até o estágio do abutment. Para tanto, um grupo de
399 pacientes, com um total de 1263 implantes Bränemark, foi avaliado por meio de um
histórico médico individual. A coleção de dados e análise foram principalmente focadas nos
fatores endógenos como hipertensão, osteoporose, função hipo ou hipertireóide,
quimioterapia, diabete tipo I e II, doença de Crohn, alguns fatores locais (por exemplo,
qualidade do osso, razão para perda de dente) e abertura da esterilidade durante cirurgia. O
motivo da perda de dente, hábito de fumar, radioterapia e outros fatores locais do osso
(qualidade e quantidade de osso) também foram registrados. Observaram uma taxa de sucesso
dos implantes de 97.8%. Certos fatores, tais como doenças cardiovasculares, diabete tipo I e II
controlada e osteoporose não levaram a um aumento na incidência de falha precoce do grupo.
Os autores concluíram que, mesmo sofrendo altas taxas de fatores sistêmicos e locais
comprometedores, alta taxa de sucesso de implantes foi encontrada.
24
Lourenço (2003) verificou o conhecimento técnico-científico dos cirurgiões-dentistas
atuantes na área de Implantodontia na cidade de São José do Rio Preto/SP, que executam o
tratamento com implantes osseointegrados, sobre a avaliação do sucesso do tratamento,
osseointegração e contra-indicações. Foram avaliados 100 questionários com questões
estruturadas e abertas, composto de parte identificatória e parte específica sobre
Implantodontia e Aspectos Diceológicos e Deontológicos da atuação dos profissionais. Os
dados obtidos foram agrupados segundo as variáveis classificatórias e segundo a qualificação
e atuação dos indivíduos que realizam implantes e/ou próteses sobre implantes. O
processamento dos dados foi feito por meio de análise estatística que incluiu testes de Quiquadrado e Exato de Fischer. Tem sido preconizado que o diabetes tipo II não é uma contraindicação absoluta ao tratamento com implantes, porém, 50 Cirurgiões-Dentistas (58,14% da
amostra) classificaram o diabetes tipo I como uma contra-indicação absoluta e 31 cirurgiõesdentistas (36,05% da amostra) acreditam que a diabetes tipo I é uma contra-indicação relativa.
O autor concluiu, com base nesses resultados, que o paciente diabético insulinodependente é
um contra-indicado absoluto ao tratamento com implantes osseointegrados.
Para Quirynen e Teughels (2003), o Diabetes Mellitus, uma doença metabólica que
influencia a cicatrização e põe em perigo a reação imunológica a infecções, aumenta um
pouco o risco de falha precoce de implante, especialmente em pacientes que não estão
metabolicamente controlados. Enquanto estudos anteriores sobre periodontite mostram
possíveis diferenças na colonização bacteriana subgengival entre pacientes diabéticos e não
diabéticos, pesquisas mais recentes falharam ao confirmar essas observações, apontando em
direção a outros fatores para comprometer esses pacientes para cirurgia de implante. Dados
científicos apóiam o impacto do estado oral, a configuração do implante e a superfície em
especial na patogeneicidade do biofilme do periimplante. A função da flora subgengival na
implantite em pacientes comprometidos (diabete, pacientes imunocomprometidos, etc.) ainda
não foi inteiramente estabelecida.
Roumanas et al. (2003) avaliou a dificuldade de mastigação de alimentos dos usuários
de Overdentures implantossuportadas e mandibulares convencionais. Para tanto, 58 pacientes
com diabetes controlada (G1, n = 37 – Overdenture implantossuportada e; G2, n = 21 –
Overdenture mandibular convencional) foram avaliados por uma semana no início do
tratamento e por seis meses pós-tratamento, por meio de registros alimentares. Uma escala de
classificação de 10 pontos para a dificuldade de mastigação (10 como mastigação mais difícil)
25
foi usada para classificar os itens alimentares nos registros da alimentação. Não foram
observadas diferenças entre as classificações médias de mastigação para todos os alimentos
consumidos no inicio ou após o tratamento para os dois grupos. Entretanto, as classificações
médias para a frequência combinada de consumo de alimentos difíceis de mastigar (6-10)
mostraram uma queda significativa seguindo o tratamento com ambos os tipos de próteses.
Com próteses originais, mais de 91% dos pacientes consumia alimentos com classificações de
dificuldade de mastigação de seis a 10 pelo menos sete vezes por semana. Com as próteses de
estudo, somente 21% manteve esse nível de consumo, com a frequência diminuindo de quatro
a seis vezes por semana em 24% e um a três vezes por semana em 43% dos pacientes. As
quedas na frequência de consumo de alimentos mais difíceis de mastigar com próteses de
estudo estavam em porcentagem maior nos pacientes do grupo de implantes do que no grupo
convencional. Os autores concluíram que, após sete meses de adaptação das novas próteses,
os pacientes consumiram menos alimentos difíceis de mastigar do que com suas próteses
originais,
sendo,
esta
queda,
mais
frequente
com
Overdentures
mandibulares
implantossuportadas.
Sousa et al. (2003) esclarecem que em diabéticos bem controlados não há razão para
se evitar a colocação de implantes, pois estes podem ser tratados como pacientes normais,
porém necessitam de cuidados especiais, sendo importante o contato com o médico que o
acompanha, principalmente diante de procedimentos cirúrgicos mais complicados, que exijam
boas condições metabólicas. É necessário que haja diálogo mais efetivo entre odontologia e
medicina, para que o paciente seja, enfim, visto como um todo, elevando os índices de
sucesso terapêutico nas duas profissões.
Fadanelli,
Stemmer
e
Beltrão
(2005),
elucidam
que
pacientes
diabéticos
descompensados apresentam maior risco de desenvolver infecções e complicações vasculares,
visto que, o processo de cicatrização é afetado pelo comprometimento da função vascular,
quimiotaxia, comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio. O
metabolismo da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada.
Falhas na terapia com implantes podem ser atribuídas a um fator isolado ou a vários fatores
associados, não havendo associações com o diabetes.
Margonar (2005) apresentou um estudo com objetivo de avaliar, por meio de
parâmetros histométricos, a influência da doença e da insulinoterapia sobre a osseointegração.
Para tanto, utilizou 34 coelhos adultos que foram divididos nos seguintes grupos: grupo
26
controle (C), grupo diabético induzido (D) e grupo diabético tratado com insulina (DTI). A
indução do diabetes foi realizada por administração de Aloxana (115 mg/kg). Cada animal
recebeu dois implantes para análise histométrica. Após 4, 8 e 12 semanas, os animais foram
sacrificados e as peças reduzidas para processamento histológico. Os três grupos não
apresentaram diferenças em relação à área óssea. Entretanto, o Grupo C apresentou maior
extensão de contato osso/implante nos três períodos experimentais (P < 0,001) e os Grupos D
e DTI não mostraram diferenças estatísticas (P = 0,75). O autor pode concluir que o Diabetes
Mellitus influenciou negativamente a osseointegração de implantes colocados em tíbias de
coelhos e a insulinoterapia não alterou este efeito.
Moy et al. (2005) realizaram uma análise retrospectiva de implantes instalados por um
único cirurgião em um período de 21 anos, envolvendo 4.680 implantes em 1.140 indivíduos.
Os supostos fatores de risco colhidos dos registros dos pacientes incluíam: gênero, idade,
localização do implante, tabagismo, diabetes, hipertensão e coronariopatias, asma, terapia
com esteróides, histórico de radioterapia na cabeça e pescoço e tratamento ou falta de
tratamento de reposição hormonal pós-menopausa. Concluíram que certos fatores de risco
como asma, hipertensão e uso crônico de esteróides não estão relacionados com o aumento
significativo das falhas dos implantes. Por outro lado, tabagismo, diabetes, pacientes com
histórico de radioterapia na cabeça e pescoço e pacientes submetidos a tratamento de
reposição hormonal pós-menopausa estão associados a aumento significativo na taxa de
insucesso dos implantes, porém, não identificou-se nenhuma contra-indicação absoluta para o
tratamento com implantes dentários.
Ferreira et al. (2006) verificaram a prevalência da doença de periimplante e analisaram
possíveis riscos associados com mucosite de periimplante e periimplantite. O grupo de estudo
consistiu de 212 tratados com implantes dentários 3i Implant Innovations ®. No momento do
exame, todos os implantes (total de 578) deveriam estar instalados entre seis meses e cinco
anos. Os pacientes foram divididos em dois grupos: o primeiro com uma frequência maior ou
igual a seis meses (visitas regulares) e o segundo com a frequência maior que seis meses
(visitas esporádicas). Para todos os pacientes diagnosticados como diabéticos na hora da
cirurgia assim como para aqueles que relataram ter a doença na hora da avaliação, um novo
exame de glicemia foi solicitado. Os implantes colocados foram examinados clínica e
radiograficamente para avaliar o estado periimplante. O grau de associação entre a doença de
periimplante e outras variáveis independentes foi investigado usando uma análise de regressão
27
multinomial. Os dados individuais dos pacientes, incluindo variáveis demográficas, de
periimplante e periodontais foram transcritos em um software de estatística para PC (SPSS
12.0). A prevalência da mucosite de periimplante e periimplantite foi de 64.6% e 8.9%,
respectivamente, sendo que a presença de periodontite e diabete foi estatisticamente associada
ao risco elevado de periimplantite. Os autores concluíram que o controle metabólico ruim nos
pacientes diabéticos não apresentou uma associação estatisticamente significativa com a
mucosite de periimplante; entretanto, esses pacientes eram mais suscetíveis a desenvolverem
a mucosite de periimplante e periimplantite.
Czerninski et al. (2006) descreveram um caso cínico de um paciente de 80 anos de
idade que apresentava lesão ulcerativa periimplantária na região anterior da mandíbula. Seu
histórico médico incluía Diabetes Mellitus não-dependente de insulina e doença isquêmica
cardíaca. Dezesseis anos antes, o paciente foi tratado de um carcinoma oral de células
escamosas (OSCC) na mucosa bucal esquerda, com excisão local, sem radioterapia. Além
disso, três anos antes da apresentação para o tratamento, foi diagnosticado carcinoma de colo
com metástase no fígado. Sua história bucodental, incluía cinco implantes dentais colocados
na região anterior da mandíbula, cinco anos antes. Ao exame clínico, um volume exofítico de
15 mm, parcialmente ulcerado foi observado ao redor dos implantes dentais. Na região
submandibular esquerda, nódulos linfóides eram palpáveis. A radiografia mostrou uma lesão
osteolítica com bordas pouco definidas, adjacentes aos implantes laterais direito, além de um
OSCC invasivo, moderadamente diferenciado envolvendo mucosa e osso. O paciente foi
classificado como tendo estágio IV de câncer e optou pelo procedimento de excisão local e
terapia paliativa, finalizando o tratamento em alguns meses.
O objetivo do estudo de Kotsovilis, Karoussis e Fourmoussis (2006) foi desempenhar
uma revisão compreensiva e crítica de estudos experimentais e clínicos publicados na leitura
internacional considerando a colocação de implantes endósseos em pacientes diabéticos e tirar
conclusões baseadas em evidências da eficácia e capacidade de previsão da terapia de
implantes nesses pacientes. Para tanto, realizaram uma pesquisa literária de artigos publicados
até março de 2005 na Biblioteca Nacional de Medicina e banco de dados Cochrane Oral
Health Group, que forneceu 227 títulos e resumos importantes. De um total de 227, após
avaliação criteriosa, 19 publicações completas (onze estudos experimentais e oito casos
clínicos) foram revisadas. A maioria dos estudos indicou que o diabetes não é contraindicação para a colocação de implante, desde que permaneça sob controle metabólico. Os
28
autores concluíram que mais experiências bem projetadas, longas e clinicamente controladas,
são certamente necessárias para provar tal declaração e avaliar vários fatores determinantes.
McCracken et al. (2006) avaliaram a reação óssea aos implantes em ratos diabéticos
não controlados e controlados por insulina. Para tanto, uma amostra de cento e cinquenta e
dois ratos foi dividida em três grupos: controle, diabéticos e de insulina. Os animais do grupo
diabético receberam injeção parenteral de streptozotocina (60 mg/kg) diluído em soro de
fosfato. O mesmo foi aplicado aos animais de insulina, com o adicional de uma bolinha
subcutânea de insulina (Lin-Plant®). Os animais controle receberam somente soro. Três dias
após a indução do diabetes, implantes de fio de titânio de 1.5 x 8 mm (Crystal
Manufacturing®) foram colocados na tíbia proximal dos ratos. Os implantes foram colhidos
em dois, sete, 14 e 24 dias e examinados histologicamente. Os ratos foram eutanasiados com
inalação de dióxido de carbono. As amostras foram analisadas usando um sistema
morfométrico de quantificação computadorizado. As imagens foram analisadas e os valores
histomorfométricos foram determinados usando o software de imagens NIH (NIH Image). O
volume ósseo médio chegou ao pico no sétimo dia e diminuiu com o tempo até o 24º dia,
sendo a porcentagem do volume ósseo médio em dois, sete, 14, e 24 dias, de 8.2 (±8), 22.9 (±
8), 18.8 (± 10), e 14.9 (± 9), respectivamente. O volume ósseo adjacente aos implantes em
ratos diabéticos foi significativamente maior do que os controles (P < 0.05). Animais
diabéticos tratados com insulina não foram estatisticamente diferentes dos controles. Os
autores concluíram que a indução de diabetes com STZ está associada com elevada reação
óssea comparada com os controles e que essa reação foi mediada pelo tratamento com
insulina.
Conforme Ricieri (2006), pouco se sabe sobre a influência das alterações sistêmicas no
processo de reparo dos dentes reimplantados. Sendo assim, analisou o processo de reparo do
reimplante de incisivos de ratos diabéticos não controlados após a manutenção dos dentes em
leite bovino pasteurizado. Para isso, utilizou uma amostra composta por 32 ratos (Rattus
norevegicus albicans, Wistar) machos, adultos, clinicamente livres de qualquer entidade
patológica. Após receberem anestesia (éter sulfúrico), os ratos foram divididos em dois
grupos (n=16): G1 (controle) – recebeu injeção de tampão citrato 0,01M, pH 4,5 através da
veia peniana e G2 (diabético) – foi injetada a streptozotocina dissolvida em tampão citrato
pela mesma via de administração de G1, na concentração de 35 mg/Kg de peso corpóreo.
Passados sete dias, após comprovação da hiperglicemia, o incisivo superior direito de cada
29
animal foi extraído e mantido no leite bovino pasteurizado tipo B por 60 minutos e depois
imerso em soro fisiológico. Os dentes foram reimplantados em seus respectivos alvéolos.
Após o procedimento cirúrgico, cada animal recebeu, em dose única, 20.000 U.I. de penicilina
G-benzatina (Benzetacil®) por via intramuscular. Dezesseis animais foram eutanasiados aos
dez dias e dezesseis aos 60 dias por injeção excessiva do anestésico. As peças obtidas foram
submetidas ao processamento laboratorial para a obtenção dos cortes, análise histológica e
histométrica. O tecido conjuntivo adjacente à superfície radicular se apresentou desorganizado
em G2 e, índices menores de reabsorção radicular externa e anquilose também foram
encontrados neste grupo, porém, sem diferenças estatisticamente significantes. Concluiu-se
que o processo de reparo do reimplante dentário dos ratos diabéticos foi semelhante ao do
grupo controle com relação à reabsorção radicular e a anquilose, embora a área de dentina não
reabsorvida tenha sido maior no grupo diabético, sendo esta diferença estatisticamente
significante.
Balshi, Wolfinger e Balshi (2007) avaliaram a estabilidade de 18 implantes do sistema
Bränemark carregados imediatamente em uma paciente diabética de 71 anos de idade,
controlada por insulina, nos primeiros 30 meses depois da cirurgia, correlacionando os dados
encontrados com a estabilidade de implantes em pacientes saudáveis. As medidas foram
realizadas através da análise da frequência de ressonância em todos os implantes no dia da
cirurgia e em um, dois, três, seis e 30 meses após a cirurgia. Todos os implantes
permaneceram em função após os 30 meses de acompanhamento, sendo que a estabilidade
média diminuiu 12,7% nos primeiros 30 dias, o dobro do observado na população geral. Após
o período do estudo, a estabilidade média dos implantes continuou a aumentar, entretanto, não
permanecendo igual às medidas iniciais do dia da cirurgia. Os autores concluíram que, apesar
das diferenças metabólicas dos pacientes diabéticos, um protocolo de carregamento imediato
pode ser bem-sucedido e resultar em boa osseointegração.
Morais (2007) realizou um estudo com o objetivo de avaliar o efeito do Diabetes
Mellitus e da insulinoterapia na osseointegração estabelecida ao redor de implantes instalados
em tíbia de ratos. Foram utilizados 80 ratos Wistar, os quais foram divididos em 4 grupos:
controle de 2 meses (C2m), controle de 4 meses (C4m), diabético (D) e insulínico (I). Os
implantes de superfície lisa (2,2mmx4mm) foram instalados na tíbia do rato. Após um período
de 2 meses para osseointegração, o grupo C2m foi sacrificado. A indução do DM foi realizada
com dose única de estreptozotocina (40mg/Kg) pela veia peniana. Os ratos do grupo I
30
receberam insulina subcutânea (8,5 U/dia) e os demais receberam solução salina (0,9%) pela
mesma via. Os níveis da glicemia plasmática foram avaliados periodicamente pelo método
enzimático da glicose-oxidase. Dois meses após a indução do DM, os grupos C4m, D e I
foram sacrificados. A relação do tecido ósseo com o implante foi avaliada pelas análises:
radiográfica (subtração radiográfica digital); bioquímica; histométrica e torque de remoção do
implante. Os dados das análises radiográfica, bioquímica e histométrica foram comparados
nos grupos pelo teste ANOVA, p>0,05. Os dados da análise do torque de remoção foram
comparados nos grupos pelo teste Kruskal Wallis e Friedman, p>0,05. Os resultados
mostraram que o grupo D apresentou níveis de glicemia plasmática acima de 300mg/dL e
significativamente mais alto do que os grupos C4m e I após a indução do DM e esta condição
sistêmica foi mantida até o final do experimento. Os resultados bioquímicos evidenciaram um
aumento significativo da determinação plasmática de fosfatase alcalina e da excreção urinária
de cálcio do grupo D após a indução do DM. Os resultados da subtração radiográfica digital
determinaram que o grupo D foi estatisticamente inferior em relação ao grupo insulínico nos
valores de ganho de nível de cinza. Os resultados histométricos da área óssea determinaram
que o grupo D (69,34+5) apresentou diferença estatística significante em relação aos grupos
C4m (78,2+5,5) e I (79,63+5,27). O torque de remoção no grupo D (12,9+2,5) foi
estatisticamente inferior ao grupo I (17,1+3) (p<0.05), porém sem diferenças significantes
com os grupos C2m (13,1+2,6) e C4m (16,9+5,3). A indução experimental do DM parece
prejudicar a osseointegração de implantes devido apresentar uma tendência negativa nos
resultados em relação à densidade óssea radiográfica na subtração digital, ao contato entre
osso e implante e à área óssea, ao torque para remoção do implante além de apresentar
elevados valores de componentes ósseos bioquímicos relacionados à perda óssea. A
insulinoterapia evitou a ocorrência das alterações ósseas detectadas em animais diabéticos.
Gromatzky e Sendyk (2007) esclarecem que o tratamento periodontal, deve ser
submetidos a um programa de controle e manutenção cuidadosamente elaborado durante 6
anos, para manterem uma higiene bucal padronizada e níveis de inserção inalterados. É de
suma importância no controle e manutenção, saber examinar e diagnosticar, como também,
conseguir resolver clinicamente as alterações resultantes. O sucesso a longo prazo dos
implantes depende da cooperação entre profissional e paciente, e de seu esforço conjunto na
manutenção da saúde dos tecidos perimplantares. Deve-se proceder a uma anamnese
criteriosa, pelo menos anualmente, pois podem surgir doenças sistêmicas, como Diabetes
Mellitus, dentre outras, agravando casos de mucosite ou perimplantite, e comprometendo a
31
preservação dos implantes. Estas anotações devem constar obrigatoriamente da ficha de
controle e manutenção do paciente.
32
4 DISCUSSÃO
A literatura, de um modo geral, tem apontado que as dificuldades apresentadas pelos
pacientes diabéticos para a obtenção de um bom controle metabólico (estão relacionadas à sua
adesão a um plano alimentar, ao incremento da atividade física e ao seguimento da terapêutica
medicamentosa (NEVINS et al., 1998; BALSHI e WOLFINGER, 1999; DINATO e
POLIDO, 2001; PERNO, 2001; FRANCO et al., 2003; MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003;
QUIRYNEN e TEUGHELS, 2003; KITAMURA et al., 2004; BATISTA et al., 2005;
MADEIRO, BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005; PÈRES, 2006).
Embora os implantes dentários sejam considerados opções de tratamento previsíveis e
consistentes para a maioria dos pacientes, Nevins et al. (1998); McCracken et al. (2000) e,
Lourenço, (2003), consideram que indivíduos com doença sistêmica descontrolada, como por
exemplo a diabete, podem ser negadas ao tratamento. Porém, com a evolução dos implantes
dentários e o crescente interesse da população por tal recurso cirúrgico, observou-se a
importância de verificar se os pacientes diabéticos estão aptos para receber implantes e se
estes podem desenvolver uma osteointegração satisfatória.
O DM é uma alteração metabólica que pode comprometer a estabilidade do implante
dentário devido a influência no tecido ósseo (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000;
BALSHI, WOLFINGER e BALSHI, 2007; MORAIS, 2007).
McCracken et al. (2006) e Morais (2007) concluíram que a indução experimental do
DM parece prejudicar a osseointegração de implantes devido apresentar uma tendência
negativa nos resultados em relação à densidade óssea radiográfica na subtração digital, ao
contato entre osso e implante e à área óssea, ao torque para remoção do implante além de
apresentar elevados valores de componentes ósseos bioquímicos relacionados à perda óssea.
A insulinoterapia evitou a ocorrência das alterações ósseas detectadas em animais diabéticos.
Pacientes diabéticos representam uma porção significativa da população que requer
tratamento reabilitador com implantes. Contudo, a indicação de implantes dentais
osseointegráveis para pacientes com comprometimento sistêmico como o Diabetes Mellitus
permanece controversa. Segundo Balshi e Wolfinger, (1999); Herkovits, Devoto e Scholnik,
33
(2000); Olson et al. (2000); Farzad, Andersson e Nyebrg, (2002); Van Steenberghe et al.
(2002); Fadanelli, Stemmer e Beltrão, (2005); Ferreira et al. (2006); Kotsovilis, Karoussis e
Fourmoussis, (2006); e, Balshi, Wolfinger e Balshi, (2007) o Diabetes Mellitus não
corresponde diretamente ao sucesso ou insucesso dos implantes, quando se trata de pacientes
com diabetes metabolicamente controlados, não resultando, portanto em maior risco de falhas
do que na população geral.
Porém, para Iyama et al. (1997); Takeshita et al. (1997); El Askaryet al. (1999);
Roumanas et al. (2003); Sousa et al. (2003); Margonar, (2005); Moy et al. (2005); Czerninski
et al. (2006); McCracken et al. (2006); Ricieri, (2006); Gromatzky e Sendyk (2007) e, Morais
(2007) o Diabetes Mellitus influencia negativamente a osseointegração de implantes, porem
não identificam nenhuma contra-indicação absoluta para o tratamento com implantes
dentários. Portanto, é necessário avaliar o risco individual de cada caso em particular.
Já, Nevins et al. (1998); McCracken et al. (2000) e, Lourenço, (2003) entendem que
um estado diabético sem controle, que pacientes com níveis de glicose elevados não devem
ser tratados com implantes dentários.
Sousa et al. (2003) relataram que dentre as alterações orais ocorridas em pacientes
diabéticos estão: a hipoplasia, a hipocalcificação do esmalte, diminuição do fluxo e aumento
da acidez e da viscosidade salivar, que são fatores de risco para cárie; sendo contra-indicados
os implantes osseointegrados, pois, a síntese de colágeno está prejudicada, principalmente em
pacientes com diabetes tipo 1 e descompensados do tipo 2.
Considera-se de suma importância da boa saúde geral do paciente para a perfeita
osseointegração e longevidade do implante (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000;
PERNO, 2001). O diabetes se não tratadas e monitoradas podem interferir na osteintegracão
dos implantes. Portanto, tratamentos prévios necessários devem ser feitos antes da colocação
de implantes para se evitar o risco de insucesso (RENOUART e RANGERT, 2001;
MCCRACKEN et al., 2006).
É de extrema importância que o paciente diabético esteja ciente da necessidade de
manter um adequado controle metabólico durante todo o período de cicatrização dos
implantes, a fim de otimizar o processo de osseointegração (BALSHI e WOLFINGER, 1999;
DINATO e POLIDO, 2001; QUIRYNEN e TEUGHELS, 2003), destacando-se também, os
34
controles de higiene bucal (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000; GROMATZKY e
SENDYK, 2007).
Pacientes com mau controle podem ter risco de complicações devido à alteração no
reparo cicatricial (MCCRACKEN et al., 2000; OLSON et al., 2000; DINATO e POLIDO,
2001; FARZAD, ANDERSSON e NYEBRG, 2002; SOUSA et al., 2003; QUIRYNEN e
TEUGHELS, 2003; FADANELLI, STEMMER e BELTRÃO, 2005).
Um paciente com diabetes de início tardio, controle rigoroso da dieta, que não
apresente perda dentária em decorrência do desenvolvimento da doença periodontal,
necessitando, por exemplo, da instalação de um único implante, apresentará menor risco de
insucesso (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000). A literatura relata uma
porcentagem de sucesso de 92.7% a 94.5% em diabéticos tipo 2 com controle glicêmico
adequado (BALSHI e WOLFINGER, 1999). Contrariamente, um paciente diabético juvenil,
insulino-dependente, com perda de múltiplos dentes, devido à doença periodontal, apresentará
um alto risco de insucesso.
De acordo com Lauda, Silveira e Guimarães (1998) Ferreira et al. (2006) os
insucessos de implantes em pacientes diabéticos estão, quase sempre, relacionados a pessoas
que desconheciam o problema e o implantodontista não teve sua atenção voltada para o
detalhe, provavelmente por falta de exames de sangue pré-operatórios ou por pacientes que,
na época dos exames, mantinham-na controlada e por motivos alheios à vontade ou
desatenção, descompensaram durante o período da osseointegração. Desta forma, Balshi e
Wolfinger (1999); El Askaryet al. (1999); Herkovits, Devoto e Scholnik (2000); Olson et al.
(2000); Madeiro, Bandeira e Figueiredo (2005); Kotsovilis, Karoussis e Fourmoussis (2006);
Gromatzky e Sendyk (2007) recomendam que os pacientes nesta condição, já na primeira
consulta, realizem um controle mais estrito nos meses seguintes à colocação dos implantes.
Em relação aos protocolos de carga imediata ou tardia, não existem evidências
baseadas em um número considerável de pacientes (BALSHI e WOLFINGER, 1999),
entretanto, parece razoável pressupor que a diabetes tipo 2 não seja um fator de risco absoluto
para a realização de um protocolo de carga imediata (BALSHI, WOLFINGER e BALSHI,
2007).
35
5 CONCLUSÕES
O diabetes não é uma contra-indicação absoluta para a colocação de implantes
dentários.
É importante manter controlados os níveis glicêmicos do paciente a ser implantado
especialmente durante o período de osseointegração.
É necessário que o implantodontista centre o atendimento no paciente e não na doença,
entendendo as diversas necessidades da pessoa, procurando atender a todas elas, criando uma
nova consciência, trabalhando e interagindo em harmonia com outros profissionais de saúde,
enfim, fazendo o acompanhamento, contribuindo para a promoção para uma vida saudável.
É de suma importância a realização de um programa de controle periódico para todos
os pacientes e principalmente para os diabéticos, para que o tratamento odontológico possa
ser realizado com maior segurança, uma vez que, a diabetes assume características próprias
em cada indivíduo.
36
REFERÊNCIAS
ALVES, C. et al. Atendimento odontológico do paciente com diabetes mellito:
recomendações para a prática clínica. Rev Cienc Med Biol, Salvador, v. 5, n. 2, p.97-110,
mai./ago. 2006.
BALSHI, T. J.; WOLFINGER, G. J. Dental Implants in the diabetic patient: a retrospective
study. Implant Dent, Baltimore, v. 8, n. 4, p. 355-359, june./dec. 1999.
BALSHI, S. F.; WOLFINGER, G. J.; BALSHI, T. J. Exame da estabilidade do implante
imediatamente carregado em paciente diabético através da Análise da Frequência de
Ressonância (AFR). Quintessence Int, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 271-279, dez. 2007.
BARCELLOS, I. F.; et al. Conduta odontológica em paciente diabético. Rev Bras Odontol,
Rio de Janeiro, v. 57, n. 6, p. 407-410, nov./dez. 2000.
BATISTA, M.C.R. et al. Avaliação dos resultados da atenção multiprofissional sobre o
controle glicêmico, perfil lipídico e estado nutricional de diabéticos atendidos em nível
primário. Rev. Nutrição, Campinas, v.18, n. 2, p. 219-228, mar./abr. 2005.
BJELAND, S. et al. Dentists, diabetes and periodontitis. Aust Dent J, Sydney, v. 47, n. 31, p.
202-207, sept. 2003.
BRÄNEMARK, P. I. Introducción a la oseointegración. In: BRANEMARK, P. I.; ZARB, G.
A.; ALBREKTSSON, T. Prótesis tejido-integradas: la osseointegración en la odontología
clínica. Berlin: Quintessence, 1987. Cap. 1, p.11-76.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Plano de Reorganização da
Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Manual de Hipertensão Arterial
e Diabetes Mellitus, Brasília, 2002.
CZERNINSKI, R. et al. Oral squamous cell carcinoma around dental implants. Quintessence
Int, Berlim, v. 37, n. 9, p. 707-711, oct. 2006.
DINATO, J. C.; POLIDO, W. D. Implantes osseointegrados cirurgia e prótese. São Paulo:
Artes Médicas Divisão Odontológica, 2001.
37
EL ASKARY, A. S. et al. Why do dental implants fail? Part I. Implant Dent. v.8, n. 2, p.
173-83, 1999.
FADANELLI, A. B.; STEMMER, A. C.; BELTRÃO, G. C. Falha prematura em implantes
orais. Rev Odont Ciênc, Porto Alegre, v. 20, n. 48, p. 170-176, abr./jun. 2005.
FARZAD, P.; ANDERSSON, L.; NYBERG, J. Dental implant treatment in diabetic patients.
Clinical science and techniques. Implant Dent, Baltimore, v. 11, n. 3, p. 262-267, sep. 2002.
FERREIRA, S. D. et al. Prevalence and risk variables for peri-implant disease in Brazilian
subjects. J Clin Periodontol, Copenhagen, v. 33, n. 12, p. 929-935, dec. 2006.
FRANCO, L. J. et al. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição
nutricional. In: Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19 (Sup. 1), p. S29-S36, 2003.
GROMATZKY, A.; SENDYK, W. R. Preservação da osseointegração através de um
programa de controle e manutenção. 2007. Disponível em: <www.scribd.com/doc/V3n>
Acesso em: 21 ago. 2009.
GROSS, J. L. et al. Diabetes melito: diagnóstico, classificação e avaliação do controle
glicêmico. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 16-26, fev. 2002.
HERKOVITS, J.; DEVOTO, E. L.; SCHOLNIK, I. Colocación de un implante único em un
paciente diabético tipo II: presentación de un caso. Rev. Círc. Argent. Odontol., Buenos
Aires, v. 28, n. 188, p. 20-24, ago. 2000.
IYAMA, S. et al. Study of the regional distribution of bone formed around hydroxyapatite
implants in the tibiae of streptozotocin-induced diabetic rats using multiple fluorescent
labeling and confocal laser scanning microscopy. J. Periodontol., Indianapolis, v. 68, n. 12,
p. 1169-1175, dec. 1997.
KITAMURA, R. K. W. et al. Manejo de pacientes diabéticos no consultório odontológico.
mar. 2004. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/artigos>. Acesso em: 18 ago.
2009.
KOTSOVILIS, S.; KAROUSSIS, I. K.; FOURMOUSIS, I. A comprehensive and critical
review of dental implant placement in diabetic animals and patients. Clin Oral Implant Res,
Copenhagen, v. 17, n. 5, p. 587-599, oct. 2006.
38
LAUDA, P. A.; SILVEIRA, B. L.; GUIMARÃES, M. B. Manejo odontológico do paciente
diabético. J. Bras. Odontol. Clín., Curitiba, v. 2, n. 9, p. 81-87, mai./jun. 1998.
LAURENTI, R. Mortalidade por diabetes mellitus no município de São Paulo (Brasil).
Evolução em um período de 79 anos (1900-1978) e análise de alguns aspectos sobre
associação de causas. Revista de Saúde Pública, São Paulo v.16, n.2, abr. 1982.
LOURENÇO, S. V. Verificação do grau de conhecimento de Cirurgiões-Dentistas sobre
os aspectos éticos e legais dos insucessos e contra-indicações de implantes
osseointegrados. 2003, 260 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba, 2003.
MADEIRO, A. T.; BANDEIRA, F. G.; FIGUEIREDO, C. R. L. V. A estreita relação entre
diabetes e doença periodontal inflamatória. Odontol. Clin. Cientif., Recife, v. 4, n. 1, p. 0712, jan./abr. 2005.
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição & dietoterapia. 10 ed.
São Paulo: Roca, 2003.
MARGONAR, R. Influência do Diabetes Mellitus e da insulinoterapia sobre a
osseointegração: avaliação histométrica em tíbia de coelhos. 2005. 102 f. Tese
(Doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia, Araraquara, 2005.
McCRACKEN, M. S. et al. Bone response to titanium alloy implants placed in diabetic rats.
Int J Oral Maxillofac Implants, Lombard, v. 15, n. 3, p. 345-354, may./june. 2000.
______. Bone associated with implants in diabetic and insulin-treated rats. Clin Oral
Implant Res, Copenhagen, v. 17, n. 5, p. 495-500, oct. 2006.
MESSINA, M.; SETCHELL, K. Soja e diabetes. (Tradução de José Marcos Mandarino, Vera
de Toledo Benassi). Londrina: Embrapa Soja, 2002.
MISCH, C. E. Densidade óssea: Um determinante significativo para o sucesso clínico. In:
______. Implantes Dentários Contemporâneos. São Paulo: Santos; 2000.
MOORE, P. A.; ZGIBOR, J. C.; DASANAVAKE, A. P. Diabetes: A grow epidemic of all
ages. J. Am. Dent. Assoc., Chicago, v. 134, p. 115-155, oct. 2003.
39
MOY, P. K. et al. Dental implant failure rates and associated risk factors. Int J Oral
Maxilliofac Implants. v. 20, n. 4, p. 569-77, jul./ago. 2005.
MORAIS, J. A. N. D. Efeito do Diabetes Mellitus e da insulinoterapia na osseointegração
estabelecida ao redor de implantes instalados em tíbia de ratos [Tese de Doutorado].
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2007. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp042456.pdf>. Acesso em: 06 set.
2009.
NEVINS, M. L. et al. Wound Healing Around Endosseous Implants in Experimental
Diabetes. Int J Oral Maxillofac Implant, Lombard, v. 13, n. 5, p. 620-629, sep./oct. 1998.
OLSON, J. W. et al. Dental Endosseous Implant Assessments in a Type 2 Diabetic
Population: A Prospective Study. Int J Oral Maxillofac Implant, Lombard, v. 15, n. 6, p.
811-818, nov./dez. 2000.
PARENTI FILHO, A. A revolução do implante - o sucesso depende do bom senso e da
capacidade profissional em usar as informações. 2007. Disponível em:
<http://www.oralcenteresteticaimplante.com.br/a29.htm>. Acesso em: 2 set. 2009.
PÉRES, D. S. Comportamento alimentar em mulheres portadoras de diabetes tipo 2. Revista
de Saúde Pública, v.40 n.2 São Paulo abr. 2006.
PERNO, M. A higienista dental: nosso papel na saúde das mulheres – tratando da clientela
feminina. Compendium – Ed. Especial: Mulheres e Odontologia, Newtown, v. 22, n. 1, p.
45-54, jan. 2001.
PESSUTO, J.; CARVALHO, E. C. de. Fatores de risco em indivíduos com hipertensão
arterial. Revista latino americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 33-39, jan.
1998.
QUIRYNEN, M; TEUGHELS, W. Microbiologically compromised patients and impact on
oral implants. Periodontology 2000, Copenhagem, v. 33, n. 1, p. 119-128, jan. 2003.
RENOUART, F.; RANGERT, B. Fatores de risco em implantodontia - Planejamento Clínico
Simplificado para Prognóstico e Tratamento. Quintessensse Publishing Co., 2001.
RICIERI, C. B. Análise do processo de reparo do reimplante de incisivos de ratos
diabéticos após a manutenção dos dentes em leite. 2006, 101 f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Estadual de São Paulo, Faculdade de Odontologia, Araçatuba, 2006.
40
ROUMANAS, E. D. et al. Comparisons of chewing difficulty of consumed foods with
mandibular conventional dentures and implant-supported overdentures in diabetic denture
wearers. Int J Prosthodont, Lombard, v. 16, n. 6, p. 609-615, dec. 2003.
SARTORELLI, D. S.; FRANCO, L. J. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da
transição nutricional. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, sup. 1, p. 29-36, 2003.
SILVA, A. M. Contribuição da saúde bucal na integralidade da atenção ao paciente
diabético. 2006, 147 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais,
Colegiado de Pós-graduação em Odontologia, Belo Horizonte, 2006.
SOUSA, R. R. et al. O paciente Odontológico portador de Diabetes Mellitus: uma revisão da
literatura. Pesq Bras Odontoped Clin Integr, João Pessoa, v. 3, n. 2, p.71-77, jul./dez. 2003.
TAKESHITA, F. et al. The effects of diabetes on the interface between hydroxyapatite
implants and bone in rat tibia. J Periodontol, Chicago, v. 68, n. 2, p. 180-185, feb. 1997.
VAN STEENBERGHE, D. et al. The relative impact of local and endogenous patientrelated
factors on implant failure up to the abutment stage. Clin Oral Implant Res, Copenhagen, v.
13, n. 6, p. 617-622, dec. 2002.
VARGAS, R. M. A. Novas diretrizes para a glicemia de jejum. Rev Diabetes News, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 2, p. 8-13, ago. 2004.
VIDIGAL JR, G. M.; GROISMAN, M. Osseointegração X Biointegração: uma análise
crítica. 2007. Disponível em: <http://www.lutzhoepner.de/uebersetzen.htm>. Acesso em: 2
set. 2009.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FACS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
Bruno Carlos Vilaça
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Governador Valadares
2009
BRUNO CARLOS VILAÇA
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Monografia
submetida
ao
curso
de
Especialização em Implantodontia da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce, como requisito para obtenção do título
em especialista em Implantodontia.
Orientador: Ms. Celso Henrique Najar Rios
Governador Valadares
2009
BRUNO CARLOS VILAÇA
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Monografia
submetida
ao
curso
de
Especialização em Implantodontia da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce, como requisito para obtenção do título
em especialista em Implantodontia.
Governador Valadares, ____ de outubro de 2009.
Banca Examinadora
__________________________________________
Prof. Ms. Celso Henrique Najar Rios
Universidade Vale do Rio Doce
__________________________________________
Prof. Ayla Norma Ferreira Matos
Universidade Vale do Rio Doce
__________________________________________
Prof. Suely
Universidade Vale do Rio Doce
Dedico a Deus, Senhor absoluto da minha vida,
que esteve presente em todos os momentos desta
caminhada, do início até a concretização deste
sonho. Obrigada pela dádiva desta conquista. A
minha avó Delina e minha tia Maria, vocês
serão sempre exemplos a ser seguidos em minha
vida. Amo vocês!
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, pela força e perseverança;
Aos meus pais Jurandir e Marineuza pelo apoio e auxilio nos momentos difícies e
obrigado por cada mão que vocês estenderam nos momentos de desespero, a Deleon e Ramon
que além de irmãos, são parceiros e amigos. Amo todos vocês;
Á minha avó Laura, pelas constantes orações;
À minha noiva Roberta, pelo companheirismo, compreensão, carinho, amor e, por
compreender meus momentos de ausência;
Aos meus professores, pela dedicação, incentivo e, ao orientador Prof. Ms. Celso
Henrique Najar Rios por não medir esforços na realização desse trabalho;
A todos os meus colegas de curso, em especial a Luíz e Stella por momentos de
aprendizado juntos;
A Lili, minha ACD e amiga e a Dra. Fernanda Matos, pela amizade sempre;
A minha equipe de PSF, em especial a Dra. Kamila, por me inspirar a trabalhar em
equipe;
E a todos, que direta e indiretamente contribuíram para realização deste.
5
“Falar é completamente fácil, quando se tem palavras em mente que
se expresse sua opinião...
Difícil é expressar por gestos e atitudes, o que realmente queremos
dizer.
Fácil
é
julgar
pessoas
que
estão
sendo
expostas
pelas
circunstâncias...
Difícil é encontrar e refletir sobre os seus próprios erros.
Fácil é fazer companhia a alguém, dizer o que ela deseja ouvir...
Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer a verdade quando for
preciso.
Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre a
mesma...
Difícil é vivenciar esta situação e saber o que fazer.
Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo o deixa
irritado...
Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece.
Fácil é viver sem ter que se preocupar com o amanhã...
Difícil é questionar e tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às
vezes impetuosas, a cada dia que passa.
Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar...
Difícil é mentir para o nosso coração.
Fácil é ver o que queremos enxergar...
Difícil é saber que nos iludimos com o que achávamos ter visto.
Fácil é ditar regras e,
Difícil é segui-las”...
Carlos Drummond de Andrade
6
RESUMO
Este estudo teve como tema “A influência da Diabetes mellitus no processo de
osseointegração”, com o objetivo de pesquisar, através de revisão de literatura, a influência do
processo de osseointegração na reabilitação oral através de implantes dentários em pacientes
diabéticos, verificando as indicações e contra-indicações para aplicações clínicas. Concluiu-se
que o diabetes não é uma contra-indicação absoluta para a colocação de implantes dentários.
O importante é o paciente a ser implantado nestas condições mantê-la controlada,
especialmente durante o período de osseointegração. É recomendável que os pacientes nesta
condição, já na primeira consulta, revelem o fato e realizem um controle mais estrito que
inclua o uso de hipoglicemiantes orais ou de insulina, além da orientação adequada de uma
dieta, para que a doença seja controlada e o tratamento para a colocação dos implantes possa
ser realizado com maior segurança.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Osseointegração; Reabilitação Oral; Implantes Dentários.
7
ABSTRACT
This study had the theme "The influence of diabetes mellitus in the process of
osseointegrated" with the aim of searching through literature review of the influence of the
process of osseointegrated in oral rehabilitation through dental implants in diabetic patients,
noting the indications and contra-indications for clinical applications. It was concluded that
the diabetes is not a contraindication for the absolute laying of dental implants. What is
important is the patient to be implanted in these conditions to keep it controlled, especially
during the osseointegração. It is recommended that patients in this condition, since the first
consultation, reveals the fact and make a more strict control that includes the use of oral
hypoglycemic agents or insulin, in addition to the guidance of a proper diet, so that the
disease is controlled and treatment for the placement of implants can be performed with
greater security.
Key-words: Diabetes Mellitus; Osseointegrated; Oral Rehabilitation; Dental Implants
.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL) pra diagnóstico de diabetes
Mellitus e seus estágios pré-clínicos..............................................................................
15
Figura 2- Implantes mandibulares com abutments......................................................
21
Figura 3 - Radiografia panorâmica dos implantes mandibulares................................
21
Figura 4 - Implantes mandibulares com Hader bar....................................................... 22
Figura 5 - Prótese total mandibular posicionada........................................................... 22
9
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................
10
2 METODOLOGIA.......................................................................................................
12
3 REVISÃO DE LITERATURA..................................................................................
13
3.1 DIABETES MELLITUS............................................................................................
13
3.2
INFLUÊNCIA
DO
DIABETES
MELLITUS
NO
PROCESSO
DA
OSSEOINTEGRAÇÃO..................................................................................................... 18
4 DISCUSSÃO...............................................................................................................
32
5 CONCLUSÕES............................................................................................................
36
REFERÊNCIAS..............................................................................................................
37
10
1 INTRODUÇÃO
A verdadeira revolução da Implantodontia Oral tem como marco inicial a descoberta
da osseointegração em 1952 pelo professor Branemark. Este realizava estudos sobre
microcirculação em mecanismos de reparação óssea e constatou uma ancoragem óssea direta
e forte entre a câmara de titânio (que estava cirurgicamente inserida na tíbia de um coelho) e o
tecido ósseo do referido animal (BRÄNEMARK et al., 1987).
Uma nova era iniciou-se na Odontologia através da incorporação da osseointegração,
uma vez que esta proporciona uma conexão funcional e estrutural direta entre o tecido ósseo
bem organizado e uma superfície absorvente de um implante. O desenvolvimento dos
implantes dentais revolucionou as possibilidades de reabilitação para pacientes parcial ou
totalmente edêntulos fornecendo uma solução confiável e segura para a substituição de dentes
perdidos (VIDIGAL JR e GROISMAN, 2007).
O sucesso na Implantodontia está diretamente ligado ao bom senso e capacidade do
profissional em usar todas as informações disponíveis e a colaboração do paciente, em seguir
corretamente a orientação do cirurgião-dentista nos seguintes aspectos pós-cirúrgicos:
alimentação adequada, comunicação imediata de alterações locais e de saúde geral,
comparecimento aos retornos programados e higienização oral com técnica adequada. Os
insucessos representam por volta de 5 a 10% dos trabalhos realizados, porém, na maioria dos
casos em que ocorre, poderá ser realizada uma nova implantação com grandes probabilidades
de sucesso (PARENTI FILHO, 2007).
Estima-se que de 3 a 4% dos pacientes adultos que se submetem a tratamento
odontológico são diabéticos, por se tratar de uma patologia associada à sequelas sistêmicas
adversas, como alterações da cicatrização da ferida e, alterações fisiológicas que diminuem a
capacidade imunológica, potencializando a susceptibilidade às infecções, pode afetar a
osseointegração de implantes dentários (OLSON et al., 2000; SOUSA et al., 2003).
O Diabetes Mellitus se constitui num transtorno do metabolismo intermediário
consequente ou à falta de insulina ou à sua inadequada utilização pelos tecidos, o que se
traduz laboratorialmente pela elevação da taxa de glicemia. Paralelamente aos transtornos
metabólicos, ou através deles, ocorrem alterações vasculares as quais são as grandes
11
responsáveis pela maior parte das manifestações clínicas do diabetes e causadoras de
considerável morbidade e mortalidade. Quase todos os tecidos do organismo são afetados, em
maior ou menor grau, em decorrência de tais alterações vasculares, particularmente dos
pequenos vasos. Entretanto, as lesões em alguns órgãos são mais frequentes ou mais graves: o
rim, o coração e o sistema arterial periférico. Além destes, a retina, a pele e o sistema nervoso
periférico também são sede de lesões provocadas pelo diabetes, com importantes prejuízos à
saúde do indivíduo (LAURENTI, 1982).
Tendo em vista as inúmeras particularidades do paciente diabético, o mesmo é
considerado paciente especial e necessita cuidados na consulta de rotina, medicação, anestesia
e controle (KITAMURA et al., 2004).
Com a evolução dos implantes dentários e o crescente interesse da população por tal
recurso cirúrgico, tornou-se importante verificar se os pacientes diabéticos estariam aptos para
receber implantes e se estes desenvolveriam uma osseointegração satisfatória (BALSHI e
WOLFINGER, 1999).
Neste contexto, este estudo tem como objetivo pesquisar a influência do processo de
osseointegração em pacientes diabéticos na reabilitação oral com implantes dentários.
12
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização deste estudo é a pesquisa bibliográfica,
baseada na revisão de títulos de livros, artigos científicos publicados, teses e revistas
especializadas, utilizando os seguintes unitermos: Diabetes Mellitus; osseointegração;
reabilitação oral; implantes dentários. Serão consultadas as bases de dados Medline, Lilacs,
Pubmed, Cocrhane, Scielo e BBO, sendo consideradas publicações em inglês, português e
espanhol.
13
3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 DIABETES MELLITUS
Os primeiros registros escritos sobre o diabetes foram encontrados num papiro egípcio
datado de 1.500 a.C.. Por volta do ano 100 da nossa era, médicos gregos deram o nome
“diabetes” à doença. A palavra diabetes significa “sifão”, pois o sinal mais óbvio da doença é
o aumento no volume da urina. Os médicos gregos observaram também que as formigas eram
especialmente atraídas pela urina dos diabéticos. Por volta de 1650, o médico britânico
Thomas Willis descobriu o porquê dessa atração das formigas, ao testar a urina de um de seus
pacientes diabéticos. Ele anotou em seus registros que ela era “maravilhosamente doce”. O
nome da doença passou então a ser denominada Diabetes Mellitus, ou seja, “sifão de mel”
(MESSINA e SETCHELL, 2002).
Diabetes é considerada um problema de saúde pública por sua magnitude, risco e
dificuldades no seu controle. Destaca-se também por sua alta frequência na população, suas
complicações, mortalidade, altos custos financeiros e sociais envolvidos no tratamento e
deterioração significativa da qualidade de vida (PÈRES, 2006).
O diabetes é uma síndrome heterogênea que resulta de defeitos na secreção e na ação
da insulina (REIS et al., 2002 apud FRANCO et al., 2003). A causa da Diabetes Mellitus é
desconhecida ou idiopática na maioria dos casos (PESSUTO e CARVALHO, 1998). Porém,
nesta patologia vários fatores podem estar associados a sua etiologia como o sedentarismo, o
estresse, o tabagismo, a idade, a história familiar, o peso e os fatores dietéticos.
É uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia consequente a anormalidades
no metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. As pessoas com diabetes têm organismos
que não produzem ou respondem à insulina, um hormônio produzido pelas células beta do
pâncreas que é necessário para o uso ou armazenamento de combustíveis corpóreos. Sem a
insulina eficiente, a hiperglicemia ocorre e pode levar à complicações a curto e longo prazo,
como a disfunção e falência de vários órgãos (especialmente rins, olhos, nervos, coração e
14
vasos sanguíneos), proteinúria, neuropatia periférica, ulcerações crônicas nos pés, infecções
cutâneas de repetição dentre outros. (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003).
Para Bjeland et al. (2003), o Diabetes é uma doença crônica e caracterizada pela
hiperglicemia e elevação de hemoglobina glicosilada. É definido como a insuficiência
absoluta ou relativa de insulina, causada por um distúrbio endócrino caracterizado pelas
alterações metabólicas dos carboidratos, lipídeos e proteínas. A insuficiência de insulina pode
ser provocada pela baixa produção pelo pâncreas ou pela falta de resposta dos tecidos
periféricos à insulina.
Para Moore, Zgibor e Dasanavake (2003), o Diabetes Mellitus caracteriza-se por uma
hiperglicemia crônica, onde ocorre uma diminuição da produção de insulina ou pela
resistência dos tecidos por esse hormônio e pode ser considerado como multifatorial.
O diabetes não é uma doença homogênea e várias síndromes distintas têm sido
delineadas. O National Diabetes Data Group (1979, apud BATISTA et al, 2005), classifica o
diabetes em:
a) Diabetes Mellitus Insulino – dependente (tipo 1): o paciente pode ser de
qualquer idade, embora a grande maioria dos casos se desenvolva antes do
trinta anos. São indivíduos geralmente magros e o início dos sintomas é
usualmente súbito com significativa perda de peso, poliúria e polidipsia. São
insulinopênicos com tendência a cetoacidose, portanto, dependentes de terapia
com insulina. Apresentam associação com antígeno de histocompatibilidade
(HLA-DW3, DW4), fatores ambientais e genéticos.
b) Diabetes Mellitus (tipo II) (Obeso e não obeso): manifesta-se geralmente após
os trinta anos de idade. Os pacientes podem ser assintomáticos ou levemente
sintomáticos, têm frequentemente história familiar de diabetes e 60% são
obesos. Não têm tendência a cetoacidose, exceto durante períodos de estresse.
Não são absolutamente dependentes de insulina exógena para a sobrevivência,
embora a terapia com a insulina possa ser usada para controlar a hiperglicemia.
c) Diabetes Gestacional: início ou descoberta de intolerância à glicose durante a
gravidez.
15
d) Outros tipos: secundário a doenças pancreáticas, endocrinopatias, drogas e
agentes químicos; e associado a anormalidades dos receptores de insulina
(acantose nigricans), síndromes genéticas, desnutrição, etc.
O diagnóstico de Diabetes Mellitus em adultos (e mulheres não grávidas) deve se
restringir aos que seguirem um dos seguintes critérios (BATISTA et al, 2005) (Fig. 1):
a) Glicose plasmática > 200mg/dl com sinais e sintomas clínicos de Diabetes
Mellitus: polidipsia, poliúria e perda de peso;
b) Glicose plasmática de jejum > 140mg/dl em pelo menos duas ocasiões;
c) Glicose plasmática de jejum <140mg/dl com níveis plasmáticos de glicose
mantidos elevados durante pelo menos dois testes orais de tolerância à glicose.
A amostra de duas horas e pelo menos uma hora entre zero e duas horas após a
dose de 75 g de glicose oral deve ser >200 mg/dl. O teste oral de tolerância à
glicose não é necessário se a glicose plasmática de jejum é <140 mg/dl.
Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL)
Para Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Seus
Estágios Pré-Clinicos
Figura 1 – Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL) pra diagnóstico de diabetes Mellitus e seus estágios préclínicos.
Fonte: Arquivo Próprio
16
Algumas complicações poderão vir a surgir no indivíduo diabético, as agudas são a
hipoglicemia, cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar, e as tardias incluem a retinopatia,
nefropatia, neuropatia e complicações vasculares, portanto a doença requer um controle
contínuo de forma a atenuar essas complicações (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003).
O tratamento do paciente diabético visa controlar a hiperglicemia na tentativa de evitar
as complicações da doença. Inclui dieta, hipoglicemiantes orais, monitoração da glicose,
insulinoterapia e exercícios. É de extrema importância também à educação do paciente sobre
sua doença, fazendo com que ele próprio esteja capacitado a reconhecer os sintomas de
descompensação e manejá-la. A dieta deve ser direcionada para levar o paciente ao seu peso
ideal e manter normais os níveis sanguíneos de glicose. A insulina está indicada no tratamento
do diabetes tipo I e tipo II que não responderam à dieta e hipoglicemiantes orais, nas
descompensações agudas e na gravidez (FRANCO et al., 2003). A integração de vários
profissionais, especialmente nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, cirurgiões-dentistas
e professores de educação física, é vista como bastante enriquecedora (BRASIL, 2002).
Barcellos et al. (2000) relataram que muitos pacientes podem apresentar diagnóstico
de Diabetes Mellitus e não apresentar o quadro clínico tradicional, principalmente àqueles
com alterações discretas do metabolismo. Segundo Gross et al. (2002), em algumas
circunstâncias o diagnóstico do tipo de Diabetes Mellitus torna-se mais difícil, podendo ser
necessária à utilização de alguns exames laboratoriais para estabelecer a possível causa do
diabetes, como por exemplo, marcadores de auto-imunidade, medida de auto-anticorpos
relacionados à insulite pancreática e a avaliação da reserva pancreática de insulina através da
medida do peptídeo C e da fase rápida de secreção de insulina.
A prevalência de Diabetes Mellitus na população urbana brasileira é de 7,6% e
calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de diabéticos no país (BRASIL,
2002).
É mais comum em afroamericanos, hispânicos, nativos norte-americanos, ásio-
americanos e originários das ilhas do Pacífico (PERNO, 2001).
Além da manutenção da saúde geral, a saúde bucal também é fator importante a ser
considerado, visto que, como não há cura para o Diabetes Mellitus, ele deve ser controlado. O
diabetes causa espessamento dos vasos sanguíneos, o que resulta na diminuição do fluxo de
nutrientes e da remoção de resíduos nocivos, podendo debilitar a resistência dos tecidos
bucais a infecções e aumentar os períodos de cura. Além disso, certas bactérias se alimentam
17
de açúcares como a glicose. Para o profissional, é de suma importância a percepção de sinais
e sintomas bucais que podem indicar a presença de Diabetes Mellitus não diagnosticado ou
não controlado. Dentre estes sintomas encontram-se a inflamação gengival severa, os
abscessos agudos gengivais ou periodontais, que podem ser múltiplos e recorrentes, e o
avanço rápido da doença periodontal (PERNO, 2001).
Conforme relatado por Sartorelli e Franco (2003), a prevalência do Diabetes Mellitus
tipo II tem se elevado vertiginosamente e pode aumentar ainda mais. Na América Latina há
uma tendência de aumento da frequência entre as faixas etárias mais jovens, cujo impacto
negativo sobre a qualidade de vida e a carga da doença ao sistema de saúde é relevante. O
aumento das taxas de sobrepeso e obesidade associado às alterações do estilo de vida e ao
envelhecimento populacional, são os principais fatores que explicam o crescimento da
prevalência do diabetes tipo 2. As modificações no consumo alimentar da população
brasileira, com baixa frequência de alimentos ricos em fibras e aumento da proporção de
gorduras saturadas e açúcares da dieta, associadas a um estilo de vida sedentário compõem
um dos principais fatores etiológicos de obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas.
Segundo Vargas (2004), diversos processos patogênicos estão envolvidos no
desenvolvimento do diabetes, que vão desde destruição auto-imune das células β do pâncreas,
com consequente insulinodeficiência, até anormalidades que resultam na resistência à ação da
insulina. Frequentemente, secreção de insulina alterada e defeitos na sua ação, coexistem no
mesmo paciente, e em geral não se sabe bem qual anormalidade, ou se apenas uma delas, é a
causa primária da hiperglicemia.
Para Madeiro, Bandeira e Figueiredo (2005), o Diabetes Mellitus é uma doença que
deve ser considerada no planejamento e tratamento odontológico, uma vez que, o tratamento
dos pacientes portadores dessa patologia deve ser cauteloso e ponderado. Devido à suas
inúmeras complicações, é fundamental que o cirurgião-dentista saiba das limitações,
alterações e distúrbios que os pacientes diabéticos não compensados podem apresentar.
Pacientes diabéticos descompensados devem realizar o controle da doença para que o
tratamento odontológico possa ser realizado com maior segurança e o profissional deve
assistir a cada paciente de forma peculiar, uma vez que, a doença assume características
próprias em cada indivíduo.
18
Devido ao aumento de sua incidência, o Diabetes Mellitus é considerado um grave
problema de saúde pública. Por ser uma doença sistêmica, tem influência em todo o
organismo, inclusive na cavidade bucal, sendo os pacientes mal controlados, os que têm maior
predisposição a apresentarem problemas bucais. Portanto, a chance de um cirurgião-dentista
se deparar com um paciente diabético acometido por uma avulsão dentária é cada vez maior,
tornando imprescindível o conhecimento da enfermidade, de seu tratamento médico e as
implicações que ambos podem acarretar no tratamento odontológico. Inclusive faz-se
necessário também que o cirurgião-dentista faça parte da equipe multidisciplinar que cuida
dos pacientes com Diabetes Mellitus, cabendo ao mesmo, conhecer melhor essa patologia e
suas manifestações orais e, estar preparado para atuar em casos de hipoglicemia durante o
tratamento, para que possa providenciar cuidados preventivos e terapêuticos mais efetivos.
(ALVES et al., 2006).
3.2
INFLUÊNCIA
DO
DIABETES
MELLITUS
NO
PROCESSO
DA
OSSEOINTEGRAÇÃO
A coexistência do Diabetes Mellitus, pode levar a um aumento das taxas de falhas dos
implantes. Iyama et al. (1997) compararam a quantidade e a distribuição regional da formação
óssea ao redor de implantes de hidroxiapatita em ratos normais (controle) e ratos com diabetes
induzida. No sétimo, décimo quarto e vigésimo primeiro dia após a inserção dos implantes,
calceína, alzarina e tetraciclina foram injetados nos animais, sendo eutanaziados no vigésimo
oitavo dia. Os cortes histológicos foram preparados para leitura por microscopia confocal de
varredura a laser. No grupo controle o tecido ósseo formou-se em um padrão laminado com
três camadas de cores (calceína, alzarina e tetraciclina), mas no grupo dos diabéticos, não
observaram a presença da tetraciclina. Concluíram que no grupo controle foi observada
intensa formação óssea a partir do endósseo e do periósteo, enquanto no grupo experimental
(diabéticos) esta formação foi quase suprimida, principalmente próximo ao vigésimo primeiro
dia pós-inserção.
Para Takeshita et al. (1997) o mecanismo pelo qual o doente com Diabetes Mellitus
descompensado pode diminuir o índice de osso ao redor dos implantes são: diminuição de
19
cálcio no sangue, aumento de cálcio e fosfato na urina e produção diminuída do colágeno. O
estado de hiperglicemia aumenta a secreção de um hormônio da paratireóide, o qual estimula
os osteoclastos. Além disso, a secreção do hormônio do crescimento é diminuída quando a
concentração da insulina sérica é baixa. Os autores concluíram que os indivíduos portadores
dessa doença apresentam contra-indicação relativa ao tratamento com implantes.
Existe um impasse sobre a utilização do implante em pacientes tipo 2 compensados.
Lauda, Silveira e Guimarães (1998) afirmam que são contra-indicados, já que o problema do
diabetes não está na fase reparacional ou cirúrgica, e sim na formação e remodelação da
interface. No caso de suspeita de diabetes, o cirurgião-dentista deve solicitar exames
laboratoriais para avaliar a glicemia dos pacientes, encaminhando-o para o serviço médico
caso estes se apresentem alterados.
Nevins et al. (1998) realizaram um estudo objetivando identificar os efeitos do
diabetes induzido por streptozotocina na osseointegração. A doença foi induzida em ratos com
40 dias de idade através de injeção intraperitoneal de 70 mg por quilo de streptozotocina.
Quatorze dias após a injeção, os implantes foram colocados no fêmur de 10 ratos diabéticos e
10 ratos normais da mesma idade. Os animais foram sacrificados com o passar de 28 e 56 dias
após a instalação. A taxa de formação do osso novo numa zona limitando 250 µm ao redor
dos implantes foi similar para os animais diabéticos e de controle (P > 0,05). Entretanto, o
contato do osso e implante reduziu significativamente para os animais diabéticos (P <
0,0001). Os autores puderam concluir, levando em consideração que o modelo usado no
estudo foi de um estado diabético sem controle, que pacientes com níveis de glicose elevados
não devem ser tratados com implantes dentários.
El Askaryet al. (1999) enfatizam que pacientes portadores do Diabetes Mellitus não
controlados devem postergar a cirurgia até que controlem seu metabolismo.
Para Balshi e Wolfinger (1999) o Diabetes Mellitus é uma síndrome complexa que a
cavidade oral se associa a xerostomia, aumento de níveis salivares de glicose, com aumento
de incidência de cárie. Os autores realizaram uma pesquisa em 34 pacientes que receberam
227 implantes do sistema de Implantes Bränemark, com idades entre 34 e 79 anos. Todos os
pacientes receberam antibioticoterapia de largo espectro durante 10 dias antes da cirurgia e
aconselhamento para manterem um controle da doença. Entre abril de 1987 e maio de 1998,
observaram sucesso de osteointegração em 214 implantes (94,3%). Dos 13 mal sucedidos, um
20
foi devido a bruxismo, ou seja, sobrecarga da prótese. Dos três que tiveram insucesso foram
feitos com carga imediata e o restante teve-se uma osteointegração insatisfatória. Concluíram
que o uso de implantes dentários em diabéticos pode ser utilizado, porém estes pacientes
devem estar com a doença sob controle e submeterem a tratamento com antibióticos de largo
espectro, diminuindo a porcentagem de insucessos.
Herkovits, Devoto e Scholnik (2000) apresentaram um caso clínico de um paciente de
52 anos de idade, com diabetes tipo II, que recebeu um implante dentário. Sete meses após a
inserção do implante, quando de seu carregamento, os resultados eram de prognóstico
favorável, uma vez que, os parâmetros de higiene bucal e glicemia mostravam resultados
satisfatórios. O paciente seguiu com o controle mensal, apresentando, continuamente,
resultados positivos. Ao controle no décimo sexto mês, o implante apresentou mobilidade e,
na radiografia, constataram presença de reabsorção. Os valores glicêmicos (301 mg/dl)
encontravam-se muito altos e com presença de glicose na urina, sendo extremamente
perigosos para a estabilidade do implante e para a saúde do paciente. Os autores concluíram
que pacientes com diabetes tipo II podem ser tratados com implantes dentais, sempre e
quando os controles de higiene bucal e o estado de sua glicemia estiverem estabilizados.
McCracken et al. (2000), avaliaram a osseointegração de 32 ratos machos da raça
Sprague-Dawley divididos em dois grupos (n = 16): G1 – grupo controle; G2 – diabéticos
induzidos por meio de injeção parenteral de streptozotocina (Sigma-Aldrich®) em uma dose
de 65 mg/kg diluída em sal de fosfato cinco dias antes da cirurgia. Instalaram parafusos de
titânio (Ti-6A1-4V®) medindo 1,5 x 8 mm. Após um período de 14 dias de cicatrização, os
ratos foram eutanasiados com inalação de dióxido de carbono. As tíbias foram removidas,
limpas de tecido mole e fixadas em paraformaldeíde de fosfato por 12 horas. Os espécimes
foram desidratados com alcoóis progressivos sob vácuo durante 14 dias. As amostras foram
preparadas para microscopia através de técnicas de corte e moagem usando o sistema Exakt®.
As amostras foram examinadas para a análise histomorfométrica usando um sistema de
imagem e análise computadorizada. Três quantidades diferentes foram determinadas para
cada amostra: porcentagem de osseointegração, porcentagem do volume ósseo ao redor do
implante e a frequência do contato do osso ao longo da superfície do implante. Os sintomas
nos ratos diabéticos incluíam perda de peso, poliúria, polifagia e polidpsia e, durante o curso
da experiência, os animais de controle ganharam peso enquanto os animais diabéticos
perderam. G2 demonstrou significativamente menos osseointegração do que G1. Entretanto, a
21
porcentagem do volume ósseo em G2 foi aproximadamente quatro vezes maior do que em
G1. As análises bioquímicas foram misturadas; animais diabéticos demonstraram níveis
elevados de osteocalcina comparados aos controles, mas fosfatase alcalina diminuída.
Baseados nos resultados do estudo, os autores concluíram que a reação óssea associada com
os implantes de liga de titânio nas tíbias de ratos diabéticos foi diferente dos não-diabéticos,
onde os diabéticos apresentaram menos osseointegração, especialmente na área do canal
medular.
De acordo com Olson et al., 2000; Sousa et al., 2003 pacientes diabéticos
descompensados apresentam maior risco de desenvolver infecções e complicações vasculares.
O processo de cicatrização é afetado pelo comprometimento da função vascular, quimiotaxia,
comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio. O metabolismo
da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada. A regeneração
dos nervos é alterada e a angiogênese, comprometida.
Olson et al. (2000) apresentaram um estudo para avaliar o sucesso de implantes de
forma de raiz de dois estágios (três diferentes sistemas de implante) colocados na sínfise
mandibular de 89 pacientes diabéticos do sexo masculino, com idade média de 62.7 anos
(variação de 40 a 78 anos). Aproximadamente 14 dias antes da cirurgia de colocação de
implante de primeiro estágio, o controle da diabete dos pacientes foi avaliado e os níveis de
FBG e HbA1c foram determinados. Cada um dos 89 pacientes recebeu dois implantes
endósseos em forma de raiz colocados na sínfise mandibular seguindo as instruções do
fabricante (Figs. 2 e 3).
Figura 2 – Implantes mandibulares com abutments.
Fonte: Olson et al., 2000.
Figura 3 – Radiografia panorâmica dos implantes
mandibulares.
Fonte: Olson et al., 2000.
22
Uma prótese total maxilar convencional e uma overdenture implantossuportada Hader
retida por clip foram fabricadas para cada paciente (Figuras 4 e 5).
Figura4 – Implantes mandibulares com Hader bar.
Fonte: Olson et al., 2000.
Figura 5 – Prótese total mandibular posicionada.
Fonte: Olson et al., 2000.
Segundo este mesmo autor, os implantes foram encobertos aproximadamente quatro
meses após a colocação, sendo restaurados com a overdenture que foi mantida em exames de
coleção de dados nos acompanhamentos programados durante os 60 meses depois da carga.
Dezesseis dos 178 implantes falharam. Métodos de tabela de sobrevivência calcularam
aproximadamente 88% de sobrevida de implantes, desde a colocação da prótese até o fim do
acompanhamento (60 meses). Nenhum implante falhou no período entre a colocação cirúrgica
e o descobrimento, cinco falharam no ato do descobrimento, sete falharam depois da
descoberta e antes da colocação da prótese, e 4 falharam depois da prótese instalada. Os
valores FPG e hemoglobina glicosilado (HbA1c) foram determinados antes da colocação do
implante e aproximadamente 4 meses depois do descobrimento cirúrgico. Os resultados dos
implantes em um período de 5 anos foram analisados contra as seguintes variáveis de
previsão: a) valores de FPG do inicio e acompanhamento; b) valores HbA1c do inicio e
acompanhamento; c) idade do paciente; d) duração do diabetes (anos); e) terapia diabética do
inicio; f) histórico de fumo; e, g) comprimento do implante. A análise encontrou somente a
duração da diabete (P < 0,025) e o comprimento do implante (P < 0,001) como previsores
estatisticamente significativos de falha de implante. Os autores concluíram que a colocação de
implante endósseo na sínfise mandibular de pacientes diabéticos do tipo 2 é um procedimento
previsível e que a duração da diabete pode ser associada à falha de implante, sendo que,
implantes mais compridos experimentam menos falhas.
23
Segundo Dinato e Polido (2001) a Diabetes Mellitus é uma das doenças mais
preocupantes devido a alteração na reparação das feridas cirúrgicas, alterações micro e
macrovasculares presentes principalmente em diabéticos mal controlados. As complicações
orais do diabetes podem incluir diminuição do fluxo salivar e seus constituintes. Tal condição
predispõe o aumento ao risco de infecções, diminuindo as defesas do organismo dificultando
a cicatrização.
Farzad, Andersson e Nyebrg (2002) avaliaram o resultado da reabilitação de pacientes
diabéticos com implantes osseointegrados, utilizando uma amostra composta por 25
prontuários de pacientes diabéticos que foram submetidos à reabilitação com implantes, sendo
analisados: idade, tipo de diabetes, sobrevida dos implantes, inflamação de periimplante, e
perda óssea. Além disso, a opinião dos pacientes sobre o resultado do tratamento foi
registrada. A taxa de sucesso dos implantes registrada foi de 96,3% durante o período de
cicatrização e 94,1% um ano após a cirurgia. Poucas complicações foram registradas e todos
os pacientes, com exceção de um, estavam satisfeitos com o tratamento. Os autores
concluíram que houve grande prosperidade na reabilitação de pacientes diabéticos edêntulos,
inclusive no tratamento de enxertia óssea. Nos casos em que os níveis de glicose estavam
controlados, as taxas de sucesso encontradas na reabilitação de diabéticos, por meio de
implantes dentários, foram estatisticamente próximas das taxas de pacientes normais.
Van Steenberghe et al. (2002) avaliaram a influência de fatores endógenos e locais
sobre a ocorrência da falha de implante até o estágio do abutment. Para tanto, um grupo de
399 pacientes, com um total de 1263 implantes Bränemark, foi avaliado por meio de um
histórico médico individual. A coleção de dados e análise foram principalmente focadas nos
fatores endógenos como hipertensão, osteoporose, função hipo ou hipertireóide,
quimioterapia, diabete tipo I e II, doença de Crohn, alguns fatores locais (por exemplo,
qualidade do osso, razão para perda de dente) e abertura da esterilidade durante cirurgia. O
motivo da perda de dente, hábito de fumar, radioterapia e outros fatores locais do osso
(qualidade e quantidade de osso) também foram registrados. Observaram uma taxa de sucesso
dos implantes de 97.8%. Certos fatores, tais como doenças cardiovasculares, diabete tipo I e II
controlada e osteoporose não levaram a um aumento na incidência de falha precoce do grupo.
Os autores concluíram que, mesmo sofrendo altas taxas de fatores sistêmicos e locais
comprometedores, alta taxa de sucesso de implantes foi encontrada.
24
Lourenço (2003) verificou o conhecimento técnico-científico dos cirurgiões-dentistas
atuantes na área de Implantodontia na cidade de São José do Rio Preto/SP, que executam o
tratamento com implantes osseointegrados, sobre a avaliação do sucesso do tratamento,
osseointegração e contra-indicações. Foram avaliados 100 questionários com questões
estruturadas e abertas, composto de parte identificatória e parte específica sobre
Implantodontia e Aspectos Diceológicos e Deontológicos da atuação dos profissionais. Os
dados obtidos foram agrupados segundo as variáveis classificatórias e segundo a qualificação
e atuação dos indivíduos que realizam implantes e/ou próteses sobre implantes. O
processamento dos dados foi feito por meio de análise estatística que incluiu testes de Quiquadrado e Exato de Fischer. Tem sido preconizado que o diabetes tipo II não é uma contraindicação absoluta ao tratamento com implantes, porém, 50 Cirurgiões-Dentistas (58,14% da
amostra) classificaram o diabetes tipo I como uma contra-indicação absoluta e 31 cirurgiõesdentistas (36,05% da amostra) acreditam que a diabetes tipo I é uma contra-indicação relativa.
O autor concluiu, com base nesses resultados, que o paciente diabético insulinodependente é
um contra-indicado absoluto ao tratamento com implantes osseointegrados.
Para Quirynen e Teughels (2003), o Diabetes Mellitus, uma doença metabólica que
influencia a cicatrização e põe em perigo a reação imunológica a infecções, aumenta um
pouco o risco de falha precoce de implante, especialmente em pacientes que não estão
metabolicamente controlados. Enquanto estudos anteriores sobre periodontite mostram
possíveis diferenças na colonização bacteriana subgengival entre pacientes diabéticos e não
diabéticos, pesquisas mais recentes falharam ao confirmar essas observações, apontando em
direção a outros fatores para comprometer esses pacientes para cirurgia de implante. Dados
científicos apóiam o impacto do estado oral, a configuração do implante e a superfície em
especial na patogeneicidade do biofilme do periimplante. A função da flora subgengival na
implantite em pacientes comprometidos (diabete, pacientes imunocomprometidos, etc.) ainda
não foi inteiramente estabelecida.
Roumanas et al. (2003) avaliou a dificuldade de mastigação de alimentos dos usuários
de Overdentures implantossuportadas e mandibulares convencionais. Para tanto, 58 pacientes
com diabetes controlada (G1, n = 37 – Overdenture implantossuportada e; G2, n = 21 –
Overdenture mandibular convencional) foram avaliados por uma semana no início do
tratamento e por seis meses pós-tratamento, por meio de registros alimentares. Uma escala de
classificação de 10 pontos para a dificuldade de mastigação (10 como mastigação mais difícil)
25
foi usada para classificar os itens alimentares nos registros da alimentação. Não foram
observadas diferenças entre as classificações médias de mastigação para todos os alimentos
consumidos no inicio ou após o tratamento para os dois grupos. Entretanto, as classificações
médias para a frequência combinada de consumo de alimentos difíceis de mastigar (6-10)
mostraram uma queda significativa seguindo o tratamento com ambos os tipos de próteses.
Com próteses originais, mais de 91% dos pacientes consumia alimentos com classificações de
dificuldade de mastigação de seis a 10 pelo menos sete vezes por semana. Com as próteses de
estudo, somente 21% manteve esse nível de consumo, com a frequência diminuindo de quatro
a seis vezes por semana em 24% e um a três vezes por semana em 43% dos pacientes. As
quedas na frequência de consumo de alimentos mais difíceis de mastigar com próteses de
estudo estavam em porcentagem maior nos pacientes do grupo de implantes do que no grupo
convencional. Os autores concluíram que, após sete meses de adaptação das novas próteses,
os pacientes consumiram menos alimentos difíceis de mastigar do que com suas próteses
originais,
sendo,
esta
queda,
mais
frequente
com
Overdentures
mandibulares
implantossuportadas.
Sousa et al. (2003) esclarecem que em diabéticos bem controlados não há razão para
se evitar a colocação de implantes, pois estes podem ser tratados como pacientes normais,
porém necessitam de cuidados especiais, sendo importante o contato com o médico que o
acompanha, principalmente diante de procedimentos cirúrgicos mais complicados, que exijam
boas condições metabólicas. É necessário que haja diálogo mais efetivo entre odontologia e
medicina, para que o paciente seja, enfim, visto como um todo, elevando os índices de
sucesso terapêutico nas duas profissões.
Fadanelli,
Stemmer
e
Beltrão
(2005),
elucidam
que
pacientes
diabéticos
descompensados apresentam maior risco de desenvolver infecções e complicações vasculares,
visto que, o processo de cicatrização é afetado pelo comprometimento da função vascular,
quimiotaxia, comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio. O
metabolismo da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada.
Falhas na terapia com implantes podem ser atribuídas a um fator isolado ou a vários fatores
associados, não havendo associações com o diabetes.
Margonar (2005) apresentou um estudo com objetivo de avaliar, por meio de
parâmetros histométricos, a influência da doença e da insulinoterapia sobre a osseointegração.
Para tanto, utilizou 34 coelhos adultos que foram divididos nos seguintes grupos: grupo
26
controle (C), grupo diabético induzido (D) e grupo diabético tratado com insulina (DTI). A
indução do diabetes foi realizada por administração de Aloxana (115 mg/kg). Cada animal
recebeu dois implantes para análise histométrica. Após 4, 8 e 12 semanas, os animais foram
sacrificados e as peças reduzidas para processamento histológico. Os três grupos não
apresentaram diferenças em relação à área óssea. Entretanto, o Grupo C apresentou maior
extensão de contato osso/implante nos três períodos experimentais (P < 0,001) e os Grupos D
e DTI não mostraram diferenças estatísticas (P = 0,75). O autor pode concluir que o Diabetes
Mellitus influenciou negativamente a osseointegração de implantes colocados em tíbias de
coelhos e a insulinoterapia não alterou este efeito.
Moy et al. (2005) realizaram uma análise retrospectiva de implantes instalados por um
único cirurgião em um período de 21 anos, envolvendo 4.680 implantes em 1.140 indivíduos.
Os supostos fatores de risco colhidos dos registros dos pacientes incluíam: gênero, idade,
localização do implante, tabagismo, diabetes, hipertensão e coronariopatias, asma, terapia
com esteróides, histórico de radioterapia na cabeça e pescoço e tratamento ou falta de
tratamento de reposição hormonal pós-menopausa. Concluíram que certos fatores de risco
como asma, hipertensão e uso crônico de esteróides não estão relacionados com o aumento
significativo das falhas dos implantes. Por outro lado, tabagismo, diabetes, pacientes com
histórico de radioterapia na cabeça e pescoço e pacientes submetidos a tratamento de
reposição hormonal pós-menopausa estão associados a aumento significativo na taxa de
insucesso dos implantes, porém, não identificou-se nenhuma contra-indicação absoluta para o
tratamento com implantes dentários.
Ferreira et al. (2006) verificaram a prevalência da doença de periimplante e analisaram
possíveis riscos associados com mucosite de periimplante e periimplantite. O grupo de estudo
consistiu de 212 tratados com implantes dentários 3i Implant Innovations ®. No momento do
exame, todos os implantes (total de 578) deveriam estar instalados entre seis meses e cinco
anos. Os pacientes foram divididos em dois grupos: o primeiro com uma frequência maior ou
igual a seis meses (visitas regulares) e o segundo com a frequência maior que seis meses
(visitas esporádicas). Para todos os pacientes diagnosticados como diabéticos na hora da
cirurgia assim como para aqueles que relataram ter a doença na hora da avaliação, um novo
exame de glicemia foi solicitado. Os implantes colocados foram examinados clínica e
radiograficamente para avaliar o estado periimplante. O grau de associação entre a doença de
periimplante e outras variáveis independentes foi investigado usando uma análise de regressão
27
multinomial. Os dados individuais dos pacientes, incluindo variáveis demográficas, de
periimplante e periodontais foram transcritos em um software de estatística para PC (SPSS
12.0). A prevalência da mucosite de periimplante e periimplantite foi de 64.6% e 8.9%,
respectivamente, sendo que a presença de periodontite e diabete foi estatisticamente associada
ao risco elevado de periimplantite. Os autores concluíram que o controle metabólico ruim nos
pacientes diabéticos não apresentou uma associação estatisticamente significativa com a
mucosite de periimplante; entretanto, esses pacientes eram mais suscetíveis a desenvolverem
a mucosite de periimplante e periimplantite.
Czerninski et al. (2006) descreveram um caso cínico de um paciente de 80 anos de
idade que apresentava lesão ulcerativa periimplantária na região anterior da mandíbula. Seu
histórico médico incluía Diabetes Mellitus não-dependente de insulina e doença isquêmica
cardíaca. Dezesseis anos antes, o paciente foi tratado de um carcinoma oral de células
escamosas (OSCC) na mucosa bucal esquerda, com excisão local, sem radioterapia. Além
disso, três anos antes da apresentação para o tratamento, foi diagnosticado carcinoma de colo
com metástase no fígado. Sua história bucodental, incluía cinco implantes dentais colocados
na região anterior da mandíbula, cinco anos antes. Ao exame clínico, um volume exofítico de
15 mm, parcialmente ulcerado foi observado ao redor dos implantes dentais. Na região
submandibular esquerda, nódulos linfóides eram palpáveis. A radiografia mostrou uma lesão
osteolítica com bordas pouco definidas, adjacentes aos implantes laterais direito, além de um
OSCC invasivo, moderadamente diferenciado envolvendo mucosa e osso. O paciente foi
classificado como tendo estágio IV de câncer e optou pelo procedimento de excisão local e
terapia paliativa, finalizando o tratamento em alguns meses.
O objetivo do estudo de Kotsovilis, Karoussis e Fourmoussis (2006) foi desempenhar
uma revisão compreensiva e crítica de estudos experimentais e clínicos publicados na leitura
internacional considerando a colocação de implantes endósseos em pacientes diabéticos e tirar
conclusões baseadas em evidências da eficácia e capacidade de previsão da terapia de
implantes nesses pacientes. Para tanto, realizaram uma pesquisa literária de artigos publicados
até março de 2005 na Biblioteca Nacional de Medicina e banco de dados Cochrane Oral
Health Group, que forneceu 227 títulos e resumos importantes. De um total de 227, após
avaliação criteriosa, 19 publicações completas (onze estudos experimentais e oito casos
clínicos) foram revisadas. A maioria dos estudos indicou que o diabetes não é contraindicação para a colocação de implante, desde que permaneça sob controle metabólico. Os
28
autores concluíram que mais experiências bem projetadas, longas e clinicamente controladas,
são certamente necessárias para provar tal declaração e avaliar vários fatores determinantes.
McCracken et al. (2006) avaliaram a reação óssea aos implantes em ratos diabéticos
não controlados e controlados por insulina. Para tanto, uma amostra de cento e cinquenta e
dois ratos foi dividida em três grupos: controle, diabéticos e de insulina. Os animais do grupo
diabético receberam injeção parenteral de streptozotocina (60 mg/kg) diluído em soro de
fosfato. O mesmo foi aplicado aos animais de insulina, com o adicional de uma bolinha
subcutânea de insulina (Lin-Plant®). Os animais controle receberam somente soro. Três dias
após a indução do diabetes, implantes de fio de titânio de 1.5 x 8 mm (Crystal
Manufacturing®) foram colocados na tíbia proximal dos ratos. Os implantes foram colhidos
em dois, sete, 14 e 24 dias e examinados histologicamente. Os ratos foram eutanasiados com
inalação de dióxido de carbono. As amostras foram analisadas usando um sistema
morfométrico de quantificação computadorizado. As imagens foram analisadas e os valores
histomorfométricos foram determinados usando o software de imagens NIH (NIH Image). O
volume ósseo médio chegou ao pico no sétimo dia e diminuiu com o tempo até o 24º dia,
sendo a porcentagem do volume ósseo médio em dois, sete, 14, e 24 dias, de 8.2 (±8), 22.9 (±
8), 18.8 (± 10), e 14.9 (± 9), respectivamente. O volume ósseo adjacente aos implantes em
ratos diabéticos foi significativamente maior do que os controles (P < 0.05). Animais
diabéticos tratados com insulina não foram estatisticamente diferentes dos controles. Os
autores concluíram que a indução de diabetes com STZ está associada com elevada reação
óssea comparada com os controles e que essa reação foi mediada pelo tratamento com
insulina.
Conforme Ricieri (2006), pouco se sabe sobre a influência das alterações sistêmicas no
processo de reparo dos dentes reimplantados. Sendo assim, analisou o processo de reparo do
reimplante de incisivos de ratos diabéticos não controlados após a manutenção dos dentes em
leite bovino pasteurizado. Para isso, utilizou uma amostra composta por 32 ratos (Rattus
norevegicus albicans, Wistar) machos, adultos, clinicamente livres de qualquer entidade
patológica. Após receberem anestesia (éter sulfúrico), os ratos foram divididos em dois
grupos (n=16): G1 (controle) – recebeu injeção de tampão citrato 0,01M, pH 4,5 através da
veia peniana e G2 (diabético) – foi injetada a streptozotocina dissolvida em tampão citrato
pela mesma via de administração de G1, na concentração de 35 mg/Kg de peso corpóreo.
Passados sete dias, após comprovação da hiperglicemia, o incisivo superior direito de cada
29
animal foi extraído e mantido no leite bovino pasteurizado tipo B por 60 minutos e depois
imerso em soro fisiológico. Os dentes foram reimplantados em seus respectivos alvéolos.
Após o procedimento cirúrgico, cada animal recebeu, em dose única, 20.000 U.I. de penicilina
G-benzatina (Benzetacil®) por via intramuscular. Dezesseis animais foram eutanasiados aos
dez dias e dezesseis aos 60 dias por injeção excessiva do anestésico. As peças obtidas foram
submetidas ao processamento laboratorial para a obtenção dos cortes, análise histológica e
histométrica. O tecido conjuntivo adjacente à superfície radicular se apresentou desorganizado
em G2 e, índices menores de reabsorção radicular externa e anquilose também foram
encontrados neste grupo, porém, sem diferenças estatisticamente significantes. Concluiu-se
que o processo de reparo do reimplante dentário dos ratos diabéticos foi semelhante ao do
grupo controle com relação à reabsorção radicular e a anquilose, embora a área de dentina não
reabsorvida tenha sido maior no grupo diabético, sendo esta diferença estatisticamente
significante.
Balshi, Wolfinger e Balshi (2007) avaliaram a estabilidade de 18 implantes do sistema
Bränemark carregados imediatamente em uma paciente diabética de 71 anos de idade,
controlada por insulina, nos primeiros 30 meses depois da cirurgia, correlacionando os dados
encontrados com a estabilidade de implantes em pacientes saudáveis. As medidas foram
realizadas através da análise da frequência de ressonância em todos os implantes no dia da
cirurgia e em um, dois, três, seis e 30 meses após a cirurgia. Todos os implantes
permaneceram em função após os 30 meses de acompanhamento, sendo que a estabilidade
média diminuiu 12,7% nos primeiros 30 dias, o dobro do observado na população geral. Após
o período do estudo, a estabilidade média dos implantes continuou a aumentar, entretanto, não
permanecendo igual às medidas iniciais do dia da cirurgia. Os autores concluíram que, apesar
das diferenças metabólicas dos pacientes diabéticos, um protocolo de carregamento imediato
pode ser bem-sucedido e resultar em boa osseointegração.
Morais (2007) realizou um estudo com o objetivo de avaliar o efeito do Diabetes
Mellitus e da insulinoterapia na osseointegração estabelecida ao redor de implantes instalados
em tíbia de ratos. Foram utilizados 80 ratos Wistar, os quais foram divididos em 4 grupos:
controle de 2 meses (C2m), controle de 4 meses (C4m), diabético (D) e insulínico (I). Os
implantes de superfície lisa (2,2mmx4mm) foram instalados na tíbia do rato. Após um período
de 2 meses para osseointegração, o grupo C2m foi sacrificado. A indução do DM foi realizada
com dose única de estreptozotocina (40mg/Kg) pela veia peniana. Os ratos do grupo I
30
receberam insulina subcutânea (8,5 U/dia) e os demais receberam solução salina (0,9%) pela
mesma via. Os níveis da glicemia plasmática foram avaliados periodicamente pelo método
enzimático da glicose-oxidase. Dois meses após a indução do DM, os grupos C4m, D e I
foram sacrificados. A relação do tecido ósseo com o implante foi avaliada pelas análises:
radiográfica (subtração radiográfica digital); bioquímica; histométrica e torque de remoção do
implante. Os dados das análises radiográfica, bioquímica e histométrica foram comparados
nos grupos pelo teste ANOVA, p>0,05. Os dados da análise do torque de remoção foram
comparados nos grupos pelo teste Kruskal Wallis e Friedman, p>0,05. Os resultados
mostraram que o grupo D apresentou níveis de glicemia plasmática acima de 300mg/dL e
significativamente mais alto do que os grupos C4m e I após a indução do DM e esta condição
sistêmica foi mantida até o final do experimento. Os resultados bioquímicos evidenciaram um
aumento significativo da determinação plasmática de fosfatase alcalina e da excreção urinária
de cálcio do grupo D após a indução do DM. Os resultados da subtração radiográfica digital
determinaram que o grupo D foi estatisticamente inferior em relação ao grupo insulínico nos
valores de ganho de nível de cinza. Os resultados histométricos da área óssea determinaram
que o grupo D (69,34+5) apresentou diferença estatística significante em relação aos grupos
C4m (78,2+5,5) e I (79,63+5,27). O torque de remoção no grupo D (12,9+2,5) foi
estatisticamente inferior ao grupo I (17,1+3) (p<0.05), porém sem diferenças significantes
com os grupos C2m (13,1+2,6) e C4m (16,9+5,3). A indução experimental do DM parece
prejudicar a osseointegração de implantes devido apresentar uma tendência negativa nos
resultados em relação à densidade óssea radiográfica na subtração digital, ao contato entre
osso e implante e à área óssea, ao torque para remoção do implante além de apresentar
elevados valores de componentes ósseos bioquímicos relacionados à perda óssea. A
insulinoterapia evitou a ocorrência das alterações ósseas detectadas em animais diabéticos.
Gromatzky e Sendyk (2007) esclarecem que o tratamento periodontal, deve ser
submetidos a um programa de controle e manutenção cuidadosamente elaborado durante 6
anos, para manterem uma higiene bucal padronizada e níveis de inserção inalterados. É de
suma importância no controle e manutenção, saber examinar e diagnosticar, como também,
conseguir resolver clinicamente as alterações resultantes. O sucesso a longo prazo dos
implantes depende da cooperação entre profissional e paciente, e de seu esforço conjunto na
manutenção da saúde dos tecidos perimplantares. Deve-se proceder a uma anamnese
criteriosa, pelo menos anualmente, pois podem surgir doenças sistêmicas, como Diabetes
Mellitus, dentre outras, agravando casos de mucosite ou perimplantite, e comprometendo a
31
preservação dos implantes. Estas anotações devem constar obrigatoriamente da ficha de
controle e manutenção do paciente.
32
4 DISCUSSÃO
A literatura, de um modo geral, tem apontado que as dificuldades apresentadas pelos
pacientes diabéticos para a obtenção de um bom controle metabólico (estão relacionadas à sua
adesão a um plano alimentar, ao incremento da atividade física e ao seguimento da terapêutica
medicamentosa (NEVINS et al., 1998; BALSHI e WOLFINGER, 1999; DINATO e
POLIDO, 2001; PERNO, 2001; FRANCO et al., 2003; MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003;
QUIRYNEN e TEUGHELS, 2003; KITAMURA et al., 2004; BATISTA et al., 2005;
MADEIRO, BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005; PÈRES, 2006).
Embora os implantes dentários sejam considerados opções de tratamento previsíveis e
consistentes para a maioria dos pacientes, Nevins et al. (1998); McCracken et al. (2000) e,
Lourenço, (2003), consideram que indivíduos com doença sistêmica descontrolada, como por
exemplo a diabete, podem ser negadas ao tratamento. Porém, com a evolução dos implantes
dentários e o crescente interesse da população por tal recurso cirúrgico, observou-se a
importância de verificar se os pacientes diabéticos estão aptos para receber implantes e se
estes podem desenvolver uma osteointegração satisfatória.
O DM é uma alteração metabólica que pode comprometer a estabilidade do implante
dentário devido a influência no tecido ósseo (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000;
BALSHI, WOLFINGER e BALSHI, 2007; MORAIS, 2007).
McCracken et al. (2006) e Morais (2007) concluíram que a indução experimental do
DM parece prejudicar a osseointegração de implantes devido apresentar uma tendência
negativa nos resultados em relação à densidade óssea radiográfica na subtração digital, ao
contato entre osso e implante e à área óssea, ao torque para remoção do implante além de
apresentar elevados valores de componentes ósseos bioquímicos relacionados à perda óssea.
A insulinoterapia evitou a ocorrência das alterações ósseas detectadas em animais diabéticos.
Pacientes diabéticos representam uma porção significativa da população que requer
tratamento reabilitador com implantes. Contudo, a indicação de implantes dentais
osseointegráveis para pacientes com comprometimento sistêmico como o Diabetes Mellitus
permanece controversa. Segundo Balshi e Wolfinger, (1999); Herkovits, Devoto e Scholnik,
33
(2000); Olson et al. (2000); Farzad, Andersson e Nyebrg, (2002); Van Steenberghe et al.
(2002); Fadanelli, Stemmer e Beltrão, (2005); Ferreira et al. (2006); Kotsovilis, Karoussis e
Fourmoussis, (2006); e, Balshi, Wolfinger e Balshi, (2007) o Diabetes Mellitus não
corresponde diretamente ao sucesso ou insucesso dos implantes, quando se trata de pacientes
com diabetes metabolicamente controlados, não resultando, portanto em maior risco de falhas
do que na população geral.
Porém, para Iyama et al. (1997); Takeshita et al. (1997); El Askaryet al. (1999);
Roumanas et al. (2003); Sousa et al. (2003); Margonar, (2005); Moy et al. (2005); Czerninski
et al. (2006); McCracken et al. (2006); Ricieri, (2006); Gromatzky e Sendyk (2007) e, Morais
(2007) o Diabetes Mellitus influencia negativamente a osseointegração de implantes, porem
não identificam nenhuma contra-indicação absoluta para o tratamento com implantes
dentários. Portanto, é necessário avaliar o risco individual de cada caso em particular.
Já, Nevins et al. (1998); McCracken et al. (2000) e, Lourenço, (2003) entendem que
um estado diabético sem controle, que pacientes com níveis de glicose elevados não devem
ser tratados com implantes dentários.
Sousa et al. (2003) relataram que dentre as alterações orais ocorridas em pacientes
diabéticos estão: a hipoplasia, a hipocalcificação do esmalte, diminuição do fluxo e aumento
da acidez e da viscosidade salivar, que são fatores de risco para cárie; sendo contra-indicados
os implantes osseointegrados, pois, a síntese de colágeno está prejudicada, principalmente em
pacientes com diabetes tipo 1 e descompensados do tipo 2.
Considera-se de suma importância da boa saúde geral do paciente para a perfeita
osseointegração e longevidade do implante (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000;
PERNO, 2001). O diabetes se não tratadas e monitoradas podem interferir na osteintegracão
dos implantes. Portanto, tratamentos prévios necessários devem ser feitos antes da colocação
de implantes para se evitar o risco de insucesso (RENOUART e RANGERT, 2001;
MCCRACKEN et al., 2006).
É de extrema importância que o paciente diabético esteja ciente da necessidade de
manter um adequado controle metabólico durante todo o período de cicatrização dos
implantes, a fim de otimizar o processo de osseointegração (BALSHI e WOLFINGER, 1999;
DINATO e POLIDO, 2001; QUIRYNEN e TEUGHELS, 2003), destacando-se também, os
34
controles de higiene bucal (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000; GROMATZKY e
SENDYK, 2007).
Pacientes com mau controle podem ter risco de complicações devido à alteração no
reparo cicatricial (MCCRACKEN et al., 2000; OLSON et al., 2000; DINATO e POLIDO,
2001; FARZAD, ANDERSSON e NYEBRG, 2002; SOUSA et al., 2003; QUIRYNEN e
TEUGHELS, 2003; FADANELLI, STEMMER e BELTRÃO, 2005).
Um paciente com diabetes de início tardio, controle rigoroso da dieta, que não
apresente perda dentária em decorrência do desenvolvimento da doença periodontal,
necessitando, por exemplo, da instalação de um único implante, apresentará menor risco de
insucesso (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000). A literatura relata uma
porcentagem de sucesso de 92.7% a 94.5% em diabéticos tipo 2 com controle glicêmico
adequado (BALSHI e WOLFINGER, 1999). Contrariamente, um paciente diabético juvenil,
insulino-dependente, com perda de múltiplos dentes, devido à doença periodontal, apresentará
um alto risco de insucesso.
De acordo com Lauda, Silveira e Guimarães (1998) Ferreira et al. (2006) os
insucessos de implantes em pacientes diabéticos estão, quase sempre, relacionados a pessoas
que desconheciam o problema e o implantodontista não teve sua atenção voltada para o
detalhe, provavelmente por falta de exames de sangue pré-operatórios ou por pacientes que,
na época dos exames, mantinham-na controlada e por motivos alheios à vontade ou
desatenção, descompensaram durante o período da osseointegração. Desta forma, Balshi e
Wolfinger (1999); El Askaryet al. (1999); Herkovits, Devoto e Scholnik (2000); Olson et al.
(2000); Madeiro, Bandeira e Figueiredo (2005); Kotsovilis, Karoussis e Fourmoussis (2006);
Gromatzky e Sendyk (2007) recomendam que os pacientes nesta condição, já na primeira
consulta, realizem um controle mais estrito nos meses seguintes à colocação dos implantes.
Em relação aos protocolos de carga imediata ou tardia, não existem evidências
baseadas em um número considerável de pacientes (BALSHI e WOLFINGER, 1999),
entretanto, parece razoável pressupor que a diabetes tipo 2 não seja um fator de risco absoluto
para a realização de um protocolo de carga imediata (BALSHI, WOLFINGER e BALSHI,
2007).
35
5 CONCLUSÕES
O diabetes não é uma contra-indicação absoluta para a colocação de implantes
dentários.
É importante manter controlados os níveis glicêmicos do paciente a ser implantado
especialmente durante o período de osseointegração.
É necessário que o implantodontista centre o atendimento no paciente e não na doença,
entendendo as diversas necessidades da pessoa, procurando atender a todas elas, criando uma
nova consciência, trabalhando e interagindo em harmonia com outros profissionais de saúde,
enfim, fazendo o acompanhamento, contribuindo para a promoção para uma vida saudável.
É de suma importância a realização de um programa de controle periódico para todos
os pacientes e principalmente para os diabéticos, para que o tratamento odontológico possa
ser realizado com maior segurança, uma vez que, a diabetes assume características próprias
em cada indivíduo.
36
REFERÊNCIAS
ALVES, C. et al. Atendimento odontológico do paciente com diabetes mellito:
recomendações para a prática clínica. Rev Cienc Med Biol, Salvador, v. 5, n. 2, p.97-110,
mai./ago. 2006.
BALSHI, T. J.; WOLFINGER, G. J. Dental Implants in the diabetic patient: a retrospective
study. Implant Dent, Baltimore, v. 8, n. 4, p. 355-359, june./dec. 1999.
BALSHI, S. F.; WOLFINGER, G. J.; BALSHI, T. J. Exame da estabilidade do implante
imediatamente carregado em paciente diabético através da Análise da Frequência de
Ressonância (AFR). Quintessence Int, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 271-279, dez. 2007.
BARCELLOS, I. F.; et al. Conduta odontológica em paciente diabético. Rev Bras Odontol,
Rio de Janeiro, v. 57, n. 6, p. 407-410, nov./dez. 2000.
BATISTA, M.C.R. et al. Avaliação dos resultados da atenção multiprofissional sobre o
controle glicêmico, perfil lipídico e estado nutricional de diabéticos atendidos em nível
primário. Rev. Nutrição, Campinas, v.18, n. 2, p. 219-228, mar./abr. 2005.
BJELAND, S. et al. Dentists, diabetes and periodontitis. Aust Dent J, Sydney, v. 47, n. 31, p.
202-207, sept. 2003.
BRÄNEMARK, P. I. Introducción a la oseointegración. In: BRANEMARK, P. I.; ZARB, G.
A.; ALBREKTSSON, T. Prótesis tejido-integradas: la osseointegración en la odontología
clínica. Berlin: Quintessence, 1987. Cap. 1, p.11-76.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Plano de Reorganização da
Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Manual de Hipertensão Arterial
e Diabetes Mellitus, Brasília, 2002.
CZERNINSKI, R. et al. Oral squamous cell carcinoma around dental implants. Quintessence
Int, Berlim, v. 37, n. 9, p. 707-711, oct. 2006.
DINATO, J. C.; POLIDO, W. D. Implantes osseointegrados cirurgia e prótese. São Paulo:
Artes Médicas Divisão Odontológica, 2001.
37
EL ASKARY, A. S. et al. Why do dental implants fail? Part I. Implant Dent. v.8, n. 2, p.
173-83, 1999.
FADANELLI, A. B.; STEMMER, A. C.; BELTRÃO, G. C. Falha prematura em implantes
orais. Rev Odont Ciênc, Porto Alegre, v. 20, n. 48, p. 170-176, abr./jun. 2005.
FARZAD, P.; ANDERSSON, L.; NYBERG, J. Dental implant treatment in diabetic patients.
Clinical science and techniques. Implant Dent, Baltimore, v. 11, n. 3, p. 262-267, sep. 2002.
FERREIRA, S. D. et al. Prevalence and risk variables for peri-implant disease in Brazilian
subjects. J Clin Periodontol, Copenhagen, v. 33, n. 12, p. 929-935, dec. 2006.
FRANCO, L. J. et al. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição
nutricional. In: Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19 (Sup. 1), p. S29-S36, 2003.
GROMATZKY, A.; SENDYK, W. R. Preservação da osseointegração através de um
programa de controle e manutenção. 2007. Disponível em: <www.scribd.com/doc/V3n>
Acesso em: 21 ago. 2009.
GROSS, J. L. et al. Diabetes melito: diagnóstico, classificação e avaliação do controle
glicêmico. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 16-26, fev. 2002.
HERKOVITS, J.; DEVOTO, E. L.; SCHOLNIK, I. Colocación de un implante único em un
paciente diabético tipo II: presentación de un caso. Rev. Círc. Argent. Odontol., Buenos
Aires, v. 28, n. 188, p. 20-24, ago. 2000.
IYAMA, S. et al. Study of the regional distribution of bone formed around hydroxyapatite
implants in the tibiae of streptozotocin-induced diabetic rats using multiple fluorescent
labeling and confocal laser scanning microscopy. J. Periodontol., Indianapolis, v. 68, n. 12,
p. 1169-1175, dec. 1997.
KITAMURA, R. K. W. et al. Manejo de pacientes diabéticos no consultório odontológico.
mar. 2004. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/artigos>. Acesso em: 18 ago.
2009.
KOTSOVILIS, S.; KAROUSSIS, I. K.; FOURMOUSIS, I. A comprehensive and critical
review of dental implant placement in diabetic animals and patients. Clin Oral Implant Res,
Copenhagen, v. 17, n. 5, p. 587-599, oct. 2006.
38
LAUDA, P. A.; SILVEIRA, B. L.; GUIMARÃES, M. B. Manejo odontológico do paciente
diabético. J. Bras. Odontol. Clín., Curitiba, v. 2, n. 9, p. 81-87, mai./jun. 1998.
LAURENTI, R. Mortalidade por diabetes mellitus no município de São Paulo (Brasil).
Evolução em um período de 79 anos (1900-1978) e análise de alguns aspectos sobre
associação de causas. Revista de Saúde Pública, São Paulo v.16, n.2, abr. 1982.
LOURENÇO, S. V. Verificação do grau de conhecimento de Cirurgiões-Dentistas sobre
os aspectos éticos e legais dos insucessos e contra-indicações de implantes
osseointegrados. 2003, 260 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba, 2003.
MADEIRO, A. T.; BANDEIRA, F. G.; FIGUEIREDO, C. R. L. V. A estreita relação entre
diabetes e doença periodontal inflamatória. Odontol. Clin. Cientif., Recife, v. 4, n. 1, p. 0712, jan./abr. 2005.
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição & dietoterapia. 10 ed.
São Paulo: Roca, 2003.
MARGONAR, R. Influência do Diabetes Mellitus e da insulinoterapia sobre a
osseointegração: avaliação histométrica em tíbia de coelhos. 2005. 102 f. Tese
(Doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia, Araraquara, 2005.
McCRACKEN, M. S. et al. Bone response to titanium alloy implants placed in diabetic rats.
Int J Oral Maxillofac Implants, Lombard, v. 15, n. 3, p. 345-354, may./june. 2000.
______. Bone associated with implants in diabetic and insulin-treated rats. Clin Oral
Implant Res, Copenhagen, v. 17, n. 5, p. 495-500, oct. 2006.
MESSINA, M.; SETCHELL, K. Soja e diabetes. (Tradução de José Marcos Mandarino, Vera
de Toledo Benassi). Londrina: Embrapa Soja, 2002.
MISCH, C. E. Densidade óssea: Um determinante significativo para o sucesso clínico. In:
______. Implantes Dentários Contemporâneos. São Paulo: Santos; 2000.
MOORE, P. A.; ZGIBOR, J. C.; DASANAVAKE, A. P. Diabetes: A grow epidemic of all
ages. J. Am. Dent. Assoc., Chicago, v. 134, p. 115-155, oct. 2003.
39
MOY, P. K. et al. Dental implant failure rates and associated risk factors. Int J Oral
Maxilliofac Implants. v. 20, n. 4, p. 569-77, jul./ago. 2005.
MORAIS, J. A. N. D. Efeito do Diabetes Mellitus e da insulinoterapia na osseointegração
estabelecida ao redor de implantes instalados em tíbia de ratos [Tese de Doutorado].
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2007. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp042456.pdf>. Acesso em: 06 set.
2009.
NEVINS, M. L. et al. Wound Healing Around Endosseous Implants in Experimental
Diabetes. Int J Oral Maxillofac Implant, Lombard, v. 13, n. 5, p. 620-629, sep./oct. 1998.
OLSON, J. W. et al. Dental Endosseous Implant Assessments in a Type 2 Diabetic
Population: A Prospective Study. Int J Oral Maxillofac Implant, Lombard, v. 15, n. 6, p.
811-818, nov./dez. 2000.
PARENTI FILHO, A. A revolução do implante - o sucesso depende do bom senso e da
capacidade profissional em usar as informações. 2007. Disponível em:
<http://www.oralcenteresteticaimplante.com.br/a29.htm>. Acesso em: 2 set. 2009.
PÉRES, D. S. Comportamento alimentar em mulheres portadoras de diabetes tipo 2. Revista
de Saúde Pública, v.40 n.2 São Paulo abr. 2006.
PERNO, M. A higienista dental: nosso papel na saúde das mulheres – tratando da clientela
feminina. Compendium – Ed. Especial: Mulheres e Odontologia, Newtown, v. 22, n. 1, p.
45-54, jan. 2001.
PESSUTO, J.; CARVALHO, E. C. de. Fatores de risco em indivíduos com hipertensão
arterial. Revista latino americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 33-39, jan.
1998.
QUIRYNEN, M; TEUGHELS, W. Microbiologically compromised patients and impact on
oral implants. Periodontology 2000, Copenhagem, v. 33, n. 1, p. 119-128, jan. 2003.
RENOUART, F.; RANGERT, B. Fatores de risco em implantodontia - Planejamento Clínico
Simplificado para Prognóstico e Tratamento. Quintessensse Publishing Co., 2001.
RICIERI, C. B. Análise do processo de reparo do reimplante de incisivos de ratos
diabéticos após a manutenção dos dentes em leite. 2006, 101 f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Estadual de São Paulo, Faculdade de Odontologia, Araçatuba, 2006.
40
ROUMANAS, E. D. et al. Comparisons of chewing difficulty of consumed foods with
mandibular conventional dentures and implant-supported overdentures in diabetic denture
wearers. Int J Prosthodont, Lombard, v. 16, n. 6, p. 609-615, dec. 2003.
SARTORELLI, D. S.; FRANCO, L. J. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da
transição nutricional. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, sup. 1, p. 29-36, 2003.
SILVA, A. M. Contribuição da saúde bucal na integralidade da atenção ao paciente
diabético. 2006, 147 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais,
Colegiado de Pós-graduação em Odontologia, Belo Horizonte, 2006.
SOUSA, R. R. et al. O paciente Odontológico portador de Diabetes Mellitus: uma revisão da
literatura. Pesq Bras Odontoped Clin Integr, João Pessoa, v. 3, n. 2, p.71-77, jul./dez. 2003.
TAKESHITA, F. et al. The effects of diabetes on the interface between hydroxyapatite
implants and bone in rat tibia. J Periodontol, Chicago, v. 68, n. 2, p. 180-185, feb. 1997.
VAN STEENBERGHE, D. et al. The relative impact of local and endogenous patientrelated
factors on implant failure up to the abutment stage. Clin Oral Implant Res, Copenhagen, v.
13, n. 6, p. 617-622, dec. 2002.
VARGAS, R. M. A. Novas diretrizes para a glicemia de jejum. Rev Diabetes News, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 2, p. 8-13, ago. 2004.
VIDIGAL JR, G. M.; GROISMAN, M. Osseointegração X Biointegração: uma análise
crítica. 2007. Disponível em: <http://www.lutzhoepner.de/uebersetzen.htm>. Acesso em: 2
set. 2009.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FACS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
Bruno Carlos Vilaça
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Governador Valadares
2009
BRUNO CARLOS VILAÇA
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Monografia
submetida
ao
curso
de
Especialização em Implantodontia da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce, como requisito para obtenção do título
em especialista em Implantodontia.
Orientador: Ms. Celso Henrique Najar Rios
Governador Valadares
2009
BRUNO CARLOS VILAÇA
A INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS NO PROCESSO DE
OSSEOINTEGRAÇÃO
Monografia
submetida
ao
curso
de
Especialização em Implantodontia da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce, como requisito para obtenção do título
em especialista em Implantodontia.
Governador Valadares, ____ de outubro de 2009.
Banca Examinadora
__________________________________________
Prof. Ms. Celso Henrique Najar Rios
Universidade Vale do Rio Doce
__________________________________________
Prof. Ayla Norma Ferreira Matos
Universidade Vale do Rio Doce
__________________________________________
Prof. Suely
Universidade Vale do Rio Doce
Dedico a Deus, Senhor absoluto da minha vida,
que esteve presente em todos os momentos desta
caminhada, do início até a concretização deste
sonho. Obrigada pela dádiva desta conquista. A
minha avó Delina e minha tia Maria, vocês
serão sempre exemplos a ser seguidos em minha
vida. Amo vocês!
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, pela força e perseverança;
Aos meus pais Jurandir e Marineuza pelo apoio e auxilio nos momentos difícies e
obrigado por cada mão que vocês estenderam nos momentos de desespero, a Deleon e Ramon
que além de irmãos, são parceiros e amigos. Amo todos vocês;
Á minha avó Laura, pelas constantes orações;
À minha noiva Roberta, pelo companheirismo, compreensão, carinho, amor e, por
compreender meus momentos de ausência;
Aos meus professores, pela dedicação, incentivo e, ao orientador Prof. Ms. Celso
Henrique Najar Rios por não medir esforços na realização desse trabalho;
A todos os meus colegas de curso, em especial a Luíz e Stella por momentos de
aprendizado juntos;
A Lili, minha ACD e amiga e a Dra. Fernanda Matos, pela amizade sempre;
A minha equipe de PSF, em especial a Dra. Kamila, por me inspirar a trabalhar em
equipe;
E a todos, que direta e indiretamente contribuíram para realização deste.
5
“Falar é completamente fácil, quando se tem palavras em mente que
se expresse sua opinião...
Difícil é expressar por gestos e atitudes, o que realmente queremos
dizer.
Fácil
é
julgar
pessoas
que
estão
sendo
expostas
pelas
circunstâncias...
Difícil é encontrar e refletir sobre os seus próprios erros.
Fácil é fazer companhia a alguém, dizer o que ela deseja ouvir...
Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer a verdade quando for
preciso.
Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre a
mesma...
Difícil é vivenciar esta situação e saber o que fazer.
Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo o deixa
irritado...
Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece.
Fácil é viver sem ter que se preocupar com o amanhã...
Difícil é questionar e tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às
vezes impetuosas, a cada dia que passa.
Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar...
Difícil é mentir para o nosso coração.
Fácil é ver o que queremos enxergar...
Difícil é saber que nos iludimos com o que achávamos ter visto.
Fácil é ditar regras e,
Difícil é segui-las”...
Carlos Drummond de Andrade
6
RESUMO
Este estudo teve como tema “A influência da Diabetes mellitus no processo de
osseointegração”, com o objetivo de pesquisar, através de revisão de literatura, a influência do
processo de osseointegração na reabilitação oral através de implantes dentários em pacientes
diabéticos, verificando as indicações e contra-indicações para aplicações clínicas. Concluiu-se
que o diabetes não é uma contra-indicação absoluta para a colocação de implantes dentários.
O importante é o paciente a ser implantado nestas condições mantê-la controlada,
especialmente durante o período de osseointegração. É recomendável que os pacientes nesta
condição, já na primeira consulta, revelem o fato e realizem um controle mais estrito que
inclua o uso de hipoglicemiantes orais ou de insulina, além da orientação adequada de uma
dieta, para que a doença seja controlada e o tratamento para a colocação dos implantes possa
ser realizado com maior segurança.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Osseointegração; Reabilitação Oral; Implantes Dentários.
7
ABSTRACT
This study had the theme "The influence of diabetes mellitus in the process of
osseointegrated" with the aim of searching through literature review of the influence of the
process of osseointegrated in oral rehabilitation through dental implants in diabetic patients,
noting the indications and contra-indications for clinical applications. It was concluded that
the diabetes is not a contraindication for the absolute laying of dental implants. What is
important is the patient to be implanted in these conditions to keep it controlled, especially
during the osseointegração. It is recommended that patients in this condition, since the first
consultation, reveals the fact and make a more strict control that includes the use of oral
hypoglycemic agents or insulin, in addition to the guidance of a proper diet, so that the
disease is controlled and treatment for the placement of implants can be performed with
greater security.
Key-words: Diabetes Mellitus; Osseointegrated; Oral Rehabilitation; Dental Implants
.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL) pra diagnóstico de diabetes
Mellitus e seus estágios pré-clínicos..............................................................................
15
Figura 2- Implantes mandibulares com abutments......................................................
21
Figura 3 - Radiografia panorâmica dos implantes mandibulares................................
21
Figura 4 - Implantes mandibulares com Hader bar....................................................... 22
Figura 5 - Prótese total mandibular posicionada........................................................... 22
9
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................
10
2 METODOLOGIA.......................................................................................................
12
3 REVISÃO DE LITERATURA..................................................................................
13
3.1 DIABETES MELLITUS............................................................................................
13
3.2
INFLUÊNCIA
DO
DIABETES
MELLITUS
NO
PROCESSO
DA
OSSEOINTEGRAÇÃO..................................................................................................... 18
4 DISCUSSÃO...............................................................................................................
32
5 CONCLUSÕES............................................................................................................
36
REFERÊNCIAS..............................................................................................................
37
10
1 INTRODUÇÃO
A verdadeira revolução da Implantodontia Oral tem como marco inicial a descoberta
da osseointegração em 1952 pelo professor Branemark. Este realizava estudos sobre
microcirculação em mecanismos de reparação óssea e constatou uma ancoragem óssea direta
e forte entre a câmara de titânio (que estava cirurgicamente inserida na tíbia de um coelho) e o
tecido ósseo do referido animal (BRÄNEMARK et al., 1987).
Uma nova era iniciou-se na Odontologia através da incorporação da osseointegração,
uma vez que esta proporciona uma conexão funcional e estrutural direta entre o tecido ósseo
bem organizado e uma superfície absorvente de um implante. O desenvolvimento dos
implantes dentais revolucionou as possibilidades de reabilitação para pacientes parcial ou
totalmente edêntulos fornecendo uma solução confiável e segura para a substituição de dentes
perdidos (VIDIGAL JR e GROISMAN, 2007).
O sucesso na Implantodontia está diretamente ligado ao bom senso e capacidade do
profissional em usar todas as informações disponíveis e a colaboração do paciente, em seguir
corretamente a orientação do cirurgião-dentista nos seguintes aspectos pós-cirúrgicos:
alimentação adequada, comunicação imediata de alterações locais e de saúde geral,
comparecimento aos retornos programados e higienização oral com técnica adequada. Os
insucessos representam por volta de 5 a 10% dos trabalhos realizados, porém, na maioria dos
casos em que ocorre, poderá ser realizada uma nova implantação com grandes probabilidades
de sucesso (PARENTI FILHO, 2007).
Estima-se que de 3 a 4% dos pacientes adultos que se submetem a tratamento
odontológico são diabéticos, por se tratar de uma patologia associada à sequelas sistêmicas
adversas, como alterações da cicatrização da ferida e, alterações fisiológicas que diminuem a
capacidade imunológica, potencializando a susceptibilidade às infecções, pode afetar a
osseointegração de implantes dentários (OLSON et al., 2000; SOUSA et al., 2003).
O Diabetes Mellitus se constitui num transtorno do metabolismo intermediário
consequente ou à falta de insulina ou à sua inadequada utilização pelos tecidos, o que se
traduz laboratorialmente pela elevação da taxa de glicemia. Paralelamente aos transtornos
metabólicos, ou através deles, ocorrem alterações vasculares as quais são as grandes
11
responsáveis pela maior parte das manifestações clínicas do diabetes e causadoras de
considerável morbidade e mortalidade. Quase todos os tecidos do organismo são afetados, em
maior ou menor grau, em decorrência de tais alterações vasculares, particularmente dos
pequenos vasos. Entretanto, as lesões em alguns órgãos são mais frequentes ou mais graves: o
rim, o coração e o sistema arterial periférico. Além destes, a retina, a pele e o sistema nervoso
periférico também são sede de lesões provocadas pelo diabetes, com importantes prejuízos à
saúde do indivíduo (LAURENTI, 1982).
Tendo em vista as inúmeras particularidades do paciente diabético, o mesmo é
considerado paciente especial e necessita cuidados na consulta de rotina, medicação, anestesia
e controle (KITAMURA et al., 2004).
Com a evolução dos implantes dentários e o crescente interesse da população por tal
recurso cirúrgico, tornou-se importante verificar se os pacientes diabéticos estariam aptos para
receber implantes e se estes desenvolveriam uma osseointegração satisfatória (BALSHI e
WOLFINGER, 1999).
Neste contexto, este estudo tem como objetivo pesquisar a influência do processo de
osseointegração em pacientes diabéticos na reabilitação oral com implantes dentários.
12
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização deste estudo é a pesquisa bibliográfica,
baseada na revisão de títulos de livros, artigos científicos publicados, teses e revistas
especializadas, utilizando os seguintes unitermos: Diabetes Mellitus; osseointegração;
reabilitação oral; implantes dentários. Serão consultadas as bases de dados Medline, Lilacs,
Pubmed, Cocrhane, Scielo e BBO, sendo consideradas publicações em inglês, português e
espanhol.
13
3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 DIABETES MELLITUS
Os primeiros registros escritos sobre o diabetes foram encontrados num papiro egípcio
datado de 1.500 a.C.. Por volta do ano 100 da nossa era, médicos gregos deram o nome
“diabetes” à doença. A palavra diabetes significa “sifão”, pois o sinal mais óbvio da doença é
o aumento no volume da urina. Os médicos gregos observaram também que as formigas eram
especialmente atraídas pela urina dos diabéticos. Por volta de 1650, o médico britânico
Thomas Willis descobriu o porquê dessa atração das formigas, ao testar a urina de um de seus
pacientes diabéticos. Ele anotou em seus registros que ela era “maravilhosamente doce”. O
nome da doença passou então a ser denominada Diabetes Mellitus, ou seja, “sifão de mel”
(MESSINA e SETCHELL, 2002).
Diabetes é considerada um problema de saúde pública por sua magnitude, risco e
dificuldades no seu controle. Destaca-se também por sua alta frequência na população, suas
complicações, mortalidade, altos custos financeiros e sociais envolvidos no tratamento e
deterioração significativa da qualidade de vida (PÈRES, 2006).
O diabetes é uma síndrome heterogênea que resulta de defeitos na secreção e na ação
da insulina (REIS et al., 2002 apud FRANCO et al., 2003). A causa da Diabetes Mellitus é
desconhecida ou idiopática na maioria dos casos (PESSUTO e CARVALHO, 1998). Porém,
nesta patologia vários fatores podem estar associados a sua etiologia como o sedentarismo, o
estresse, o tabagismo, a idade, a história familiar, o peso e os fatores dietéticos.
É uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia consequente a anormalidades
no metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. As pessoas com diabetes têm organismos
que não produzem ou respondem à insulina, um hormônio produzido pelas células beta do
pâncreas que é necessário para o uso ou armazenamento de combustíveis corpóreos. Sem a
insulina eficiente, a hiperglicemia ocorre e pode levar à complicações a curto e longo prazo,
como a disfunção e falência de vários órgãos (especialmente rins, olhos, nervos, coração e
14
vasos sanguíneos), proteinúria, neuropatia periférica, ulcerações crônicas nos pés, infecções
cutâneas de repetição dentre outros. (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003).
Para Bjeland et al. (2003), o Diabetes é uma doença crônica e caracterizada pela
hiperglicemia e elevação de hemoglobina glicosilada. É definido como a insuficiência
absoluta ou relativa de insulina, causada por um distúrbio endócrino caracterizado pelas
alterações metabólicas dos carboidratos, lipídeos e proteínas. A insuficiência de insulina pode
ser provocada pela baixa produção pelo pâncreas ou pela falta de resposta dos tecidos
periféricos à insulina.
Para Moore, Zgibor e Dasanavake (2003), o Diabetes Mellitus caracteriza-se por uma
hiperglicemia crônica, onde ocorre uma diminuição da produção de insulina ou pela
resistência dos tecidos por esse hormônio e pode ser considerado como multifatorial.
O diabetes não é uma doença homogênea e várias síndromes distintas têm sido
delineadas. O National Diabetes Data Group (1979, apud BATISTA et al, 2005), classifica o
diabetes em:
a) Diabetes Mellitus Insulino – dependente (tipo 1): o paciente pode ser de
qualquer idade, embora a grande maioria dos casos se desenvolva antes do
trinta anos. São indivíduos geralmente magros e o início dos sintomas é
usualmente súbito com significativa perda de peso, poliúria e polidipsia. São
insulinopênicos com tendência a cetoacidose, portanto, dependentes de terapia
com insulina. Apresentam associação com antígeno de histocompatibilidade
(HLA-DW3, DW4), fatores ambientais e genéticos.
b) Diabetes Mellitus (tipo II) (Obeso e não obeso): manifesta-se geralmente após
os trinta anos de idade. Os pacientes podem ser assintomáticos ou levemente
sintomáticos, têm frequentemente história familiar de diabetes e 60% são
obesos. Não têm tendência a cetoacidose, exceto durante períodos de estresse.
Não são absolutamente dependentes de insulina exógena para a sobrevivência,
embora a terapia com a insulina possa ser usada para controlar a hiperglicemia.
c) Diabetes Gestacional: início ou descoberta de intolerância à glicose durante a
gravidez.
15
d) Outros tipos: secundário a doenças pancreáticas, endocrinopatias, drogas e
agentes químicos; e associado a anormalidades dos receptores de insulina
(acantose nigricans), síndromes genéticas, desnutrição, etc.
O diagnóstico de Diabetes Mellitus em adultos (e mulheres não grávidas) deve se
restringir aos que seguirem um dos seguintes critérios (BATISTA et al, 2005) (Fig. 1):
a) Glicose plasmática > 200mg/dl com sinais e sintomas clínicos de Diabetes
Mellitus: polidipsia, poliúria e perda de peso;
b) Glicose plasmática de jejum > 140mg/dl em pelo menos duas ocasiões;
c) Glicose plasmática de jejum <140mg/dl com níveis plasmáticos de glicose
mantidos elevados durante pelo menos dois testes orais de tolerância à glicose.
A amostra de duas horas e pelo menos uma hora entre zero e duas horas após a
dose de 75 g de glicose oral deve ser >200 mg/dl. O teste oral de tolerância à
glicose não é necessário se a glicose plasmática de jejum é <140 mg/dl.
Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL)
Para Diagnóstico de Diabetes Mellitus e Seus
Estágios Pré-Clinicos
Figura 1 – Valores de Glicose Plasmática (em MG/DL) pra diagnóstico de diabetes Mellitus e seus estágios préclínicos.
Fonte: Arquivo Próprio
16
Algumas complicações poderão vir a surgir no indivíduo diabético, as agudas são a
hipoglicemia, cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar, e as tardias incluem a retinopatia,
nefropatia, neuropatia e complicações vasculares, portanto a doença requer um controle
contínuo de forma a atenuar essas complicações (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003).
O tratamento do paciente diabético visa controlar a hiperglicemia na tentativa de evitar
as complicações da doença. Inclui dieta, hipoglicemiantes orais, monitoração da glicose,
insulinoterapia e exercícios. É de extrema importância também à educação do paciente sobre
sua doença, fazendo com que ele próprio esteja capacitado a reconhecer os sintomas de
descompensação e manejá-la. A dieta deve ser direcionada para levar o paciente ao seu peso
ideal e manter normais os níveis sanguíneos de glicose. A insulina está indicada no tratamento
do diabetes tipo I e tipo II que não responderam à dieta e hipoglicemiantes orais, nas
descompensações agudas e na gravidez (FRANCO et al., 2003). A integração de vários
profissionais, especialmente nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, cirurgiões-dentistas
e professores de educação física, é vista como bastante enriquecedora (BRASIL, 2002).
Barcellos et al. (2000) relataram que muitos pacientes podem apresentar diagnóstico
de Diabetes Mellitus e não apresentar o quadro clínico tradicional, principalmente àqueles
com alterações discretas do metabolismo. Segundo Gross et al. (2002), em algumas
circunstâncias o diagnóstico do tipo de Diabetes Mellitus torna-se mais difícil, podendo ser
necessária à utilização de alguns exames laboratoriais para estabelecer a possível causa do
diabetes, como por exemplo, marcadores de auto-imunidade, medida de auto-anticorpos
relacionados à insulite pancreática e a avaliação da reserva pancreática de insulina através da
medida do peptídeo C e da fase rápida de secreção de insulina.
A prevalência de Diabetes Mellitus na população urbana brasileira é de 7,6% e
calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de diabéticos no país (BRASIL,
2002).
É mais comum em afroamericanos, hispânicos, nativos norte-americanos, ásio-
americanos e originários das ilhas do Pacífico (PERNO, 2001).
Além da manutenção da saúde geral, a saúde bucal também é fator importante a ser
considerado, visto que, como não há cura para o Diabetes Mellitus, ele deve ser controlado. O
diabetes causa espessamento dos vasos sanguíneos, o que resulta na diminuição do fluxo de
nutrientes e da remoção de resíduos nocivos, podendo debilitar a resistência dos tecidos
bucais a infecções e aumentar os períodos de cura. Além disso, certas bactérias se alimentam
17
de açúcares como a glicose. Para o profissional, é de suma importância a percepção de sinais
e sintomas bucais que podem indicar a presença de Diabetes Mellitus não diagnosticado ou
não controlado. Dentre estes sintomas encontram-se a inflamação gengival severa, os
abscessos agudos gengivais ou periodontais, que podem ser múltiplos e recorrentes, e o
avanço rápido da doença periodontal (PERNO, 2001).
Conforme relatado por Sartorelli e Franco (2003), a prevalência do Diabetes Mellitus
tipo II tem se elevado vertiginosamente e pode aumentar ainda mais. Na América Latina há
uma tendência de aumento da frequência entre as faixas etárias mais jovens, cujo impacto
negativo sobre a qualidade de vida e a carga da doença ao sistema de saúde é relevante. O
aumento das taxas de sobrepeso e obesidade associado às alterações do estilo de vida e ao
envelhecimento populacional, são os principais fatores que explicam o crescimento da
prevalência do diabetes tipo 2. As modificações no consumo alimentar da população
brasileira, com baixa frequência de alimentos ricos em fibras e aumento da proporção de
gorduras saturadas e açúcares da dieta, associadas a um estilo de vida sedentário compõem
um dos principais fatores etiológicos de obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas.
Segundo Vargas (2004), diversos processos patogênicos estão envolvidos no
desenvolvimento do diabetes, que vão desde destruição auto-imune das células β do pâncreas,
com consequente insulinodeficiência, até anormalidades que resultam na resistência à ação da
insulina. Frequentemente, secreção de insulina alterada e defeitos na sua ação, coexistem no
mesmo paciente, e em geral não se sabe bem qual anormalidade, ou se apenas uma delas, é a
causa primária da hiperglicemia.
Para Madeiro, Bandeira e Figueiredo (2005), o Diabetes Mellitus é uma doença que
deve ser considerada no planejamento e tratamento odontológico, uma vez que, o tratamento
dos pacientes portadores dessa patologia deve ser cauteloso e ponderado. Devido à suas
inúmeras complicações, é fundamental que o cirurgião-dentista saiba das limitações,
alterações e distúrbios que os pacientes diabéticos não compensados podem apresentar.
Pacientes diabéticos descompensados devem realizar o controle da doença para que o
tratamento odontológico possa ser realizado com maior segurança e o profissional deve
assistir a cada paciente de forma peculiar, uma vez que, a doença assume características
próprias em cada indivíduo.
18
Devido ao aumento de sua incidência, o Diabetes Mellitus é considerado um grave
problema de saúde pública. Por ser uma doença sistêmica, tem influência em todo o
organismo, inclusive na cavidade bucal, sendo os pacientes mal controlados, os que têm maior
predisposição a apresentarem problemas bucais. Portanto, a chance de um cirurgião-dentista
se deparar com um paciente diabético acometido por uma avulsão dentária é cada vez maior,
tornando imprescindível o conhecimento da enfermidade, de seu tratamento médico e as
implicações que ambos podem acarretar no tratamento odontológico. Inclusive faz-se
necessário também que o cirurgião-dentista faça parte da equipe multidisciplinar que cuida
dos pacientes com Diabetes Mellitus, cabendo ao mesmo, conhecer melhor essa patologia e
suas manifestações orais e, estar preparado para atuar em casos de hipoglicemia durante o
tratamento, para que possa providenciar cuidados preventivos e terapêuticos mais efetivos.
(ALVES et al., 2006).
3.2
INFLUÊNCIA
DO
DIABETES
MELLITUS
NO
PROCESSO
DA
OSSEOINTEGRAÇÃO
A coexistência do Diabetes Mellitus, pode levar a um aumento das taxas de falhas dos
implantes. Iyama et al. (1997) compararam a quantidade e a distribuição regional da formação
óssea ao redor de implantes de hidroxiapatita em ratos normais (controle) e ratos com diabetes
induzida. No sétimo, décimo quarto e vigésimo primeiro dia após a inserção dos implantes,
calceína, alzarina e tetraciclina foram injetados nos animais, sendo eutanaziados no vigésimo
oitavo dia. Os cortes histológicos foram preparados para leitura por microscopia confocal de
varredura a laser. No grupo controle o tecido ósseo formou-se em um padrão laminado com
três camadas de cores (calceína, alzarina e tetraciclina), mas no grupo dos diabéticos, não
observaram a presença da tetraciclina. Concluíram que no grupo controle foi observada
intensa formação óssea a partir do endósseo e do periósteo, enquanto no grupo experimental
(diabéticos) esta formação foi quase suprimida, principalmente próximo ao vigésimo primeiro
dia pós-inserção.
Para Takeshita et al. (1997) o mecanismo pelo qual o doente com Diabetes Mellitus
descompensado pode diminuir o índice de osso ao redor dos implantes são: diminuição de
19
cálcio no sangue, aumento de cálcio e fosfato na urina e produção diminuída do colágeno. O
estado de hiperglicemia aumenta a secreção de um hormônio da paratireóide, o qual estimula
os osteoclastos. Além disso, a secreção do hormônio do crescimento é diminuída quando a
concentração da insulina sérica é baixa. Os autores concluíram que os indivíduos portadores
dessa doença apresentam contra-indicação relativa ao tratamento com implantes.
Existe um impasse sobre a utilização do implante em pacientes tipo 2 compensados.
Lauda, Silveira e Guimarães (1998) afirmam que são contra-indicados, já que o problema do
diabetes não está na fase reparacional ou cirúrgica, e sim na formação e remodelação da
interface. No caso de suspeita de diabetes, o cirurgião-dentista deve solicitar exames
laboratoriais para avaliar a glicemia dos pacientes, encaminhando-o para o serviço médico
caso estes se apresentem alterados.
Nevins et al. (1998) realizaram um estudo objetivando identificar os efeitos do
diabetes induzido por streptozotocina na osseointegração. A doença foi induzida em ratos com
40 dias de idade através de injeção intraperitoneal de 70 mg por quilo de streptozotocina.
Quatorze dias após a injeção, os implantes foram colocados no fêmur de 10 ratos diabéticos e
10 ratos normais da mesma idade. Os animais foram sacrificados com o passar de 28 e 56 dias
após a instalação. A taxa de formação do osso novo numa zona limitando 250 µm ao redor
dos implantes foi similar para os animais diabéticos e de controle (P > 0,05). Entretanto, o
contato do osso e implante reduziu significativamente para os animais diabéticos (P <
0,0001). Os autores puderam concluir, levando em consideração que o modelo usado no
estudo foi de um estado diabético sem controle, que pacientes com níveis de glicose elevados
não devem ser tratados com implantes dentários.
El Askaryet al. (1999) enfatizam que pacientes portadores do Diabetes Mellitus não
controlados devem postergar a cirurgia até que controlem seu metabolismo.
Para Balshi e Wolfinger (1999) o Diabetes Mellitus é uma síndrome complexa que a
cavidade oral se associa a xerostomia, aumento de níveis salivares de glicose, com aumento
de incidência de cárie. Os autores realizaram uma pesquisa em 34 pacientes que receberam
227 implantes do sistema de Implantes Bränemark, com idades entre 34 e 79 anos. Todos os
pacientes receberam antibioticoterapia de largo espectro durante 10 dias antes da cirurgia e
aconselhamento para manterem um controle da doença. Entre abril de 1987 e maio de 1998,
observaram sucesso de osteointegração em 214 implantes (94,3%). Dos 13 mal sucedidos, um
20
foi devido a bruxismo, ou seja, sobrecarga da prótese. Dos três que tiveram insucesso foram
feitos com carga imediata e o restante teve-se uma osteointegração insatisfatória. Concluíram
que o uso de implantes dentários em diabéticos pode ser utilizado, porém estes pacientes
devem estar com a doença sob controle e submeterem a tratamento com antibióticos de largo
espectro, diminuindo a porcentagem de insucessos.
Herkovits, Devoto e Scholnik (2000) apresentaram um caso clínico de um paciente de
52 anos de idade, com diabetes tipo II, que recebeu um implante dentário. Sete meses após a
inserção do implante, quando de seu carregamento, os resultados eram de prognóstico
favorável, uma vez que, os parâmetros de higiene bucal e glicemia mostravam resultados
satisfatórios. O paciente seguiu com o controle mensal, apresentando, continuamente,
resultados positivos. Ao controle no décimo sexto mês, o implante apresentou mobilidade e,
na radiografia, constataram presença de reabsorção. Os valores glicêmicos (301 mg/dl)
encontravam-se muito altos e com presença de glicose na urina, sendo extremamente
perigosos para a estabilidade do implante e para a saúde do paciente. Os autores concluíram
que pacientes com diabetes tipo II podem ser tratados com implantes dentais, sempre e
quando os controles de higiene bucal e o estado de sua glicemia estiverem estabilizados.
McCracken et al. (2000), avaliaram a osseointegração de 32 ratos machos da raça
Sprague-Dawley divididos em dois grupos (n = 16): G1 – grupo controle; G2 – diabéticos
induzidos por meio de injeção parenteral de streptozotocina (Sigma-Aldrich®) em uma dose
de 65 mg/kg diluída em sal de fosfato cinco dias antes da cirurgia. Instalaram parafusos de
titânio (Ti-6A1-4V®) medindo 1,5 x 8 mm. Após um período de 14 dias de cicatrização, os
ratos foram eutanasiados com inalação de dióxido de carbono. As tíbias foram removidas,
limpas de tecido mole e fixadas em paraformaldeíde de fosfato por 12 horas. Os espécimes
foram desidratados com alcoóis progressivos sob vácuo durante 14 dias. As amostras foram
preparadas para microscopia através de técnicas de corte e moagem usando o sistema Exakt®.
As amostras foram examinadas para a análise histomorfométrica usando um sistema de
imagem e análise computadorizada. Três quantidades diferentes foram determinadas para
cada amostra: porcentagem de osseointegração, porcentagem do volume ósseo ao redor do
implante e a frequência do contato do osso ao longo da superfície do implante. Os sintomas
nos ratos diabéticos incluíam perda de peso, poliúria, polifagia e polidpsia e, durante o curso
da experiência, os animais de controle ganharam peso enquanto os animais diabéticos
perderam. G2 demonstrou significativamente menos osseointegração do que G1. Entretanto, a
21
porcentagem do volume ósseo em G2 foi aproximadamente quatro vezes maior do que em
G1. As análises bioquímicas foram misturadas; animais diabéticos demonstraram níveis
elevados de osteocalcina comparados aos controles, mas fosfatase alcalina diminuída.
Baseados nos resultados do estudo, os autores concluíram que a reação óssea associada com
os implantes de liga de titânio nas tíbias de ratos diabéticos foi diferente dos não-diabéticos,
onde os diabéticos apresentaram menos osseointegração, especialmente na área do canal
medular.
De acordo com Olson et al., 2000; Sousa et al., 2003 pacientes diabéticos
descompensados apresentam maior risco de desenvolver infecções e complicações vasculares.
O processo de cicatrização é afetado pelo comprometimento da função vascular, quimiotaxia,
comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio. O metabolismo
da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada. A regeneração
dos nervos é alterada e a angiogênese, comprometida.
Olson et al. (2000) apresentaram um estudo para avaliar o sucesso de implantes de
forma de raiz de dois estágios (três diferentes sistemas de implante) colocados na sínfise
mandibular de 89 pacientes diabéticos do sexo masculino, com idade média de 62.7 anos
(variação de 40 a 78 anos). Aproximadamente 14 dias antes da cirurgia de colocação de
implante de primeiro estágio, o controle da diabete dos pacientes foi avaliado e os níveis de
FBG e HbA1c foram determinados. Cada um dos 89 pacientes recebeu dois implantes
endósseos em forma de raiz colocados na sínfise mandibular seguindo as instruções do
fabricante (Figs. 2 e 3).
Figura 2 – Implantes mandibulares com abutments.
Fonte: Olson et al., 2000.
Figura 3 – Radiografia panorâmica dos implantes
mandibulares.
Fonte: Olson et al., 2000.
22
Uma prótese total maxilar convencional e uma overdenture implantossuportada Hader
retida por clip foram fabricadas para cada paciente (Figuras 4 e 5).
Figura4 – Implantes mandibulares com Hader bar.
Fonte: Olson et al., 2000.
Figura 5 – Prótese total mandibular posicionada.
Fonte: Olson et al., 2000.
Segundo este mesmo autor, os implantes foram encobertos aproximadamente quatro
meses após a colocação, sendo restaurados com a overdenture que foi mantida em exames de
coleção de dados nos acompanhamentos programados durante os 60 meses depois da carga.
Dezesseis dos 178 implantes falharam. Métodos de tabela de sobrevivência calcularam
aproximadamente 88% de sobrevida de implantes, desde a colocação da prótese até o fim do
acompanhamento (60 meses). Nenhum implante falhou no período entre a colocação cirúrgica
e o descobrimento, cinco falharam no ato do descobrimento, sete falharam depois da
descoberta e antes da colocação da prótese, e 4 falharam depois da prótese instalada. Os
valores FPG e hemoglobina glicosilado (HbA1c) foram determinados antes da colocação do
implante e aproximadamente 4 meses depois do descobrimento cirúrgico. Os resultados dos
implantes em um período de 5 anos foram analisados contra as seguintes variáveis de
previsão: a) valores de FPG do inicio e acompanhamento; b) valores HbA1c do inicio e
acompanhamento; c) idade do paciente; d) duração do diabetes (anos); e) terapia diabética do
inicio; f) histórico de fumo; e, g) comprimento do implante. A análise encontrou somente a
duração da diabete (P < 0,025) e o comprimento do implante (P < 0,001) como previsores
estatisticamente significativos de falha de implante. Os autores concluíram que a colocação de
implante endósseo na sínfise mandibular de pacientes diabéticos do tipo 2 é um procedimento
previsível e que a duração da diabete pode ser associada à falha de implante, sendo que,
implantes mais compridos experimentam menos falhas.
23
Segundo Dinato e Polido (2001) a Diabetes Mellitus é uma das doenças mais
preocupantes devido a alteração na reparação das feridas cirúrgicas, alterações micro e
macrovasculares presentes principalmente em diabéticos mal controlados. As complicações
orais do diabetes podem incluir diminuição do fluxo salivar e seus constituintes. Tal condição
predispõe o aumento ao risco de infecções, diminuindo as defesas do organismo dificultando
a cicatrização.
Farzad, Andersson e Nyebrg (2002) avaliaram o resultado da reabilitação de pacientes
diabéticos com implantes osseointegrados, utilizando uma amostra composta por 25
prontuários de pacientes diabéticos que foram submetidos à reabilitação com implantes, sendo
analisados: idade, tipo de diabetes, sobrevida dos implantes, inflamação de periimplante, e
perda óssea. Além disso, a opinião dos pacientes sobre o resultado do tratamento foi
registrada. A taxa de sucesso dos implantes registrada foi de 96,3% durante o período de
cicatrização e 94,1% um ano após a cirurgia. Poucas complicações foram registradas e todos
os pacientes, com exceção de um, estavam satisfeitos com o tratamento. Os autores
concluíram que houve grande prosperidade na reabilitação de pacientes diabéticos edêntulos,
inclusive no tratamento de enxertia óssea. Nos casos em que os níveis de glicose estavam
controlados, as taxas de sucesso encontradas na reabilitação de diabéticos, por meio de
implantes dentários, foram estatisticamente próximas das taxas de pacientes normais.
Van Steenberghe et al. (2002) avaliaram a influência de fatores endógenos e locais
sobre a ocorrência da falha de implante até o estágio do abutment. Para tanto, um grupo de
399 pacientes, com um total de 1263 implantes Bränemark, foi avaliado por meio de um
histórico médico individual. A coleção de dados e análise foram principalmente focadas nos
fatores endógenos como hipertensão, osteoporose, função hipo ou hipertireóide,
quimioterapia, diabete tipo I e II, doença de Crohn, alguns fatores locais (por exemplo,
qualidade do osso, razão para perda de dente) e abertura da esterilidade durante cirurgia. O
motivo da perda de dente, hábito de fumar, radioterapia e outros fatores locais do osso
(qualidade e quantidade de osso) também foram registrados. Observaram uma taxa de sucesso
dos implantes de 97.8%. Certos fatores, tais como doenças cardiovasculares, diabete tipo I e II
controlada e osteoporose não levaram a um aumento na incidência de falha precoce do grupo.
Os autores concluíram que, mesmo sofrendo altas taxas de fatores sistêmicos e locais
comprometedores, alta taxa de sucesso de implantes foi encontrada.
24
Lourenço (2003) verificou o conhecimento técnico-científico dos cirurgiões-dentistas
atuantes na área de Implantodontia na cidade de São José do Rio Preto/SP, que executam o
tratamento com implantes osseointegrados, sobre a avaliação do sucesso do tratamento,
osseointegração e contra-indicações. Foram avaliados 100 questionários com questões
estruturadas e abertas, composto de parte identificatória e parte específica sobre
Implantodontia e Aspectos Diceológicos e Deontológicos da atuação dos profissionais. Os
dados obtidos foram agrupados segundo as variáveis classificatórias e segundo a qualificação
e atuação dos indivíduos que realizam implantes e/ou próteses sobre implantes. O
processamento dos dados foi feito por meio de análise estatística que incluiu testes de Quiquadrado e Exato de Fischer. Tem sido preconizado que o diabetes tipo II não é uma contraindicação absoluta ao tratamento com implantes, porém, 50 Cirurgiões-Dentistas (58,14% da
amostra) classificaram o diabetes tipo I como uma contra-indicação absoluta e 31 cirurgiõesdentistas (36,05% da amostra) acreditam que a diabetes tipo I é uma contra-indicação relativa.
O autor concluiu, com base nesses resultados, que o paciente diabético insulinodependente é
um contra-indicado absoluto ao tratamento com implantes osseointegrados.
Para Quirynen e Teughels (2003), o Diabetes Mellitus, uma doença metabólica que
influencia a cicatrização e põe em perigo a reação imunológica a infecções, aumenta um
pouco o risco de falha precoce de implante, especialmente em pacientes que não estão
metabolicamente controlados. Enquanto estudos anteriores sobre periodontite mostram
possíveis diferenças na colonização bacteriana subgengival entre pacientes diabéticos e não
diabéticos, pesquisas mais recentes falharam ao confirmar essas observações, apontando em
direção a outros fatores para comprometer esses pacientes para cirurgia de implante. Dados
científicos apóiam o impacto do estado oral, a configuração do implante e a superfície em
especial na patogeneicidade do biofilme do periimplante. A função da flora subgengival na
implantite em pacientes comprometidos (diabete, pacientes imunocomprometidos, etc.) ainda
não foi inteiramente estabelecida.
Roumanas et al. (2003) avaliou a dificuldade de mastigação de alimentos dos usuários
de Overdentures implantossuportadas e mandibulares convencionais. Para tanto, 58 pacientes
com diabetes controlada (G1, n = 37 – Overdenture implantossuportada e; G2, n = 21 –
Overdenture mandibular convencional) foram avaliados por uma semana no início do
tratamento e por seis meses pós-tratamento, por meio de registros alimentares. Uma escala de
classificação de 10 pontos para a dificuldade de mastigação (10 como mastigação mais difícil)
25
foi usada para classificar os itens alimentares nos registros da alimentação. Não foram
observadas diferenças entre as classificações médias de mastigação para todos os alimentos
consumidos no inicio ou após o tratamento para os dois grupos. Entretanto, as classificações
médias para a frequência combinada de consumo de alimentos difíceis de mastigar (6-10)
mostraram uma queda significativa seguindo o tratamento com ambos os tipos de próteses.
Com próteses originais, mais de 91% dos pacientes consumia alimentos com classificações de
dificuldade de mastigação de seis a 10 pelo menos sete vezes por semana. Com as próteses de
estudo, somente 21% manteve esse nível de consumo, com a frequência diminuindo de quatro
a seis vezes por semana em 24% e um a três vezes por semana em 43% dos pacientes. As
quedas na frequência de consumo de alimentos mais difíceis de mastigar com próteses de
estudo estavam em porcentagem maior nos pacientes do grupo de implantes do que no grupo
convencional. Os autores concluíram que, após sete meses de adaptação das novas próteses,
os pacientes consumiram menos alimentos difíceis de mastigar do que com suas próteses
originais,
sendo,
esta
queda,
mais
frequente
com
Overdentures
mandibulares
implantossuportadas.
Sousa et al. (2003) esclarecem que em diabéticos bem controlados não há razão para
se evitar a colocação de implantes, pois estes podem ser tratados como pacientes normais,
porém necessitam de cuidados especiais, sendo importante o contato com o médico que o
acompanha, principalmente diante de procedimentos cirúrgicos mais complicados, que exijam
boas condições metabólicas. É necessário que haja diálogo mais efetivo entre odontologia e
medicina, para que o paciente seja, enfim, visto como um todo, elevando os índices de
sucesso terapêutico nas duas profissões.
Fadanelli,
Stemmer
e
Beltrão
(2005),
elucidam
que
pacientes
diabéticos
descompensados apresentam maior risco de desenvolver infecções e complicações vasculares,
visto que, o processo de cicatrização é afetado pelo comprometimento da função vascular,
quimiotaxia, comprometimento da função dos neutrófilos e um meio ambiente anaeróbio. O
metabolismo da proteína é reduzido e a cicatrização dos tecidos moles e duros é retardada.
Falhas na terapia com implantes podem ser atribuídas a um fator isolado ou a vários fatores
associados, não havendo associações com o diabetes.
Margonar (2005) apresentou um estudo com objetivo de avaliar, por meio de
parâmetros histométricos, a influência da doença e da insulinoterapia sobre a osseointegração.
Para tanto, utilizou 34 coelhos adultos que foram divididos nos seguintes grupos: grupo
26
controle (C), grupo diabético induzido (D) e grupo diabético tratado com insulina (DTI). A
indução do diabetes foi realizada por administração de Aloxana (115 mg/kg). Cada animal
recebeu dois implantes para análise histométrica. Após 4, 8 e 12 semanas, os animais foram
sacrificados e as peças reduzidas para processamento histológico. Os três grupos não
apresentaram diferenças em relação à área óssea. Entretanto, o Grupo C apresentou maior
extensão de contato osso/implante nos três períodos experimentais (P < 0,001) e os Grupos D
e DTI não mostraram diferenças estatísticas (P = 0,75). O autor pode concluir que o Diabetes
Mellitus influenciou negativamente a osseointegração de implantes colocados em tíbias de
coelhos e a insulinoterapia não alterou este efeito.
Moy et al. (2005) realizaram uma análise retrospectiva de implantes instalados por um
único cirurgião em um período de 21 anos, envolvendo 4.680 implantes em 1.140 indivíduos.
Os supostos fatores de risco colhidos dos registros dos pacientes incluíam: gênero, idade,
localização do implante, tabagismo, diabetes, hipertensão e coronariopatias, asma, terapia
com esteróides, histórico de radioterapia na cabeça e pescoço e tratamento ou falta de
tratamento de reposição hormonal pós-menopausa. Concluíram que certos fatores de risco
como asma, hipertensão e uso crônico de esteróides não estão relacionados com o aumento
significativo das falhas dos implantes. Por outro lado, tabagismo, diabetes, pacientes com
histórico de radioterapia na cabeça e pescoço e pacientes submetidos a tratamento de
reposição hormonal pós-menopausa estão associados a aumento significativo na taxa de
insucesso dos implantes, porém, não identificou-se nenhuma contra-indicação absoluta para o
tratamento com implantes dentários.
Ferreira et al. (2006) verificaram a prevalência da doença de periimplante e analisaram
possíveis riscos associados com mucosite de periimplante e periimplantite. O grupo de estudo
consistiu de 212 tratados com implantes dentários 3i Implant Innovations ®. No momento do
exame, todos os implantes (total de 578) deveriam estar instalados entre seis meses e cinco
anos. Os pacientes foram divididos em dois grupos: o primeiro com uma frequência maior ou
igual a seis meses (visitas regulares) e o segundo com a frequência maior que seis meses
(visitas esporádicas). Para todos os pacientes diagnosticados como diabéticos na hora da
cirurgia assim como para aqueles que relataram ter a doença na hora da avaliação, um novo
exame de glicemia foi solicitado. Os implantes colocados foram examinados clínica e
radiograficamente para avaliar o estado periimplante. O grau de associação entre a doença de
periimplante e outras variáveis independentes foi investigado usando uma análise de regressão
27
multinomial. Os dados individuais dos pacientes, incluindo variáveis demográficas, de
periimplante e periodontais foram transcritos em um software de estatística para PC (SPSS
12.0). A prevalência da mucosite de periimplante e periimplantite foi de 64.6% e 8.9%,
respectivamente, sendo que a presença de periodontite e diabete foi estatisticamente associada
ao risco elevado de periimplantite. Os autores concluíram que o controle metabólico ruim nos
pacientes diabéticos não apresentou uma associação estatisticamente significativa com a
mucosite de periimplante; entretanto, esses pacientes eram mais suscetíveis a desenvolverem
a mucosite de periimplante e periimplantite.
Czerninski et al. (2006) descreveram um caso cínico de um paciente de 80 anos de
idade que apresentava lesão ulcerativa periimplantária na região anterior da mandíbula. Seu
histórico médico incluía Diabetes Mellitus não-dependente de insulina e doença isquêmica
cardíaca. Dezesseis anos antes, o paciente foi tratado de um carcinoma oral de células
escamosas (OSCC) na mucosa bucal esquerda, com excisão local, sem radioterapia. Além
disso, três anos antes da apresentação para o tratamento, foi diagnosticado carcinoma de colo
com metástase no fígado. Sua história bucodental, incluía cinco implantes dentais colocados
na região anterior da mandíbula, cinco anos antes. Ao exame clínico, um volume exofítico de
15 mm, parcialmente ulcerado foi observado ao redor dos implantes dentais. Na região
submandibular esquerda, nódulos linfóides eram palpáveis. A radiografia mostrou uma lesão
osteolítica com bordas pouco definidas, adjacentes aos implantes laterais direito, além de um
OSCC invasivo, moderadamente diferenciado envolvendo mucosa e osso. O paciente foi
classificado como tendo estágio IV de câncer e optou pelo procedimento de excisão local e
terapia paliativa, finalizando o tratamento em alguns meses.
O objetivo do estudo de Kotsovilis, Karoussis e Fourmoussis (2006) foi desempenhar
uma revisão compreensiva e crítica de estudos experimentais e clínicos publicados na leitura
internacional considerando a colocação de implantes endósseos em pacientes diabéticos e tirar
conclusões baseadas em evidências da eficácia e capacidade de previsão da terapia de
implantes nesses pacientes. Para tanto, realizaram uma pesquisa literária de artigos publicados
até março de 2005 na Biblioteca Nacional de Medicina e banco de dados Cochrane Oral
Health Group, que forneceu 227 títulos e resumos importantes. De um total de 227, após
avaliação criteriosa, 19 publicações completas (onze estudos experimentais e oito casos
clínicos) foram revisadas. A maioria dos estudos indicou que o diabetes não é contraindicação para a colocação de implante, desde que permaneça sob controle metabólico. Os
28
autores concluíram que mais experiências bem projetadas, longas e clinicamente controladas,
são certamente necessárias para provar tal declaração e avaliar vários fatores determinantes.
McCracken et al. (2006) avaliaram a reação óssea aos implantes em ratos diabéticos
não controlados e controlados por insulina. Para tanto, uma amostra de cento e cinquenta e
dois ratos foi dividida em três grupos: controle, diabéticos e de insulina. Os animais do grupo
diabético receberam injeção parenteral de streptozotocina (60 mg/kg) diluído em soro de
fosfato. O mesmo foi aplicado aos animais de insulina, com o adicional de uma bolinha
subcutânea de insulina (Lin-Plant®). Os animais controle receberam somente soro. Três dias
após a indução do diabetes, implantes de fio de titânio de 1.5 x 8 mm (Crystal
Manufacturing®) foram colocados na tíbia proximal dos ratos. Os implantes foram colhidos
em dois, sete, 14 e 24 dias e examinados histologicamente. Os ratos foram eutanasiados com
inalação de dióxido de carbono. As amostras foram analisadas usando um sistema
morfométrico de quantificação computadorizado. As imagens foram analisadas e os valores
histomorfométricos foram determinados usando o software de imagens NIH (NIH Image). O
volume ósseo médio chegou ao pico no sétimo dia e diminuiu com o tempo até o 24º dia,
sendo a porcentagem do volume ósseo médio em dois, sete, 14, e 24 dias, de 8.2 (±8), 22.9 (±
8), 18.8 (± 10), e 14.9 (± 9), respectivamente. O volume ósseo adjacente aos implantes em
ratos diabéticos foi significativamente maior do que os controles (P < 0.05). Animais
diabéticos tratados com insulina não foram estatisticamente diferentes dos controles. Os
autores concluíram que a indução de diabetes com STZ está associada com elevada reação
óssea comparada com os controles e que essa reação foi mediada pelo tratamento com
insulina.
Conforme Ricieri (2006), pouco se sabe sobre a influência das alterações sistêmicas no
processo de reparo dos dentes reimplantados. Sendo assim, analisou o processo de reparo do
reimplante de incisivos de ratos diabéticos não controlados após a manutenção dos dentes em
leite bovino pasteurizado. Para isso, utilizou uma amostra composta por 32 ratos (Rattus
norevegicus albicans, Wistar) machos, adultos, clinicamente livres de qualquer entidade
patológica. Após receberem anestesia (éter sulfúrico), os ratos foram divididos em dois
grupos (n=16): G1 (controle) – recebeu injeção de tampão citrato 0,01M, pH 4,5 através da
veia peniana e G2 (diabético) – foi injetada a streptozotocina dissolvida em tampão citrato
pela mesma via de administração de G1, na concentração de 35 mg/Kg de peso corpóreo.
Passados sete dias, após comprovação da hiperglicemia, o incisivo superior direito de cada
29
animal foi extraído e mantido no leite bovino pasteurizado tipo B por 60 minutos e depois
imerso em soro fisiológico. Os dentes foram reimplantados em seus respectivos alvéolos.
Após o procedimento cirúrgico, cada animal recebeu, em dose única, 20.000 U.I. de penicilina
G-benzatina (Benzetacil®) por via intramuscular. Dezesseis animais foram eutanasiados aos
dez dias e dezesseis aos 60 dias por injeção excessiva do anestésico. As peças obtidas foram
submetidas ao processamento laboratorial para a obtenção dos cortes, análise histológica e
histométrica. O tecido conjuntivo adjacente à superfície radicular se apresentou desorganizado
em G2 e, índices menores de reabsorção radicular externa e anquilose também foram
encontrados neste grupo, porém, sem diferenças estatisticamente significantes. Concluiu-se
que o processo de reparo do reimplante dentário dos ratos diabéticos foi semelhante ao do
grupo controle com relação à reabsorção radicular e a anquilose, embora a área de dentina não
reabsorvida tenha sido maior no grupo diabético, sendo esta diferença estatisticamente
significante.
Balshi, Wolfinger e Balshi (2007) avaliaram a estabilidade de 18 implantes do sistema
Bränemark carregados imediatamente em uma paciente diabética de 71 anos de idade,
controlada por insulina, nos primeiros 30 meses depois da cirurgia, correlacionando os dados
encontrados com a estabilidade de implantes em pacientes saudáveis. As medidas foram
realizadas através da análise da frequência de ressonância em todos os implantes no dia da
cirurgia e em um, dois, três, seis e 30 meses após a cirurgia. Todos os implantes
permaneceram em função após os 30 meses de acompanhamento, sendo que a estabilidade
média diminuiu 12,7% nos primeiros 30 dias, o dobro do observado na população geral. Após
o período do estudo, a estabilidade média dos implantes continuou a aumentar, entretanto, não
permanecendo igual às medidas iniciais do dia da cirurgia. Os autores concluíram que, apesar
das diferenças metabólicas dos pacientes diabéticos, um protocolo de carregamento imediato
pode ser bem-sucedido e resultar em boa osseointegração.
Morais (2007) realizou um estudo com o objetivo de avaliar o efeito do Diabetes
Mellitus e da insulinoterapia na osseointegração estabelecida ao redor de implantes instalados
em tíbia de ratos. Foram utilizados 80 ratos Wistar, os quais foram divididos em 4 grupos:
controle de 2 meses (C2m), controle de 4 meses (C4m), diabético (D) e insulínico (I). Os
implantes de superfície lisa (2,2mmx4mm) foram instalados na tíbia do rato. Após um período
de 2 meses para osseointegração, o grupo C2m foi sacrificado. A indução do DM foi realizada
com dose única de estreptozotocina (40mg/Kg) pela veia peniana. Os ratos do grupo I
30
receberam insulina subcutânea (8,5 U/dia) e os demais receberam solução salina (0,9%) pela
mesma via. Os níveis da glicemia plasmática foram avaliados periodicamente pelo método
enzimático da glicose-oxidase. Dois meses após a indução do DM, os grupos C4m, D e I
foram sacrificados. A relação do tecido ósseo com o implante foi avaliada pelas análises:
radiográfica (subtração radiográfica digital); bioquímica; histométrica e torque de remoção do
implante. Os dados das análises radiográfica, bioquímica e histométrica foram comparados
nos grupos pelo teste ANOVA, p>0,05. Os dados da análise do torque de remoção foram
comparados nos grupos pelo teste Kruskal Wallis e Friedman, p>0,05. Os resultados
mostraram que o grupo D apresentou níveis de glicemia plasmática acima de 300mg/dL e
significativamente mais alto do que os grupos C4m e I após a indução do DM e esta condição
sistêmica foi mantida até o final do experimento. Os resultados bioquímicos evidenciaram um
aumento significativo da determinação plasmática de fosfatase alcalina e da excreção urinária
de cálcio do grupo D após a indução do DM. Os resultados da subtração radiográfica digital
determinaram que o grupo D foi estatisticamente inferior em relação ao grupo insulínico nos
valores de ganho de nível de cinza. Os resultados histométricos da área óssea determinaram
que o grupo D (69,34+5) apresentou diferença estatística significante em relação aos grupos
C4m (78,2+5,5) e I (79,63+5,27). O torque de remoção no grupo D (12,9+2,5) foi
estatisticamente inferior ao grupo I (17,1+3) (p<0.05), porém sem diferenças significantes
com os grupos C2m (13,1+2,6) e C4m (16,9+5,3). A indução experimental do DM parece
prejudicar a osseointegração de implantes devido apresentar uma tendência negativa nos
resultados em relação à densidade óssea radiográfica na subtração digital, ao contato entre
osso e implante e à área óssea, ao torque para remoção do implante além de apresentar
elevados valores de componentes ósseos bioquímicos relacionados à perda óssea. A
insulinoterapia evitou a ocorrência das alterações ósseas detectadas em animais diabéticos.
Gromatzky e Sendyk (2007) esclarecem que o tratamento periodontal, deve ser
submetidos a um programa de controle e manutenção cuidadosamente elaborado durante 6
anos, para manterem uma higiene bucal padronizada e níveis de inserção inalterados. É de
suma importância no controle e manutenção, saber examinar e diagnosticar, como também,
conseguir resolver clinicamente as alterações resultantes. O sucesso a longo prazo dos
implantes depende da cooperação entre profissional e paciente, e de seu esforço conjunto na
manutenção da saúde dos tecidos perimplantares. Deve-se proceder a uma anamnese
criteriosa, pelo menos anualmente, pois podem surgir doenças sistêmicas, como Diabetes
Mellitus, dentre outras, agravando casos de mucosite ou perimplantite, e comprometendo a
31
preservação dos implantes. Estas anotações devem constar obrigatoriamente da ficha de
controle e manutenção do paciente.
32
4 DISCUSSÃO
A literatura, de um modo geral, tem apontado que as dificuldades apresentadas pelos
pacientes diabéticos para a obtenção de um bom controle metabólico (estão relacionadas à sua
adesão a um plano alimentar, ao incremento da atividade física e ao seguimento da terapêutica
medicamentosa (NEVINS et al., 1998; BALSHI e WOLFINGER, 1999; DINATO e
POLIDO, 2001; PERNO, 2001; FRANCO et al., 2003; MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2003;
QUIRYNEN e TEUGHELS, 2003; KITAMURA et al., 2004; BATISTA et al., 2005;
MADEIRO, BANDEIRA e FIGUEIREDO, 2005; PÈRES, 2006).
Embora os implantes dentários sejam considerados opções de tratamento previsíveis e
consistentes para a maioria dos pacientes, Nevins et al. (1998); McCracken et al. (2000) e,
Lourenço, (2003), consideram que indivíduos com doença sistêmica descontrolada, como por
exemplo a diabete, podem ser negadas ao tratamento. Porém, com a evolução dos implantes
dentários e o crescente interesse da população por tal recurso cirúrgico, observou-se a
importância de verificar se os pacientes diabéticos estão aptos para receber implantes e se
estes podem desenvolver uma osteointegração satisfatória.
O DM é uma alteração metabólica que pode comprometer a estabilidade do implante
dentário devido a influência no tecido ósseo (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000;
BALSHI, WOLFINGER e BALSHI, 2007; MORAIS, 2007).
McCracken et al. (2006) e Morais (2007) concluíram que a indução experimental do
DM parece prejudicar a osseointegração de implantes devido apresentar uma tendência
negativa nos resultados em relação à densidade óssea radiográfica na subtração digital, ao
contato entre osso e implante e à área óssea, ao torque para remoção do implante além de
apresentar elevados valores de componentes ósseos bioquímicos relacionados à perda óssea.
A insulinoterapia evitou a ocorrência das alterações ósseas detectadas em animais diabéticos.
Pacientes diabéticos representam uma porção significativa da população que requer
tratamento reabilitador com implantes. Contudo, a indicação de implantes dentais
osseointegráveis para pacientes com comprometimento sistêmico como o Diabetes Mellitus
permanece controversa. Segundo Balshi e Wolfinger, (1999); Herkovits, Devoto e Scholnik,
33
(2000); Olson et al. (2000); Farzad, Andersson e Nyebrg, (2002); Van Steenberghe et al.
(2002); Fadanelli, Stemmer e Beltrão, (2005); Ferreira et al. (2006); Kotsovilis, Karoussis e
Fourmoussis, (2006); e, Balshi, Wolfinger e Balshi, (2007) o Diabetes Mellitus não
corresponde diretamente ao sucesso ou insucesso dos implantes, quando se trata de pacientes
com diabetes metabolicamente controlados, não resultando, portanto em maior risco de falhas
do que na população geral.
Porém, para Iyama et al. (1997); Takeshita et al. (1997); El Askaryet al. (1999);
Roumanas et al. (2003); Sousa et al. (2003); Margonar, (2005); Moy et al. (2005); Czerninski
et al. (2006); McCracken et al. (2006); Ricieri, (2006); Gromatzky e Sendyk (2007) e, Morais
(2007) o Diabetes Mellitus influencia negativamente a osseointegração de implantes, porem
não identificam nenhuma contra-indicação absoluta para o tratamento com implantes
dentários. Portanto, é necessário avaliar o risco individual de cada caso em particular.
Já, Nevins et al. (1998); McCracken et al. (2000) e, Lourenço, (2003) entendem que
um estado diabético sem controle, que pacientes com níveis de glicose elevados não devem
ser tratados com implantes dentários.
Sousa et al. (2003) relataram que dentre as alterações orais ocorridas em pacientes
diabéticos estão: a hipoplasia, a hipocalcificação do esmalte, diminuição do fluxo e aumento
da acidez e da viscosidade salivar, que são fatores de risco para cárie; sendo contra-indicados
os implantes osseointegrados, pois, a síntese de colágeno está prejudicada, principalmente em
pacientes com diabetes tipo 1 e descompensados do tipo 2.
Considera-se de suma importância da boa saúde geral do paciente para a perfeita
osseointegração e longevidade do implante (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000;
PERNO, 2001). O diabetes se não tratadas e monitoradas podem interferir na osteintegracão
dos implantes. Portanto, tratamentos prévios necessários devem ser feitos antes da colocação
de implantes para se evitar o risco de insucesso (RENOUART e RANGERT, 2001;
MCCRACKEN et al., 2006).
É de extrema importância que o paciente diabético esteja ciente da necessidade de
manter um adequado controle metabólico durante todo o período de cicatrização dos
implantes, a fim de otimizar o processo de osseointegração (BALSHI e WOLFINGER, 1999;
DINATO e POLIDO, 2001; QUIRYNEN e TEUGHELS, 2003), destacando-se também, os
34
controles de higiene bucal (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000; GROMATZKY e
SENDYK, 2007).
Pacientes com mau controle podem ter risco de complicações devido à alteração no
reparo cicatricial (MCCRACKEN et al., 2000; OLSON et al., 2000; DINATO e POLIDO,
2001; FARZAD, ANDERSSON e NYEBRG, 2002; SOUSA et al., 2003; QUIRYNEN e
TEUGHELS, 2003; FADANELLI, STEMMER e BELTRÃO, 2005).
Um paciente com diabetes de início tardio, controle rigoroso da dieta, que não
apresente perda dentária em decorrência do desenvolvimento da doença periodontal,
necessitando, por exemplo, da instalação de um único implante, apresentará menor risco de
insucesso (HERKOVITS, DEVOTO e SCHOLNIK, 2000). A literatura relata uma
porcentagem de sucesso de 92.7% a 94.5% em diabéticos tipo 2 com controle glicêmico
adequado (BALSHI e WOLFINGER, 1999). Contrariamente, um paciente diabético juvenil,
insulino-dependente, com perda de múltiplos dentes, devido à doença periodontal, apresentará
um alto risco de insucesso.
De acordo com Lauda, Silveira e Guimarães (1998) Ferreira et al. (2006) os
insucessos de implantes em pacientes diabéticos estão, quase sempre, relacionados a pessoas
que desconheciam o problema e o implantodontista não teve sua atenção voltada para o
detalhe, provavelmente por falta de exames de sangue pré-operatórios ou por pacientes que,
na época dos exames, mantinham-na controlada e por motivos alheios à vontade ou
desatenção, descompensaram durante o período da osseointegração. Desta forma, Balshi e
Wolfinger (1999); El Askaryet al. (1999); Herkovits, Devoto e Scholnik (2000); Olson et al.
(2000); Madeiro, Bandeira e Figueiredo (2005); Kotsovilis, Karoussis e Fourmoussis (2006);
Gromatzky e Sendyk (2007) recomendam que os pacientes nesta condição, já na primeira
consulta, realizem um controle mais estrito nos meses seguintes à colocação dos implantes.
Em relação aos protocolos de carga imediata ou tardia, não existem evidências
baseadas em um número considerável de pacientes (BALSHI e WOLFINGER, 1999),
entretanto, parece razoável pressupor que a diabetes tipo 2 não seja um fator de risco absoluto
para a realização de um protocolo de carga imediata (BALSHI, WOLFINGER e BALSHI,
2007).
35
5 CONCLUSÕES
O diabetes não é uma contra-indicação absoluta para a colocação de implantes
dentários.
É importante manter controlados os níveis glicêmicos do paciente a ser implantado
especialmente durante o período de osseointegração.
É necessário que o implantodontista centre o atendimento no paciente e não na doença,
entendendo as diversas necessidades da pessoa, procurando atender a todas elas, criando uma
nova consciência, trabalhando e interagindo em harmonia com outros profissionais de saúde,
enfim, fazendo o acompanhamento, contribuindo para a promoção para uma vida saudável.
É de suma importância a realização de um programa de controle periódico para todos
os pacientes e principalmente para os diabéticos, para que o tratamento odontológico possa
ser realizado com maior segurança, uma vez que, a diabetes assume características próprias
em cada indivíduo.
36
REFERÊNCIAS
ALVES, C. et al. Atendimento odontológico do paciente com diabetes mellito:
recomendações para a prática clínica. Rev Cienc Med Biol, Salvador, v. 5, n. 2, p.97-110,
mai./ago. 2006.
BALSHI, T. J.; WOLFINGER, G. J. Dental Implants in the diabetic patient: a retrospective
study. Implant Dent, Baltimore, v. 8, n. 4, p. 355-359, june./dec. 1999.
BALSHI, S. F.; WOLFINGER, G. J.; BALSHI, T. J. Exame da estabilidade do implante
imediatamente carregado em paciente diabético através da Análise da Frequência de
Ressonância (AFR). Quintessence Int, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 271-279, dez. 2007.
BARCELLOS, I. F.; et al. Conduta odontológica em paciente diabético. Rev Bras Odontol,
Rio de Janeiro, v. 57, n. 6, p. 407-410, nov./dez. 2000.
BATISTA, M.C.R. et al. Avaliação dos resultados da atenção multiprofissional sobre o
controle glicêmico, perfil lipídico e estado nutricional de diabéticos atendidos em nível
primário. Rev. Nutrição, Campinas, v.18, n. 2, p. 219-228, mar./abr. 2005.
BJELAND, S. et al. Dentists, diabetes and periodontitis. Aust Dent J, Sydney, v. 47, n. 31, p.
202-207, sept. 2003.
BRÄNEMARK, P. I. Introducción a la oseointegración. In: BRANEMARK, P. I.; ZARB, G.
A.; ALBREKTSSON, T. Prótesis tejido-integradas: la osseointegración en la odontología
clínica. Berlin: Quintessence, 1987. Cap. 1, p.11-76.
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Plano de Reorganização da
Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Manual de Hipertensão Arterial
e Diabetes Mellitus, Brasília, 2002.
CZERNINSKI, R. et al. Oral squamous cell carcinoma around dental implants. Quintessence
Int, Berlim, v. 37, n. 9, p. 707-711, oct. 2006.
DINATO, J. C.; POLIDO, W. D. Implantes osseointegrados cirurgia e prótese. São Paulo:
Artes Médicas Divisão Odontológica, 2001.
37
EL ASKARY, A. S. et al. Why do dental implants fail? Part I. Implant Dent. v.8, n. 2, p.
173-83, 1999.
FADANELLI, A. B.; STEMMER, A. C.; BELTRÃO, G. C. Falha prematura em implantes
orais. Rev Odont Ciênc, Porto Alegre, v. 20, n. 48, p. 170-176, abr./jun. 2005.
FARZAD, P.; ANDERSSON, L.; NYBERG, J. Dental implant treatment in diabetic patients.
Clinical science and techniques. Implant Dent, Baltimore, v. 11, n. 3, p. 262-267, sep. 2002.
FERREIRA, S. D. et al. Prevalence and risk variables for peri-implant disease in Brazilian
subjects. J Clin Periodontol, Copenhagen, v. 33, n. 12, p. 929-935, dec. 2006.
FRANCO, L. J. et al. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição
nutricional. In: Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19 (Sup. 1), p. S29-S36, 2003.
GROMATZKY, A.; SENDYK, W. R. Preservação da osseointegração através de um
programa de controle e manutenção. 2007. Disponível em: <www.scribd.com/doc/V3n>
Acesso em: 21 ago. 2009.
GROSS, J. L. et al. Diabetes melito: diagnóstico, classificação e avaliação do controle
glicêmico. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 16-26, fev. 2002.
HERKOVITS, J.; DEVOTO, E. L.; SCHOLNIK, I. Colocación de un implante único em un
paciente diabético tipo II: presentación de un caso. Rev. Círc. Argent. Odontol., Buenos
Aires, v. 28, n. 188, p. 20-24, ago. 2000.
IYAMA, S. et al. Study of the regional distribution of bone formed around hydroxyapatite
implants in the tibiae of streptozotocin-induced diabetic rats using multiple fluorescent
labeling and confocal laser scanning microscopy. J. Periodontol., Indianapolis, v. 68, n. 12,
p. 1169-1175, dec. 1997.
KITAMURA, R. K. W. et al. Manejo de pacientes diabéticos no consultório odontológico.
mar. 2004. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/artigos>. Acesso em: 18 ago.
2009.
KOTSOVILIS, S.; KAROUSSIS, I. K.; FOURMOUSIS, I. A comprehensive and critical
review of dental implant placement in diabetic animals and patients. Clin Oral Implant Res,
Copenhagen, v. 17, n. 5, p. 587-599, oct. 2006.
38
LAUDA, P. A.; SILVEIRA, B. L.; GUIMARÃES, M. B. Manejo odontológico do paciente
diabético. J. Bras. Odontol. Clín., Curitiba, v. 2, n. 9, p. 81-87, mai./jun. 1998.
LAURENTI, R. Mortalidade por diabetes mellitus no município de São Paulo (Brasil).
Evolução em um período de 79 anos (1900-1978) e análise de alguns aspectos sobre
associação de causas. Revista de Saúde Pública, São Paulo v.16, n.2, abr. 1982.
LOURENÇO, S. V. Verificação do grau de conhecimento de Cirurgiões-Dentistas sobre
os aspectos éticos e legais dos insucessos e contra-indicações de implantes
osseointegrados. 2003, 260 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba, 2003.
MADEIRO, A. T.; BANDEIRA, F. G.; FIGUEIREDO, C. R. L. V. A estreita relação entre
diabetes e doença periodontal inflamatória. Odontol. Clin. Cientif., Recife, v. 4, n. 1, p. 0712, jan./abr. 2005.
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição & dietoterapia. 10 ed.
São Paulo: Roca, 2003.
MARGONAR, R. Influência do Diabetes Mellitus e da insulinoterapia sobre a
osseointegração: avaliação histométrica em tíbia de coelhos. 2005. 102 f. Tese
(Doutorado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia, Araraquara, 2005.
McCRACKEN, M. S. et al. Bone response to titanium alloy implants placed in diabetic rats.
Int J Oral Maxillofac Implants, Lombard, v. 15, n. 3, p. 345-354, may./june. 2000.
______. Bone associated with implants in diabetic and insulin-treated rats. Clin Oral
Implant Res, Copenhagen, v. 17, n. 5, p. 495-500, oct. 2006.
MESSINA, M.; SETCHELL, K. Soja e diabetes. (Tradução de José Marcos Mandarino, Vera
de Toledo Benassi). Londrina: Embrapa Soja, 2002.
MISCH, C. E. Densidade óssea: Um determinante significativo para o sucesso clínico. In:
______. Implantes Dentários Contemporâneos. São Paulo: Santos; 2000.
MOORE, P. A.; ZGIBOR, J. C.; DASANAVAKE, A. P. Diabetes: A grow epidemic of all
ages. J. Am. Dent. Assoc., Chicago, v. 134, p. 115-155, oct. 2003.
39
MOY, P. K. et al. Dental implant failure rates and associated risk factors. Int J Oral
Maxilliofac Implants. v. 20, n. 4, p. 569-77, jul./ago. 2005.
MORAIS, J. A. N. D. Efeito do Diabetes Mellitus e da insulinoterapia na osseointegração
estabelecida ao redor de implantes instalados em tíbia de ratos [Tese de Doutorado].
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2007. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp042456.pdf>. Acesso em: 06 set.
2009.
NEVINS, M. L. et al. Wound Healing Around Endosseous Implants in Experimental
Diabetes. Int J Oral Maxillofac Implant, Lombard, v. 13, n. 5, p. 620-629, sep./oct. 1998.
OLSON, J. W. et al. Dental Endosseous Implant Assessments in a Type 2 Diabetic
Population: A Prospective Study. Int J Oral Maxillofac Implant, Lombard, v. 15, n. 6, p.
811-818, nov./dez. 2000.
PARENTI FILHO, A. A revolução do implante - o sucesso depende do bom senso e da
capacidade profissional em usar as informações. 2007. Disponível em:
<http://www.oralcenteresteticaimplante.com.br/a29.htm>. Acesso em: 2 set. 2009.
PÉRES, D. S. Comportamento alimentar em mulheres portadoras de diabetes tipo 2. Revista
de Saúde Pública, v.40 n.2 São Paulo abr. 2006.
PERNO, M. A higienista dental: nosso papel na saúde das mulheres – tratando da clientela
feminina. Compendium – Ed. Especial: Mulheres e Odontologia, Newtown, v. 22, n. 1, p.
45-54, jan. 2001.
PESSUTO, J.; CARVALHO, E. C. de. Fatores de risco em indivíduos com hipertensão
arterial. Revista latino americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 33-39, jan.
1998.
QUIRYNEN, M; TEUGHELS, W. Microbiologically compromised patients and impact on
oral implants. Periodontology 2000, Copenhagem, v. 33, n. 1, p. 119-128, jan. 2003.
RENOUART, F.; RANGERT, B. Fatores de risco em implantodontia - Planejamento Clínico
Simplificado para Prognóstico e Tratamento. Quintessensse Publishing Co., 2001.
RICIERI, C. B. Análise do processo de reparo do reimplante de incisivos de ratos
diabéticos após a manutenção dos dentes em leite. 2006, 101 f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Estadual de São Paulo, Faculdade de Odontologia, Araçatuba, 2006.
40
ROUMANAS, E. D. et al. Comparisons of chewing difficulty of consumed foods with
mandibular conventional dentures and implant-supported overdentures in diabetic denture
wearers. Int J Prosthodont, Lombard, v. 16, n. 6, p. 609-615, dec. 2003.
SARTORELLI, D. S.; FRANCO, L. J. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da
transição nutricional. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, sup. 1, p. 29-36, 2003.
SILVA, A. M. Contribuição da saúde bucal na integralidade da atenção ao paciente
diabético. 2006, 147 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais,
Colegiado de Pós-graduação em Odontologia, Belo Horizonte, 2006.
SOUSA, R. R. et al. O paciente Odontológico portador de Diabetes Mellitus: uma revisão da
literatura. Pesq Bras Odontoped Clin Integr, João Pessoa, v. 3, n. 2, p.71-77, jul./dez. 2003.
TAKESHITA, F. et al. The effects of diabetes on the interface between hydroxyapatite
implants and bone in rat tibia. J Periodontol, Chicago, v. 68, n. 2, p. 180-185, feb. 1997.
VAN STEENBERGHE, D. et al. The relative impact of local and endogenous patientrelated
factors on implant failure up to the abutment stage. Clin Oral Implant Res, Copenhagen, v.
13, n. 6, p. 617-622, dec. 2002.
VARGAS, R. M. A. Novas diretrizes para a glicemia de jejum. Rev Diabetes News, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 2, p. 8-13, ago. 2004.
VIDIGAL JR, G. M.; GROISMAN, M. Osseointegração X Biointegração: uma análise
crítica. 2007. Disponível em: <http://www.lutzhoepner.de/uebersetzen.htm>. Acesso em: 2
set. 2009.