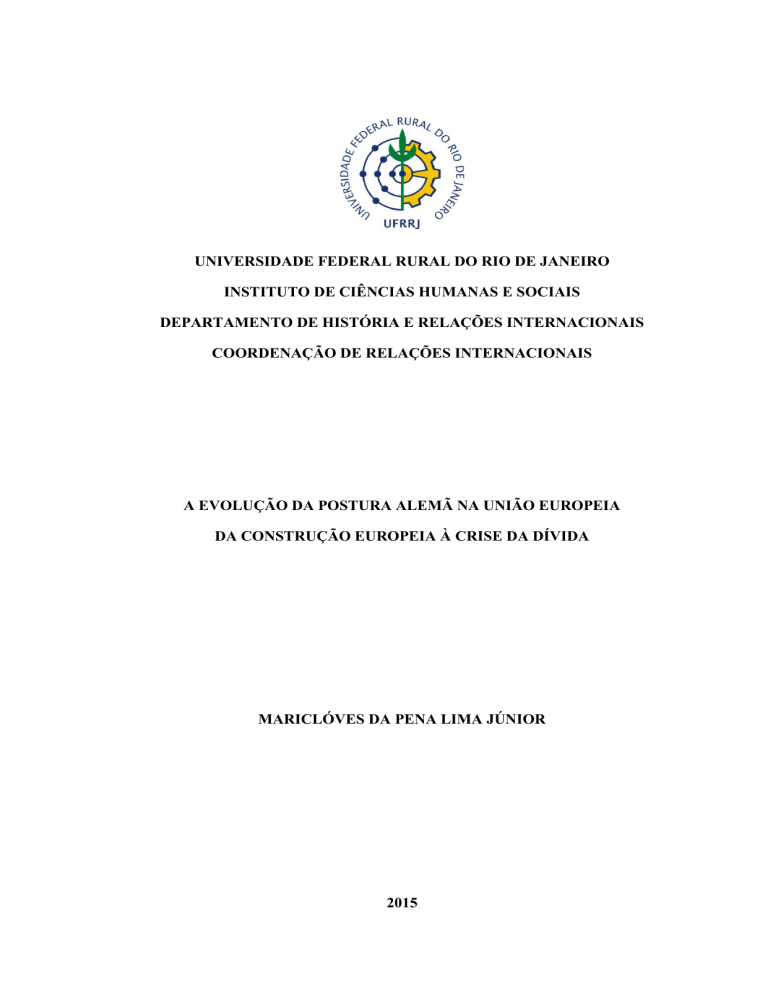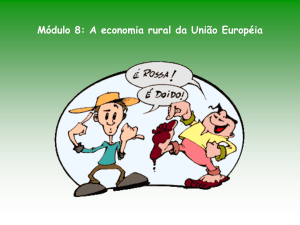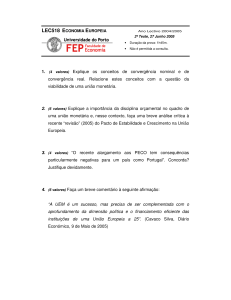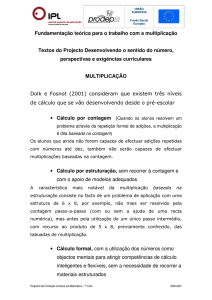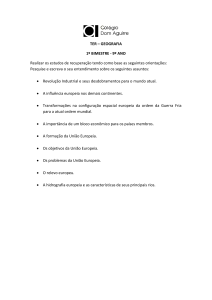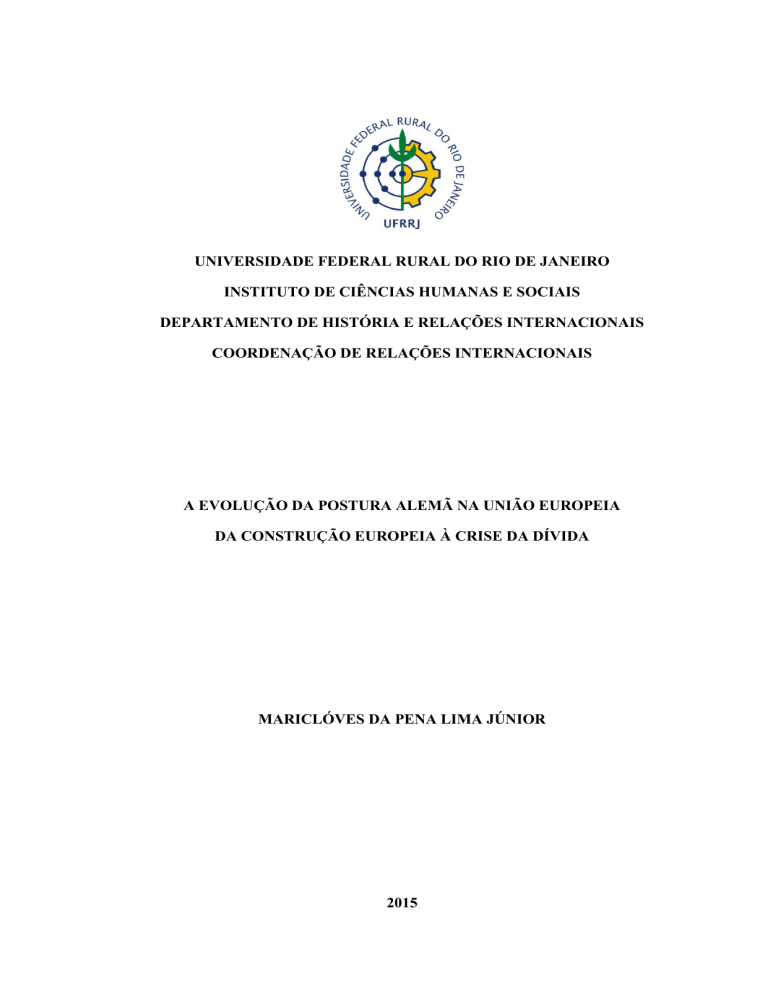
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A EVOLUÇÃO DA POSTURA ALEMÃ NA UNIÃO EUROPEIA
DA CONSTRUÇÃO EUROPEIA À CRISE DA DÍVIDA
MARICLÓVES DA PENA LIMA JÚNIOR
2015
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
MARICLÓVES DA PENA LIMA JÚNIOR
A EVOLUÇÃO DA POSTURA ALEMÃ NA UNIÃO EUROPEIA
DA CONSTRUÇÃO EUROPEIA À CRISE DA DÍVIDA
Monografia apresentada junto ao Curso de Relações
Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro como requisito à obtenção do título de Bacharel
em Relações Internacionais.
Orientadora: Profª. Drª. Layla Ibrahim Abdallah Dawood
Seropédica, 2015
A EVOLUÇÃO DA POSTURA ALEMÃ NA UNIÃO EUROPEIA: DA CONSTRUÇÃO
EUROPEIA À CRISE DA DÍVIDA
Mariclóves da Pena Lima Júnior
Monografia aprovada em: ____ de _____________ de 2015.
Comissão Examinadora:
_________________________________________
Profª. Drª. Layla Ibrahim Abdallah Dawood – Orientadora
DHRI / ICHS – UFRRJ
_________________________________________
Prof. Dr. Luiz Felipe Brandão Osório
DHRI / ICHS – UFRRJ
_________________________________________
Profª. Drª. Ana Elisa Saggioro Garcia
DHRI / ICHS – UFRRJ
AGRADECIMENTOS
Agradeço aos meus pais, Rosane e Nego, por toda a dedicação e por cada sonho que
sacrificaram para possibilitar que eu realize os meus, por todo o tempo e pelo amor e esforço
que destinaram a mim. Por cada dia de trabalho árduo que tiveram para que eu pudesse me
graduar.
Aos meus irmãos, Mariane e Mauro, pelo incentivo e pela preocupação, por todos os anos de
irmandade e resenha, e por cada desentendimento que nos moldou ao longo da vida.
À minha namorada, Taís, pela cumplicidade, o apoio, a dedicação e a confiança nessa
trajetória em comum, no nosso relacionamento e em nossas vidas. Agradeço pelos dias mais
felizes e coloridos que me proporcionou, pela vivência dedicada a mim e pelo afeto e tudo
mais que tem causado na minha vida.
Aos meus tios, Maninha, Paulo, Luciana e Dalson, meus primos, Adriane, Felipe, Bruna,
Enzo e Lorenzo, meus avós, Nelson, Dalva e Mariza, e todos outros mais pelos momentos em
família que me aliviaram da saudade, pelos abraços e sorrisos a cada vez que cheguei e parti,
e pelos exemplos que cada um, a sua maneira, tem me dado.
Aos amigos Andressa e Luan, pelas noites de TWD e GOT lá em casa, pelos jantares
elaborados, pelos dias e noites de conversas e risadas, de debates, de piadas, de fofocas e
todas as outras ocasiões em que pudemos nos ajudar e estreitar nossos laços de amizade.
Aos amigos que tornaram essa caminhada mais prazerosa, Letícia e Douglas, em todas nossas
conversas, jantares e planos, pelas nossas idas e vindas no 441B.
Aos migos Ana Clara, Ana Luiza, Francisco, Ariel, Amanda e Bruna, pelos debates e
conversas descontraídas.
Aos meus sogros, Ana Kátia e Edgley, pelo enorme carinho com que me acolheram em sua
família. À família das Anas, pelo igual carinho.
Às professoras e professores da UFRRJ pela visão crítica e elucidada sobre o mundo em que
vivemos.
E a todos aqueles que contribuíram de alguma forma na minha vida.
“Happiness only real when shared”
Christopher McCandless
RESUMO
O processo de integração europeu tem se constituído, nas relações internacionais, no maior
experimento de união regional na história do mundo. A construção da União Europeia
enquanto uma organização internacional com uma institucionalidade única e com
personalidade jurídica própria, representa a mais avançada forma de integração regional que
se tem notícia, perpassando diversos aspectos da vida na Europa. Enquanto um projeto que se
diz comunitário, no entanto, a UE é guiada por lideranças políticas que muitas vezes tomam
as decisões que lhes agradam em detrimento de interesses mais pluralistas. A França e a
Alemanha representaram, durante todo o processo de construção europeia, nas lideranças que
guiavam o sentido que a integração deveria tomar. A institucionalidade da UE e a própria
moeda única gerida pelo Banco Central Europeu demonstram como a “Europa” tem sido
construída de acordo com os interesses de poucos. A Crise da Dívida Soberana que tem
atordoado as lideranças políticas europeias demonstrou rapidamente que a parceria francogermânica era insustentável se um dos dois se debilitasse. O enfraquecimento francês diante
de uma Alemanha cada vez mais poderosa tem causado preocupação não só no velho
continente, mas no mundo todo. Este trabalho tem como cerne destrinchar os motivos que
permitiram que a Alemanha se tornasse a líder europeia nesse contexto de crise econômica se
emancipando da parceria com a França. Para tanto, analisaremos os contextos domésticos
alemães e internacionais a partir de uma ótica liberal das teorias de Relações Internacionais
como os rumos políticos e econômicos possibilitaram uma União Europeia cada vez mais
germanizada.
Palavras-chave: União Europeia; Alemanha; Crise da Dívida; Zona do Euro.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..........................................................................................................................9
CAPÍTULO 1 – UM PANORAMA TEÓRICO.......................................................................15
1.1 – JOANNE GOWA – UMA REVISÃO DA TEORIA DA ESTABILIDADE
HEGEMÔNICA...................................................................................................................17
1.2 – ROBERT KEOHANE – REGIMES INTERNACIONAIS PÓS-HEGEMON...........20
1.3
–
ANDREW
–
MORAVCSIK
ATORES
SOCIETAIS
E
INTERESSES
NACIONAIS........................................................................................................................26
1.4 – ROBERT PUTNAM – O JOGO DE DOIS NÍVES ENTRE A POLÍTICA INTERNA
E A DIPLOMACIA..............................................................................................................31
1.5 – MODELO TEÓRICO..................................................................................................36
CAPÍTULO 2 – EMPODERAMENTO ALEMÃO FRENTE À EUROPA.............................43
2.1 – A ESTRUTURA DO SISTEMA INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA E SUA
INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS INTERESSES NACIONAIS...............................46
2.2 – A CRIAÇÃO DO REGIME INTERNACIONAL......................................................54
2.3
–
AS
ALTERAÇÕES
DA
ESTRUTURA
INTERNACIONAL
E
DAS
CAPACIDADES MATERIAIS DOS ESTADOS EUROPEUS.........................................60
2.4
–
FATORES
EXTERNOS
E
INTERNOS
QUE
INFLUENCIARAM
A
MAUTENÇÃO DO REGIME EUROPEU..........................................................................74
CAPÍTULO 3 – DA UNIÃO MONETÁRIA À CRISE DA DÍVIDA.....................................95
3.1
–
A
REESTRUTURAÇÃO
UNIPOLARIDADE
E
AS
DO
SISTEMA
CONSEQUENTES
INTERNACIONAL
PERSPECTIVAS
SOB
A
ABERTAS
À
POLÍTICA EXTERNA ALEMÃ.........................................................................................98
3.2 – PREPARAÇÃO PARA O ALARGAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA:
ALARGAMENTO DO PODER ALEMÃO?....................................................................108
3.3 – A CRISE ECONÔMICA INTERNACIONAL E A CONTAMINAÇÃO EUROPEIA:
TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA DO SISTEMA..............................................120
3.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................135
CONCLUSÃO........................................................................................................................138
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................143
9
INTRODUÇÃO
O processo de integração regional que originou a União Europeia é apontado muitas
vezes como um projeto bem sucedido que permitiu que aquela região que outrora foi palco de
guerras e conflitos constantes pudesse se engendrar em um caminho de paz e prosperidade
sem fim. No entanto, a crise econômica internacional desencadeada em 2008 nos Estados
Unidos e o contágio que os países europeus tiveram, acarretando o aumento significativo de
suas dívidas públicas, fez com que o mercado temesse pela solidez dos Estados europeus em
honrar suas dívidas. O medo generalizado levou alguns dos países da União Europeia,
especificamente da Zona do Euro, a pedirem ajuda financeira aos seus parceiros na
organização. A crise tem feito com que muitos tenham apostado contra o projeto da moeda
única e, algumas vezes, contra o próprio projeto de integração europeu, visto que consideram
que caso algum país endividado entre em bancarrota, isso significará sua saída da Zona do
Euro, da UE e, possivelmente, isso seja o fim da própria organização.
Originada na década de 1950, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço surgiu com
o propósito de garantir que os países europeus se lançariam em um processo de integração
regional que os impossibilitasse de se engendrar em outros conflitos armados. Ao submeter as
produções e distribuições de carvão e aço dos seus países-membros, insumos importantes na
indústria de guerra, os europeus conseguiram encontrar agendas comuns que os uniam em
torno de uma causa. Essa aproximação foi possível graças a um contexto internacional bipolar
no qual duas superpotências disputavam áreas de influência, ao contexto interno desses
Estados arrasados pela Segunda Guerra Mundial e à vontade política das lideranças desses
países. A criação da CECA visava, sobretudo, conciliar aqueles que foram os maiores rivais
10
no continente europeu nos cem anos anteriores que tinham desencadeado três guerras nesse
período (duas com proporções mundiais), a França e a Alemanha.
Com amplo apoio dos Estados Unidos e seu poder econômico e militar e contando
com o amplo empenho de lideranças franco-germânicas, a CECA foi criada contendo seis
membros fundadores: A França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, os Países Baixos e
Luxemburgo. O relativo sucesso permitiu que em 1957 a integração fosse ampliada, tendo
sido acordado em Roma (1957) a criação de mais duas comunidades: uma para a energia
atômica (Euroatom) e outra para o mercado comum (Comunidade Econômica Europeia). A
França e a Alemanha sempre foram vistas como as lideranças responsáveis que guiaram o
caminho a ser seguido desde a CECA até a União Europeia. O regionalismo europeu foi,
portanto, fortemente influenciado pelo poder hegemônico e pelos contextos internos e
externos dos seus países-membros.
Assim, mudanças estruturais no sistema internacional ou nos contextos internos dos
Estados acarretariam mudanças também na instituição de forma a perseguir os interesses que
surgissem das mudanças internas e externas. Dessa forma, entre as décadas de 1960 e 1970,
um contexto internacional mais adverso pelas investidas do poder hegemônico e contextos
internos mais estáveis e confiáveis permitiu que fossem lançadas as Comunidades Europeias,
uma espécie de comunhão entre as três comunidades que funcionaram até então, ampliando as
possibilidades na Europa e permitindo uma institucionalidade menos confusa. Esse período
também assistiu às primeiras adesões de novos membros ao regime internacional. As décadas
de 1970 e 1980 seriam marcadas pela busca de mecanismos de defesa dos países europeus da
jogadas que os Estados Unidos deram para retomar a hegemonia no mundo e pela
possibilidade de aprofundamento da integração graças a um contexto externo no qual a União
Soviética começava a bater em retirada, possibilitando a reunificação da Alemanha.
O início da década de 1990 é marcado por uma mudança brusca na estrutura do
sistema internacional, deixando de ser um mundo bipolar e passando a ser um mundo unipolar
com o advento do fim da URSS, e por uma mudança significativa no projeto de integração
europeu, sendo lançada em Maastricht (1992) a União Europeia. Junto à institucionalidade
completamente nova e à ampliação das áreas de atuação no regime europeu, é acordado
também a criação de uma moeda única na Europa que viria a substituir as moedas nacionais
dos países-membros. Esse processo foi articulado e negociado pelos dos maiores atores da
integração europeia, a França e a Alemanha, enquanto o Reino Unido – a possível terceira
11
força – preferiu não avançar na integração por medo de ceder sua soberania e perder o
controle de suas políticas monetárias. A década seguinte a Maastricht assistiu ao empenho em
torno da moeda única, entrando em circulação em 2002 e a candidatura de diversos países do
leste europeu para entrar na instituição, possibilidade alcançada graças ao contexto
internacional no qual a URSS não existia mais.
O novo milênio foi marcado por uma euforia em torno da integração regional
europeia, apontada como o futuro das relações internacionais, e pelo crescimento econômico
acelerado, impulsionado pelo aumento de demanda criado em novos atores internacionais de
peso relevante, conhecidos como “países emergentes”. A euforia desenfreada foi suspensa no
momento em que a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers nos Estados Unidos
laçou a economia global em uma crise econômica fortíssima, abalando as estruturas do
sistema internacional atingindo principalmente os países do centro do capitalismo
contemporâneo, a América do Norte, a Europa e o Japão. A crise exigiu que os governos
intervissem nos mercados para impedir que a oferta de crédito reduzida esfriasse ainda mais a
economia e, com isso, suas dívidas públicas foram multiplicadas rapidamente em um curto
período de tempo.
A confiança em economias cada vez mais endividadas com queda acentuada da receita
dos governos foi reduzida ao ponto de os empréstimos no mercado terem taxas de juros
insustentáveis em longo prazo, obrigando alguns governos, especialmente na Europa, a
pedirem socorro financeiro. Ao identificar que alguns países na periferia da Zona do Euro
partilhavam dados econômicos semelhantes, rapidamente o medo de contágio de outros países
pela crise da dívida desencadeada na Grécia fez com que as taxas de juros aumentassem de
forma significativa. Contudo, os países-membros da União Europeia têm se empenhado em
buscar soluções para a crise de forma a estruturar as economias nacionais mais debilitadas e
afastar o pessimismo em relação ao bloco.
A maioria das medidas impostas como condicionantes aos empréstimos financeiros via
Troika (União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) tem
estabelecido que os cortes de gastos e a diminuição do papel do Estado na economia são a
saída para a crise e o endividamento elevado. Essas medidas de austeridade que visam cortes
de salários, do funcionalismo público e de outros aspectos do estado de bem-estar social,
apesar de serem práticas frequentes da FMI na política econômica que impõe aos seus
devedores, são também práticas comuns e defendidas por alguns países da própria União
12
Europeia, especialmente na Alemanha. A busca por soluções para a crise passa pela
necessidade de identificar qual é a raiz do problema para se chegar às possibilidades de
resolução das dificuldades. Nesse sentido, a Alemanha tem sido a grande defensora de que as
causas da crise estão na irresponsabilidade de alguns Estados com os seus indicadores
econômicos e com suas contas fiscais e tem apontado como solução a adoção de medidas de
austeridade econômica, visando a redução do Estado e a pulverização de gastos excessivos
nos governos endividados.
Enquanto no começo da crise a Alemanha e a França formavam uma parede
ideológica em defesa das medidas de austeridade, atuando assim de forma decisiva na
condução da crise como fizeram em períodos anteriores, quando da mudança de governança
francesa para um governo que destoa dos pontos defendidos por Berlim, o governo alemão de
Angela Merkel não se sentiu constrangido a abrir para debate sua posição dura na postura
frente ao problema das dívidas soberanas. Pelo contrário, a Alemanha tendeu a seguir o papel
de liderança isoladamente sem a França, apesar de contar com o apoio de diversos outros
países menores que também tendem a culpar os países endividados pelos seus problemas
econômicos.
Assim, a Alemanha passou a desempenhar um papel de liderança na União Europeia,
sendo o ator para o qual o mercado, as instituições e mesmo os outros Estados tendem a olhar
quando buscam respostas para a solução da crise europeia. Mesmo que existam Estados que
sejam contrários a Berlim e não partilhem da ideia de uma liderança alemã, sabem que não
podem conseguir da União Europeia ou da Troika qualquer medida sem o consentimento
alemão. O papel desemprenhado pela Alemanha durante a crise econômica, especialmente
nesse contexto, portanto, demonstra que o casamento franco-alemão que permeou o processo
de integração europeu cedeu espaço para um projeto de União Europeia, até aqui, bastante
germanizado. Essa mudança de perspectiva quanto ao papel alemão na Europa nos leva a
perguntarmos: Por que mudou o papel da Alemanha na União Europeia entre o lançamento da
UE e a crise da dívida soberana? Mais do que isso, o que possibilitou essa mudança e de que
forma ela aconteceu?
A nossa hipótese é que alterações na distribuição de capacidades dentro da União
Europeia permitiram que a Alemanha agregasse mais poder do que os seus parceiros
comunitários, principalmente em relação à França. As alterações, acreditamos, estão ligadas
ao processo de reunificação da República Federal Alemã com a República Democrática
13
Alemã, ampliando as capacidades de Berlim territorialmente, demograficamente e
economicamente. Associado a isso, temos um contexto internacional mais favorável que
eliminou os constrangimentos externos da política externa alemã e um contexto comunitário
no qual a moeda única representou um aumento significativo na competitividade da economia
alemã em relação aos outros países-membros da Zona do Euro. Dessa forma, supomos que
uma Alemanha reunificada mais poderosa, com uma política externa mais independente e
menos inibida associada a um contexto internacional favorável e a um período de crise
econômica que fragilizou a economia europeia expondo as fragilidades da liderança francesa
ajudaram a galgar à Alemanha o papel de líder na União Europeia em contraposição ao seu
papel de liderança compartilhada com a França que prevaleceu até a década dos anos 2000.
Para responder à nossa pergunta de pesquisa e analisar a nossa hipótese utilizaremos
as contribuições e abordagens teóricas do campo liberal de Relações Internacionais ligadas à
Teoria da Estabilidade Hegemônica, especialmente a revisão elaborada por Joanne Gowa
(1994), a Teoria Institucional de Robert Keohane (1984), a Teoria do Jogo de Dois Níveis de
Robert Putnam (1993) e a Teoria Multicausal de Andrew Moravcsik(1997). Adotaremos
muitas das disposições destas teorias, mas desenvolveremos nosso próprio modelo teórico que
nos ajudará, no primeiro capítulo deste trabalho, a estabelecer a ontologia e epistemologia do
sistema internacional para podermos realizar a nossa análise sobre a evolução do papel da
Alemanha na União Europeia.
Após desenvolvermos nosso modelo teórico, no capítulo seguinte iremos analisar o
processo de formação da integração europeia, ainda na década de 1950, e as relações francoalemãs que conduziram o processo até o lançamento da União Europeia e da sua moeda única
na década de 1990. Entendendo o contexto internacional e os contextos internos desses
Estados desde o princípio, passando pela investida hegemônica na década de 1970 e pelo fim
da URSS entre meados da década de 1980 e os anos 1990. Veremos, dessa forma, de que
maneira França e Alemanha se comportaram na condução do projeto europeu e os percussores
dos processos que levaram a um empoderamento alemão na Europa. No capítulo seguinte,
iremos analisar de que forma as alterações na estrutura do sistema internacional com o
advento do fim da bipolaridade influenciaram os contextos internos da Alemanha e
possibilitaram que os países do leste europeu entrassem na União Europeia com forte apoio de
Berlim, o principal parceiro político e econômico desses países desde o fim da Guerra Fria,
podendo entender, portanto, como a Alemanha veio a se tornar o país decisivo no regime
europeu na busca por soluções para a crise da dívida soberana.
14
Por fim, concluiremos nosso trabalho com apontamentos importantes sobre o
panorama europeu e possibilidades futuras, buscando lançar luz sobre o processo de
integração que poderá se desenvolver a partir dos acontecimentos recentes que têm se dado na
Europa em crise.
15
1 – UM PANORAMA TEÓRICO
O campo das Relações Internacionais possui diversas frentes teóricas que nos ajudam
a enxergar e a analisar o mundo dos Estados sob diversas óticas diferentes. A Vertente Liberal
nos auxilia, nesse sentido, a olhar quais variáveis devem ser consideradas para apurar a
evolução do papel da Alemanha na União Europeia. Portanto, desse modo, assumimos aqui
que a vertente liberal – que não é unificada como uma Teoria única, mas que possui diversas
interpretações – é a corrente que vai nos ajudar a entender as relações internacionais que
levaram Berlim a exercer maior influência sobre seus pares europeus. Neste trabalho,
assumimos, ainda, que as explicações devem ser encontradas, principalmente, nos ambientes
políticos internos e externos à Alemanha, que a levaram a desenvolver o papel que possui.
Assim, para responder à pergunta de pesquisa que norteia esse trabalho (qual seja: como se
transformou o papel da Alemanha junto à União Europeia desde a sua criação?), é preciso
analisar como variáveis internas e externas explicitadas pelo liberalismo sofreram
modificações a ponto de reorientar o posicionamento alemão dentro do bloco europeu. Nesse
sentido, portanto, o marco liberal orienta a análise para a observação das seguintes variáveis:
a dinâmica partidária dentro da Alemanha, a disputa entre os vários grupos de interesse e a
dinâmica econômica e social pós-reunificação. Tais variáveis internas devem ser observadas,
de acordo com algumas versões do liberalismo a serem explicitadas a seguir, na medida em
que reorganizaram os interesses nacionais alemães. Além disso, o paradigma liberal lança luz
sobre a dinâmica política na arena internacional: o multilateralismo, a globalização e a
presença ou não de um hegemon/hegêmona global.
Como estamos buscando aqui variáveis explicativas internas e externas que
impulsionaram a mudança da política europeia alemã, precisamos de autores que contribuam
16
teoricamente com análises de como funcionam as relações de poder dentro e fora dos Estadosnacionais. Assim, então, teremos como contribuintes neste trabalho alguns autores de
Relações Internacionais com contribuições diferentes dentro da perspectiva teórica Liberal de
como o comportamento dos Estados são condicionados por áreas diferentes da política,
internacional ou doméstica. Os autores selecionados divergem e convergem em alguns pontos
relacionados e são expoentes importantes nos debates das Relações Internacionais sobre
cooperação internacional.
Traremos, portanto, autores como: Joanne Gowa e sua obra Allies, adversaries, and
international trade de 1994, especialmente o capítulo II no qual ela faz uma revisão crítica da
Teoria da Estabilidade Hegemônica que permeou os anos de 1980; Robert Keohane e seu
livro After Hegemony de 1984, no qual ele faz uma discussão sobre a Teoria da Estabilidade
Hegemônica e traz uma crítica à mesma, contribuindo também para o entendimento dos
regimes internacionais (ou organizações internacionais), seu surgimento e manutenção, e de
que forma grupos pequenos de países podem suprir o papel do hegemon na ausência de tal
ator em um dado sistema; Andrew Moravcsik e seu artigo Taking preferences seriously: A
liberal theory of international politics, no qual ele faz uma discussão a respeito das teorias
liberais e introduz a fórmula de como indivíduos e grupos privados – atores sociais –
desempenham algum papel na formulação dos interesses e comportamentos dos Estados; e,
por fim, Robert Putnam e seu artigo Diplomacy and domestic politics: The logic of two-levels
games de 1988, no qual o autor faz uma discussão que abarca a correlação entre os ambientes
internos e externos e a influência mútua de um no outro na consecução de tratados, acordos e
políticas coordenadas.
Com essas contribuições, poderemos, então, construir um panorama teórico que nos
permita identificar as influências que o governo alemão sofreu para mudar, ou não, o seu
papel dentro da instituição internacional que é objeto de estudo dessa pesquisa: a União
Europeia. Traremos como contribuintes para entender a influência da dinâmica de poder
internacional sobre os interesses nacionais e o comportamento dos Estados, Joanne Gowa e
Robert Keohane com as obras acima citadas: a primeira contribui com o entendimento sobre o
poder hegemônico no sistema internacional e como ele pode influenciar o surgimento dos
interesses compartilhados e a cooperação, e no segundo como os regimes internacionais
podem persistir mesmo depois que o hegemon deixou de existir e os interesses tenham
mudado, visto que é melhor modificar os regimes existentes do que criar novos devido a
problemas com os custos transacionais e as informações relevantes. Teremos, também,
17
Andrew Moravcsik e Robert Putnam para compreendermos a influência da política doméstica
na definição do comportamento e dos interesses do Estado com certa influência de grupos
sociais internacionais e, por fim, para entender como os dois níveis da política – o doméstico
e o internacional - podem influenciar, concomitantemente, a definição desses interesses dos
Estados e condicionar seu comportamento.
Iremos, então, analisar separadamente os autores e trazer suas principais contribuições
para o arranjo teórico a ser aqui desenvolvido que nos ajude no entendimento do sistema
internacional que levou ao surgimento da União Europeia e, também, poderemos entender o
que ocorre após a consecução da integração e da cooperação que podem fazer com que um
Estado específico mude sua postura e interesses com e dentro da instituição internacional.
Poderemos entender, com um esquema prático, como a influência dos grupos sociais
domésticos e externos alteram os interesses nacionais dos Estados, alteram o regime e, até
mesmo, a distribuição de capacidades no subsistema ali formado.
1.1)
JOANNE GOWA – UMA REVISÃO DA TEORIA DA ESTABILIDADE
HEGEMÔNICA
Para entendermos em que medida a Alemanha teria se tornado uma potência regional
com papel de destaque no âmbito da União Europeia ou como esta instituição teria sido
impactada por um poder hegemônico externo à região (como os Estados Unidos), precisamos
entender como um hegêmona influencia um regime internacional, como ajuda na cooperação
e na estabilização do mesmo. Para tanto, Joanne Gowa (1994) será de grande auxílio na
medida em que faz uma revisão da Teoria da Estabilidade Hegemônica, ressaltando em quais
pontos a teoria demonstra fraqueza e quais os seus pontos fortes. Da mesma forma, a autora
mostra as fraquezas dos argumentos críticos a essa teoria e mostra por que ela continua
ocupando uma posição preeminente na literatura existente de Relações Internacionais.
Gowa afirma que um argumento impulsionou as teorias da estabilidade hegemônica,
principalmente a partir dos anos de 1970: o mundo estava seguro de uma guerra tarifária e de
grandes depressões se, e somente se, existir um Estado dominante ou um poder hegemônico.
18
Ela afirma que aquilo que anos mais tarde, Robert Keohane chamaria de “Teoria da
Estabilidade Hegemônica” teve seu impulso inicial com Kindleberger, que argumentou em
1973 que o comércio internacional livre representa um bem comum. Mais especificamente:
“para que a economia mundial seja estável é preciso que haja um estabilizador” (GOWA,
1994, p. 11), uma única força estabilizadora, hegemônica, este é o argumento em favor da
importância de um hegemon.
A Teoria da Estabilidade Hegemônica, segundo Gowa, possui a sua base analítica
provida pelas propriedades e problemas dos bens comuns. Estes são não-rivais e nãoexcludentes em consumo visto que qualquer consumo individual desses bens não
impossibilita seu consumo pelos outros, “and no one can be excluded or prevented from
consuming such goods whether or not he has paid for them. As a result, rational actors have
an incentive to free ride rather than to assume any of the cost of the good’s suply.” (GOWA,
1994, p 12). Nesse sentido, a autora está defendendo que os atores racionais têm incentivos
maiores para atuarem como free riders (usufruir de um bem não provido por si mesmo) do
que a assumir os custos de prover esse bem. O problema inerente ao fornecimento dos bens
comuns, de acordo com Gowa e a HST (Hegemonic Stability Theory), pode ser representado
pelo jogo do Dilema do Prisioneiro. A ordem das preferências de acordo com qualquer jogo
nesse sentido é: T > R > P > S. Primeiro, Deserção Unilateral (T); Cooperação Mútua (R);
Deserção Mútua (P); e Cooperação Unilateral (S).
Assim, entendemos que na lógica da HST, os atores racionais tendem a possuir como
estratégia dominante a deserção no “jogo”. Como resultado, cada “jogador” deserta mais do
que contribui (coopera) para o fornecimento do bem comum. No pior cenário, ninguém
contribui, nenhum bem comum é produzido e, também, ambos se sairiam melhor se tivessem
cooperado para fornecer o bem comum. De acordo com o argumento de Kindleberger trazido
por Joanne Gowa, se os Estados trancados em um Dilema do Prisioneiro de livre comércio
internacional estiverem tentados a fugir da cooperação, então um hegemon deve existir.
Graças ao seu tamanho no sistema internacional, o poder hegemônico tem um incentivo em
garantir o bem coletivo - que na ótica Liberal é o livre comércio internacional - seja provido,
mesmo que ele tenha que arcar sozinho com os custos de prover esse bem.
De acordo com a autora, as principais críticas à HST se baseiam sobre três
argumentos: 1) hegemons racionais, de acordo com a teoria do padrão de comércio
internacional, adotam tarifas preferenciais ao invés de livre comércio; 2) a provisão de
19
mercados internacionais abertos implica no fornecimento de mais bens excludentes do que
comuns; e 3) pequenos grupos são substitutos próximos para os hegemons. No entanto, apesar
de persuasivos, essas críticas não destroem as fundamentações analíticas da teoria. No que se
refere ao primeiro argumento, os críticos embasados na teoria do padrão de comércio
internacional argumentam que, na presença de mercados perfeitamente competitivos, o livre
comércio maximiza a renda real de um pequeno país enquanto não gera ganhos semelhantes
para os Estados grandes o suficiente para influenciar os termos do comércio. Nesse sentido,
um hegêmona teria incentivos para impor tarifas preferenciais em oposição a um suposto
apoio ao livre comércio previsto pela HST. Em contrapartida, Gowa (1994) afirma que um
hegemon racional pode rejeitar as tarifas preferenciais para preservar seu monopólio de poder
no sistema, podendo impedir a formação de blocos comerciais.
Despite the dearth of alternative means of redistributing income in its favor, a clearthinking, nonmyopic hegemon may still reject the optimal tariff recommended to it
by standard trade theory. Its interest in doing so would be to preserve its monopoly
power, that is, to deter the formation of trading blocs that would eliminate its
privileged position as the only country capable of influencing its terms of trade.
(GOWA, 1994, p. 18)
Portanto, de acordo com Gowa (1994), o hegemon pode escolher rejeitar a adoção de
tarifas preferenciais em nome da preservação do status quo no sistema internacional, visto que
pode ser menos custoso a ele renunciar à tarifa preferencial baseado em seu interesse político
maior, sugerindo a incidência de decisões com razões políticas por trás das escolhas que
deveriam ser econômicas. Assim, as preferências do hegemon irão depender dos custos
relativos de suborno, taxação, tarifas e sobre a habilidade de deter a entrada de blocos
regionais via o uso estratégico da sua força de mercado.
Assim, então, pudemos extrair algumas contribuições da obra de Joanne Gowa para o
arranjo teórico necessário para se entender o contexto internacional e responder à pergunta de
pesquisa proposta. Podemos destacar como as principais contribuições da autora os conceitos
chaves relacionados ao papel do poder hegemônico na construção de interesses comuns no
sistema internacional a fim de agregar os Estados e fornecer as bases para a cooperação
internacional. Portanto, compreendemos que Gowa contribui com o entendimento da
importância do hegemon para a consecução da cooperação internacional visto que o sistema
anárquico, analisado sob a ótima do single-player Prisioner’s Dilemma, leva os Estados a
desertarem dos processos de coordenação política. Assim, nesse sentido, o hegêmona se torna
20
necessário no processo de cooperação internacional, visto que pode criar e manter os
interesses comuns entre os Estados e mantém sozinho os custos se for preciso para garantir
seu poder no sistema internacional.
A HST foi criticada por Robert Keohane na obra After Hegemony de 1984, na qual ele
refuta a teoria da estabilidade hegemônica e aposta na manutenção dos regimes internacionais
por grupos pequenos de Estados. Nesse livro, Keohane critica a HST e apresenta a defesa da
teoria dos pequenos grupos de países como os substitutos do poder hegemônico na formação
dos regimes internacionais, ou como os “herdeiros” do hegemon dentro do regime ou da
organização internacional. Portanto, se não como criadores do regime, veremos abaixo os
argumentos do autor em defesa da ideia de que os pequenos grupos de países chave possam
dar continuidade ao regime após o hegemon deixar de existir. Aqui, nesse sentido, ele está
refutando a ideia trazida pela Teoria da Estabilidade Hegemônica de que o poder hegemônico
é necessário para a coordenação política.
1.2)
ROBERT KEOHANE – REGIMES INTERNACIONAIS PÓS-HEGEMON
Em seu livro de 1984, Robert Keohane afirma que nessa obra ele não investiga como
as condições econômicas afetam padrões de interesses e nem os efeitos das ideias e dos ideais
no comportamento dos Estados. A sua teoria toma a existência de interesses mútuos como
dados no sistema internacional e busca examinar as condições sobre as quais elas vão
conduzir à cooperação entre os Estados. Ele também toma como premissa a ideia de que
mesmo quando existem interesses comuns, a cooperação pode falhar às vezes. E, da mesma
forma, considera que os países com economias de mercado avançadas estão engendrados em
relações de interdependência extensivas entre si e, em geral, as políticas dos seus governos
refletem a crença nos benefícios trazidos por esses laços.
Nesse sentido, a interdependência no sistema internacional pode levar os Estados a
terem conflitos políticos e a implantar a discórdia no sistema. Portanto, a interdependência
pode acarretar boas ou más consequências para os Estados. Assim, podemos primeiramente
compreender o sistema internacional no qual os pequenos grupos de Estados podem se formar
21
para criar ou manter um regime, um subsistema regional que se constitui como
interdependente. Keohane considera que, apesar do poder hegemônico ajudar a criar os
regimes internacionais e forçar a cooperação, pode existir cooperação mesmo após o fim do
poder hegemônico. E é nesse sentido que iremos agora abordar a teoria desenvolvida por ele
no seu livro.
Tomando como premissa que a teoria Institucionalista considera que as instituições
externas provocam impactos sobre a ação estatal. Então, nesse sentido, podemos considerar
que a presença de instituições supranacionais no sistema político internacional influencia e, às
vezes, condiciona o comportamento dos Estados e governos. Keohane faz uma discussão a
respeito da relação entre a cooperação, os regimes internacionais e o poder hegemônico.
Considera que, apesar do poder hegemônico ajudar a criar os regimes internacionais e forçar a
cooperação, ela pode continuar existindo mesmo depois que o poder hegemônico deixar de
existir. Ainda nesse sentido, Keohane realça a fraqueza da suposição de que o poder
hegemônico é necessário para o surgimento de regimes internacionais. “Concentrated power
alone is not sufficient to create a stable international economic order in which cooperation
flourishes, and the argument that hegemony is necessary for cooperation is both theoretically
and empirically weak.” (KEOHANE, 1984, p 38). Portanto, Keohane fortalece a premissa de
que grupos pequenos de Estados podem ser substitutos adequados ao papel do hegemon para
impulsionar a cooperação internacional e que o poder hegemônico, sozinho, não é capaz de
promover a coordenação política, outras variáveis são necessárias para que isso ocorra. O
poder hegemônico não é, nesse sentido, nem suficiente nem necessário, mas pode ajudar no
processo.
A cooperação, para Keohane, requer que as ações de atores separados ou organizações
sejam trazidas em conformidade com outra ação através do processo de negociação, gerando a
coordenação política. Portanto, a cooperação ocorre quando os atores ajustam seu
comportamento para as preferências atuais ou antecipadas dos outros, através de um processo
de coordenação política e, além disso, também se estabelece como um processo no qual os
governos tendem a tomar as políticas dos seus parceiros como a realização dos próprios
objetivos resultantes da coordenação política. Nesse sentido, podemos entender melhor com o
resumo do próprio autor:
To summarize more formally, intergovernamental cooperation takes place when the
policies actually followed by one government are regarded by its partners as
22
facilitating realization of their own objectives, as the result of a process of policy
coordination. (KEOHANE, 1984, p. 51-52, grifos do autor).
Para Keohane, a coordenação não significa ausência de conflito, mas ela nasce na
tentativa de evitar o conflito ou o conflito em potencial. Ele afirma que os regimes
internacionais não são impossíveis no sistema internacional porque eles podem ser motivados
pelos interesses nacionais. Nesse sentido, a cooperação pode ser resultado do interesse
próprio, já que este é elástico e subjetivo. A coordenação deve ser analisada nos termos das
práticas e expectativas. Cada ato de cooperação ou dissonância afeta as crenças, regras e
práticas que formam o contexto para ações futuras. Assim, portanto, entendemos como o
contexto internacional afeta e condiciona o comportamento dos Estados e o próprio regime
internacional. Os regimes internacionais surgem do processo de coordenação política que
ocorre em meio às relações de interdependência na qual os Estados-nacionais estão inseridos
no sistema internacional.
Para que a cooperação ocorra, no entanto, é necessário que a percepção quanto a
ganhos futuros seja estabelecida. Nesse sentido, ele afirma que:
For cooperation to take place, future rewards must be valued; if, on the contrary, the
players emphasize with Keynes that ‘in the long run we’re all dead’, they may prefer
to defect to obtain better results in the present. Incentives to cooperate also depend
on the willingness of one’s opponent to retaliate against defection. (KEOHANE,
1984, p. 76, grifos do autor).
Baseando-se nas premissas da teoria Realista das escolhas de um ator racional,
Keohane usa os modelos de escolhas racionais para mostrar que nem sempre a discórdia irá
prevalecer nas relações internacionais em um sistema anárquico baseado na soberania. Para
demonstrar que a cooperação pode ser uma escolha racional por um ator nas Relações
Internacionais, Keohane adota o modelo do jogo de motivações mistas do Dilema do
Prisioneiro, nos quais se assume que ambos os atores se beneficiam da cooperação, mas que
se sairiam melhor desertando. Ele considera que esse modelo em especial atribui barreiras de
informação e comunicação na política mundial que podem impedir a ocorrência de
cooperação e podem criar discórdia mesmo quando interesses comuns existem, e examina
algumas objeções ao uso da Teoria da Escolha Racional, reforçando que se se usar essa teoria
adequadamente, é possível observar uma quantidade substancial de cooperação nas relações
internacionais entre países de economias de mercado avançadas. Portanto, a Teoria da
23
Escolha Racional e a Teoria dos Bens Coletivos mostram porque as instituições são
importantes na política mundial e para a cooperação.
Este autor afirma que o pessimismo utilizado no Dilema do Prisioneiro faz sentido
quando o jogo é jogado poucas vezes. Porém, se o jogo for jogado repetidas vezes pelos
mesmos jogadores, é possível que eles possam racionalmente cooperar uns com os outros,
desde que recompensas futuras possam ser previstas. Dessa forma, grupos pequenos
submetidos repetidas vezes às mesmas situações nas relações internacionais irão tender à ação
coletiva e, assim, à cooperação, e que a interação intensiva entre um número pequeno de
países pode substituir as ações de um hegemon. Ele considera que a criação de novos regimes
internacionais pode ser facilitada pela confiança mútua criada por regimes mais antigos.
Nesse sentido, os regimes não emergem do caos, eles são criados sobre outros regimes. E,
além disso, o incentivo para a sua criação depende fundamentalmente da existência de
interesses compartilhados.
Dessa forma, podemos considerar graças a Keohane que os regimes internacionais são
motivados por interesses próprios e se constituem de normas, princípios, regras e
procedimentos de tomadas de decisão e que estes regimes condicionam e são condicionados
pelo comportamento dos Estados. As normas são entendidas como padrões de comportamento
definidos em termos de direitos e deveres, enquanto que as regras se constituem de
prescrições de ações como direitos e deveres também, mas escritos. Os princípios são crenças
de fato como propósitos que os membros do regime perseguem e as práticas que
implementam a escolha coletiva são os procedimentos de tomada de decisão. A definição dos
regimes internacionais está relacionada com a junção desses 4 aspectos que determinam o
comportamento dos Estados. Assim, após explicar o que são as normas, os princípios, as
regras e os procedimentos de tomada de decisão e como infligem no comportamento, ele
assume que os governos estabelecem regimes em áreas e temas específicos (“issue-areas”)
para lidar com problemas comuns aos atores. A interdependência muitas vezes é tal que os
problemas comuns só podem ser resolvidos em conjunto.
De acordo com a teoria proposta por Keohane (1984), a criação de regimes
internacionais depende da existência de padrões de interesses comuns ou complementares que
são percebidos ou capazes de serem percebidos pelos atores políticos. Os regimes
internacionais podem ser criados com ou sem um poder hegemônico. Para ser considerado
hegemônico na economia política internacional de acordo com a Teoria da Estabilidade
24
Hegemônica, o país deve ter acesso a matérias-primas cruciais, controlar grandes fontes de
capital, manter um grande mercado para importações e sustentar vantagens comparativas em
bens de alto valor agregado, altos salários e lucros. E, ainda de acordo com a teoria, no caso
da existência de um poder hegemônico, é o hegemon que cria os interesses compartilhados,
provendo os ganhos para os outros Estados em caso de cooperação bem como a punição em
caso de deserção, se comportando como o aglutinador dos interesses e da cooperação
internacional, mesmo que outras variáveis também sejam necessárias.
Ele afirma que para a HST, a ordem na política mundial é tipicamente criada por um
único poder dominante. E desde que regimes internacionais se constituem como elementos de
uma ordem internacional, isso implica que a formação dos regimes internacionais depende,
então, da hegemonia. Mas Keohane refuta essa ideia, já que para ele a cooperação depende
não apenas do poder hegemônico como já mostramos anteriormente e que apesar de ajudar
bastante, esse poder não é suficiente nem necessário. Ele afirma que a cooperação não
necessariamente requer a existência de um líder hegemônico depois que os regimes
internacionais foram estabelecidos porque o poder concentrado sozinho não é suficiente para
criar uma ordem econômica internacional estável na qual a cooperação floresça. Nesse
sentido,
Outcomes must be determined by a relatively small number of actors that can
monitor each other’s compliance with rules and practices and that follow strategies
making other governments’ welfare dependent on their continued compliance with
agreements and understandings. (KEOHANE, 1984, pp. 78-79).
Portanto, a ausência de um hemenon não impede o surgimento de um regime
internacional, desde que um grupo pequeno de Estados monitorem o cumprimento uns dos
outros fazendo com que o bem-estar dos governos dependam do cumprimento contínuo
através de acordos e compreensões. Assim, a cooperação intensa entre poucos atores ajuda a
substituir as ações do hegemon no sistema internacional.
Keohane considera ser necessário inverter o Teorema de Coase para se explicar como
a cooperação ocorre nas relações internacionais. Segundo o autor, os efeitos antecipados dos
regimes contam para as ações dos governos que os estabelecem. Assim, os Estados creem que
as tentativas posteriores de se construir acordos particulares sem um regime internacional
terão resultados inferiores do que aqueles construídos dentro de um regime internacional. Para
ele, a criação de novos regimes internacionais pode ser facilitada pela confiança mútua criada
25
por regimes anteriores e depende da existência de interesses compartilhados baseados em um
conjunto comum de princípios e regras. As instituições, nesse sentido, são formadas como
formas de superar as deficiências que fazem impossível de consumar acordos mutuamente
benéficos.
Regimes are developed in part because actors in world politics believe that with
such arrangements they will be able to make mutually beneficial agreements that
would otherwise be difficult or impossible to attain. This is to say that the architects
of regimes anticipate that the regimes will facilitate cooperation. (KEOHANE, 1984,
p 88).
Assim, quando interesses compartilhados são suficientemente importantes e outras
condições chaves são encontradas, então a cooperação pode emergir e regimes podem ser
criados sem hegemonia. Isso não implica que os regimes são criados facilmente, muito menos
que regimes econômicos internacionais contemporâneos surjam dessa forma. Além disso, os
regimes internacionais não nascem com o objetivo de sobrepor a soberania estatal, mas sim
para concentrar expectativas mútuas através de acordos entre Estados interessados com regras
e normas que vão influenciar o comportamento do Estado. Nesse sentido, afirma Keohane:
What these arrangements have in common is that they are designed not to
implement centralized enforcement of agreements, but rather to establish stable
mutual expectations about others’ patterns of behavior and to develop working
relationships that will allow the parties to adapt their practices to new situations.
(KEOHANE, 1984, p 89).
Na verdade, como assume o autor, os regimes internacionais são mais difíceis de se
criar do que de se manter. Para ele, problemas na economia política internacional como os
custos de transação, a irresponsabilidade dos Estados, informações e a incerteza fazem com
que os regimes sejam difíceis de surgir, por isso ele considera que novos regimes podem
surgir de regimes anteriores. “The importance of transaction costs and uncertainty means that
regimes are easier to maintain than they are to create.” (KEOHANE, 1984, p. 100). O
reconhecimento desse fato é crucial para o entendimento do por que eles são validados pelos
governos. Os custos tomados para a criação de um regime internacional são levados em conta
pelos governos mesmo quando esses governos preferem uma mistura diferente de princípios,
regras e valores. “The high costs of regime-building help existing regimes to persist.”
(KEOHANE, 1984, p.103).
26
Portanto, nesse sentido, Keohane considera que é racional não abandonar um regime
internacional, mas modificar os existentes graças às dificuldades e os custos relacionados com
a criação de um regime internacional. “In the view of the difficulties of constructing
international regimes, it is also rational to seek to modify existing ones, where possible, rather
than to abandon unsatisfactory ones and attempt to start over. Thus regimes tend to evolve
rather than to die.” (KEOHANE, 1984, p. 107).
Assim, entendemos graças a Keohane que os regimes internacionais podem ser criados
por um grupo pequeno de Estados submetidos recorrentemente às mesmas necessidades
internacionais graças ao Dilema do Prisioneiro de múltiplos jogadores e não de um único
jogador. Além disso, que um número pequeno de potências que possuam uma ameaça (ou
interesse) comum tende a cooperar para lidar com o problema. Também, percebemos como os
regimes internacionais condicionam o comportamento dos Estados, podendo influenciar suas
decisões políticas e favorecendo a cooperação. E, principalmente, que os regimes
internacionais são mais fáceis de se manter e mudar em favor dos interesses estatais do que se
abandonar para criar outros regimes.
Portanto, podemos extrair como os principais conceitos e contribuições teóricas de
Robert Keohane o debate que ele faz a respeito da manutenção dos regimes internacionais por
um grupo pequeno de Estados. Além disso, outra contribuição importante a se ressaltar é que
ele considera que instituições internacionais influenciam e condicionam o comportamento dos
Estados e que a cooperação necessita da coordenação política através da negociação
internacional, visto que para ele o contexto externo afeta não só o Estado, mas o regime
também. Essa contribuição vai ser importante para relacionar este autor com os próximos
contribuintes do arranjo teórico aqui desenvolvido, Andrew Moravcsik e Robert Putnam.
1.3)
ANDREW
MORAVCSIK
–
ATORES
SOCIETAIS
E
INTERESSES
NACIONAIS
Em sua teoria, Moravcsik busca mostrar que os Estados são atores dotados de certa
racionalidade e cujo comportamento reflete as pressões sofridas internamente, vindas de
27
grupos presentes na sociedade (atores sociais) e de pressões externas criadas pelo próprio
ambiente internacional. O autor apresenta sua visão sobre quais são os pressupostos centrais
de uma teoria liberal de Relações Internacionais, quais sejam: a primazia dos atores sociais; a
representação e as preferências do Estado; e interdependência e o Sistema Internacional.
Nesse sentido, ele se propõe a atualizar a visão do campo da teoria liberal para as Relações
Internacionais. “(...) the basic liberal insight about the centrality of state-society relations to
world politics can be restated in terms of three positive assumptions, concerning, respectively,
the nature of fundamental social actors, the state, and the international system.”
(MORAVCSIK, 1997, p 515).
O autor discute o papel central que os indivíduos e os grupos privados – atores sociais
– desempenham na formulação dos interesses e comportamentos dos Estados e de que forma
pode-se levar à cooperação ou ao conflito, mostrando, dessa forma, como a dinâmica interna
do Estado condiciona os interesses nacionais e, portanto, o comportamento desse Estado no
sistema. Segundo Moravcsik, o ideal utópico de que os interesses entre os indivíduos e outros
atores sociais convergem automaticamente para a cooperação e harmonia está errado. Assim,
ele considera que essa convergência pode existir onde existem incentivos sociais para a ação
coletiva desde que eles sejam percebidos como uma possibilidade real, permitindo que
indivíduos e grupos sociais possam explorar os incentivos, fazendo com que quanto maiores
forem os benefícios esperados da ação coletiva, maiores se tornem os incentivos para agir em
cooperação.
Além disso, Moravcsik assume que o Estado é a representação de um grupo, um
subconjunto da sociedade doméstica e, portanto, segue os interesses desse subconjunto social.
No mesmo sentido, também discorre a respeito das instituições representativas dos Estados e
sua relação entre absorver os interesses dos grupos sociais e irradiar esses interesses em forma
de políticas. “Representative institutions and practices constitute the critical ‘transmission
belt’ by which the preferences and social power of individuals and groups are translated into
state policy.” (MORAVCSIK, 1997, pp 518). Assim, ele está considerando que o Estado e
suas instituições são usados pelos indivíduos para alcançarem objetivos que o comportamento
privado não poderia alcançar. Nesse sentido, ele está afirmando que a política de governo dos
Estados é limitada pelas identidades, interesses e poderes de indivíduos e grupos dentro e fora
do aparelho de estado que pressionam constantemente os tomadores de decisão centrais a
tomar políticas que sejam compatíveis com as suas preferências. Portanto, assume nesse ponto
28
que o Estado e os interesses considerados nacionais não são pluralistas, mas sim influenciados
por grupos sociais que têm mais poder de influência do que outros.
Para ele, pressões sociais transmitidas pelas instituições representativas e práticas
alteram as preferências do Estado, para aproxima-las das suas próprias preferências.
“Representative institutions and practices determine not merely which social coalitions are
represented in foreign policy, but how they are represented.” (MORAVCSIK, 1997, p 519).
Entendemos, portanto, que os Estados perseguem interpretações e combinações particulares
de segurança, bem-estar e soberania preferidas por poderosos grupos sociais que têm
influência suficiente sobre as instituições e o Estado. Para ele, poder claramente é igual a
influência sobre interesses e resultados. Assim, o poder não se dá apenas pela posse de
recursos materiais, mas também por meio das ideias que podem influenciar e persuadir outros
atores.
Então, ele analisa como os liberais veem a configuração do Sistema Internacional e a
sua relação com a interdependência. Ele considera que o comportamento do Estado é
determinado de acordo com a configuração das preferências interdependentes dos Estados.
“(…) each state seeks to realize its distinctive preferences under varying constraints imposed
by the preferences of other states.” (MORAVCSIK, 1997, p 520, grifos do autor). Nesse
sentido, ele considera que existem padrões de interdependência que, induzidas por esforços,
levam o Estado a realizar as preferências do governo. Esses padrões podem ser de três tipos:
Primeiro, ele considera que onde as preferências são compatíveis ou harmoniosas, então
haverá fortes influências para coexistência com poucos conflitos; Segundo, onde as
preferências dos Estados têm soma zero, isto é, os grupos sociais dominantes em um país
tentam realizar suas preferências através da ação do seu Estado impondo custos sobre os
grupos sociais dominantes em outros países, e, nesses casos, os governos de ambos os países
enfrentam um jogo de barganha com poucos ganhos mútuos e um elevado potencial de tensão
e conflito interestatal; e Terceiro, onde motivações são mistas de tal forma que uma troca de
concessões políticas, através da coordenação ou pré-comprometimento pode melhorar o bemestar de ambas as partes em relação ao ajuste unilateral político, então os Estados têm um
incentivo em negociar a coordenação política.
Ao rebater as críticas feitas à teoria liberal de Relações Internacionais, Moravcsik
prova que ela se trata de uma teoria sistêmica por dois motivos principais. Primeiro, porque
considera que as preferências do Estado refletem padrões de interação social transnacional.
29
“While state preferences are (by definition) invariant in response to changing interstate
political and strategic circumstances, they may well vary in response to a changing
transnational social context.” (MORAVCSIK, 1997, p 522). Segundo que a teoria liberal de
Relações Internacionais considera que o comportamento esperado do Estado reflete não
apenas suas próprias preferências, mas a configuração de preferências de todos os Estados
ligados pelos padrões de políticas interdependentes. Ele também considera que, ao explicar
não somente a política externa, mas também resultados sistêmicos de interações interestatais,
a teoria liberal de RI formula uma teoria sistêmica que permite, inclusive, uma concepção
distinta de poder político na política mundial. Definição mais relacionada com teorias básicas
de barganha e negociação do que as usadas no Realismo.
Nesse sentido, portanto, ele defende que a cooperação internacional e o conflito são
processos com dois estágios que se sucedem. Em primeiro lugar, os governos definem um
conjunto de interesses “nacionais” influenciados endogenamente pelos grupos sociais que têm
poder de influência maior do que os outros, além de uma influência externa de grupos sociais
poderosos em outros países; e, em seguida, os Estados barganham entre si no intuito de
realizá-los. Assim, portanto, são os grupos sociais distintos dos diferentes países que estão
barganhando entre si para realizar seus objetivos ou preferências, porém usando o Estado
como instrumento. Portanto, nesse sentido, a teoria é sistêmica considerando a interação
social internacional.
Em busca do seu objetivo de atualizar a teoria liberal, aglutinando o conjunto de
teorias diversas em um único campo coeso, Moravcsik discute os principais expoentes do
liberalismo ideacional, republicano e comercial, apontando suas premissas, mas reforçando o
argumento central a ser extraído aqui neste trabalho: ele afirma que todos consideram que as
demandas sociais são transformadas em preferências do Estado e em resultados padrão das
preferências nacionais na política mundial. Nesse sentido, esclarece-se que as preferências do
Estado e seu comportamento no sistema são definidos, principalmente, pela dinâmica social
entre os grupos sociais endógenos ao governo com pequena influência de grupos sociais
internacionais. Unificando o pensamento liberal, ele acredita que o Liberalismo
empiricamente visto como conjunto oferece uma chave melhor para explicar as relações
internacionais do que o Realismo e o Institucionalismo. “First, liberal theory provides a
plausible theoretical explanation for variation in the substantive content of foreign policy.”
(MORAVCSIK, 1997, p 534). “Second, liberal theory offers a plausible explanation for
historical change in the international system.” (MORAVCSIK, 1997, p 535). “Third, liberal
30
theory offers a plausible explanation for the distinctiveness of modern international politics.”
(MORAVCSIK, 1997, p 535).
Além disso, o autor faz uma distinção entre as teorias Liberais e Institucionalistas de
Relações Internacionais porque, segundo ele, os institucionalistas tomam as preferências dos
Estados como fixas ou exógenas. Já o liberalismo, por outro lado, considera que as
preferências dos Estados variam de acordo com o seu contexto e sua política é resultado do
contexto social e não da anarquia internacional. Essas características não significam que o
liberalismo não possa explicar os regimes internacionais. “The liberal view of regimes as
‘socially embedded’ can be extended to suggest endogenous causes of regime change over
time.” (MORAVCSIK, 1997, p 537). Assim, o fator endógeno é a causa da mudança que o
regime pode ter ao longo do tempo. Nesse sentido, o que ele está argumentando é que o
doméstico pode gerar alteração no regime internacional e na negociação desde que se alterem
os grupos (ou os interesses dos mesmos grupos) que têm influência sobre o governo.
O autor defende o Liberalismo multicausal na análise do comportamento coletivo dos
Estados porque ele implica que esse comportamento deve ser analisado em um processo de
dois estágios do processo de escolha social. Ele considera que com base em uma análise
liberal multicausal, Woodrow Wilson identificou explicitamente um conjunto de condições
nas quais as instituições de segurança coletiva poderiam ter sucesso. Nesse sentido,
Moravcsik está defendendo que os interesses compartilhados nacionalmente representam o
primeiro estágio do processo de cooperação que se solidifica através da formação de uma
preferência “nacional”. Nessa primeira etapa se identificam os benefícios potenciais da
coordenação política na segunda fase (a interação entre os Estados), que é quando são
definidas as possíveis respostas políticas às pressões internas.
The priority of liberalism in multicausal models of state behavior implies,
furthermore, that collective state behavior should be analyzed as a two-stage process
of constrained social choice. States first define preferences—a stage explained by
liberal theories of state-society relations. Then they debate, bargain, or fight to
particular agreements—a second stage explained by realist and institutionalist (as
well as liberal) theories of strategic interaction. (MORAVCSIK, 1997, p 544).
Portanto, ele supõe que os objetivos governamentais na política externa seguem as
pressões domésticas dos grupos sociais. O interesse nacional emerge, então, dos conflitos
políticos entre os grupos sociais e é influenciado pela formação de coalizões nacionais ou
internacionais. Assim, podemos extrair da obra de Moravcsik contribuições importantíssimas
31
do ponto de vista liberal para a coordenação política internacional e a cooperação entre os
Estados-nação no sistema interestatal. A principal contribuição do autor está na premissa de
que a política mundial é jogada em um jogo com dois estágios. Para Moravcsik, a
coordenação política depende da aglutinação de interesses nacionais distintos através do
processo de debate e barganha internacional. Nesse sentido, o primeiro estágio desse processo
se encontra no campo doméstico, no qual grupos de interesse nacionais que têm influência
sobre o Estado ajudam a formar, com certa influência internacional, o que é o interesse
“nacional”. Portanto, nesse sentido, esse trabalho precisa verificar como os interesses
nacionais alemães se alteram graças às influências de grupos de interesses poderosos
domesticamente.
Importante pontuar, portanto, antes de prosseguirmos, que o interesse nacional aqui
não está ligado a questões da alta política como segurança nacional e poder militar, apesar de
que de alguma forma elas serem abordadas, mas sim está ligado a questões de ganhos e bemestar. O interesse nacional se constitui, então, dos interesses de um grupo social (particular)
dentro da sociedade que sofre alguma influência externa. O estágio seguinte à definição das
preferências nacionais é a barganha internacional, o debate, no qual o Estado age a fim de se
aproximarem os interesses diversos no sistema com o objetivo de levar à cooperação entre
países diversos. Essas premissas acabam por concordar em diversas partes com os argumentos
de Robert Putnam que traremos a seguir, principalmente àquelas relacionadas com a dinâmica
em dois níveis – nacional e internacional – e a influência de poderosos grupos sociais sobre o
comportamento e interesses do Estado.
1.4)
ROBERT PUTNAM – O JOGO DE DOIS NÍVEIS ENTRE A POLÍTICA
INTERNA E A DIPLOMACIA
Robert Putnam se propõe a fazer uma análise sobre a interação entre o doméstico e o
internacional nas mudanças políticas dos Estados. Para ilustrar como essa relação se dá, ele
assume que os Estados joguem um jogo de dois-níveis, atuando nacionalmente através da
dinâmica política doméstica e internacionalmente através da dinâmica diplomática. Para
32
explicar o seu ponto, o autor cita o exemplo da Conferência de Bonn de 1978. Após as
negociações iniciais, ele assume o seguinte:
Within each country, one faction supported the policy shift being demanded of its
country internationally, but that faction was initially outnumbered. Thus,
international pressure was a necessary condition for these policy shifts. On the other
hand, without domestic resonance, international forces would not have sufficed to
produce the accord, no matter how balanced and intellectually persuasive the overall
package.” (PUTNAM, 1988, pp 429-430).
Nesse sentido, é importante ressaltar a influência que setores domésticos têm na
política externa e nas relações internacionais. Para ele, partidos, classes sociais, grupos de
interesse (econômicos e não-econômicos), legisladores, opinião pública, entre outros,
influenciam as relações externas de um país. Então, nesse sentido, a política das negociações
internacionais pode ser concebida como um jogo de dois níveis: um nacional e outro
internacional. No nível nacional, grupos domésticos perseguem seus interesses pressionando o
governo a adotar políticas favoráveis a eles, e os políticos buscam formar coalizões com esses
grupos para agregar poder na dinâmica doméstica. No nível internacional, governos nacionais
buscam maximizar seus interesses políticos em âmbito internacional para satisfazer as
pressões domésticas
enquanto
tentam
minimizar as
consequências
para
os
adversas
dos
desenvolvimentos externos.
Assim,
podemos
entender
que
Putnam
compromissos
firmados
internacionalmente precisam de apoio interno para serem implantados e, nesse sentido, os
governos são obrigados a negociar no âmbito nacional para criar uma base de sustentação que
permita essa implementação. A política externa de um país se estabelece, dessa forma, muito
mais dinâmica e complexa visto que supõe um diálogo constante em duas frentes políticas e a
acomodação permanente dos interesses envolvidos nos dois níveis. O Estado é representado
em cada frente de negociação na pessoa do líder de governo e ele irá negociar com os atores e
grupos sociais respectivos de cada nível.
Each national political leader appears at both game boards. Across the international
table sit his foreign counterparts, and at his elbows sit diplomats and other
international advisors. Around the domestic table behind him sit party and
parliamentary figures, spokespersons for domestic agencies, representatives of key
interest groups, and the leader's own political advisors. (PUTNAM, 1993, p 434).
33
No modelo de Putnam, o primeiro nível é aquele no qual a negociação ocorre entre os
negociadores tentando buscar um acordo. No segundo nível, há discussões separadas dentro
de cada grupo participante para determinar se irão ratificar o acordo. No entanto, ele
considera que negociações no nível 2 são importantes para definir a posição inicial no nível 1
– ou seja, o nível doméstico que define primeiro a posição a ser levada para debate externo.
Se o interesse no nível 1 e o nível 2 não forem iguais, então a tentativa de acordo irá falhar
assim que se tornar pública. Ainda de acordo com sua proposta, quanto maiores forem as
aprovações no nível 2, maiores as chances das negociações e acordos no nível 1 derem certo e
vice-versa. Além disso, pode haver duas formas de um acordo falhar: por decisões voluntárias
ou involuntárias. As voluntárias passam pelos jogos dos prisioneiros e de decisão em grupo e
suas escolhas egoístas e racionais. As involuntárias refletem o comportamento de um agente
que é incapaz de entregar o prometido por causa da falha na ratificação.
Ao mesmo tempo, Putnam considera que a coordenação política internacional tende a
ocorrer mesmo se os interesses domésticos mudarem. Também, ele acredita que um mundo
egoísta e anárquico (nos moldes Realistas) não pode ignorar o fato de que a cooperação pode
ocorrer, desde que os custos para sua consecução sejam favoráveis. Ele considera que os
acordos internacionais podem se basear em um conjunto vencedor (win-set). Por definição,
ele considera que esse conjunto no nível 2 é um conjunto de todos os acordos possíveis no
nível 1 que poderiam “vencer”. Quanto maior for o ‘win-set’, mais prováveis as chances de
acordos no nível 1, visto que seria mais fácil a agregação dos interesses divergentes nos dois
níveis.
O autor considera que a incerteza e as táticas de barganha dos negociadores no nível 1
ajudam a resultar nos acordos e a determinar o tamanho dos seus ‘win-set’. Segundo Putnam,
os negociadores pouco sabem sobre a política interna dos outros membros, o que dificulta as
negociações de um acordo. O conhecimento a respeito dos cenários políticos possíveis
internos de outros países pode ajudar na realização de um acordo favorável e pode evitar a
desistência involuntária. “The size of the win-set depends on the distribution of power,
preferences, and possible coalitions among Level 1 constituents.” (PUTNAM, 1993, p 442).
O segundo fator está ligado às instituições políticas no nível 2 porque a ratificação do acordo
depende que as instituições dentro do Estado aprovem o que foi barganhado
internacionalmente. Nesse sentido, as instituições internas com interesses já definidos é que
podem absorver ou não o que foi às vezes estimulado internacionalmente. E o terceiro fator
está ligado às estratégias dos negociadores no nível 1.
34
Each Level I negotiator has an unequivocal interest in maximizing the other side's
win-set, but with respect to his own win-set, his motives are mixed. The larger his
win-set, the more easily he can conclude an agreement, but also the weaker his
bargaining position vis-à-vis the other negotiator. (PUTNAM, 1993, p 450).
Outras formas de influência sobre os ‘win-sets’ dizem respeito à forma como a
incerteza e as táticas de barganha dos negociadores no nível 1 ajudam a levar aos acordos e
determinar o tamanho dos seus ‘win-set’. Nesse sentido, o conhecimento sobre a dinâmica
interna do outro negociador ajudaria na consecução de possíveis acordos visto que os
negociadores tenderiam a barganhar entre si os conjuntos mais prováveis de serem acordados.
A ideia é que um negociador que conhece o nível 2 do seu parceiro sabe se os grupos sociais e
as instituições internas do outro aceitariam ou não as propostas discutidas no nível 1 fazendo,
dessa forma, com que a incerteza sobre o acordo fosse reduzida e levando o negociador a
adotar uma tática de barganha que promova os próprios interesses.
Outra estratégia comum do jogo de dois níveis, de acordo com Putnam, é a
reconstrução do jogo e da percepção do outro que um negociador pode fazer para demonstrar
que o custo de um não-acordo é alto e quais os benefícios de um acordo proposto, esta ação
realizada sobre os opositores encontrados no nível 2. Além disso, ele considera que pressões
internacionais podem reverberar sobre as políticas domésticas, alterando sua balança e, assim,
influenciando as negociações internacionais. “Reverberation as discussed thus far implies that
international pressure expands the domestic win-set and facilitates agreement.” (PUTNAM,
1988, p. 456). Nesse sentido, ele está defendendo que a ideia de reverberação pode
incrementar a cooperação internacional. No entanto, Putnam considera que a reverberação
também pode ter feitos negativos, podendo despertar uma reação violenta. “Cognitive balance
theory suggests that international pressure is more likely to reverberate negatively if its source
is generally viewed by domestic audiences as an adversary rather than an ally.” (PUTNAM,
1988, p. 456).
O chefe negociador é visto pelo autor como a ligação entre os níveis 1 e 2. Muitas
vezes seus interesses e visões próprios podem ser diferentes daqueles dos seus constituintes.
Então o autor traz três motivações dos chefes negociadores: Primeiro eles tentam realçar seus
pontos no nível 2 incrementando seus recursos políticos e diminuindo as perdas; segundo,
muda a balança de poder no nível 2 em favor de políticas domésticas que ele prefere por
motivos exógenos; e, terceiro, perseguir seu próprio conceito de interesse nacional no
contexto internacional.
35
It is reasonable to presume, at least in the international case of two-level bargaining,
that the chief negotiator will normally give primacy to his domestic calculus, if a
choice must be made, not least because his own incumbency often depends on his
standing at Level 1. Hence, he is more likely to present an international agreement
for ratification, the less of his own political capital he expects to have to invest to
win approval, and the greater the likely political returns from a ratified agreement.
(PUTNAM, 1993, p 457).
Nesse sentido, o chefe negociador tem um veto sobre possíveis acordos visto que
mesmo que o ‘win-set’ tenha apoio no nível 2, o acordo pode não sair se o chefe negociador
se opor a ele. No mesmo sentido, Putnam considera que todo chefe tenha um investimento em
uma coalizão política que lhe serve como base. Assim, se um acordo internacional ameaça
esse investimento, ou a ratificação no nível 2 exige que ele construa outra coalizão, então o
chefe negociador será relutante a endossar o acordo. Portanto, percebemos que para Robert
Putnam o comportamento e os interesses do Estado são construídos em dois níveis distintos
da política: um nacional e um internacional. A ligação entre esses campos é feita no papel do
chefe de governo do Estado, que vai balancear os dois níveis a fim de conseguir um acordo
favorável em ambas as frentes.
Assim, portanto, podemos extrair como maior contribuição ao arranjo teórico aqui
proposto a noção do papel dos agentes sociais domésticos na definição do comportamento e
interesses dos Estados. Da mesma forma que Moravcsik, Putnam está considerando que esses
grupos de interesses têm influência poderosa sobre os governos, definindo e condicionando
seus governos na dinâmica internacional. Além disso, também concorda que o aspecto
internacional afeta o doméstico, e vice-versa. Os autores concordam sobre a dinâmica política
dividida em dois estágios (multicausal), ou níveis (two-level games), que levam os governos à
coordenação política internacional. E ambos estão de acordo com Keohane em um ponto
importante: que as instituições internacionais influenciam e condicionam o comportamento
dos Estados e que a cooperação necessita da coordenação política através da negociação
internacional. Ademais, acrescentam que o doméstico também influencia o Estado, os regimes
e o contexto internacional através da negociação.
Veremos em um modelo teórico a partir de um esquema prático a seguir como a
influência dos grupos sociais domésticos e externos alteram os interesses nacionais dos
Estados, alteram o regime e, até mesmo, a distribuição de capacidades no subsistema ali
formado.
Nesse
sentido,
portanto,
poderemos
perceber
que
o
arranjo
formado
36
internacionalmente através da coordenação política e a cooperação através das instituições
internacionais fazem da dinâmica política uma teia de influências sobrepostas. Os esquemas
teóricos a serem apresentados em seguida nos ajudam a entender que a dinâmica de formação
e manutenção de um regime internacional podem ser distintas, o que contribui para a alteração
do papel de um dado ator dentro desse regime.
Em outras palavras, a partir das considerações teóricas apresentadas nesse capítulo,
defende-se a hipótese de que a formação da União Europeia, que levou a Alemanha a
desempenhar um determinado papel inicial, ocorreu em um contexto diferenciado do contexto
de manutenção desse regime. Isso porque, ao longo dos anos, a Europa vivenciou um
afastamento gradual do poder hegemônico estadunidense do continente. Esse novo contexto
possibilitou a mudança do papel da Alemanha dentro do regime e dos interesses alemães
relacionados à instituição.
1.5)
MODELO TEÓRICO
Baseando-se nas contribuições teóricas e conceituais já abordadas acima, iremos agora
delinear um esquema prático que nos ajude a compreender e a analisar o comportamento dos
Estados, dos regimes internacionais – e sua formação e manutenção – a influência dos grupos
sociais de interesse sobre os governos e a cooperação internacional. Primeiramente, iremos
entender o processo de formação dos regimes internacionais através do arranjo de influências
entre as sociedades nacionais dos Estados. Então, partiremos para a compreensão através de
outro esquema prático de manutenção de um regime internacional por um grupo pequeno de
países depois de findo o poder hegemônico.
Como visto nas contribuições de Gowa, Keohane, Moravcsik e Putnam, a cooperação
pode ser resultado de diversas formas de interação entre os Estados. Assumiremos aqui
algumas das contribuições que consideramos mais relevantes: a HST contribui com a
premissa de que os interesses compartilhados são influenciados por um poder hegemônico e,
assim, a cooperação pode ocorrer. Associaremos essa premissa com as trazidas por Keohane,
que apesar de não ser necessário nem suficiente, o poder hegemônico pode ajudar bastante a
37
surgir cooperação internacional. Por outro lado, Moravcsik e Putnam nos ajudam na
assumpção de que os interesses nacionais são também formados por grupos de interesses
domésticos com alguma influência de grupos sociais internacionais e, então, levados para os
debates e barganhas para a formação dos regimes internacionais.
Para compreender a formação de um regime internacional, portanto, assumimos que
dois ambientes políticos são importantes no processo: o internacional e o doméstico. No
primeiro, a estrutura do sistema de Estados define, através da distribuição de capacidades
(econômica, militar e diplomática), quais países têm maior força do que outros; no segundo, a
dinâmica social determina quais grupos de interesse acumularam mais força para influenciar a
política do Estado, definindo (com certa influência de grupos de interesses internacionais) o
que é o “interesse nacional”. Portanto, podemos assumir que os grupos sociais poderosos
domésticos realizam seus interesses transformando-os em políticas de Estado, como nos
mostrou Moravcsik. Esses interesses “nacionais” têm, de certa forma, influência de grupos
sociais poderosos internacionais. Aqui, como estamos debatendo a formação de um regime
internacional (ou instituição internacional), estamos assumindo especialmente que a
influência desses grupos externos é advinda principalmente do poder hegemônico, isto porque
os Estados com maiores capacidades materiais têm maior influência sobre os Estados com
menores capacidades do que o movimento inverso apesar de ele não ser inexistente.
Nesse sentido, temos no esquema que os grupos sociais – doméstico e externo –
definem os interesses nacionais de cada Estado, mas que aquele que foi desenvolvido dentro
do país que tem maiores capacidades materiais, portanto, é hegemônico, gera influência na
determinação dos interesses nacionais no outro Estado. Portanto, de acordo com o que
assumimos através da HST, o poder hegemônico nesse momento está influenciando os
interesses comuns compartilhados no sistema, mas a partir de interesses privados domésticos
desses Estados hegemônicos, como propõem Moravcsik e Putnam. E, também, está aqui
estabelecido o primeiro nível de debate político, como o proposto por Putnam no two-level
game ou por Moravcsik no jogo de dois estágios, que é o debate político doméstico no qual se
estabelecem os interesses a serem perseguidos internacionalmente. Como afirmado por
ambos, primeiro os Estados definem seus interesses nacionais para depois barganharem entre
si para ajustar seus interesses e cooperarem.
Nesse sentido, então, podemos compreender melhor ao olharmos para o esquema
abaixo apresentado. Primeiro, temos a estrutura do sistema internacional influenciando a
38
dinâmica sócio-política dos Estados. Depois, a primeira fileira de balões [(a) e (a)*]
representam os conjuntos de grupos de interesse com influência sobre o governo em dois
Estados, um não-hegemônico [(a)] e outro hegemônico [(a)*]. Este primeiro estágio diz
respeito à dinâmica social que irá determinar o interesse nacional; assim, podemos perceber
que (a) e (a)* recebem influência externa, mas que (a)*, por se tratar do conjunto social
doméstico do Estado com poder hegemônico tem maior influência na dinâmica em (a) do que
o movimento contrário. O resultado da dinâmica no primeiro estágio é a definição dos
interesses nacionais a serem perseguidos internacionalmente pelos governos, que estão
definidos na segunda fileira de balões [(b) e (b)*]. Aqui, como a formação dos interesses
nacionais do Estado (a) (não-hegemônico) teve grande influência do conjunto social poderoso
no Estado (a)* (hegemônico), logo os interesses do Estado não-hegemônico tendem a se
aproximar dos interesses do Estado hegemônico, permitindo que existem interesses em
comum
que
podem
ser
alcançados.
Os
interesses
nacionais
são
perseguidos
internacionalmente através de barganha e negociação e os interesses do Estado hegemônico
(b)* têm maior influência no processo de negociação do que os interesses do Estado nãohegemônico (b). O processo de negociação e barganha determina a cooperação internacional e
a formação dos regimes. Então, podemos depreender que o regime internacional tem, de certa
forma, maior influência dos grupos sociais do Estado hegemônico, visto que esses grupos
influenciam de alguma forma os interesses no país mais fraco.
39
FORMAÇÃO DE REGIMES INTERNACIONAIS:
Entendido como iremos adotar o processo de formação das instituições internacionais,
podemos agora partir para a compreensão de como esses regimes podem ser mantidos depois
que o poder hegemônico deixou de existir, ou de exercer influência sobre ele. Isso será
importante para a análise do papel da Alemanha na União Europeia, principalmente porque
aqui assumimos que a integração europeia foi impulsionada no pós-guerra pela influência
hegemônica dos Estados Unidos, com o interesse compartilhado aos seus pares europeus de
segurança coletiva contra o perigo soviético. O fim da Guerra Fria, no entanto, eliminou esse
interesse primordial da integração e o poder dos Estados Unidos, creditado como hegemônico,
foi se esvaindo. Poderemos, então, entender como essas mudanças externas alinhadas com
40
mudanças dos interesses dos grupos sociais dominantes na Alemanha possibilitaram alguma
mudança da postura do seu governo para a União Europeia.
Assim, como foi demonstrado por Putnam e Moravcsik, os interesses nacionais são
formados de forma endógena, através de grupos sociais que têm influência sobre o governo,
com certa influência exógena de grupos sociais poderosos em outros Estados. Além disso, os
autores consideram que se se mudar os interesses nacionais, então os regimes internacionais
também podem ser alterados. Novos tratados podem ser realizados a fim de se defender os
novos interesses em pauta dentro dos Estados. Esses interesses nacionais podem ser próximos
porque, de acordo com Putnam, Moravcsik e Robert Keohane, as instituições internacionais
influenciam e condicionam o comportamento dos Estados e que a cooperação necessita da
coordenação política através da negociação internacional, o contexto externo afeta não só o
Estado, mas o regime também. E acrescentam que o doméstico também influencia o Estado, o
regime e o contexto internacional através da negociação. Nesse sentido, então, anos de
cooperação sob um regime internacional influenciado por um poder hegemônico aproximou
os interesses desses Estados e condicionou seu comportamento frente à coordenação política,
favorecendo que os países continuem cooperando mesmo após o fim do poder hegemônico. É
por isso que os grupos pequenos de países não abandonam os regimes quando o poder
hegemônico desaparece ou quando mudam os interesses. Eles podem levar o regime adiante,
alterando os interesses do regime através de novos tratados (como a União Europeia fez)
porque, de acordo com Keohane, os custos de se criar um novo regime são muito altos, por
isso é melhor alterar os já existentes.
Nesse sentido, o processo de manutenção dos regimes internacionais está associado às
mudanças ocorridas no sistema internacional e nos Estados. A estrutura do sistema influencia
a definição de interesses nos Estados e nas instituições internacionais. É na estrutura também
que se define a distribuição de capacidades, podendo um Estado acumular mais poder do que
outros mesmo que ambos pertençam à mesma instituição. Nesse sentido, a alteração na
estrutura pode gerar a alteração do regime internacional, isto porque a estrutura do sistema
internacional influencia a formação dos interesses nacionais e, também, a própria instituição.
Assim, portanto, no nosso modelo abaixo vemos que a estrutura ajuda a definir os interesses e
políticas dos governos e das organizações. Estas, por sua vez, influenciam e condicionam o
comportamento dos Estados de forma igual, influenciando a formação dos interesses
nacionais do Estado A e do Estado B na dinâmica em (a) e (a)*. A instituição, portanto, surge
como o terceiro fator (o segundo fator externo) que ajuda a definir os interesses nacionais [(b)
41
e (b)*] no âmbito da dinâmica sócio-política interna junto com os grupos de interesses com
poder de influência sobre o governo interno. Temos, então, que as preferências nacionais –
delineadas de acordo com os interesses privados de grupos sociais – influenciam e são
influenciadas pelo contexto internacional (a distribuição de poder, os regimes internacionais,
etc.) e que o Estado maior tem, dentro da instituição, seus interesses ampliados pelo círculo
vicioso que se torna a dinâmica dentro da organização internacional.
Assim, temos que a teia de influências é ampliada no subsistema formado dentro do
regime internacional. Os Estados maiores têm maior poder de influência, graças à distribuição
de poder nesse regime, então condicionam mais o comportamento dos Estados menores, mas
isso não impede que também sejam condicionados pelos interesses dos Estados menores
através da negociação e do próprio regime internacional. A negociação condiciona também o
contexto internacional, porque os Estados podem acordar em alterar os interesses do regime a
partir de uma mudança de interesses que é essencialmente doméstica, mas também externa, e
essa negociação pode alterar a distribuição de poder, com o regime internacional perseguindo
uma distribuição de poder mais equitativa, reduzindo as assimetrias e desigualdades entre os
Estados daquele grupo ali formado. A redução das assimetrias vai depender de que forma os
Estados menores podem conseguir condicionar o comportamento do Estado maior através da
negociação. O regime, também, pode distribuir o poder de forma a favorecer o Estado mais
poderoso, desde que ele exerça mais influência sobre as preferências nacionais alheios e sobre
o regime durante a negociação, lembrando que esses interesses são oriundos dos grupos
sociais de interesse. No esquema abaixo podemos então realizar como a teia de influências
funciona na manutenção dos regimes internacionais, com as setas maiores representando
maior poder de influência e as menores representado menor poder de influência de um campo
sobre o outro.
42
MANUTENÇÃO DOS REGIMES INTERNACIONAIS:
43
2 – EMPODERAMENTO ALEMÃO FRENTE À EUROPA.
No capítulo anterior desenvolvemos um modelo teórico abrangente com contribuições
valiosas de quatro vertentes teóricas ligadas ao paradigma Liberal de Relações Internacionais.
Nos ajudaram a desenvolver o modelo a revisão da Teoria da Estabilidade Hegemônica
realizada por Joanne Gowa, Robert Keohane, com sua teoria institucionalista, Andrew
Moravcsik e a teoria liberal multicausal e Robert Putnam e a teoria do jogo de dois níveis. As
principais assumpções traçadas no nosso modelo teórico dizem respeito aos conceitos
relacionados com os ambientes políticos internos e externos que acabam influenciando e
condicionando o comportamento dos Estados nas relações internacionais.
Do ponto de vista externo, nosso modelo defende que a formação de regimes
internacionais pode receber a contribuição de um Estado que adquiriu capacidades materiais
suficientes para influenciar os outros Estados mais fracos a adotarem padrões de
comportamento que sejam pautados nos seus interesses em uma estrutura internacional que
propicie a busca por cooperação. Esse Estado possui grandes recursos econômicos e militares
que o permitem exercer tal papel e fazem dele o poder hegemônico no sistema internacional.
Como definido pela HST e adotado por nós no nosso modelo teórico, o Estado com poder
hegemônico pode escolher arcar sozinho com os custos de se prover um bem comum (sejam
ganhos econômicos ou segurança coletiva), isso graças ao seu tamanho no sistema, mesmo
que isso gere a ocorrência de free riders. Keohane, por outro lado, defende que o poder
hegemônico sozinho não é sempre capaz de promover a criação de regimes internacionais e
que grupos pequenos de Estados podem substituir o papel do poder hegemônico; em outras
palavras, a existência de um hegêmona não é condição necessária nem suficiente para se criar
regimes. Essa contribuição também é adotada no nosso modelo, isto porque acreditamos que o
poder hegemônico contribui para a criação de regimes, mas que ele não é o único fator
44
existente, visto que o contexto internacional e o contexto interno dos outros países também
contam, e que na ausência de um hegêmona ou o afastamento do mesmo, grupos de Estados
podem exercer o papel desempenhado por ele. Além disso, regimes internacionais são criados
para lidar com “issues-areas”, áreas e temas específicos que são comuns aos atores.
Por outro lado, defendemos no nosso modelo teórico, assim como Keohane, que a
cooperação surge na tentativa de se evitar um conflito, ou um conflito em potencial, e que os
novos regimes internacionais são facilitados graças à confiança mútua gerada por regimes
mais antigos. Novos regimes, no entanto, são mais difíceis de criar graças aos custos de
transação e problemas com a Economia Política Internacional. Assim, os regimes
internacionais são mais fáceis de se manter do que de se criar, fazendo com que os Estados
prefiram alterar os já existentes do que abandona-los para criar outros que atendam aos seus
interesses. Os regimes, uma vez criados, condicionam o comportamento dos Estados visto que
criam regras que devem ser seguidas pelos seus Estados-membros.
Do ponto de vista interno dos Estados, concordamos com Moravcsik e Putnam ao
assumir que os Estados são representações políticas da dinâmica social interna. Nesse sentido,
o governo se constitui como a representação de um grupo social, um subconjunto da
sociedade doméstica e que, portanto, persegue os interesses desse subconjunto. Na dinâmica
social, os grupos de interesse perseguem seus objetivos pressionando o governo a adotar
políticas favoráveis a eles, e os políticos buscam formar coalizões com grupos mais fortes
para agregar poder no ambiente doméstico e, além disso, pressões e influência de grupos
sociais externos também exercem influência na definição dos interesses nacionais, tendo
Estados mais poderosos, com grupos sociais mais poderosos, maior peso de influência na
definição dos interesses internos do Estado mais fraco. Nesse sentido, assumimos, assim
como os autores já citados, que as demandas sociais são transformadas em preferências dos
Estados já que suas instituições são os mecanismos pelos quais os interesses e o poder dos
grupos sociais são transformados em políticas públicas, fazendo com que essas políticas não
sejam pluralistas. Após a definição dos interesses nacionais através da dinâmica política e
social interna, os Estados negociam e barganham entre si no contexto político internacional
buscando maximizar seus interesses e minimizar suas perdas. O comportamento do Estado,
então, é dual: ele é definido em duas frentes, uma interna e outra externa, além da influência
da própria instituição internacional, que representa a aglutinação de interesses dos grupos
sociais poderosos dos Estados-membros da mesma instituição.
45
Neste capítulo abordaremos de forma empírica as disposições trazidas no modelo
teórico desenvolvido no capítulo anterior, observando a trajetória histórica vivenciada na
Alemanha e na integração europeia que comprovam nosso embasamento teórico
anteriormente elaborado. Poderemos, dessa forma, determinar, à luz da teoria, como se
desenvolveram os processos que poderiam levar a República Federal da Alemanha a se tornar
um poder dominante na União Europeia a partir de um momento específico. Traremos
eventos históricos que produziram o empoderamento material alemão e realizaremos uma
análise dos fatos ocorridos baseados no modelo teórico antes desenhado. Dessa forma, este
capítulo deverá ser histórico-analítico para que não só nos conte a história, mas que nos
explique com a ajuda do nosso embasamento teórico o papel desempenhado pela República
Federal da Alemanha dentro da União Europeia.
O objetivo desse capítulo é, portanto, utilizar os dados históricos e o modelo teórico
apresentado no capítulo anterior para responder à pergunta de pesquisa que move essa
monografia, qual seja: de que maneira o papel da Alemanha em relação à União Européia
transformou-se desde a formação desse regime? O argumento central dessa monografia é o
de que a mudança contextual no sistema internacional e a mudança de interesses dentro da
Alemanha possibilitou a assunção de um papel protagônico por parte desse país dentro da
União Europeia.
Abordaremos aqui três temas que acreditamos serem essenciais para explicar o
processo que teve como resultado a liderança alemã no bloco, são eles: o processo de
reunificação no começo da década de 1990, que se inicia com a reaproximação com o leste
europeu a partir da Ostpolitik na década de 1960; a estruturação da União Europeia a partir de
1992 com o Tratado de Maastricht, mas compreendendo que este foi um caminho longo com
avanços e retrocessos desde a criação da CECA em 1951; e a formação da Moeda Única, em
1999, processo intrínseco e indissociável da integração europeia, iniciado na década de 1970
como resultado da cessão alemã para compensar a reaproximação com o leste e que esteve
ancorado na moeda mais forte europeia, o Marco Alemão.
A integração europeia se iniciou em um período específico do sistema internacional
que permitiu o surgimento de um projeto de integração regional singular no mundo, o período
pós-Segunda Guerra Mundial. Como a Estrutura do Sistema Internacional é determinante para
a conformação dos interesses políticos dos Estados, vamos iniciar este capítulo com a análise
da estrutura que possibilitou que um grupo de países se lançasse em um projeto de cooperação
46
regional na Europa e quais os resultados desse processo na formação do regime internacional
em torno da CECA, da CEE e da EUROATOM. Então, poderemos observar como a mudança
do contexto internacional em meados da década de 1960, no qual o poder hegemônico que
fora amplamente apoiador da integração e das posições privilegiadas dos europeus passou a
investir de encontro com os interesses da Europa Ocidental e quais os resultados disso
internamente aos Estados e para o regime na criação das CE e das múltiplas tentativas de
resistir ao rompimento unilateral norte-americano aos acordos de Bretton Woods. E, por fim,
poderemos abordar mais uma mudança brusca na estrutura do sistema internacional que
compreende o período da derrocada soviética e o consequente fim da Guerra Fria e como esse
processo influenciou a inflexão que a União Europeia adquiriria a partir dos anos 1990, quais
consequências disso nos interesses dos grupos dominantes na Europa Ocidental e a expansão
da organização para a antiga área de influência soviética. Assim, portanto, poderemos analisar
de que forma as mudanças na estrutura do sistema internacional desde o fim da Segunda
Guerra Mundial pôde, junto às mudanças das capacidades materiais dos Estados, influenciar a
formação dos interesses nacionais em torno de aspectos ligados à integração regional e como
isso impactou na evolução do regime europeu e do papel dos Estados-membros na União
Europeia.
2.1)
A ESTRUTURA DO SISTEMA INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA E SUA
INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS INTERESSES NACIONAIS.
O fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início de um período ímpar na história
mundial. A Europa, até então centro político, econômico e militar do mundo, com suas
potências coloniais, perdia o posto de ator determinante do sistema interestatal passando a ser
região de disputa por duas superpotências militares, econômicas e ideológicas: Estados
Unidos e União Soviética. A Guerra teve como palco central das operações militares a própria
Europa, transformando o continente em uma área arrasada após seis anos do conflito mais
mortífero de todos os tempos. A catástrofe atingiu diversos ramos da vida na Europa: a
demografia, a economia, a infraestrutura e a moral dos europeus. Além disso, as tropas
soviéticas que avançaram sobre a máquina de guerra nazista pelo front leste continuaram
47
estacionadas sobre o Leste europeu enquanto as tropas norte-americanas também se
instalariam sobre o território ocidental da Europa (OSÓRIO, 2015).
A disputa por áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética não se
limitaria apenas ao território europeu, mas alcançaria todo o mundo, opondo ideologicamente
os países capitalistas aos países comunistas. Ambos os países saíram do conflito como centros
de poder mundial graças à força de suas estruturas produtivas e militares que foram capazes
de derrotar as potências do Eixo. Nesse sentido, a estrutura anárquica do sistema internacional
apontou para dois polos de poder mundial, estabelecendo a bipolaridade. O período que
compreendeu a disputa entre as duas superpotências após o término da Guerra ficou
conhecido como Guerra Fria, que se estendeu de 1945 até 1991. Assim, cada um representava
para o outro um perigo à sua própria sobrevivência, dados seus sistemas sócio-políticoeconômicos distintos: capitalismo e comunismo.
O arranjo da Nova Ordem mundial desse período começou a ser desenvolvido ainda
no período da Guerra, quando Estados Unidos e Reino Unido iniciaram conversas sobre o
apoio norte-americano contra os nazistas. O resultado das conferências que reuniram os
Aliados (Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética) foi o arranjo institucional em torno
da Organização das Nações Unidas. Por outro lado, os acordos celebrados em Bretton Woods
buscaram o gerenciamento econômico e monetário internacional fazendo nascer o Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o padrão dólar-ouro. Esse sistema traçado ainda antes do término da
Guerra deu aos Estados Unidos o reconhecimento deste país como principal potência
econômica do mundo, fazendo da sua moeda a referência internacional para transações
financeiras e comerciais, ampliando o poder dos norte-americanos sobre o restante do globo.
O Sistema de Bretton Woods institucionalizou o reconhecimento e a dominação hegemônica
dos Estados Unidos (OLIVEIRA, 2000).
Os aliados vencedores da Segunda Guerra estavam espalhados pelo mundo: Estados
Unidos, na América; Reino Unido, França e União Soviética, na Europa; e China na Ásia.
Estes, considerados os “cinco grandes”, convergiram em diversas áreas durante os combates
contra os membros do Eixo (Japão, Alemanha e Itália), até a formação da Organização das
Nações Unidas (ONU) em São Francisco. Associado à ONU, o Conselho de Segurança (CS)
foi formado fazendo com que os cinco grandes pudessem ter assento permanente no CS, com
poder de veto na cúpula da organização. No entanto, a convergência dos aliados que saíram
48
vitoriosos da guerra terminou no momento em que a guerra havia acabado. Aliados militares e
rivais ideológicos, os países não tardaram a se opor dentro da própria instituição e a rivalizar
no sistema internacional na busca por áreas de influência.
A rivalidade se acentuou depois que a União Soviética decidiu tornar os Estados
ocupados no leste europeu pós-guerra em satélites comunistas e garantir governos alinhados
às políticas de Moscou. O temor em torno do “perigo vermelho” na Europa Ocidental e nos
Estados Unidos fez com que os países dessa região do mundo se concentrassem em se
aproximar para poder fazer contrapeso à influência Soviética. Na verdade, os soviéticos
estavam isolados no processo de formação da ONU, visto que era o único país comunista em
1945 e, quando da composição do CS, os Estados Unidos angariaram a entrada de China e
França para assentos permanentes, enfraquecendo a voz de Moscou no conselho. Dessa
forma, existia uma composição de 4 x 1 no Conselho de Segurança.
Neste sentido, os países capitalistas que viam na figura dos Estados Unidos o líder a
ser seguido para garantir seus interesses, que eram capitalistas também, se associaram em
torno de uma organização internacional específica, associação voluntária ou imposta. A
superioridade militar dos Estados Unidos percebida pelos europeus após a vitória contra o
Eixo, principalmente após as explosões das bombas atômicas, se associou à superioridade
econômica, visto que o território americano não foi, em grande medida, palco das operações
militares. Essa realidade ao ser somada ao arranjo institucional traçado em Bretton Woods fez
dos Estados Unidos o núcleo hegemônico do mundo capitalista e o resultado desse processo
foi a decisão dos norte-americanos dos rumos que a Europa tomaria a partir de então.
Nos planos estadunidenses, a reinserção internacional da Europa Ocidental passava
primordialmente por dois aspectos distintos: o militar e o econômico. Do ponto de vista
econômico, a liberalização do mercado era o caminho que agradava o poder hegemônico, e
foi esse o adotado pelos europeus já na década de 1940. Dois fatores permitiram que os
interesses dos grupos sociais do Estado hegemônico se transformassem em interesses comuns
aos europeus; o primeiro foi o plano de recuperação e reconstrução europeia, o Plano
Marshall (1947); e o segundo foi a organização criada para gerir e distribuir esses fundos
pelos países europeus, a Organização Europeia de Cooperação Econômica (1948) (OSÓRIO,
2015). Os Estados europeus estavam, então, obrigados a cooperar entre si para receber e
destinar os fundos do Plano. Já neste primeiro momento percebemos, portanto, através do
modelo teórico, que grupos sociais do poder hegemônico foram capazes de assimilar e criar
49
ordem e interesses comuns no sistema capitalista por imposição e consentimento dos grupos
de interesse que lideravam as políticas europeias, e esse processo foi capaz de gerar um
regime internacional (OECE) para atender a esses interesses em comum. E, ainda, o poder
hegemônico estava disposto a arcar com os custos da cooperação internacional entre aqueles
Estados, visto que o dinheiro disponibilizado pelo Plano Marshall para a reconstrução
europeia advinha exclusivamente dos Estados Unidos.
Do ponto de vista militar, a via escolhida foi a de aglutinar europeus e estadunidenses
em torno de uma aliança bélica para que os países pudessem superar suas rivalidades e,
também, fazer frente ao poder bélico soviético, estacionado sobre a Europa Oriental. Assim,
em 1949, reagindo ao bloqueio de Berlim Ocidental realizada pelos soviéticos em represália
às manobras ocidentais que impossibilitavam a reunificação alemã nos moldes de Yalta e
Potsdam (BANDEIRA, 2000, p. 120), os EUA se apressaram para criar a Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que compreendia 12 membros: Bélgica, Países Baixos,
Luxemburgo, França, Reino Unido, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca, Islândia, Canadá e
Estados Unidos. A OTAN é uma aliança militar firmada entre estes países para garantir a
segurança coletiva dos seus membros. O objetivo específico é garantir a segurança dos
membros através do uso da força por todos os demais caso um deles seja hostilizado por
algum Estado. A criação da aliança servia para contrapor o crescimento militar da União
Soviética no leste da Europa. Aqui podemos extrair algumas análises de acordo com o nosso
modelo teórico.
Os governos dos Estados são compostos por agentes políticos que representam a
sociedade. As elites ocidentais que venceram a guerra eram precisamente capitalistas e
contaram com o apoio de um Estado cuja elite era anti-capitalista para vencer os nazistas, a
União Soviética. O medo de uma revolução socialista nos moldes da ocorrida na URSS era
temor de toda elite europeia ocidental que representava o subconjunto da sociedade com
poder de influenciar o governo. Nesse sentido, um aliado com interesses nacionais anticapitalistas não demoraria a ser visto como um inimigo. Não só um inimigo, um inimigo em
comum a todos aqueles países capitalistas ocidentais. Os Estados Unidos eram o país
capitalista que podia liderar os demais, visto que os europeus estavam destruídos com os anos
da Guerra. Assim, portanto, não tardou para que os Estados Unidos começassem a competir
com a União Soviética por influência, primeiro na Europa, depois no resto do mundo. A
OTAN surge nesse contexto específico da década de 1940.
50
Os interesses nacionais dos países ocidentais tendem a se convergir no momento em
que os Estados Unidos são designados como os líderes dos países ocidentais – dada sua
pujança econômica e militar, baluartes da sua força hegemônica - e a rivalidade capitalismo x
comunismo que dominaria o resto do século XX durante a Guerra Fria estava involucrado
pelo tema da segurança coletiva. Nesse sentido, o poder hegemônico (Estados Unidos)
determinou a criação de interesses coletivos que vieram a criar a organização militar atlântica
e a organização de cooperação econômica europeia. Osório enfatiza a relação entre os grupos
de interesse na governança europeia e norte-americana:
Esta conivência e subordinação que marcam a atuação das burguesias europeias
perante o capital estadunidense explicam-se em muito pela desarticulação e
heterogeneidade dentro das classes dominantes nacionais, que, quer pelos resquícios
da guerra, quer pela relação siamesa entre os capitais, não oferecem resistência
substancial à posição de inferioridade no círculo metropolitano (OSÓRIO, 2014, p.
22).
Dado o contexto internacional do período pós-guerra, os grupos de interesses que
governavam os países europeus logo puderam perceber que deveriam deixar para trás seu
histórico de confrontação e rivalidades se quisessem manter seu status quo. A manutenção
desse status era também de interesse das elites estadunidenses que já haviam alcançado, em
São Francisco e em Bretton Woods, um arranjo institucional internacional que garantiam a
dominação hegemônica dos Estados Unidos, pelo menos no mundo capitalista. Osório realça
esse pensamento: “Neste diapasão, a expansão da teia de dominância norte-americana foi
consolidada por meio de instituições formais, de alcance mais amplo, mundial, e, mais
específico, regional.” (OSÓRIO, 2014, p. 3). Nesse sentido, portanto, as elites europeias
assumiram como interesses próprios muitas das disposições que eram de interesse da elite
estadunidense, fator que favoreceu o florescimento da integração regional. Assim, portanto,
fatores que vão além da exclusividade da existência de um poder hegemônico ajudaram a
criar um ambiente no qual a cooperação pudesse florescer. O interesse hegemônico foi
essencial e o hegêmona acordou em arcar com os custos, mas o movimento se concretizou
com aglutinação com os interesses dos outros Estados envolvidos nele. O contexto interno e
externo desses Estados foi determinante. Os grupos sociais dominantes nos países europeus
ocidentais se viam ameaçados pela possibilidade de revoluções comunistas e pela existência
de uma hegemonia comunista, que é contra seus interesses porque é anti-capitalista, também
tinham interesse em formar um regime internacional que favorecesse a cooperação para
garantir seu status quo.
51
Como já abordamos antes, a reinserção internacional da Europa Ocidental fazia parte
dos planos políticos dos Estados Unidos de conter o comunismo no leste europeu, que já se
alastrava entre os países dominados pelas forças soviéticas. Esse objetivo passava por uma
reconstrução econômica europeia para não só afastar os riscos de revoluções sociais, com
movimentos fortes na França e na Itália, mas também para fazer frente ao poder adquirido
pela União Soviética, que havia enfrentado e vencido sozinha um front de guerra. No entanto,
não tardaria para os Estados Unidos perceberem que não daria para alcançarem esse objetivo
sem garantir o reerguimento da Alemanha, conseguindo através disso eliminar o revanchismo
que tomou os alemães após a derrota em 1918 e as intragáveis reparações de guerra que foram
impostas no Tratado de Versalhes e ajudaram a desencadear novo conflito em 1939. Portanto,
era de interesse dos aliados que a Alemanha não fosse isolada, mas inserida e integrada à
comunidade internacional (BANDEIRA, 2000).
Nesse contexto internacional bipolar, a Alemanha foi dividia entre os países Aliados
vencedores da guerra em quatro zonas de ocupação, mas as três zonas ocidentais acabariam
sendo unificadas em uma única zona que precedeu o reestabelecimento de um Estado alemão
naquele território (BANDEIRA, 2000). A Alemanha Ocidental permaneceu ocupada e sob
influência do poder hegemônico capitalista enquanto que a Alemanha Oriental permaneceu
ocupada e sob influência do poder hegemônico comunista. A partir de agora, quando
dissermos “Alemanha”, estaremos nos referindo à RFA.
A Alemanha, nesse sentido, se tornou um Estado com soberania limitada graças à
ocupação e ao contexto internacional bipolar, no qual suas possibilidades eram restringidas ou
coagidas pelas duas superpotências. Do ponto de vista do mundo capitalista, o poder
hegemônico buscou institucionalizar a sua superioridade através de organizações e tratados
que viabilizassem a sua dominação. Assim, os Estados Unidos conseguiram expandir sua teia
de dominação através dos acordos de Bretton Woods, do Fundo Monetário Internacional e o
General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) – estabelecendo sua hegemonia
econômica e monetária – e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – a
hegemonia militar. A dominação econômica e militar dos Estados Unidos imperou sobre a
Europa durante todo o período que compreendeu a Guerra Fria até 1990, e a inserção
internacional da Alemanha foi sempre subalterna e sua atuação externa limitada graças ao
contexto internacional (OSÓRIO, 2015).
52
Muitos planos foram desenhados para lidar com a questão alemã, entre elas a mais
conhecida foi a proposta do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Morgenthau, de
desindustrializar a Alemanha e torna-la em uma grande nação agrária. Entretanto, a
necessidade de fazer frente à URSS e garantir a reinserção europeia nos moldes dos interesses
dos norte-americanos, os EUA induziriam um desenvolvimento a convite1 aos alemães,
transformando a porção ocidental em uma verdadeira vitrine do capitalismo moderno. Já em
1947, Estados Unidos e Reino Unido, que ocupavam as regiões que historicamente
resguardaram a concentração industrial alemã, incluindo o Vale do Rhur, acordaram em
unificar suas zonas de ocupação em uma Bi-Zone, para garantir a recuperação econômica
dessa região. No mesmo ano seria lançado pelos EUA o European Recovery Programme,
comumente chamado de Plano Marshall, concedendo ajuda maciça aos países arrasados pela
guerra da Europa Ocidental, esse plano não compreendia a Alemanha até então (BANDEIRA,
2000).
Os EUA conseguiriam, ainda, que os governos do Reino Unido, França, Bélgica,
Países Baixos e Luxemburgo aceitassem sua proposta de reorganizar um Estado alemão em
torno de uma federação, unindo todas as zonas de ocupação dos aliados em uma Tri-Zone e
permitindo a realização de uma constituinte já em 1948. O resultado foi o fim do conselho dos
países aliados que geriam politicamente a Alemanha e a possibilidade de reforma monetária e
a introdução do Deutsche Mark, que viria a se transformar na moeda de referência europeia e
daria a base para a introdução da Moeda Única 50 anos depois. Em 1949 a República Federal
da Alemanha se constituía após a promulgação da Grundgesetz (Lei Fundamental) aprovada
pela assembleia constituinte e determinando como sua capital a cidade de Bonn, visto que
Berlim Ocidental ficava contornada por território soviético o que poderia ser uma ameaça
considerável (BANDEIRA, 2000). Amaury Porto de Oliveira nos mostra que os grupos de
interesses alemães no período estavam de acordo com as propostas desenhadas para eles,
conivência deixada clara no discurso de posse de Konrad Adenauer em 1949, no qual ele diz:
“Para o povo alemão não há outro caminho, se quisermos atingir a liberdade e a
igualdade de direitos, que não seja... o da coordenação com os Aliados. Só há uma
rota para a liberdade. Tentarmos ampliar as nossas liberdades e prerrogativas passo a
passo, em harmonia com a Alta Comissão Aliada” (OLIVEIRA, 2000, p. 17).
Os acontecimentos entre 1949 e 1950 fariam com que o papel da Alemanha Federal na
Europa fosse, aos poucos, recuperado e fortalecido. Os Estados Unidos assistiram, também,
1
(OSÓRIO, 2015).
53
naquele ano, à resposta socialista aos seus avanços: primeiro, a zona ocupada pelos soviéticos
foi transformada na República Democrática Alemã, se correspondendo ao ocorrido com as
zonas capitalistas; depois, a URSS detonaria a sua primeira bomba atômica, correspondendo,
dessa forma, à equiparação das forças militares das duas superpotências; e, por fim, à vitória
dos comunistas chineses sob o comando de Mao Tsé Tung. Os norte-americanos, então, se
empenharam em restabelecer a soberania da RFA que, em outubro de 49, entrou para a OECE
para receber vultuosos empréstimos de reconstrução via Plano Marshall.
Assim, portanto, vimos que a vitória acachapante das forças militares soviéticas
sozinhas no front leste contra os nazistas fez com que a governança dos EUA passasse a
considerar a URSS não mais como um aliado menor como era visto o Reino Unido, mas sim
como uma potencial ameaça à superioridade norte-americana conquistada nos arranjos que
antecederam o fim da guerra. Ao assistir à capacidade produtiva, militar e tecnológica da qual
a União Soviética dispôs, realizando o maior esforço de guerra de todos os Aliados,
rapidamente os interesses norte-americanos em envolver os soviéticos no sistema
internacional mudariam para o confronto ideológico e por áreas de influência. Nesse sentido,
o cenário bipolar que se estabeleceu com o fim da Guerra e, principalmente, com o avanço de
governos comunistas eleitos no leste europeu fez com que os Estados Unidos se lançassem em
um projeto de recuperação da Europa Ocidental buscando afastar a possibilidade de partidos
comunistas vencerem eleições nesses países sob a bandeira de demandas sociais. Os planos
norte-americanos compreendiam essencialmente dois aspectos: o econômico e o militar. O
Plano Marshall e a OECE trataram de garantir a reconstrução da infraestrutura e dos setores
produtivos europeus, garantindo a recuperação econômica com empréstimos advindos dos
EUA. A OTAN representou o sistema de segurança coletiva que buscou defender os países
ocidentais de quaisquer ameaças soviéticas.
Ao mesmo tempo, não demorou para que os grupos de interesse com poder sobre a
governança dos Estados europeus percebessem que o cenário internacional se apresentava
mais atribulado. Sua destruição material e social, associada à ocupação pelas tropas norteamericanas em boa parte de seus territórios e à ameaça iminente de revoluções socialistas
apoiadas por Moscou, que ainda tinha seu exército estacionado na Europa Oriental, fez com
que os governos europeus logo aceitassem seu papel subordinado no sistema aos interesses
norte-americanos. Isso agradava aos grupos de interesse mais poderosos, visto que garantia
seu status quo internamente. O resultado dessa confluência de interesses é a adesão muito
rápida dos Estados europeus aos planos dos Estados Unidos em torno da OTAN e da OECE.
54
Nesse sentido, o mundo bipolar da Guerra Fria se tornou terreno fértil para o processo de
integração regional que se deu nos países ocidentais da Europa com amplo apoio do poder
hegemônico. A estrutura do sistema, portanto, teve papel fundamental para fazer prosperar a
primeira iniciativa de integração regional que uniu a Europa.
2.2)
A CRIAÇÃO DO REGIME INTERNACIONAL.
Como vimos na seção anterior, a estrutura bipolar do sistema internacional favoreceu a
confluência de interesses entre as governanças dos Estados Unidos e da Europa Ocidental
porque, ao vislumbrarem a superioridade norte-americana e pressentirem o perigo de
revoluções socialistas ou intervenções dos soviéticos, os grupos de interesse com influência
nas cúpulas de governos europeus logo enxergaram que sua competição violenta tinha que ser
superada para garantir a própria sobrevivência. O resultado foi o compromisso de cooperação
regional que pudesse garantir a reconstrução dos seus Estados e sua defesa frente ao poderoso
exército vermelho. Nesta seção veremos o resultado da convergência de interesses entre as
governanças ocidentais em torno do plano de reinserção internacional dos países da Europa
Ocidental que propiciou o surgimento da primeira iniciativa de integração regional que
permitiu que os europeus pudessem se lançar em um projeto abrangente no período que
sucedeu ao fim da Guerra Fria, essa iniciativa foi a Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço. Ainda, iremos ressaltar a importância hegemônica para a integração europeia e, com
isso, aproveitaremos a contribuição teórica que assumimos no começo deste trabalho: o poder
hegemônico ocidental foi importante para impulsionar a integração europeia ocidental,
mesmo tendo que arcar com os custos da cooperação.
Portanto, os primeiros passos que garantiram a cooperação entre os países europeus
que foram, até 1945, inimigos de guerra, dependeram e muito da vontade e da imposição dos
Estados Unidos sobre aqueles países arrasados pelo conflito mais mortífero da história. Os
estadunidenses, como poder hegemônico emergente que suplantou a hegemonia britânica
promovem e garantem internacionalmente que a sua superioridade seja reconhecida via um
arranjo institucional que os mantêm na posição de superioridade, Osório resume bem o
momento:
55
Dessa reorganização mundial derivam a Organização das Nações Unidas, que
ratificou a força política e diplomática dos americanos, os Acordos de Bretton
Woods, que criaram o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional,
responsáveis por assegurar a estabilidade econômica, bem como a imposição do
dólar como moeda internacional, a única conversível em ouro, garantindo sua
hegemonia monetária e financeira, o que ocasionou no padrão ouro-dólar (OSÓRIO,
2010, p. 7)
Em 1950 os Estados Unidos aceitaram a proposta do ministro francês Robert Schuman
de colocar a produção de aço e carvão franco-alemão sob supervisão de uma organização
supranacional, o que viria a se tornar o acordo da CECA de 1951 (BANDEIRA, 2000, p.
121). Assim, o modelo teórico que aqui desenvolvemos elucida o ponto relativo à necessidade
do poder hegemônico é importante para criar a ordem e gerar a cooperação internacional
(através da OECE e CECA) e que esse poder hegemônico pode escolher arcar sozinho com os
custos (através do Plano Marshall no caso econômico e seu próprio poder militar, no caso da
OTAN) da cooperação para garantir os seus próprios interesses. O resultado dos planos dos
EUA tiveram duas dimensões para a Alemanha, uma doméstica e outra externa. Na primeira,
a principal foi a reconstrução política e econômica, restaurando a figura do Estado alemão e
garantindo a reestruturação econômica; na segunda foi a reinserção internacional através do
regionalismo europeu em torno das instituições europeias. Portanto, antes de avançarmos com
o resultado da integração via CECA, veremos brevemente como se deu a reconstrução
doméstica da RFA.
A década de 1950 foi determinante para a reinserção alemã no sistema internacional e
para a sua transformação em vitrine do capitalismo para conter o comunismo. Dessa forma,
muitas concessões foram feitas em favor da RFA pelo poder hegemônico para garantir seus
interesses: em 1951 os aliados permitiram a criação de um ministério de Negócios
Estrangeiros, permitindo certa autonomia externa e a abertura de embaixadas em outros
países; em 1952 os aliados permitiram que a RFA fosse reintegrada à comunidade
internacional; também em 1952 as tropas de ocupação foram transformadas em forças de
defesa e a RFA deveria fornecer 500.000 soldados para essa força, marcando a revitalização
das forças armadas alemãs; e, em 1955, a RFA entrou na Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN), marcando de vez a retomada militar alemã (BANDEIRA, 2000).
Portanto, percebemos que a reinserção alemã passa pelo viés político, diplomático, econômico
e militar, tudo em torno dos interesses dos EUA e seu plano de contingência ao comunismo.
Quanto a isso, Brandão Osório nos ajuda na análise:
56
O perigo e o trauma que as forças germânicas representavam para as elites europeias
eram capazes de gerar consenso entre as potências estrangeiras sobre a sua
desmobilização. Tanto que o exército alemão (Bundeswehr) foi desativado logo
após a rendição incondicional. Pouco tempo depois, esta condição foi
significativamente alterada. Havia certa preocupação se apenas os dólares da
recuperação econômica seriam viáveis para concretizar ligações sólidas entre
alemães e os europeus. Temia-se pela neutralidade política germânica na
bipolaridade da Guerra Fria. Assim, o rearmamento alemão foi incentivado pelos
norte-americanos e encetado, dentro de uma margem de segurança aceitável, em
meados da década de 1950 (OSÓRIO, 2015, p. 60).
Assim, portanto, pudemos analisar rapidamente o período que assistiu à completa
destruição da Alemanha, graças a uma resistência suicida do regime nazista (SANTOS, 2000,
p. 219) e sua rápida recuperação em um período de 10 anos. Theotônio dos Santos nos mostra
que, na verdade, esse período de longo crescimento econômico que foi considerado um
milagre correspondia, contudo, a um esforço de recuperação da capacidade instalada: “Como
dissemos, somente em 1953, esta economia alcançará os níveis de produção de 1944. Quando
produzirá um PIB de 279.256 dólares.” (SANTOS, 2000, p. 221). E, ainda, diz: “Contudo, ao
fazer-se num patamar tecnológico superior, determinado pela revolução científico-técnica,
iniciada em 1940, esta recuperação anunciava um longe período de crescimento econômico
que se estende até o final da década de 60.” (SANTOS, 2000, p. 221).
A rápida recuperação e a consequente pujança da economia alemã se tornaram nos
pilares de sustentação da força de sua moeda, o Marco. Além disso, a Alemanha, e não só ela,
seus pares europeus ocidentais também, não foram obrigados a aceitar completamente as
diretrizes impostas ao resto do mundo capitalista pelos Estados Unidos via acordos de Bretton
Woods e do padrão dólar-ouro que vigoraram até a década de 1970. Essa tolerância
hegemônica para com os europeus foi determinante na rápida recuperação alemã e europeia e
no relativo sucesso dessas economias em detrimento da própria economia americana, que pela
desvalorização das moedas europeias perdia em competitividade internacional. Aqui, mais
uma vez, o poder hegemônico se presta a arcar com os custos da cooperação internacional,
garantindo a reinserção europeia de acordo com seus interesses (BRAGA, 2004).
A recuperação econômica se constituiu como uma transformação na economia alemã,
que deixaria de ser altamente militarizada e voltada para o mercado interno, e passaria para
uma economia exportadora que se consolidou na década de 1970 de acordo com as
imposições norte-americanas. Entre as bases da reestruturação da economia e do Estado
57
alemão, José Carlos de Souza Braga nos mostra que elas passavam pela “estabilização como
garantidora do funcionamento adequado do mecanismo de preço” e ligações profundas entre
“economia e política social, o desenvolvimento da seguridade social, o reconhecimento
imprescindível da representação sindical e um Estado democrático e social”. 2 Ainda, ele
ressalta que: “Quanto à estrutura produtiva, esse padrão pode ser caracterizado como uma
‘coalizão’ pela sustentabilidade do investimento com inovações, pela produtividade e pela
competitividade internacional.” (BRAGA, 2004, p. 212).
O modelo capitalista adotado pela Alemanha no pós-guerra proporcionou uma íntima
relação entre grupos de interesse econômicos e o estado de bem-estar social, que permitiu,
durante muito tempo, que a economia alemã pudesse dar grandes saltos de crescimento, no
período denominado como “milagre alemão”. Sobre isso, Braga afirma:
Nesse padrão capitalista há uma peculiar relação favorável entre salários reais
elevados, proteção social ampla e aumentos sucessivos de produtividade. Quando
ocorriam aumentos de impostos, para fazer frente a custos adicionais da política
social e da proteção ambiental, a saída era ‘aumentar a produtividade ainda mais
rapidamente do que a dos países competidores, dado que reduzir custos reduziria os
padrões de vida (BRAGA, 2004, p.213).
Além disso, a recuperação esteve ligada a subsídios pesados por parte do Estado, dada
a ligação entre mercado e Estado no modelo alemão. Isso demonstra um forte pacto entre os
grupos sociais econômicos, principalmente industriais, e as lideranças políticas. Essa
proximidade entre os setores políticos e econômicos também foram responsáveis por
transformar o país em um grande exportador mundial, passando a participação do país de
3,5% das exportações mundiais em 1950 para 12,1% em 1990 (BRAGA, 2004, p. 215). As
elites econômicas logo usariam o peso do Estado para garantir mercados internacionais e
conseguiram, de certa forma, a fazer do próprio interesse em interesse nacional, através da
disputa no âmbito da dinâmica política visto que o Estado serve aos interesses privados.
Medeiros enfatiza a postura das elites: “As elites alemãs perceberam, desde a reconstrução do
pós-guerra, que os seus interesses nacionais seriam muito melhor atendidos subsumidos num
discurso e numa prática eminentemente europeia, tal como historicamente construída pelo
Tratado de Roma.” (MEDEIROS, 2004, p.156).
O processo de paz que se seguiu após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa
esteve diretamente ligado à aproximação daqueles que eram, desde o século XIX, os maiores
2
(BRAGA, 2004, p. 212).
58
inimigos dentro do continente: Alemanha e França. Os Estados Unidos usariam sua influência
hegemônica na Europa Ocidental para impulsionar iniciativas de integração regional que
pudessem manter as elites europeias no seu lugar e, ao mesmo tempo, contrabalancear o
avanço do comunismo na Europa. É nesse contexto de reconstrução e reinserção europeia
para fazer frente à União Soviética que surge a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,
em 1951, de iniciativa francesa mas que precisou de aprovação do poder hegemônico, que
ocorreu na esteira do aumento das tensões com os soviéticos a partir de 1949 (BANDEIRA,
2000, p. 121) A CECA possuía, desde o início, características que agradavam aos interesses
do poder hegemônico. Como bem definido por Osório:
(...) a via liberal-institucional foi a saída adotada pelos Estados da Europa Ocidental.
A solução foi imposta e convenientemente aceita pelas elites locais. Ao mesmo
tempo em que este movimento subordinou o destino da porção ocidental do
continente à estratégia estadunidense, com isto, se mantiveram no poder as
burguesias nacionais. O regionalismo europeu constituiu-se, assim, fundado na
ideologia político-econômica liberal (OSÓRIO, 2014, p.3).
A CECA não foi a primeira iniciativa unicamente europeia de cooperação regional que
surgiu no período pós-guerra.3 Diversas outras iniciativas regionais surgiram nesse período,
mas a CECA é o embrião do que veio a se tornar a União Europeia, por isso nossa especial
atenção a ela. A iniciativa para controlar a produção franco-germânica de carvão e aço –
essenciais para a máquina de guerra de seus países – por uma instituição regional foi tomada
pelo ministro francês Robert Schuman juntamente com Jean Monnet. A declaração foi aceita
por outros líderes europeus e isso abriu o caminho para a concretização de um acordo formal
(BÖHKEL, 2002, p. 42). Os líderes de França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países
Baixos e Luxemburgo reuniram-se em abril de 1951 em Paris para assinar o tratado que daria
vida à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço apesar da contrariedade britânica ao acordo.
O Tratado de Paris (1951), então, abria caminho para um processo de integração
regional sem igual no mundo que resultaria na União Europeia como nós a conhecemos hoje.
A CECA se estabeleceu como a primeira organização supranacional europeia que surgiu com
o intuito de controlar a produção de carvão e aço nos países-membros, bem como para
liberalizar o comércio desses insumos entre seus membros. Dessa forma, ela abriu as portas
de outras iniciativas de integração nos anos subsequentes. O passo seguinte dado pelos
3
Outras iniciativas foram: União da Europa Ocidental (UEO - 1947); Organização Europeia de Cooperação
Econômica OECE – (1948); e Conselho da Europa (1949). (BÖHLKE, M. 2002, p. 40).
59
membros da CECA foi a criação de duas comunidades regionais, uma voltada para a área
econômica e outra para a segurança/energia. Por iniciativa holandesa, estudou-se criar um
mercado comum que normalizasse as relações comerciais dos países membros da CECA - e
possibilitasse abrir o mercado comum para além do carvão e do aço - e uma agência de
vigilância atômica, de importância estratégica na época.4 Assim, em 1957, os Tratados de
Roma assinados pelos membros da Comunidade do Carvão e do Aço ratificaram a criação da
Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica
(EURATOM). Ambas constituíam instituições separadas da CECA e funcionaram por um
tempo em paralelo e, juntas, elas se transformariam nos pilares da integração regional
europeia. 5
O sucesso relativo em torno da CECA fez com que os europeus logo se
entusiasmassem em ampliar o mercado comum limitado que havia se criado no começo da
década de 1950. Além disso, também era de interesse desses Estados ampliar a segurança
energética regional para além do carvão, abrangendo também a energia atômica. Nesse
sentido, criaram-se em 1957 nos Tratados de Roma duas comunidades distintas para lidar com
os temas diversos: a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia
Atômica (comumente chamada de EURATOM). A primeira era responsável por estabelecer
um mercado comum europeu com taxas alfandegárias externas aos países da região em
comum, uma política agrícola comum, políticas comuns relativas à infraestrutura de
transporte e circulação de trabalhadores, entre outros. A segunda se destinaria a: buscar a
independência energética através do uso da energia nuclear; promover a cooperação regional
no desenvolvimento e utilização da energia nuclear; um mercado comum de equipamentos
nucleares; estabelecer normas de segurança comuns; e garantir que a energia atômica não
seria usada para fins militares.
Apesar da contraposição britânica e tentativa de boicote à integração regional em torno
das CE e de um mercado comum, que levou o Reino Unido a criar a Associação Europeia de
Livre Comércio (1960) - que abrangia Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Noruega, Áustria,
Suíça e Portugal e que recebeu a adesão de Finlândia (1963) e Islândia (1970), sendo,
4
Além da importância energética que a questão nuclear emergente trazia, em meados da década de 1950 o Reino
Unido obteve tecnologia para desenvolver bombas nucleares, somando-se com os Estados Unidos (1945) e a
União Soviética (1949) que já havia antes.
5
“... a construção da institucionalidade comunitária operou-se sob dois eixos basilares: o fomento de um
mercado comum (livre circulação de bens, serviços e capitais), como forma de priorizar os interesses dos capitais
regionais e internacionais, e a mescla da economia política liberal com premissas heterodoxas, próprias do
modelo de bem-estar social, como preocupações com o pleno emprego, crescimento econômico, correção das
assimetrias estruturais e expansão das garantias sociais e trabalhistas.” (OSÓRIO, 2015, p. 70).
60
portanto, mais promissor por abrigar um conjunto maior de países - são as Comunidades
Europeias que atraem o interesse do restante da Europa em um projeto comunitário mais
interessante, e a AELC perdeu importância porque a maior parte de seus membros entraram
nas Comunidades Europeias. Em 1967 o Tratado de Merger fez com que as três comunidades
existentes fossem assimiladas e se transformassem nas Comunidades Europeias (CE) ao
combinarem as instituições da CECA e da EURATOM com as da CEE, por esta ser mais
abrangente, compartilhando agora a mesma corte e assembleia. O caráter supranacional da
CECA não foi adotado no âmbito das CE por contraposição, sobretudo, da França por
considerar que estava abrindo mão demasiadamente da sua soberania. Restou a Alemanha,
Países Baixos e Itália aceitar as demandas francesas (BÖHKEL, 2002, p. 42).
Do momento da criação das Comunidades Europeias até o Tratado de Maastricht que
criou a União Europeia, as CE passaram por quatro processos de alargamento. Em 1973, após
ter a candidatura rejeitada pela França na década de 1960, o Reino Unido é aceito para
integrar as Comunidades, junto com a República da Irlanda e o Reino da Dinamarca. O
segundo alargamento ocorre em 1981, momento no qual a Grécia é aceita como membro
pleno. O terceiro ocorre em 1986, com a adesão de Portugal e Espanha. E o quarto, e último,
foi a adesão da ex-Alemanha Oriental em 1990 depois de sua anexação pela República
Federal Alemã. Durante esse período conquistas importantes puderam ser alcançadas, como:
as primeiras eleições diretas para o Parlamento Europeu, em 1979; o acordo de livre
circulação de pessoas dentro das CE sem a necessidade de passaporte, conhecido como
Acordo de Schengen, em 1985; e o Ato Único Europeu que comprometia os seus membros a
aprofundarem a integração com o objetivo de criarem um mercado comum e a integração
monetária. O próximo grande passo é o Tratado de Maastricht (1992) que criou a União
Europeia, estabeleceu a cidadania europeia e o compromisso com a união monetária em torno
de uma moeda comum para o bloco, o euro (SOUSA, 2013).
2.3)
AS
ALTERAÇÕES
DA
ESTRUTURA
INTERNACIONAL
CAPACIDADES MATERIAIS DOS ESTADOS EUROPEUS.
E
DAS
61
Durante as décadas de 1970 e 1980 dois processos levariam os Estados europeus a
buscar maior autonomia regional: a retomada da hegemonia americana – dólar-flutuante
(1973) e choque dos juros (1979) – e a derrocada da União Soviética – Perestroika e Glasnot.
Esses dois processos se somariam à nova postura dos Estados europeus após a consolidação
da sua recuperação da destruição de guerra nos aos 1960, que permitiu que esses países
tivessem maior peso nos processos de decisão internacional. O sistema bipolar da Guerra Fria
impulsionou, em certa medida, as iniciativas de integração europeia com grande apoio do
poder hegemônico dos Estados Unidos ainda na década de 1940. Os países europeus
receberam grandes aportes de moeda norte-americana para a sua reconstrução e, por outro
lado, ficaram isentos de adotar a conversibilidade de suas moedas de acordo com o padrão
dólar-ouro definido pelo Sistema de Bretton Woods. O resultado foi bastante favorável aos
países da Europa Ocidental porque permitiu certa autonomia monetária que o restante do
mundo não dispunha, possibilitando que seus setores produtivos industriais tivessem bastante
êxito na competitividade externa, alçando as economias europeias a períodos de vertiginoso
crescimento econômico, o exemplo principal desse momento foi o milagre alemão que já
discutimos (OSÓRIO, 2014). Em meados da década de 1950, portanto, as economias
europeias já estavam maturadas e já haviam superado os níveis de seus produtos internos
brutos anteriores à Segunda Guerra (SANTOS, 2000).
Neste contexto, ao perceber a debilidade competitiva de suas indústrias em relação às
europeias, os Estados Unidos rapidamente passaram a pressionar os europeus a adotarem o
padrão dólar-ouro e o sistema de Bretton Woods. O fim da União Europeia de Pagamentos e
da entrada em vigência dos Tratados de Roma em 1958 marcou também o reconhecimento
pelos europeus do Fundo Monetário Internacional e a inevitável adesão ao padrão monetário
centrado no dólar e, assim, a Europa Ocidental passou a estar vinculada à restritiva financeira
arquitetada pelos EUA desde o final da Guerra (OSÓRIO, 2014). No entanto, não demoraria a
que os europeus começassem a pressionar esse sistema antagônico. As políticas restritivas do
balanço de pagamentos não condiziam com as políticas expansionistas estadunidenses que,
com gastos militares nas alturas, não conseguia controlar sua conta corrente, sendo altamente
deficitária durante a década de 1950 e 1960. Nesse sentido, Luiz Felipe Brandão Osório
elucida os fatos:
A desconfiança coletiva nos rumos do padrão dólar, motivada pelos constantes
déficits no balanço de pagamentos estadunidense, justifica-se ante a evidente
insuficiência de lastro do dólar em relação ao ouro, uma vez que após o
62
espraiamento dos investimentos e das ações bélicas dos Estados Unidos pelo mundo
eram contraditórias à austeridade e o ajuste automático imposto por Bretton Woods
(OSÓRIO, 2014, p. 69).
Ao ficarem evidentes as contradições desse sistema, os bancos logo passaram a manter
reservas em moedas estrangeiras que não o dólar, com o medo da insolvência daquela moeda,
determinando a desestabilização do padrão monetário-financeiro. Rapidamente a hegemonia
americana, que era ancorada no padrão dólar-ouro, passou a ser questionada pelos seus
parceiros ocidentais, levando os aliados a desentendimentos sobre as questões monetárias e,
assim, muitos desses países e investidores privados (europeus e americanos) preferiram
vender dólares e negociar em moedas do Euromercado (OSÓRIO, 2014). A especulação em
torno da moeda americana e a consequente contestação da hegemonia dos Estados Unidos
marcou a derrocada dos acordos celebrados em Bretton Woods. Os problemas decorrentes da
limitação que o controle de pagamentos impunham, as políticas expansivas de Washington e a
crise monetária fizeram com que os Estados Unidos rompessem unilateralmente com os
acordos monetários de Bretton Woods em 1971. Como salienta Wagner W. Souza:
Apesar de seus privilégios, os Estados Unidos no padrão dólar-ouro não podiam
desvalorizar o dólar, qualquer desvalorização, para melhorar a competitividade
americana, seria anulada por desvalorizações paralelas do iene, da libra, do marco,
etc. A recuperação da força econômica dos aliados e de sua competitividade
colocava-se também como desafio aos Estados Unidos. Em 1971 havia um grande
desequilíbrio entre a taxa de câmbio americana e a de seus parceiros comerciais. A
partir desta percepção e da reorientação da política econômica para um perfil mais
nacionalista e bem menos cooperativo para com os seus aliados o Presidente Richard
Nixon então suspende a conversibilidade do dólar em ouro, transformando o dólar
na referência exclusiva do sistema monetário internacional e preservando a
supremacia americana na finança internacional (SOUSA, 2013, p. 13).
Assim, portanto, o começo da década de 1970 é marcado por uma inflexão truculenta
da política externa norte-americana, marcadamente pelo viés monetário, buscando eliminar as
restrições advindas do padrão dólar-ouro e recuperando a supremacia financeira com o padrão
dólar-flutuante. Nesse sentido, os Estados Unidos estavam lançando uma investida contra as
moedas europeias e marcaram a vulnerabilidade das economias europeias a partir desse
momento. A estrutura do sistema internacional bipolar que garantia a estabilidade monetária e
econômica dos países da Europa Ocidental a partir do padrão dólar-ouro foi alterada contra os
interesses dos europeus. Como resultado, o contexto externo passou a ser muito mais adverso
e instável, abalando as economias europeias e se tornando uma ameaça a esses países.
63
Portanto, apesar de creditarem aos Estados Unidos a defesa coletiva do Ocidente via OTAN,
os países europeus logo puderam perceber que o poder hegemônico defendia seus interesses
individuais em outros assuntos à revelia das posições europeias e dos outros aliados dos
estadunidenses. Essa percepção permitiu que muito rapidamente aquele que tinha sido amplo
apoiador da reconstrução, reinserção e integração europeia fosse visto como uma ameaça à
essas economias, visto que a qualquer momento os Estados Unidos poderiam optar por
políticas que desfavorecessem os países europeus. Como resultado à investida norteamericana, a Europa dos Seis rapidamente buscou alternativas para resistir às ameaças dos
Estados Unidos. Dada a inevitabilidade da adoção do padrão dólar-flutuante, a forma de
resistência encontrada pelos países europeus se deu através de maior integração regional para
que eles pudessem responder em conjunto à atribulações do sistema internacional.
Os Estados europeus só puderam buscar soluções para resistir às investidas norteamericanas porque seu papel subalterno no sistema havia se alterado. Se por um lado se
constituíam de um conjunto de países destruídos pela guerra, com lideranças políticas
contestadas internamente e com o exército soviético em suas portas de entrada no final da
década de 1940 e, assim, rapidamente correram para debaixo das asas dos Estados Unidos, na
década de 1970 os países europeus já haviam se recuperado, já viviam uma estabilidade
política e social graças aos programas de assistência social do estado de bem-estar e a ameaça
militar soviética parecia cada vez mais distante desde a política da Coexistência Pacífica a
partir de fins dos anos 1950. Nesse sentido, os europeus podiam negociar em outros termos
com os Estados Unidos e não se viam obrigados a aceitar todas as políticas de Washington.
Assim, a alteração nas capacidades materiais da Europa Ocidental permitiu que esses países
pudessem, apesar de obrigados a adotar o dólar-flutuante, buscar alternativas regionais de
resistência a esse modelo. O primeiro resultado desse processo foi o Acordo de Basileia de
1972, no qual os bancos centrais dos seis Estados-membros das CE trabalhavam em conjunto
para determinar uma flutuação controlada do câmbio com intervenções coordenadas dos
bancos centrais que ficou conhecido como Serpente Monetária (OSÓRIO, 2014).
O contexto da reconstrução europeia e de seu novo peso nas negociações
internacionais é determinante para o processo que levaria ao aprofundamento da integração
regional. A década de 1960 é marcada pela relativa estabilidade no panorama europeu que
possibilitou alterações na dinâmica política interna desses países a fim de alterar os interesses
nacionais. No panorama alemão, enquanto a Coexistência Pacífica acalmava as tensões em
torno de uma investida militar soviética, a construção do Muro de Berlim dificultava as
64
relações diplomáticas, principalmente porque até o final da década a República Federal Alemã
não reconhecia a República Democrática Alemã como Estado, apenas como zona ocupada. O
desgaste do governo Adenauer gerado a partir das distensões provocadas pela Crise dos
Mísseis de Cuba e do Muro de Berlim fizeram com que a coligação CDU-CSU de Adenauer a
obterem apenas 45% nas eleições do Bundestag em 1961. Buscando manter-se no poder, o
chanceler procurou por um entendimento com os liberais do FDP para formar um coligação
mais ampliada. No entanto, esse entendimento lhe custou caro pelo motivo de que o FDP
representava, sobretudo, a elite industrial exportadora e homens de negócios que
enriqueceram durante o período do milagre alemão com enxurradas de capitais norteamericanos.
(BANDEIRA,
2000).
Esses
grupos
sociais
específicos
representados
politicamente por um partido pressionaram Adenauer a rever sua política exterior,
principalmente aquela relativa aos países do leste europeu, para que a RFA pudesse
normalizar suas relações com os países sob a órbita da URSS a fim de ampliar o comércio
exterior, o que era obstaculizado pela política de não reconhecimento que prevaleceu até
então da Hallstein Doktrin.
Os liberais entendiam que a doutrina de não-reconhecimento implicava em sérios
prejuízos para a RFA ao impossibilitar missões e relações comerciais, impedindo que a RFA
pudesse exportar para os mercados do leste europeu. A saída encontrada por Adenauer foi
buscar soluções para o impasse, chegando a cogitar colocar o próprio Hallstein na chefia da
Política Exterior Alemã, que foi recusado pelo FDP. Mesmo contra sua vontade, Adenauer
indicou Gerhard Schröder para o cargo e acabou renunciando pouco tempo depois. Como
demonstra Luiz Alberto Moniz Bandeira:
Em 15 de outubro de 1963, porém, o próprio Adenauer renunciou ao posto de
chanceler federal, devido às pressões tanto de forças econômicas e políticas internas
quanto do próprio Kennedy, que pretendia força-lo a rever sua política exterior,
aceitando o status quo, i. e., a divisão da Alemanha, o Muro de Berlim e a linha de
fronteira sobre o Oder-Neisse, afim de que os EUA e a URSS pudessem alcançar um
entendimento. (BANDEIRA, 2000, p. 135).
A queda de Adenauer abriu caminho para a reaproximação com o leste. Nesse período,
a RFA já era o maior parceiro comercial ocidental da Tchecoslováquia, iniciando ainda
conversas para o restabelecimento das relações diplomáticas. Ainda, entre 1963-1964, em
busca de abrir novos mercados graças a reorientação dos interesses nacionais a partir da
ascensão do FDP, a RFA foi levada a firmar acordos para o estabelecimento de missões
65
comerciais com a Polônia, a Romênia, a Hungria e a Bulgária. Já a RDA mantinha dois
escritórios comerciais para o comércio interzonal, um em Frankfurt e outro em Düsseldorf. A
grande coalisão SPD-CSU/CDU que levou Brandt ao posto de chanceler federal em 1969
tratou de enterrar a Hallstein Doktrin e a estabelecer a Ostpolitk.
Ainda na década de 1960, o então Ministro de Negócios Estrangeiros (1966-1969) da
RFA Willy Brandt tomou iniciativas de reaproximação com os países do Leste europeu. Essa
reaproximação com o leste estava nos interesses do FDP (Freie Demokratische Partei) e do
Partido Social-Democrata (SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands) e ganhou força
após a queda de Konrad Adenauer (1949-1963). Em 1966, o partido de Brandt se aliou ao
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) e à CSU (Christlich-Soziale Union in
Bayern). A política para o leste (Ostpolitik) ganhou força quando Brandt veio se tornar o
Chanceler Federal (Bundeskanzler), em 1969. Sobre a dinâmica política partidária alemã
naquele momento em relação à Ostpolitk, Wagner Sousa afirma que:
Em seus primeiros movimentos, contudo, a Ostpolitik enfrentou críticas e
desconfianças por
parte
dos Democratas-Cristãos (CDU)
e
de
círculos
conservadores. Brandt consegue impulsionar esta política de fato quando, como
Chanceler, não mais precisa da coalizão com a CDU aliando-se então aos liberais do
FDP (SOUSA, 2013, p.19).
O projeto da reunificação, portanto, apesar de previsto constitucionalmente pela Lei
Básica do Estado Federal Alemão, deve sua conclusão ao engajamento de grupos específicos
na alta cúpula do Executivo, como os partidos SPD e o FDP, que representava os industriais
exportadores alemães com muito interesse em ampliar os mercados para os produtos alemães.
A política de reaproximação com o Leste a partir de 1966 contrasta com a adotada até então,
baseada na Hallstein Doctrine, segundo a qual a RFA não manteria relações diplomáticas com
a RDA e qualquer Estado que mantivesse relações com ela. Luiz Felipe Brandão Osório
resume bem do que se tratava a Doutrina: “(...) conhecido como Doutrina Hallstein, cujos
princípios basilares remetiam ao não reconhecimento da zona de ocupação soviética como
Estado nacional e à defesa do princípio da representação única, como se somente a porção
ocidental correspondesse ao originário Estado alemão.” (OSÓRIO, 2010, p. 4). Conforme
Wagner W. Sousa, essa política possuía fortes contraposições na RFA:
A Hallstein Doctricne passa a ser vista pelos círculos dirigentes alemães como
limitadora do escopo de ação externa do país. Também o empresariado alemão
enxergava a Hallstein Doctrine como obstáculo para os seus negócios, pois impedia
66
exportações para a Alemanha Oriental e também para Tchecoslováquia, Hungria,
Polônia, Iugoslávia, Romênia e Bulgária, além da própria União Soviética (SOUSA,
2013, p. 19, grifos do autor).
Dessa forma, fica claro que o processo de reaproximação com a RDA fazia parte dos
interesses de grupos políticos e econômicos na Alemanha, que reorientaram os interesses e as
políticas nacionais para atenderem aos próprios interesses, principalmente os econômicos.
Assim, portanto, percebemos que de acordo com a contribuição de Moravksic e Putnam,
grupos privados internos ajudaram a determinar os interesses nacionais de acordo com seus
próprios interesses. Esses interesses eram, em grande medida, econômicos, visto que as
relações comerciais foram favorecidas no bojo da Ostpolitik. Esse fato demonstra o poder que
grupos sociais de grande poder econômico podem gerar influência na política a fim de
reorienta-la para atender os seus interesses como “interesses nacionais”, principalmente
grupos industriais exportadores. Nesse sentido, portanto, a aproximação com o leste se traja
de interesse nacional quando, na verdade, faz parte dos interesses de grupos sociais
específicos.
A aproximação com o Leste não foi aceita unanimemente pelos parceiros europeus,
nem pelos Estados Unidos. Fazer essa reorientação da política exterior ser aceita pelos outros
países que formavam o bloco ocidental capitalista está ligado à limitação de atuação
internacional da Alemanha, como Estado de soberania limitada, principalmente pelo poder
hegemônico. O passo dado pela Alemanha para amenizar os temores dos seus aliados foi
impulsionar
a
integração
regional
para
fortalecer
o
seu
compromisso
com
o
intergovernamentalismo europeu frente aos seus pares e demonstrar que ela continuaria
engajada na aliança atlântica e na proximidade ocidental. O resultado é a aceitação, por parte
da Alemanha, da entrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia. 6 Nesse
sentido, portanto, a política interna alemã foi influenciada pelos interesses franceses para
aceitar o Reino Unido no bloco, enquanto que os franceses se viram obrigados a aceitar a
política para o leste dos alemães. Certamente, a entrada dos britânicos trouxe mudanças na
instituição, como defendido pelo modelo teórico anteriormente desenvolvido, e influenciaria
os futuros acordos regionais no âmbito comunitário em assuntos como as relações com o
Leste e a integração regional. Outro resultado desse processo de mais integração regional para
apaziguar seus aliados ocidentais pela Alemanha foram os acordos assinados em Haia, em
6
A entrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia era defendida pela França para balancear o
poder adquirido pelos alemães, que terminaram abrindo as portas para a entrada britânica (SOUSA, 2013).
67
1969, nos quais se determinou, entre outras coisas, a criação de uma União Econômica e
Monetária europeia que traria como resultado, na década de 1990, a Moeda Comum, o Euro.
Assim, mais uma vez, retomamos o modelo teórico desenvolvido neste trabalho. França e
Alemanha auto-influenciaram uma à outra para que os interesses pudessem convergir e isso
possibilitou que as negociações em torno da entrada Britânica pudessem avançar ao mesmo
tempo em que o aprofundamento da integração ganhou um horizonte e as relações com o leste
se normalizariam (SOUSA, 2013).
Como menciona Osório: “O estreitamento de relações comerciais com Leste Europeu
e o reconhecimento da República Democrática Alemã como Estado-nação, reduziu as tensões
dentro do território germânico e pavimentou os caminhos para os posteriores entendimentos
voltados à unificação.” (OSÓRIO, 2010, p. 5). O processo foi impulsionado por tratados
internacionais que visavam essa aproximação e propendiam conseguir o aval, principalmente,
das duas superpotências, processo que se tornou possível graças à assinatura de tratados
como: Tratado de Moscou (1970); Tratado de Varsóvia (1970); Acordo das Quatro Potências
(1971); e Acordo Base (1972).
A estrutura do sistema internacional continuava sendo bipolar, e a União Soviética
continuava representando a outra força poderosa desse sistema. A normalização das relações
com os países do leste a partir da década de 1960 acalmou as distensões com os soviéticos. Na
década de 1980, além do choque dos juros dos Estados Unidos, outro processo promoveu a
reorganização dos interesses europeus e da estrutura da sua instituição internacional: a
derrocada do sistema comunista na União Soviética. Impossibilitados de concorrer com os
norte-americanos na Guerra nas Estrelas e debilitados pelo conflito no Afeganistão (19791989). Já em meados da década de 1980 o governo soviético se lançou em um programa de
abertura econômica e política, conhecido respectivamente como Perestroika e Glasnot, que
possibilitou a abertura em diversos países do leste europeu (SOUSA, 2013). Esse programa
previa, também, a redução dos gastos militares soviéticos, que induziriam ao fim da guerra
com o Afeganistão. O enfraquecimento soviético nos anos 1980 marcaria, para a Alemanha,
momento importante no processo que levou à reunificação.
A anexação da banda oriental foi determinante para dar base para o crescimento
alemão dentro do sistema europeu de Estados. No entanto, deve-se lembrar que a ideia de uma
Alemanha reunificada não tem início no processo que levou ao fim da antiga União Soviética
na década de 1980, mas é algo que está calcado na formação da própria República Federal
68
Alemã nos princípios do pós-guerra, e nos acordos dos países vencedores da guerra, que
previam a possibilidade de reunificação nos tratados que precederam a guerra. A reunificação
é cláusula constitucional da RFA desde a sua formação no período pós-guerra quando se
unificaram em um Estado único as zonas de ocupação dos aliados ocidentais (França, Reino
Unido e Estados Unidos). O artigo 23 da Lei Básica alemã abre a possibilidade de outras
partes da Alemanha de se unirem à República Federal (sob a Constituição da República
Federal da Alemanha); e o artigo 126 prevê a possibilidade da unificação de todas as partes da
Alemanha sob uma nova constituição. Sobre a constituição alemã, Peter Quint afirma que:
“(...) article 23 contemplated the possibility that ‘other parts’ of Germany would join the
Federal Republic, and article 146 provided that the Basic Law would lose its effectiveness
when a constitution ‘chosen by the German people in a free decision’ came into effect”
(QUINT, 1991, p. 481). A RDA seria anexada de acordo com o artigo 23. Nesse sentido,
portanto, a reunificação é um processo que se inicia antes mesmo dos anos 90.
Contudo, apesar do sucesso do processo de reaproximação com o Leste durante os
anos 70 e 80, é a abertura soviética que vai, enfim, possibilitar a concretização da reunificação
alemã, com o consentimento dos Aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial (França,
Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos).7
Em setembro de 1989, na esteira das reformas soviéticas (Perestroika e Glasnost) sob
o comando de Mikhail Gorbachev para superar a crise que o bloco socialista vivenciava na
década de 1980 e de outras articulações políticas e sociais em diversos países do leste
europeu, o que ficou conhecido como Revolução Pacífica tomou as ruas de Berlim Oriental.
Um enorme contingente de berlinenses orientais saiu às ruas para clamar pela abertura do
Muro de Berlim meses antes das primeiras eleições diretas na Alemanha Oriental. Esse
movimento ganhou notoriedade e tamanho depois que a Hungria promoveu a abertura de suas
fronteiras com a Áustria e se tornou a primeira rota entre o Leste e o Ocidente na Europa, rota
7
A França tentou boicotar a reunificação com receios quanto ao poder e influência que a Alemanha ganharia no
leste com o vácuo de poder deixado pela União Soviética. “Apesar dos compromissos entre França e Alemanha
(...) Paris entendia que os entendimentos entre as duas Alemanhas sobre a reunificação, (...) a colocariam em
condição de grande desvantagem na política europeia. Os meses seguintes seriam de difíceis relações entre os
governos francês e alemão pelas disputas acerca dos rumos da reunificação alemã. Miterrand, por sua vez, reagiu
a estes movimentos com discursos e atitudes que esboçaram uma estratégia de resistência à reunificação. O
encontro de Miterrand com Gorbachev em Kiev, em 6 de dezembro de 1989, e a visita do líder francês à
Alemanha Oriental, também em dezembro de 1989 e nos mesmos dias da primeira visita de Kohl à Alemanha
Oriental, com discursos do líder francês favoráveis à ‘autodeterminação’ do povo alemão, todavia cobrando que
se levasse em consideração o ‘equilíbrio europeu’, geraram grande insatisfação entre os alemães. No início de
1990 embora se dissesse favorável à reunificação e ao processo de unificação monetária entre as divisas das duas
Alemanhas, Miterrand colocou-se ao lado da liderança polonesa e destacou o respeito à fronteira entre Alemanha
Oriental e Polônia como condição para a concretização da reunificação.” (SOUSA, 2013, p. 78).
69
que muitos alemães orientais usaram para visitar ou fugir para a Alemanha Ocidental. O
Partido Comunista saiu do poder e a abertura das fronteiras com o Oeste puderam se tornar
críveis. Passando por cima dos fatos cronológicos que levaram à abertura e buscando
sintetizar o decorrer dos fatos, as eleições de 1990 na RDA sob a coalizão oposicionista
“Aliança para a Alemanha”, cuja liderança era do CDU do Leste, abriram o caminho para a
reunificação. Em fevereiro de 1990, Helmut Kohl, então Chanceler Federal da RFA, visitou
Moscou para garantir que a União Soviética não se oporia a uma possível reunificação alemã.
Kohl saiu de Moscou com as garantias que precisava, mas com contrapartidas em mãos.
As contrapartidas exigidas estabeleciam que a Alemanha deveria renunciar aos
territórios além da linha dos rios Oder-Neisse, que dividiam os territórios do antigo Império
Alemão, do III Reich e da antiga Prússia, reconhecendo essas regiões como partes dos
territórios da Polônia e da Rússia – no caso de Kalliningrado – reconhecendo, assim, as
divisões territoriais do pós-guerra e pesados investimentos na economia russa, que passava no
momento pelo período de reforma (BANDEIRA, 2000). Theotônico dos Santos ressalta a
quantia investida pelos alemães na União Soviética para garantir o aval soviético: “(...) a
orientação dos marcos alemães para a União Soviética no princípio da década de 1990, tendose comprometido a investir 200 bilhões de dólares neste país, em troca do apoio soviético à
unificação alemã.” (SANTOS, 2000, p. 231).
Além do aval soviético, os alemães tiveram que negociar com seus parceiros
comunitários, França e Reino Unido, e com os Estados Unidos, o poder hegemônico. Aos
europeus, a Alemanha cedeu em prol dos interesses daqueles Estados para garantir o sinal
positivo à reunificação, tendo se comprometido em aprofundar a integração regional através
da união econômica e monetária através de novo tratado que lançaria a União Europeia (de
interesse francês) e de, nesse tratado, impulsionar a liberdade de mercadorias e capitais no
bloco (de grande interesse britânico). Além disso, se comprometeu em investir nos antigos
Estados comunistas usando sua força econômica (SOUSA, 2013). Aos norte-americanos, a
Alemanha reforçou seu compromisso com a OTAN e a Aliança Atlântica, garantindo a
permanência das tropas norte-americanas estacionadas sobre território alemão (BANDEIRA,
2000).
Em maio de 1990, Kohl conseguiu assinar um tratado com a RDA de união social e
econômica, segundo o qual a reunificação ocorreria de acordo com as disposições do artigo 23
70
da Constituição Federal.8 O tratado de reunificação foi assinado em 31 de agosto de 1990, que
foi aprovado por ambos os parlamentos da RFA e da RDA em 20 de Setembro do mesmo ano.
E em 3 de outubro a República Democrática Alemã deixou de existir e seu território foi
anexado à República Federal Alemã na forma de 5 novos Länders.9 Berlim Ocidental e
Berlim Oriental também foram unificadas como uma única cidade e se tornou a capital oficial
da Alemanha reunificada mais tarde, em 1998.
Os resultados obtidos pelo processo de reunificação logo puderam ser sentidos. A falta
de conversão e paridade 1:1 das moedas das duas Alemanhas (contrariando as orientações do
Bundesbank) representou um baque no orçamento do país. Os custos estatais do oriente
convertidos diretamente em marcos alemães ocidentais aumentaram o déficit público
alemão.10 As transformações na sociedade e na economia alemã resultantes da queda do Muro
comprometeram a liderança de Kohl e seu partido Democrata-Cristão (CDU), visto que as
reformas que buscavam deteriorar os direitos sociais e trabalhistas da população trouxeram
insatisfação. O aumento salarial para os alemães orientais que a política de paridade 1:1 gerou
não foi suficiente para manter o governo graças ao desemprego crescente e à queda da
atividade econômica nos cinco novos estados decorrentes da unificação monetária, isto
porque o setor empresarial oriental não podia competir com o setor empresarial ocidental
(BANDEIRA, 2000).
Além disso, o esforço econômico necessário a fim de elevar o padrão social e
econômico dos alemães orientais aos níveis dos alemães ocidentais custou, só na década de
1990, mais de US$ 750 bilhões de dólares em forma de investimento e transferência de renda
do oeste para o leste. Christian Lohbauer nos dá uma dimensão dessas transferências: “Desde
1991 mais de US$ 750 bilhões foram investidos nos cinco novos Estados, representando uma
parcela muito grande da arrecadação federal. (...) As transferências representam cerca de 4%
do PIB ao ano.” (LOHBAUER, 2000, p. 304). As dificuldades sociais e econômicas
associadas ao processo de reunificação associadas ao processo de alargamento da UE para o
leste, como veremos no próximo capítulo, dariam margem para a futura reforma trabalhista
alemã nos anos 2000, que ajudaram a baratear a mão-de-obra em toda a Alemanha e gerou
8
Nesse sentido, a RDA deveria aceitar as disposições constitucionais da RFA.
Os estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia, Alta Saxônia, Turíngia e Brandemburgo.
10
Como foi demonstrado por Theotônio dos Santos: “De um lado, deu origem à destruição massiva das unidades
econômicas aí instaladas, inviabilizadas pela adoção arbitrária do marco como moeda obrigatória sem a devida
transição. De outro lado, o custo do aparato estatal da Alemanha Oriental, já bastante grande, foi elevado
absurdamente com a transformação do seu orçamento convertido em nenhum mecanismo de transição aos
valores em marco. Isso gerava, evidentemente, um custo extremamente elevado para o erário público e elevava
dramaticamente o problema do déficit público.” (SANTOS, 2000, p. 254).
9
71
precarização dos direitos trabalhistas, representando uma vitória dos patrões frente aos
trabalhadores com a desculpa da retomada da competitividade, tema que abordaremos mais
tarde.
Do ponto de vista geopolítico, a reunificação representou um importante acerto
estratégico de fortalecer a Alemanha no âmbito regional e global. Ele seria determinante para
a força e importância que a RFA desempenharia no âmbito da União Europeia, da Zona do
Euro e dos Estados do Leste posteriormente absorvidos na gravitação europeia ocidental. De
acordo com Lohbauer: “Depois da unificação a República Federal da Alemanha se
transformou em um novo país. Seu território aumentou cerca de 30%, sua população 25%
(16,5 milhões de alemães orientais) e seu produto nacional em cerca de 15%.” (LOHBAUER,
2000, p. 302).
Esse processo é acompanhado por um afastamento gradual da hegemonia americana
que, com o desmonte da União Soviética se tornou a superpotência hegemônica em um
mundo unipolar no qual a Europa não se constitui mais do centro da disputa ideológica. Nesse
sentido, a redução dos contingentes da OTAN na Europa e a perspectiva de liberalização dos
mercados mundiais em torno da globalização fazem com que os Estados Unidos adotem, a
partir daquele momento, uma postura mais globalista, dando margem para a emancipação
europeia, reduzindo a influência hegemônica e abrindo espaço para que outras forças
regionais ocupem o vácuo ali deixado (BANDEIRA, 2000). É no bojo desse processo que a
reunificação se constitui como o primeiro passo para a conquista da liderança alemã como
uma potência com preponderância regional, pelo menos dentro da União Europeia, porque o
poder hegemônico global se afasta do âmbito europeu.
Frente aos seus pares europeus, a Alemanha ganhou um peso ainda maior nos
processos de barganha e negociação em âmbito regional graças ao incremento de suas
capacidades gerados a partir da reunificação, principalmente frente ao seu sócio mais próximo
e concorrente, a França, bem como outra potência europeia: o Reino Unido. As relações só
voltariam a se normalizar depois do processo de reunificação estar concluído. No caso
britânico, só depois que Margaret Thatcher deixasse o cargo de primeira-ministra. Wagner
Souza elucida esse momento: “A partir da ascensão de John Major ao cargo de PrimeiroMinistro da Grã-Bretanha, alemães e britânicos viveriam melhores relações, depois dos
problemas diplomáticos gerados pela decidida resistência de Thatcher à reunificação da
72
Alemanha.” (SOUSA, 2013, p. 83). O momento da reunificação é também um momento de
oposição franco-alemã. Wagner Sousa enfatiza essa rivalidade:
A Alemanha estava preocupada em estabilizar e expandir sua zona de influência
para a Europa Oriental e a França determinada em evitar que o parceiro ocupasse
(ou ao menos evitar que ocupasse sozinho) o espaço deixado no Leste Europeu com
a queda da União Soviética. O ambiente geopolítico que havia vigorado nas décadas
precedentes havia se alterado dramaticamente. Sem a presença da União Soviética e
de seus satélites na Europa Oriental o equilíbrio de poder entre França e Alemanha
havia pendido para os alemães (SOUSA, 2013, p. 76).
E esse pensamento é respaldado por Luiz Felipe Brandão Osório:
Incorporar sua porção oriental gerou, em princípio, grande esforço fiscal e monetário
para a parte ocidental. Ademais, seu fortalecimento territorial foi cercado de
negociações multilaterais e contrapartidas exigidas por seus aliados na integração
comercial, embora rivais no campo geopolítico, como França e Inglaterra. Entre as
concessões alemãs constavam a adoção da proposta francesa de uma moeda comum
para o bloco europeu, uma maior desregulamentação financeira, que atendia,
preponderantemente, a interesses ingleses, a promessa de pesados investimentos na
Federação Russa e Leste Europeu, bem como a continuação da ocupação militar,
agora exclusivamente estadunidense. O grande esforço econômico e a continuidade
das limitações políticas da Alemanha reunificada moldaram os rumos dos vetores
contemporâneos da diplomacia germânica, visto que o ganho territorial,
demográfico e político aumentaram, relativamente, a margem de manobra alemã no
cenário internacional (...) (OSÓRIO, 2010, p. 5).
O peso adquirido pela Alemanha foi tão importante que o próprio processo de
reunificação era boicotado pelos franceses. França e Alemanha representam o fator essencial
da manutenção e consolidação da integração europeia. No entanto, esse “casamento francoalemão” não é livre de divergências. Lohbauer enfatiza essas diferenças:
(...) os dois países nunca deixaram de tentar impor seu interesse nacional, cada um
de uma forma peculiar. Franceses mais explícitos, alemães menos. Os dois tentaram
e tentam transformar o interesse nacional em ‘interesse europeu’ (LOHBAUER,
2000, p. 308).
Uma Europa dividida com a Alemanha dividida maximizava a influência francesa. No
entanto, uma Alemanha reunificada tinha maior peso nas negociações europeias e mais
influência no leste do que a França graças a seu histórico político e econômico. O fim da
Europa dividida representava a ascensão alemã. Como Lohbauer lembra bem o pensamento
73
de Tiersky: “a França perdia: a habilidade dentro da Comunidade Europeia para ser a
engenheira político-diplomática da locomotiva econômica alemã.” (LOHBAUER, 2000, p.
308). Nesse sentido, portanto, a reunificação significou para a Alemanha a sua ascensão
política em âmbito europeu e o descolamento do “casamento franco-germânico”. Christian
Lohbauer, mais uma vez, ressalta as relações entre França e Alemanha na condução da União
Europeia:
Alemanha e França ainda determinam juntas as diretrizes das políticas da União
Europeia. Mas a Alemanha já não sente mais a necessidade de seguir o curso que a
França quer. Uma espécie de emancipação alemã foi conquistada durante a década
de 1990 e as bases das relações bilaterais terão que mudar (LOHBAUER, 2000,
p.308.).
Por fim, podemos perceber então que o processo de empoderamento alemão frente à
Europa está ligado, sobretudo, à reunificação da República Federal da Alemanha e da
República Democrática da Alemanha já no início dos anos 1990 e, principalmente, ao fim do
mundo Bipolar da Guerra Fria e ao afastamento do hegêmona global unipolar do âmbito
europeu, abrindo espaço para maior autonomia europeia. O peso de barganha que a Alemanha
conquistou no âmbito regional e frente aos seus pares mais poderosos como França e Reino
Unido se deve a esse processo; e a Alemanha soube usar essa nova envergadura a seu favor
nos processos de negociação da União Europeia nos anos 1990 e 2000 no que tange a
estrutura jurídica da UE, da Zona do Euro e do Alargamento da UE para o leste. Assim,
portanto, retomando o modelo teórico anteriormente desenvolvido, podemos assumir que a
Alemanha se tornou, graças à reunificação, o Estado com mais peso de decisão na União
Europeia, capaz de influenciar seus pares a adotarem suas diretrizes e a assumirem seus
interesses como interesses comuns.
Como estabelecido no modelo, os grupos sociais alemães que formam internamente os
“interesses nacionais” têm, a partir de então, maior poder de influenciar os interesses
nacionais de outros países, já que a Alemanha com suas capacidades aumentadas se torna
relativamente mais forte do que seus parceiros europeus, e isso traz consequências para os
processos de negociação internacional na União Europeia visto que o Estado com maior peso
influencia mais os Estados mais fracos do que o movimento inverso, isto porque os Estados
com maiores capacidades materiais têm maior poder de gerar influência sobre os Estados com
menores capacidades. E, desde que os Estados nada mais são do que instrumentos utilizados
para realizar os interesses de um grupo social, os interesses do grupo social mais poderoso do
74
Estado mais poderoso no regime internacional é que serão mais fortemente perseguidos. Esse
processo levará os países mais fracos a convergirem seus interesses com os interesses do
Estado mais forte, o que vai influenciar o processo de negociação e gerar mudanças na
instituição internacional. É nesse sentido, portanto, que os tratados da União Europeia
passarão a adotar posições que condizem com os interesses alemães. E é justamente na década
de 1990 que a Comunidade Econômica Europeia abre espaço para a União Europeia, em
1992. Ou seja, apenas dois anos após a reunificação da Alemanha. Veremos a seguir as
consequências das alterações no sistema internacional entre as décadas de 1970 e 1980 e das
capacidades materiais dos Estados europeus na constituição da organização regional,
principalmente o novo peso que o Estado alemão garantiria após a reunificação do país.
2.4)
FATORES
EXTERNOS
E
INTERNOS
QUE
INFLUENCIARAM
A
MANUTENÇÃO DO REGIME EUROPEU.
A crise desencadeada a partir da contestação do padrão dólar-ouro e impulsionada pelo
rompimento desse padrão pelos Estados Unidos e a imposição do padrão dólar-flutuante fez
com que se alterassem as posições europeias quanto ao papel dos EUA como um aliado tão
próximo assim. Como já discutimos, a Aliança Atlântica continuou sendo base da simbiose
ocidental durante todo esse período, mas isso não evitou que os países europeus passassem a
buscar alternativas independentes dos norte-americanos. Poderemos observar, portanto, como
se desenvolveram os processos de integração regional como reação às investidas hegemônicas
na Europa e como os países europeus responderam a ambos os processos e como eles
influenciaram alterações no panorama alemão. Primeiro, veremos como o período da década
de 1970 foi enfrentado pelos europeus através da instituição regional.
Esse momento demonstra como surgiu na cúpula de governo alemão o esforço de se
construir um espaço econômico unificado na Europa Ocidental, onde os interesses políticos e
econômicos daqueles grupos sociais que dominam e determinam o que é ‘interesse nacional’
pudessem se exercer e se realizar. Nesse sentido, portanto, podemos observar que no campo
interno, grupos sociais poderosos puderam se articular para definir o que seria o interesse
nacional do Estado e, depois de determinar qual o interesse, esse Estado poderia barganhar
75
com outros Estados, no âmbito dos Tratados europeus já em 1957, diretrizes que
favorecessem aos interesses. Contudo, vale ressaltar que esses movimentos tiveram aval dos
Estados Unidos, o poder hegemônico na época. A Comunidade Econômica Europeia era
resultado do empenho do Estado alemão, associado aos grupos sociais econômicos industriais
e exportadores, em aumentar as áreas de atuação do mercado comunitário. Sobre esse
processo, Medeiros é bem claro:
Assim, até os anos 1970, a Alemanha transmitiu, através de seu crescimento, amplo
estímulo aos países da CEE e, sobretudo com a França, construiu um dinâmico
mercado comunitário. Como resultado de sua maior articulação regional e da
inserção geopolítica da Europa no pós-guerra, o marco afirmou-se como moeda
regional e centro das relações econômicas da comunidade econômica europeia
(MEDEIROS, 2004, p. 157).
Portanto, ao ceder perante a França e aos Países Baixos o compromisso de se criar um
mercado comum através da união econômica e monetária acordado em Haia (1969) e que
gerou as Comunidades Europeias, em contrapartida à aceitação daqueles países da sua política
para o leste, a RFA estava, na verdade, impulsionando a criação de um mercado maior para os
seus produtos, de acordo com os interesses das suas elites burguesas industriais. O outro lado
da moeda, a união monetária, entretanto, não era de interesse alemão, mas eles acabaram
cedendo nessa área aos seus pares europeus.
As negociações para a união monetária europeia se iniciaram no final da década de
1960, depois do lançamento da Ostpolitik, como já mencionamos, e com a crise da economia
internacional nos moldes dos acordos de Bretton Woods e do padrão dólar-ouro, com forte
pressão dos EUA para que os europeus, antes isentos de se adequarem aos acordos, se
adaptassem ao padrão. Os europeus se tornaram, nesse período, os maiores concorrentes dos
americanos junto com o Japão graças às suas moedas virtualmente desvalorizadas, que
prejudicavam a competitividade norte-americana. Mas, depois de seus parceiros estarem
reconstruídos, os EUA, sob forte pressão dos seus próprios setores exportadores e seu enorme
déficit em conta, tentam enquadrar a Europa Ocidental, que resistiu a adotar as prerrogativas
acordadas na década de 1940, já que essas poderiam comprometer a competitividade dos
europeus e desencadear uma crise econômica. Como Wagner Sousa assume:
Depois de mais de vinte anos de estabilidade, o sistema de taxas de câmbio
semifixas começara a ruir. As crescentes mudanças nas operações do setor
financeiro, que buscavam mais liberdade para os movimentos de capital e lucros
76
financeiros, e a alteração da posição comercial e de conta corrente dos Estados
Unidos, que se deteriorou no período, começaram a comprometer a existência do
padrão dólar-ouro (SOUSA, 2013, p. 11).
Assim, portanto, as elites europeias estão aqui distanciando os seus interesses dos
interesses do poder hegemônico e, ao alterarem os próprios interesses, alteraram a estrutura da
instituição internacional também para atender os novos objetivos. Não por acaso o período da
década de 1970 é marcado pela articulação comunitária em torno de se acelerar a união
monetária a fim de se defenderem das investidas dos EUA. Ressaltamos aqui, portanto, que
esse grupo de países que dependeram do poder hegemônico global para lança-los em um
processo de cooperação regional específico, reorganizam a organização internacional para
atender aos seus interesses. Esse movimento demonstra que eles preferem alterar o regime já
existente a criar outro, visto que os custos para se manter um regime são mais baratos do que
os de criar outro, conforme verificamos com Keohane (1984). O fim do padrão dólar-ouro e o
início do padrão de câmbio flutuante trouxeram dificuldades para os europeus, que reagiram a
isso aprofundando a integração pelo viés monetário. A reação europeia ao contexto
internacional turbulento é demonstrada por Sousa: “Discutiu-se, a partir desta nova realidade,
maior coordenação entre os bancos centrais dos então seis componentes da CEE como defesa
aos efeitos da instabilidade cambial.” (SOUSA, 2013, p. 11). Os Estados-membros da CEE
por não poderem mais resistir às oscilações cambiais a partir do fim dos acordos de Bretton
Woods passaram a adotar mecanismos que os defendessem da investida americana.
Percebemos aqui que os países europeus passaram a buscar alternativas que garantissem certa
autonomia em relação ao núcleo hegemônico nas questões econômicas.
A Alemanha, em especial, defendia o aprofundamento da integração via união
monetária por duas necessidades próprias: superar a crise desencadeada pela pressão dos EUA
com a valorização cambial e a aproximação com a Europa Ocidental para alivia-los sobre a
política para o leste. Além disso, a união monetária permitiria aos alemães se defenderem de
grandes desvalorizações dos seus parceiros e da perda de competitividade da sua economia.
Nesse sentido, Wagner Sousa afirma:
Esta necessidade política somada à instabilidade monetária fez com que os alemães
propusessem uma União Econômica e Monetária. A ideia de criação de uma moeda
europeia interessava na medida em que fortaleceria a integração, dando mais
liberdade de ação política para a Alemanha no que também, do ponto de vista
econômico, evitaria a importação de inflação e desvalorizações competitivas dos
seus competidores europeus (SOUSA, 2013, p. 22).
77
Assim, portanto, os alemães atendiam aos interesses dos seus pares europeus para
aprofundar a integração e criar um mercado comum amplo com união monetária, mas atendia
também aos próprios interesses já que daria a previsibilidade sobre as políticas monetárias em
âmbito europeu que possibilitasse se defenderem de choques externos. As negociações
opuseram os países ‘economistas’ – aqueles cujas moedas eram mais fortes e tinham menores
déficits e inflação (RFA, Países Baixos e Itália) – e ‘monetaristas’ – cujas moedas eram fracas
e tinha maior inflação e déficit em conta (França, Bélgica e Luxemburgo). Os debates se
acaloraram em torno do Plano Werner11, no qual a Alemanha concordou em adotar medidas
menos europeístas do que gostariam, cedendo aos interesses franceses (SOUSA, 2013).
Os alemães pressionavam por um acordo no qual as moedas europeias flutuassem em
conjunto pelo temor que o capital especulativo poderia causa à competitividade alemã. Essa
preocupação era partilhada pelo governo, pelo Bundesbank e pela indústria alemã.12 Os
franceses, por outro lado, a flutuação conjunta significava a perda de competitividade do
franco e faria da CEE uma zona marco, fato que realçaria a proeminência da Alemanha na
Europa Ocidental. A flutuação conjunta não foi aceita, mas ao marco foi permitida uma
flutuação temporária, o que representou uma vitória dos interesses alemães, desencadeando
uma reação francesa de boicote à União Econômica e Monetária Europeia. Os acontecimentos
de 1973, no entanto, minariam o boicote e a posição francesa. Ao romper unilateralmente aos
acordos de Bretton Woods e com o padrão dólar-ouro e impondo o padrão dólar-flutuante, os
EUA não deixaram outra saída aos europeus. Sousa afirma:
A adoção do padrão dólar-flutuante, em 1973, força as economias europeias à
‘flutuação conjunta’ de suas moedas, um sistema regional de taxas de câmbio, que
pretendia limitar a 4.5% a variação entre as taxas de câmbio intra-européias, dando
origem à chamada “Serpente Monetária” (Exchange Rate Mechanism) (SOUSA,
2013, p. 28, grifos do autor).
Na prática, a Serpente Monetária terminou por ancorar a moedas regionais da Europa
Ocidental ao Marco Alemão, tornando a CEE área de influência monetária da Alemanha. Isso
fez com que, mesmo contra a vontade, a França fosse obrigada a alterar sua posição frente à
‘flutuação conjunta’ das moedas regionais, conferindo maior peso da República Federal
“Esta necessidade política somada à instabilidade monetária fez com que os alemães propusessem uma União
Econômica e Monetária. A ideia de criação de uma moeda europeia interessava na medida em que fortaleceria a
integração, dando mais liberdade de ação política para a Alemanha no que também, do ponto de vista
econômico, evitaria a importação de inflação e desvalorizações competitivas dos seus competidores europeus.”
(SOUSA, 2013, p. 24).
12
“O governo da Alemanha, o Bundesbank e a indústria alemã, preocupavam-se com os possíveis efeitos dos
capitais especulativos no marco alemão.” (SOUSA, 2013, p. 27).
11
78
Alemã na área da comunidade. Nesse sentido, portanto, apesar da resistência francesa, os
alemães conseguem adotar o modelo de flutuação cambial nos moldes que queriam, isso
graças à maior vulnerabilidade externa da França e do franco após a implantação do dólarflutuante pelos Estados Unidos. A instabilidade financeira da década de 1970 que obrigou os
franceses a cederem aos alemães também fez com que as conversas em torno da moeda
comum europeia fossem adiadas, fato que também atendia ao interesse alemão, que não
desejava adotar uma moeda comum naquele momento de instabilidade financeira e
econômica. De fato, os europeus se organizaram de forma a contrabalancear a jogada norteamericana, buscando diversas alternativas para superar a crise lançada pelos EUA. Quanto a
isso, Miranda afirma:
A partir daquele momento, toda a discussão centrar-se-ia na eficácia de regimes
cambiais alternativos para lidar com choques adversos, na harmonização de políticas
macroeconômicas, em como construir um espaço financeiro europeu e em como
pavimentar o caminho para uma área monetária comum (MIRANDA, 2012, p. 545).
Na verdade, a Alemanha conseguia, com a Serpente Monetária, aquilo que os Estados
Unidos haviam conseguido com os acordos de Bretton Woods. Da mesma forma que esses
acordos favoreceram e institucionalizaram a hegemonia econômica e monetária americana
pelo mundo, os alemães se tornavam, nesse sentido, potência regional não só econômica, mas
agora também monetária, ao forçar a França a aceitar a dominância de flutuação baseada no
Marco Alemão. De fato, a Alemanha conseguia com a “Serpente” garantir a competitividade
da sua indústria frente aos seus parceiros europeus, visto que outro competidor, os EUA, ao
romper com o arranjo financeiro vigente até 1973, mantinha sua moeda desvalorizada para
recuperar sua competitividade, bem como se defender de possíveis picos inflacionários. Nesse
sentido, Sousa afirma:
A ideia do Exchange Rate Mechanism, a conhecida ‘Serpente Monetária’ frente aos
fluxos financeiros no intuito de garantir que as paridades intra-europeias fossem
asseguradas. A ‘Serpente’, com suas bandas de flutuação, emulava os acordos de
Bretton Woods, regionalmente (SOUSA, 2013, p. 30-31, grifos do autor).
Assim, portanto, a Alemanha passaria a acumular vantagens que lhe garantiriam certa
liderança em âmbito europeu, conseguindo institucionalizar com o Marco aquilo que os
Estados Unidos haviam conseguido com o Dólar, favorecendo a posição da moeda alemã em
detrimento do dólar e das outras moedas regionais. A década de 1970, no entanto, dada suas
peculiaridades, atrasariam o movimento em torno da unificação monetária europeia. A crise
79
do dólar-flutuante e o choque do petróleo, em 73, fizeram com que o sistema de flutuação
conjunta da “Serpente” não funcionasse, visto que quatro dos nove membros das CE
romperam e voltaram ao sistema algumas vezes, fazendo com que cinco moedas flutuassem
em conjunto enquanto que outras quatro flutuassem individualmente. O projeto de se lançar a
união econômica e monetária com a moeda única até 1980 falhou com esse movimento
(SOUSA, 2013).
A troca das lideranças na França e na Alemanha favoreceria a realinhamento dos
interesses desses países. Sousa elucida esse movimento de reaproximação franco-germânica:
“Apenas a partir dos novos governos do Presidente Valéry Giscard d’Estaing, na França, e do
Chanceler Helmut Schmidt, na Alemanha, em 1974, inicia-se um processo de reaproximação
que se consolidaria no final da década de 1970, com a criação do Sistema Monetário
Europeu.” (SOUSA, 2013, p. 40). Além disso, esse movimento de reaproximação entre as
linhas políticas de franceses e alemães se deveu ao afastamento que os britânicos tiveram do
CEE, que fez com que os franceses questionassem o comprometimento do Reino Unido com
o projeto europeu.13 Esse afastamento britânico colocaria, mais uma vez, o casamento francogermânico como propulsor da integração europeia.
Elaborado em 1978, o Sistema Monetário Europeu (SME) previa um sistema de
bandas cambiais através do Mecanismo Cambial Europeu (MCE), cuja função era fixar as
paridades bilaterais cambiais e criar uma zona de estabilidade monetária, servindo ainda ao
interesse alemão, visto que a valorização cambial do marco no final da década cambaleava a
competitividade industrial alemã e isso comprometia seu setor exportador, o motor da
economia. Os alemães conseguiam, nesse sentido, compensar a valorização do marco com o
controle cambial regional. O SME funcionou priorizando o controle da inflação e a
estabilidade da moeda, prerrogativas das políticas monetárias do Bundesbank para o marco
alemão.14 Brandão Osório nos auxilia demonstrando que isso significava que: “Implicitamente
“A ‘Europa trilateral’ pensada por Brandt e Pompidou e que incluía os britânicos torna-se, com o progressivo
afastamento do Reino Unido das posições francesas e alemãs, impraticável depois de 1974. No encontro do
Conselho Europeu de dezembro de 1975, a posição britânica como produtor de petróleo, à parte dos demais
europeus gerou grande insatisfação entre os integrantes da CEE. Disputas entre britânicos e franceses a respeito
do orçamento da CEE (os britânicos entenderam que sua contribuição era muito elevada) e suas posições sobre,
por exemplo, as políticas agrícola e de pesca comuns, levaram a questionamentos sobre o comprometimento do
Reino Unido com o projeto europeu quando da sua presidência da CEE em 1977. O desapontamento com os
seguidos problemas na relação com os britânicos é também fator de aproximação entre franceses e alemães e
restabelecimento do bilateralismo franco-alemão como condutor dos assuntos comunitários europeus.” (SOUSA,
2013, p. 41).
14
O presidente francês sofreria um revés interno pela considerada ‘sujeição’ aos interesses alemães. “A
‘germanização’ da política econômica da França, levada a termo pelo economista e Primeiro-Ministro Raymond
13
80
era a assunção da preponderância germânica no continente, pois elegeu como desiderato a
estabilidade da moeda, cujo modelo era a gestão do marco alemão (portanto, do
Bundesbank)” (OSÓRIO, 2015, p. 82). O SME era calcado em três eixos principais que
agradavam aos interesses alemães que se baseavam: i) na unidade monetária europeia (ECU –
European Currency Unit); ii) no sistema de taxas de câmbio, que permitia a flutuação cambial
em 2,25% em relação ao marco alemão (com exceção da lira italiana, cujo limite era de 6%);
iii) em um mecanismo associado de intervenção, o MCE I; e no Fundo Monetário Europeu
(OSÓRIO, 2015).
O ECU funcionou como uma unidade monetária de conta baseada numa cesta de
moedas comunitárias e tinha o seu valor calculado de acordo com a importância relativa dada
à economia do país. O SME buscou dar uma resposta à instabilidade financeira deflagrada
pelos Estados Unidos, que também tinha apoio do Reino Unido. Nesse sentido, a relação
franco-alemã em prol da integração e o afastamento dos britânicos são realçados, o que pode
vir a explicar a não adesão da Grã-Bretanha ao Euro na década de 1990. O Sistema Monetário
Europeu funcionou, em certa medida, até 1992, quando o Tratado de Maastricht trouxe novas
disposições no longo processo de união monetária europeia (OSÓRIO, 2014).
Mais um duro golpe dos EUA nos seus parceiros concorrentes fariam os países
europeus correrem contra o tempo para se ajustarem e se protegerem dos ditames norteamericanos na economia internacional: o choque dos juros. A elevação em quatro vezes dos
juros nos Estados Unidos e a Diplomacia do Dólar Forte enfraqueceram as economias
europeias e elevaram suas dívidas, forçando a uma brusca valorização do Marco Alemão e
perda de competitividade da economia da Alemanha. Além disso, esse movimento
estabeleceu uma ofensiva neoliberal contra os sindicatos, os direitos trabalhistas, o estado de
bem-estar social e o keynesianismo que consagraram a reconstrução industrial europeia do
pós-guerra. A esse respeito, Luiz Felipe Brandão Osório argumenta que:
Neste sentido, a década de 1980 pode ser identificada como o momento de inflexão
que explica em grande parte os atuais rumos tomados pelo processo de integração
europeia. O contexto requeria a modernização da economia europeia, de forma a
poder continuar concorrendo com Estados Unidos e Japão. Demanda esta efetuada
via medidas liberalizantes, como simplificação e homogeneização das estruturas
regulatórias nacionais, flexibilização das leis trabalhistas e facilitação e diminuição
Barre, com suas preocupações anti-inflacionárias, teve efeitos recessivos sobre a economia francesa, o que fez
aumentar a insatisfação popular e as críticas dos próprios gaullistas sobre o que era considerado subordinação da
política econômica francesa à Alemanha.” (SOUSA, 2013, p. 41).
81
da burocracia, voltadas à expansão negocial. Este pleito foi impulsionado pela
tendência político-econômica neoliberal propagada pelo mundo anglo-saxão. Os
questionamentos ao modelo de bem-estar social aceleram a desregulamentação dos
mercados financeiros rumo à consolidação de um espaço unificado e sem barreiras.
As bases do keynesianismo do pós-guerra foram desmontadas, sendo suas
premissas, como crescimento econômico e pleno emprego, relegadas em favor da
estabilidade de preços e de políticas anti-inflacionárias (OSÓRIO, 2015, p. 86).
Esse momento foi propício ao surgimento de movimentos europeus que quisessem
repensar a integração por outro viés, buscando certa autonomia em questões econômicas
contra a tentativa de retomada da hegemonia econômica por parte dos Estados Unidos. Os
grupos de interesse com influência sobre os governos na Europa pressionavam por um
modelo de menores barreiras comerciais e maior liberalização do mercado, repensando o
mercado comum voltado à liberdade de capitais e essa maior abertura passou a ser confundida
com a concretização do próprio mercado único. É neste contexto específico que é adotado o
Ato Único Europeu, que repensou as bases da integração europeia e a relançou com premissas
políticas e econômicas liberais, via aprofundamento institucional como mecanismo de
modernização. Nesse sentido, a União Econômica e Monetária trazida pelo Tratado de
Maastricht representaria uma radicalização em torno da concretização do mercado comum e
da moeda única diferente daquelas disposições adotadas nos Tratados de Roma. Medeiros nos
ajuda a entender o processo:
A criação da União Monetária e Econômica correspondia a uma estratégia paneuropeia crucial aos interesses tanto do capitalismo alemão quanto dos demais
países da Europa Ocidental, permanentemente preocupados com a ameaça de uma
Alemanha isolada. Devido aos limites políticos impostos desde o pós-guerra, o
Estado alemão, a estratégia alemã era essencialmente uma estratégia compartilhada,
e deste modo, esta estratégica coincidia com a dos principais países europeus
historicamente envolvidos com o resgate do Estado nacional no contexto de uma
Europa unida (MEDEIROS, 2004, p. 145-146).
O Ato Único Europeu só se tornou possível, no entanto, pela aproximação entre os
interesses franceses e alemães. Essa aproximação a partir de 1984 se tornou possível após a
França adotar certa ortodoxia de acordo com exigências alemãs, e desvalorizações da sua
moeda em uma banda que agradava a RFA para compensar as dificuldades decorrentes da
crise econômica do começo da década. A chegada de Miterrand ao poder em 1980 fez com
que a França tentasse um voo solo mais nacionalista a fim de recuperar sua economia, após
82
perceber a debilidade econômica para qual se encaminhava15, Miterrand volta atrás e adota a
ortodoxia nos moldes alemães. Esse processo, associado à calmaria da economia internacional
e da queda do preço do petróleo ajudaram a estabilizar o SME e permitiu que a França e a
Alemanha se acertassem em um processo de integração mais íntimo na Europa, com
marcadamente os franceses cedendo aos interesses alemães. Como bem definido por Wagner
Sousa:
Embora não tenha havido, concomitantemente, medidas com vistas ao crescimento
econômico alemão, o que frustrou os franceses, a guinada ortodoxa dos socialistas
marca o retorno à “germanização” da gestão econômica que preponderou no período
de Giscard e seu Ministro das Finanças Barre (SOUSA, 2013, p. 57)
O governo socialista de Miterrand entendeu que as debilidades sofridas pela economia
francesa só poderiam ser superadas com a aproximação com a Alemanha. Além disso, o
recrudescimento das políticas externas norte-americana e soviética também só poderia ser
compensado com uma maior integração regional. Nesse sentido, os franceses cederam em
relação à reforma institucional das Comunidades e na união monetária. Em relação ao papel
do Marco como moeda única, Sousa afirma que: “(...) os franceses entenderam que se devia
avançar rumo à integração monetária. O deutschemark, com seu papel central na economia do
continente, deveria ser europeizado e sua gestão, compartilhada.” (SOUSA, 2013, p. 61,
grifos do autor). Os alemães, por seu turno, também tinham interesse em fortalecer a
regionalização para se defender do contexto internacional mais adverso buscando maior
autonomia internacional em relação ao poder hegemônico. O chanceler Helmut Kohl,
portanto, encontrava-se preparado para aprofundar as relações regionais, como demonstra
Wagner Sousa:
Helmut Kohl tinha clareza do papel central da Alemanha no avanço da integração
europeia. Como ator política e economicamente mais forte deveria, no entender do
Chanceler, ajudar os economicamente mais fracos. Dizia, naquele período, que cada
marco investido no futuro da Comunidade era um pagamento pelo “futuro da
liberdade”. A Alemanha deveria ser o país pronto a defender os interesses de longo
prazo da CEE (SOUSA, 2013, p. 62).
Nesse sentido, portanto, os grupos políticos em torno do Chanceler e do seu partido
(CDU), fizeram a Alemanha se lançar preparada para arcar com os custos da integração e da
“Portanto, nos primeiros dois anos de seu governo, os socialistas franceses defenderam e praticaram política
econômica substancialmente diferente da alemã e também não tinham interesse em reformas institucionais na
Comunidade Econômica Europeia, propostas logo no início do governo Kohl, que pudessem comprometer a
autonomia francesa.” (SOUSA, 2013, p. 58).
15
83
cooperação regional, tal qual o poder hegemônico que menos de 40 anos antes impulsionou a
criação das organizações europeias de cooperação. Nesse sentido, a Alemanha se lança como
o candidato possível ao cargo de potência relativa regional baseada sobre sua força econômica
arcando com os custos da integração, aproveitando o momento de afastamento do poder
hegemônico global. No entanto, visto que aos alemães interessava alterar as prerrogativas do
regime internacional já estabelecido através das Comunidades Europeias, visto que é mais
fácil de alterar um regime do que criar um, se pretendia encabeçar e liderar seus pares
europeus se fosse preciso. Mais uma vez, Sousa nos ajuda a compreender:
... a partir do discurso do Presidente François Miterrand, em 24 de maio de 1984, no
Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no qual defendeu mudanças nos Tratados e
avanço no processo de integração, rompendo com um quarto de século de ceticismo
francês no fortalecimento das instituições regionais, os alemães puderam, enfim,
levar adiante seus intentos de fortalecimento institucional da CEE (SOUSA, 2013, p.
62).
A vantagem competitiva alemã das suas indústrias associada ao melhor desempenho
da sua economia enfraqueceu a posição francesa. A RFA poderia contar com um mercado
comum ampliado em 1981 com a adesão da Grécia e um maior distanciamento da
dependência da economia americana, assim sua posição, que tenderia a melhorar com o
adiantamento das negociações para a adesão Ibérica que colocaria os mercados de Espanha e
Portugal no regionalismo que favorecia mais uma vez a economia alemã, se mostrava mais
promissora. Enquanto isso, a economia francesa cambaleava. Nesse sentido, portanto, os
alemães conseguiam, via pressões e superioridade econômica, influenciar os interesses das
elites francesas em prol dos próprios interesses graças a um contexto internacional mais
selvagem em meados da década de 1980, conseguindo da França o comprometimento com o
aumento da integração regional. O Ato Único Europeu marcou a retomada do processo de
integração europeu que reformaria as instituições europeias através de um novo tratado na
década de 1990. Quanto a isso, Sousa afirma: “O discurso de Miterrand muito agradou aos
alemães. Em encontro entre os dois líderes (...), Kohl apoiou as propostas de Miterrand e
defendeu a criação da União Europeia Ocidental. Nesta reunião ambos acertaram também o
estabelecimento de política externa e de defesa comuns.” (SOUSA, 2013, p. 62-63).
Também, alemães e franceses acordaram em liberalizar a circulação de pessoas entre
os dois países, o que geraria depois o Acordo de Schengen. Enquanto isso, os britânicos sob o
governo Thatcher, não desejavam qualquer alteração nos Tratados de Roma e só queriam uma
84
maior liberalização do mercado, diferente das posições franco-alemãs. Contudo, aos alemães
não interessava ainda a criação de uma moeda única, mas apenas o aprofundamento das
políticas monetárias. Em relação a isso, Sousa enfatiza que:
Os alemães, entusiastas da integração, não tinham, contudo, o mesmo pendor para a
integração em relação à moeda. Não podiam rechaçar a ideia, sempre presente nas
discussões sobre o futuro da CEE, contudo eram contrários à criação de uma moeda
europeia em conjunto com o advento da União Europeia (SOUSA, 2013, p. 64).
No entanto, a derrocada comunista no leste europeu a partir de 1989 abalaria os
posicionamentos dos países-membros. Como já mencionamos, a queda dos governos satélites
na Europa Oriental permitiram que um fato até o último momento considerado improvável se
tornasse possível: a reunificação alemã. Isso abalaria as negociações franco-alemãs em torno
da moeda única. Como já demonstramos antes, França (e também Reino Unido) era contrária
à reunificação da RFA e da RDA, mas como percebeu que o processo de unificação não
poderia ser evitado, acordou em aceitar o processo em troca de uma maior aproximação e
integração da Alemanha com a Europa Ocidental, e essa aproximação se daria através da
moeda. Para isso podemos ver Sousa (2013):
O processo de reunificação da Alemanha tornou-se elemento inseparável das
discussões sobre a moeda única europeia. Desejo dos franceses, desde a
“germanização” da política econômica promovida por Miterrand, com início em
1983, e de seu movimento em favor da integração europeia, a partir de 1984,
esperavam acordo com os vizinhos do leste com o objetivo de europeizar a gestão do
marco, substituindo-o por uma moeda comum regional. A reunificação possibilita
esta barganha entre franceses e alemães (SOUSA, 2013, p. 71).
A contraposição britânica de Thatcher também não surtiria efeito, visto que os
franceses já tinham aceitado a proposta alemã e os Estados Unidos se demonstraram
favoráveis à reunificação desde que a Alemanha ratificasse seus compromissos com a OTAN.
A Alemanha, por seu turno, aceitou as demandas norte-americanas, em relação à aliança
militar ocidental, e francesas em nome de um novo tratado europeu que compreendesse a
união monetária. As posições francesas e alemãs são demonstradas por Wagner Sousa:
A posição francesa a favor da moeda europeia fortaleceu-se com a queda do muro.
Como anteriormente mencionado, os alemães não poderiam se reunificar sem
estabelecer acordos com as “Potências do Tratado”, ou seja, as potências que
ocuparam o país ao final da Segunda Guerra Mundial. A França utilizou esta nova
situação histórica para barganhar sua aceitação da reunificação alemã com a
85
condição de que Kohl se comprometesse com uma moeda comum (SOUSA, 2013,
p. 76)
E no caso alemão, ele afirma:
O Chanceler alemão, em princípio, não queria assumir compromissos com prazos
para o estabelecimento da moeda europeia, pois temia prejuízos eleitorais aos
Democrata-Cristãos (CDU) nas eleições de dezembro de 1990, além de, na visão
dominante da elite política do país, a moeda regional não ser necessária e oferecer
poucos benefícios econômicos à Alemanha (SOUSA, 2013, p. 76-77)
Nesse sentido, portanto, para garantir a consecução de um interesse, os alemães
sacrificam outro em nome do interesse francês. Esse processo demarca que, mesmo com sua
superioridade econômica comprovada, a Alemanha do começo da década de 1990 ainda se
demonstrava tímida de impor seus interesses em nível europeu e comunitário sem que
houvesse um respaldo político da França, bem como do poder hegemônico global. Assim,
portanto, as elites alemãs e francesas influenciavam umas as outras de igual medida, mesmo
com a posição alemã se sobressaindo algumas vezes, mas em grandes passos e medidas a
Alemanha ainda não se sentia confortável em impô-las unilateralmente. A reunificação,
contudo, marcaria para a Alemanha a aquisição de condição de possibilidade para a liderança
futura. É na esteira dos acontecimentos históricos que o Tratado de Maastricht é desenhado.
Cabe ressaltar que os Estados Unidos eram contrários ao aprofundamento da integração
europeia nos moldes desenhados em Maastricht, mas que os países europeus a fizeram mesmo
assim, demonstrando certo afastamento das elites europeias aos ditames do poder
hegemônico. As inovações institucionais trazidas para a criação da União Europeia foram
singulares a fim de proporcionar o aprofundamento das relações de acordo com os interesses
regionais das principais potências europeias, como demonstra Brandão Osório:
A cooperação econômica foi relançada com raízes mais sólidas, sob um comando
político unificado, mediante a construção gradativa e convergente de compromissos
conjuntos, na direção da transferência de competências soberanas monetárias para
um organismo regional, cuja dinâmica seria respaldada por todo um arcabouço
político correspondente. Este arcabouço sustentou as modificações no mercado
comum e alicerçou a criação de uma moeda única na modulação de uma
institucionalidade que viabilizasse a condução política comunitária (OSÓRIO, 2015,
p. 90-91).
O Tratado de Maastricht de 1992 é resultado do processo de retomada da integração
por parte dos membros das CE na década de 1980. Esse movimento levou os Estados
86
europeus a acordarem, em 1986, através do Ato Único Europeu, o compromisso em
aprofundar a integração europeia através das Comunidades. O Ato Único foi a maior revisão
realizada dos Tratados de Roma de 1957 porque alterou a institucionalidade das Comunidades
Europeias. Entre os compromissos assumidos estavam o estabelecimento de um mercado
único europeu com livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais no âmbito das CE e a
cooperação política europeia, que geraria a Política Externa e de Segurança Comum. As
disposições do Ato Único previam que até 1992 suas diretrizes deveriam entrar em vigor. Os
europeus buscavam, portanto, um regionalismo que favorecia mais os interesses regionais de
uma forma que buscava certa autonomia em relação aos interesses estadunidenses para se
defenderem dos baques que a economia internacional sofrera com a tentativa de retomada da
hegemonia americana desde o fim do padrão dólar-ouro. Assim, o Bloco europeu buscava se
afastar da dominação norte-americana. Nesse sentido, Brandão Osório afirma:
Por isso, a União Econômica e Monetária, trazida pelo Tratado de Maastricht,
emerge como a radicalização em torno da concretização do mercado comum e da
moeda única. Em outras palavras, novamente, a decisão foi pela união em nome de
uma pretensa autonomia, agora, de raízes institucionais mais arraigadas, como
reação às imposições e às condicionantes limitadoras sistêmicas. A trajetória
comunitária caminhava em direção a um aprofundamento político e institucional
inédito, consubstanciando em suas formas a economia política liberal que a pautou
desde suas fases embrionárias (OSÓRIO, 2015, p. 88).
Em 1992, portanto, o momento era singular para os países da Europa, coração da
divisão mundial em dois polos ideológicos distintos. Os ares em Maastricht naquele ano eram
diferentes daqueles que possibilitaram, em 1986, a assinatura do Ato Único Europeu. As
relações entre os Estados europeus se acirraram graças à reunificação alemã, especialmente
com a França e o Reino Unido. No entanto, França e Reino Unido não conseguiam se
entender quanto aos passos relativos à integração europeia. Enquanto os franceses
pressionavam pela união econômica e monetária, os britânicos se recusavam a aceitar uma
moeda única europeia e ceder sua soberania monetária a uma instituição regional (o futuro
Banco Central Europeu). Alemanha, Países Baixos e Itália também tinham propostas distintas
quanto à união monetária, fazendo com que as discussões se arrastassem e se tornassem cada
vez mais difíceis (SOUSA, 2013, p.88). Nesse sentido, portanto, a ratificação do Tratado de
Maastricht com o texto final foi comprometido e teve dificuldades para ser aceito em alguns
Estados-membros das Comunidades Europeias. Nesse sentido, Wagner Sousa afirma o
seguinte:
87
Problemas ocorreram para a conclusão da ratificação do Tratado de Maastricht em
países que optaram por realizar consulta popular. O eleitorado da Dinamarca o
recusou em primeira votação e o aprovou com 53,8% dos votos favoráveis em
segunda consulta com a chamada “cláusula de exclusão” (opting out), semelhante à
disponibilizada para a Grã-Bretanha ratificar seu ingresso, que previa a possibilidade
do país não entrar na união monetária e não reconhecer os poderes da nova União
Europeia para assuntos relacionados à defesa. Os votantes na França o aprovaram
por estreita margem (com 51,4% pelo sim). Em 2 de novembro de 1993 o Tratado
de Maastricht entrou em vigor (SOUSA, 2013, p. 89).
O arranjo institucional desenhado em Maastricht representou uma mescla entre os
interesses franceses e alemães, visto que os primeiros alcançaram o avanço na integração
monetária e os segundos a reforma institucional. No entanto, os acontecimentos derivados do
processo de reunificação e a necessidade da aprovação francesa enfraqueceu a posição alemã,
que se viu constrangida a ceder na matéria da união monetária. A integração monetária de
duas velocidades, defendida pelos alemães, não foi aceita pela França, que considerava que
todos os parceiros tinham que atingir os objetivos de forma conjunta. E, além disso, os
avanços políticos desejados pelas elites alemãs também não avançaram muito. O Tratado de
1992 marcava uma ampla concessão da Alemanha em favor da França.16 Os germânicos
conseguiram, no entanto, que o estatuto de união econômica e monetária proposta por eles
fosse aceito pelos socialistas ortodoxos franceses e que os critérios definidos em Maastricht
para os países que entrassem na União Europeia deveriam adotar para ingressarem na moeda
única (SOUSA, 2013). Aos alemães caberia outra vitória, o acordo em 1997 que estabeleceu o
Pacto de Estabilidade e Crescimento.
O Tratado de Maastricht criou a União Europeia e legislou sobre a criação da moeda
única europeia sob uma institucionalidade completamente nova. Algumas das principais
diretrizes do tratado sobre a união monetária foram complementadas apenas em 1997, com o
Pacto de Estabilidade e Crescimento, e previam que os Estados-membros deveriam assumir
como compromisso políticas fiscais enxutas, estabelecendo metas para a dívida pública (em
60% do Produto Interno Bruto do país), para o déficit fiscal (de no máximo 3% do PIB), de
inflação (tolerância de 1,5% sobre a média ponderada dos três membros da União Monetária
com as menores taxas) e juros (2% de tolerância sobre a média dos três Estados com o melhor
16
Discussões em torno do número de cadeiras do Parlamento Europeu também ocorreram, com França se
recusado a aceitar um aumento do número de cadeiras alemãs em decorrência da unificação e a Alemanha
cedendo para que os maiores Estados também tivessem aumento de cadeiras, desde que fossem menores que o
alemão (SOUSA, 2013).
88
desempenho)17, além de trazer as diretrizes para a entrada de qualquer Estado candidato a
alguns requisitos exigidos pela EU, complementando os critérios estabelecidos no Encontro
de Copenhagen (1993). Assim, os critérios defendem que qualquer Estado europeu que
respeite os princípios da liberdade, democracia, respeito pelos direitos humanos, pelas
liberdades fundamentais e o Estado de direito, pode candidatar-se à adesão ao bloco. Além
disso, o tratado estabeleceu os três pilares de sustentação da União Europeia, que são: Um
pilar supranacional baseado nas Comunidades Europeias (CECA, CEE, EURATOM); o
segundo pilar é baseado na Política Externa e de Segurança Comum; e o terceiro é o de
Justiça e Assuntos Internos (OSÓRIO, 2015). A arquitetura institucional que a União
Europeia ganha a partir de Maastricht é resultado de pressão alemã sobre os franceses em
contrapartida pela união monetária. Nesse sentido, Sousa afirma:
Para o governo Kohl, por razões de política interna, era bastante relevante que, como
contraponto à concessão de abandonar o marco, se estabelecesse que seriam
discutidas reformas institucionais. Embora não tenha conseguido vincular o avanço
das discussões na questão monetária às reformas institucionais, como inicialmente
defendia, Kohl acordou com Miterrand que ambas seguiriam paralelamente
(SOUSA 2013, p. 81).
Como já mencionamos antes, franceses e britânicos eram especialmente contrários à
reunificação alemã, Miterrand e Thatcher tentaram diversas vezes boicotar o processo. A
Alemanha, por sua vez, buscando conciliar seus parceiros europeus, aceitou o
desenvolvimento de uma união não só econômica, mas também monetária que levassem à
criação de uma moeda comum para todo o bloco e a liberalizar os movimentos de capitais.
Em contrapartida, porém, os alemães impuseram a integração política como alicerce para o
que viria se tornar a organização da União Europeia aos seus pares franceses.18 Entre o fim de
1990 e a metade de 1991 os pares europeus definiram o que viria a se tornar o Tratado de
Maastricht. França e Reino Unido já haviam aceitado que a reunificação era um fato dado e
irreversível e a posição alemã para uma integração política supranacional acabou sendo aceita
em troca da moeda única e da reunificação.19 A Alemanha abria mão do Marco, mas
conseguia dos seus colegas a integração e a anexação da sua parte Oriental. Luiz Felipe
Brandão Osório elucida esse movimento: “(...) a opção pelo aprofundamento da integração
17
Exigências fortemente defendidas pela Alemanha para ceder na integração monetária (MEDEIROS, 2004, p.
162).
18
Não só a França pressionava pela união monetária, Países Baixos e Itália também pressionaram nas
negociações por modelos e aplicabilidade da moeda única que se divergiam entre si (SOUSA, 2013).
19
A França ratificaria a união monetária, mas os britânicos foram contrários e conseguiram garantir para si a
“Cláusula de Exclusão”, que não obrigava o Reino Unido a adotar a moeda única (SOUSA, 2013).
89
(caminho historicamente defendido pelas elites francesas para controlar os ímpetos
imperialistas alemães) foi cogitada como uma maneira de aplacar as desconfianças e legitimar
definitivamente a Alemanha na condução da integração regional” (OSÓRIO, 2015, p.92).
Pelo Tratado de Maastricht, a zona monetária única seria adotada em um processo de 3
fases, segundo a qual a moeda única estaria pronta para entrar em circulação. No entanto, os
critérios de convergência deveriam ser alcançados pelos Estados que se candidatassem a
adotar a moeda. Além disso, estabeleceu que todos os Estados que ingressassem na União
Europeia a partir de 1993 estavam obrigados a adotar, futuramente, a moeda única. E,
também, que a gestão monetária seria realizada através de uma instituição regional
independente, definindo futuramente a sua sede.20 Os Estados-membros estavam, portanto,
cedendo sua soberania em matéria monetária para a instituição internacional, abrindo mão
sobre o controle de suas moedas e dando ao BCE a autonomia para gerir a impressão de euros
de acordo com os interesses da sua cúpula. Veremos, no próximo capítulo, como isso é
determinante para a crise que afetou muitas das economias europeias e quebrou outras.
O critério de convergência do euro, como ficou conhecido, estabelecia as metas a
serem alcançadas por aqueles países que quisessem adotar a moeda única e que visavam a
estabilidade de preços e a responsabilidade fiscal. Além disso, outros critérios foram
estabelecidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) para todos os membros da
União Europeia, muitos desses critérios tiveram forte peso alemão para serem adotados, visto
que coincidiam com a cartilha ortodoxa seguida pelo Bundesbank na gestão do DeutschMark.
Dentre as medias adotadas pelo Maastricht Criteria, os Estados-membros deveriam: i)
apresentar índices de inflação que não excedessem em 1,5% a média dos três Estados com a
menor inflação; ii) o déficit do orçamento público não deve exceder 3% do PIB; iii) a dívida
pública do país não deve exceder em 60% do valor correspondente ao PIB; iv) o país
candidato não pode desvalorizar a sua moeda atrelada ao euro durante dois anos; v) as taxas
de juros de longo prazo do país não podem exceder mais de 2% a média das taxas de juros de
10 anos dos três Estados com a menor inflação (OSÓRIO, 2015, p. 130).21
20
O que veio a se tornar o Banco Central Europeu, com sede em Frankfurt, principal centro financeiro alemão e
continental. “Local escolhido de comum acordo entre os países adotantes do Euro, que sediou também o Instituto
Monetário Europeu. Não por acaso é o centro do capital financeiro na Europa Continental e a cidade que abriga
o Banco Central alemão, o Bundesbank, o que já denota a posição central dos alemães no arranjo.” (OSÓRIO,
2015, p. 135).
21
Critérios estabelecidos pela Comissão Europeia para a consecução da União Econômica e Monetária.
90
A falha da maior parte dos países aspirantes à moeda única faria com que a adoção
virtual do euro fosse adiada para 1999 (antes prevista para 1997). Em 1999, 11 dos 12 Estados
dispostos a adotar o euro estavam preparados para a sua adoção virtual. Estavam preparados
Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países
Baixos e Portugal. A Grécia, 12º aspirante, não atingiu as metas estabelecidas pelos critérios
de Maastricht, mas se apressou em realizar as reformas e esforços para adotar a moeda única a
tempo do lançamento da sua forma física, em 2002. A verdade é que quase nenhum país que
adotou o euro tinha, exatamente, concluído os critérios relativos a déficit e dívida pública.
O Tratado de Maastricht determinou muito do que veio a se tornar a União Europeia e
a moeda única, o euro. Outros tratados viriam posteriormente para complementar as
disposições trazidas em 1992, que foram: Tratado de Amsterdam (1997); Tratado de Nice
(2001); e Tratado de Lisboa (2007). O período entre os tratados de Maastricht e de
Amsterdam foi marcado pelo ingresso de novos membros na União Europeia – já estando em
vigor as diretrizes de 1992 – que foram: Áustria, Finlândia e Suécia.22 Os tratados tinham
como objetivo preparar a institucionalidade e as competências da União Europeia para o
processo de alargamento para o leste que viria a seguir, visto que a desocupação do leste
europeu pelos soviéticos abriram um leque de possibilidades no continente (OSÓRIO, 2015).
O primeiro deles trouxe disposições a respeito dos princípios de liberdade, democracia
e direitos humanos, além da defesa do princípio do desenvolvimento sustentável, bem como
reforçar o poder do pilar comunitário e regulamentar a cooperação reforçada, permitindo que
alguns dos Estados-membros da União Europeia, depois de reunidos uma série de requisitos,
avancem mais rapidamente do que outros no processo de integração. O segundo tratado, de
Nice, visava adaptar o funcionamento das instituições europeias antes do ingresso de novos
membros, fato que se concretizou com a entrada de dez novos membros, maior parte deles do
leste europeu.23 Além disso, outros dois membros do leste ingressariam a União Europeia sob
os ditames dos Tratados de 1997 e 2001.24 O tratado trouxe diretrizes a respeito de aspectos
no âmbito da Comissão Europeia, no Conselho Europeu e flexibilizou a cooperação reforçada
Todos ingressaram em 1995 e formaram a famosa “Europa dos 15”.
São eles: Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia, Hungria, Eslovênia, Malta e
Chipre. Adesão em 2004.
24
Romênia e Bulgária (2007).
22
23
91
trazida em Amsterdam, para garantir que os “velhos” membros não perdessem tanta
importância com a entrada dos novos membros do leste e sul.25
A Constituição Europeia, que seria o passo seguinte ao tratado, foi negada por
referendos populares na França e nos Países Baixos. Dessa forma, os europeus tiveram que
pensar em outra forma de abarcar as disposições da Constituição Europeia e o fizeram via
tratado internacional que ocorreu em Lisboa, Portugal. O terceiro tratado, assinado em 2007,
veio para substituir a falha da Constituição Europeia e trazia diversas disposições para
reformas nas instituições da União Europeia. (OSÓRIO, 2015).
As mudanças mais significativas trazidas por Lisboa (2007) foram de incluir: i) o
aumento de decisões a serem tomadas por votação com maioria qualificada no Conselho da
União Europeia; ii) o aumento do Parlamento Europeu; iii) mudanças no processo legislativo
criando o processo de co-decisão junto com o Conselho da União Europeia; iv) a extinção dos
três pilares desenhados pelo Tratado de Maastricht (1992), unificando-os na instituição União
Europeia; v) e a criação de um Presidente do Conselho Europeu, com um mandato mais
longo, e um Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança, apresentando uma posição unida sobre as políticas da UE. Além disso, o tratado
também fez com que a Carta dos Direitos Fundamentais – direitos humanos se tornasse
juridicamente vinculativa aos membros (OSÓRIO 2015).
O regime europeu, portanto, impulsionado pela ação dos Estados Unidos em construir
um interesse em comum na Europa para garantir sua dominação hegemônica e afastar a
influência soviética, providenciou no pós-guerra em torno da OTAN (Organização do Tratado
do Atlântico Norte) e da OECE a partir da conivência das elites europeias os objetivos já
traçados. Nesse sentido, a integração regional europeia nasce a partir do esforço hegemônico
em arcar com os custos do processo de cooperação internacional e associado aos interesses
das burguesias nacionais europeias dado o contexto bipolar do sistema internacional. Assim,
portanto, o nosso modelo teórico elucida os acontecimentos que geraram a União Europeia.
Ainda, podemos concluir, ao se observar o processo que levou os europeus a avançarem na
integração política, econômica e monetária a partir da década de 1990 e fim da bipolaridade e
afastamento do poder hegemônico, que Estados pequenos podem alterar o regime
25
Isto para que as cadeiras do Parlamento Europeu não fossem aumentadas e distribuídas aos países do leste de
forma a reduzir o poder de voto pelos países ocidentais.
92
internacional de acordo com os seus interesses porque é mais fácil se alterar um regime
existente do que abandona-lo para criar um novo.
Precisamos, no entanto, fazer um adendo: o poder hegemônico dos Estados Unidos
não deixou de existir, ele apenas parou de se concentrar na Europa graças ao fim da União
Soviética. Os Estados Unidos, enquanto superpotência no começo da década de 1990, passou
a se concentrar em políticas internacionais multilaterais que visavam à liberalização financeira
do mundo via Organização Mundial do Comércio e outros. Nesse sentido, portanto, o
interesse americano seria contrário ao regionalismo europeu, que faz do mercado comum
europeu um ambiente mais restrito. Os europeus, por outro lado, conseguem avançar no seu
processo de integração mesmo que ele fosse, na lógica, contrário ao dos Estados Unidos. É
nesse sentido de descentralização estratégica da Europa para o poder hegemônico que
consideramos que os Estados pequenos aproveitaram o afastamento gradual do poder
hegemônico global ao longo da década de 1990 após o fim da Guerra Fria para alterar o seu
regime internacional sob os próprios termos e com interesses distintos.
Além disso, percebemos de acordo com o nosso modelo teórico que as negociações
em torno do aprofundamento da integração pelas vias política, econômica e monetária foi
possível porque os Estados-membros das CE convergiram seus interesses em prol do
regionalismo. Ainda, o Estado mais poderoso (a Alemanha pós-reunificação) conseguiu
angariar dos seus pares a integração política e a aceitação da própria reunificação alemã, mas
acabou cedendo na integração monetária, isto porque mesmo que a Alemanha tivesse
conseguido ampliar suas capacidades materiais com a anexação da RDA, constituía-se ainda
como um Estado com grandes desafios pela frente que pudessem minar seu crescimento
repentino. Concluímos, assim, que a Alemanha influenciou mais seus pares para aceitar suas
determinações, porque conseguiu anexar a banda oriental e avança na integração política
europeia aos seus moldes e foi influenciada por seus pares a aceitar a moeda única, abrindo
mão do Marco. Aqui, o crescimento das capacidades alemãs está na sua fase inicial e não tem
ainda a força necessária para guiar e influenciar os outros Estados-membros.
No mesmo sentido, uma contribuição importante do modelo teórico é sua premissa de
que a manutenção e adaptação de antigos regimes internacionais é mais fácil do que a criação
de novos regimes devido aos custos de transação e aos chamados sunk costs26. Portanto, os
26
Ideia de que os recursos investidos pelos atores na criação de regimes antigos não podem ser reembolsados, o
que funciona como um desincentivo aos investimentos em novos regimes que posteriormente também não serão
reembolsados (KEOHANE, 2005).
93
Estados europeus em especial preferem manter os arranjos institucionais já criados do que
abandoná-los, porque é mais fácil adaptar as regras do regime já existente do que edificar um
novo em cima dos seus interesses do momento. É por isso que os Estados europeus alteraram
as disposições já existentes das Comunidades Europeias desde 1957, pelo Tratado de Roma,
aos moldes e interesses do momento em que vivem através do Tratado de Maastricht de 1992,
ao invés de simplesmente abandonar a instituição e criar uma nova que atenda aos seus novos
interesses.
Assim, portanto, pudemos perceber que o processo que levou à união monetária na
Europa decorreu de um longo processo de aproximação econômica dos países dessa região,
primeiramente inseridos num projeto de reinserção internacional ao bel-prazer dos interesses
do poder hegemônico global, mas que se tornou o escudo desses mesmos países às investidas
do centro capitalista global contra os interesses regionais desses países. Ainda, pudemos
observar como os processos de idas e vindas, aproximações e afastamentos, das relações
franco-germânicas deram o tom da integração europeia, principalmente pela via monetária. As
elites francesas e alemãs, em seu íntimo casamento na Europa Ocidental, deram o tom do
processo de união econômica e monetária desenvolvida a partir do Tratado de Maastricht. Os
alemães, obrigados a abrir mão do Marco em troca da reunificação e da nova
institucionalidade europeia, trataram de impor sua gestão monetária ortodoxa a todo o
continente via BCE. Enquanto que a Londres, coube assistir de longe esse processo e garantir,
pela cláusula de exclusão, que não seria obrigada a ceder sua soberania monetária em favor de
uma instituição independente, o BCE (SOUSA, 2013). Talvez os britânicos estivessem
adiantados em saber que os critérios defendidos para a adoção da moeda única fossem ditados
pelo Bundesbank. Não é curioso que a sede do Banco Central Alemão seja na mesma cidade
do Banco Central Europeu, nem que suas políticas ortodoxas e rigidez fiscal sejam parecidas.
O certo é que a tentativa de boicote britânica não afundou o projeto da moeda única, que se
concretizou a partir de 2002.
A partir da introdução do euro, a possibilidade de uma União Europeia triliderada por
França, Reino Unido e Alemanha já não se mostra plausível, e os britânicos perdem cada vez
mais voz no processo de aprofundamento da integração e de consecução dos interesses via
organização internacional (SOUSA, 2013). Além disso, muitas das diretrizes da moeda única
fazem parte de um esforço das elites alemãs de imporem a sua gestão da moeda sob os moldes
dos seus interesses para compensar o fato de que cederam para a criação da mesma contra sua
vontade. Isso fica claro na breve análise das diretrizes do BCE.
94
Vimos, também, que a crise na economia americana a partir da década de 1970, que
contestou a sua hegemonia no mundo capitalista, foi seguida por uma guinada europeia a fim
de transformar seu regime para atender aos seus novos interesses, e que o fim da Guerra Fria e
o desmonte das economias comunistas do leste deram aos Estados Unidos outras
possibilidades de ação no mundo, via globalização e desregulamentação dos mercados, e que
os europeus souberam reagir às imposições ditadas daquele que outrora fora propulsor e
financiador da integração. O projeto da União Europeia, então, se tornou uma reformulação
do regime internacional para atingir os novos interesses dos grupos e elites dominantes em um
grupo pequeno de países, que não abandonaram o regime anterior, mas o modificaram em seu
favor, visto que os custos de se criar um novo regime internacional são maiores do que de se
manter. Isso demonstra que o grupo de países pequenos teve a capacidade de alterar o regime
assim que o poder hegemônico passou a ser contestado e que pôde reagir à tentativa de
retomada de poder por parte dos Estados Unidos.
No capítulo seguinte poderemos analisar como os acontecimentos da década de 1990,
que marcaram uma inflexão considerável do papel e da posição alemã no tabuleiro europeu,
proporcionaram o desempenho que a Alemanha tem desenvolvido na União Europeia e como
ela utiliza essa nova posição na gestão da crise da moeda única. Contaremos, contudo, antes
disso, com uma análise de outros processos que possibilitaram a inflexão alemã em âmbito
europeu: o alargamento da União Europeia para o leste, região de grande influência dos
capitais germânicos; a política externa alemã mais independente e expansiva, diferente do
período da Guerra Fria; e da superação da condição de ‘homem doente da Europa’ para
‘locomotiva europeia’ do ponto de vista econômica com as reformas trabalhistas adotadas e a
crise dos seus parceiros do euro. Todo esse processo, como vimos e poderemos reafirmar logo
mais, foi paralelo ao afastamento e diminuição da influência hegemônica na Europa, seja por
razões dadas pelo contexto internacional, seja pela resistência europeia em se distanciar e
resistir aos ditames do poder hegemônico global. Por fim, poderemos ainda analisar como a
Alemanha tem desenvolvido o seu papel na Europa no período de grande crise institucional e
econômica pela qual passa o continente.
95
3 – DA UNIÃO MONETÁRIA À CRISE DA DÍVIDA.
No capítulo anterior discutimos o processo que levou à mobilização dos países
europeus em torno da integração regional. Como vimos, o contexto internacional pós-Guerra
Fria deu grande impulso à aproximação dos países ocidentais, principalmente dado o contexto
interno de diversos países. A destruição material e psicológica dos anos de guerra (Primeira e
Segunda Guerras Mundiais) fez com que logo os grupos de interesse que exerciam poder
sobre a estrutura dos Estados-nacionais europeus percebessem que deveriam se engendrar em
um processo de integração regional através da pacificação e do entrelaçamento econômico
para evitar que choques políticos via forças de grupos de interesses mais populares pudessem
tomar os governos desses países. O movimento teve imenso incentivo do poder hegemônico
dos Estados Unidos e possibilitou a criação daquela que seria o embrião da União Europeia, a
CECA. Ainda, a União Soviética também funcionou como catalisador desse processo, visto
que a “ameaça” que sua simples existência exercia sobre as lideranças europeias ocidentais
possibilitou esse alinhamento que permitiu o surgimento do regime internacional. Também, a
integração europeia surgiu em torno de uma área específica que era comum aos seis Estados
que fundaram a CECA, o controle sobre a produção e comercialização de insumos que são
básicos nas indústrias de guerra, o carvão e o aço. O relativo sucesso em torno de uma issuearea possibilitou a ampliação da integração para outras áreas comuns, como a energia atômica
e o mercado comum.
As mudanças ocorridas na estrutura do sistema entre meados dos anos 1960 e meados
dos anos 1970 marcou a primeira grande manutenção do regime europeu como mecanismo de
proteção contra as investidas do poder hegemônico, que foram acompanhadas por mudanças
96
também internas nos Estados europeus. Primeiro, o padrão dólar-ouro dava sinais de
esgotamento já na década de 1960, gerando grande desconfiança por parte de investidores e
governos, que preferiam manter reservas e negociar em moedas diferentes do dólar, abalando
a estrutura do Sistema de Bretton Woods e, consequentemente, a própria hegemonia norteamericana. Associado a isso, as relações com a União Soviética haviam se acalmado após os
abalos relacionados a construção do Muro de Berlim. No começo da década de 1970 os
Estados Unidos rompem unilateralmente com os acordos de Bretton Woods e o padrão dólarouro e adotam o padrão dólar-flutuante, impondo ao restante do mundo seu controle
monetário. O contexto externo mais adverso ocorreu em um momento de maturação das
economias europeias após um longo período de reconstrução que vai até os anos 1960. A
partir de então, a estabilidade econômica e a paz social adquirida através do estado de bemestar social, que priorizou a criação de empregos e os benefícios sociais, possibilitou que os
grupos de interesses que se fortaleceram no período anterior pudessem buscar outras
alternativas externamente, possibilitando que os Estados europeus experimentassem resistir
aos mandos e desmandos do centro hegemônico. Não podendo evitar a adoção da flutuação
cambial, no entanto, buscaram se proteger via integração regional, aprofundando o
regionalismo europeu pela via monetária. É nesse período que surgem as Comunidades
Europeias, aglomerando e institucionalizando as três comunidades até então desenvolvidas em
um arranjo institucional mais unificado, que os processos de alargamento se iniciam com a
entrada de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda em 1973 e que as primeiras conversas em torno
da união monetária se iniciam. A Serpente Monetária surge também nesse período como
forma de resistir à flutuação pura das moedas nacionais europeias, dando uma margem de
flutuação que permitisse que os Bancos Centrais dos nove países membros coordenassem suas
políticas econômicas (SOUSA, 2013). O choque dos juros por parte dos Estados Unidos e os
processos de abertura política e econômica da União Soviética no final da década de 1970 e
começo da década de 1980 respectivamente, empenharam os governos europeus a aprofundar
a integração e expandir, mais uma vez, as issue-areas do regime.
Em outras palavras, essa monografia considera que os acordos que deram origem à
União Europeia funcionam como regimes internacionais, isto é, como um conjunto de regras,
princípios e procedimentos de tomadas de decisão que regem o comportamento dos Estados
numa determinada issue area, de acordo com a definição de regimes que utilizados baseada
na teoria de Keohane (1984). No entanto, entende-se que a adaptação desse regime ao longo
97
dos anos às necessidades dos seus membros envolveu não apenas o aumento no próprio
número de membros como nas regras e issues areas compreendidas pelo regime internacional.
Além disso, esse regime sofreu alterações relacionadas à distribuição de poder e
interesse dos membros: desenvolvimentos da década de 1990 possibilitaram que a Alemanha
se destacasse nas negociações com seus pares europeus no âmbito da União Europeia. A
moeda única e o tratado de Maastricht de aprofundamento da integração monetária, mesmo
que sejam desdobramentos de iniciativas de períodos anteriores, como vimos, foram projetos
nos quais a Alemanha se viu forçada a ceder aos seus colegas para que os mesmos aceitassem
o processo de reunificação da RFA e da RDA. No entanto, a Alemanha garantiu que as
normas e diretrizes em torno da integração econômica e monetária seguissem políticas
próximas daquelas adotadas internamente, conforme práticas adotadas pelo Bundesbank para
a gestão do DeutschMark. Ainda, a Alemanha conseguiu garantir dentro da instituição que a
integração política seria um caminho inevitável a ser tomado pela UE e, também, garantiu
mais cadeiras para si no Parlamento Europeu, ampliando sua influência na UE em detrimento
dos outros Estados-membros.27 Analisaremos, a partir de agora, o período que compreendeu a
maior transformação na estrutura do sistema internacional e que trouxe grandes
transformações para o mundo e veremos, especialmente, seus efeitos sobre os Estadosnacionais europeus, principalmente o alemão. E, além disso, veremos como as transformações
poderiam ter ampliado as capacidades alemãs dentro da UE, levando ao empoderamento
alemão, permitindo que este Estado pudesse tomar as rédeas da condução da crise econômica
dos países da Zona do Euro a partir do começo da década de 2010.
Neste capítulo, portanto, enfatiza-se três desdobramentos que podem ter ampliado o
poder de influência da Alemanha no Bloco e permitiram que ela liderasse seus parceiros na
turbulência da economia internacional a partir da reestruturação que o Sistema Internacional
sofreu na década de 1990. Na primeira seção desse capítulo observaremos o processo de
queda da União Soviética e o consequente fim da Guerra Fria e quais suas implicações para a
estrutura do sistema internacional e como essas alterações sistêmicas significaram novas
possibilidades para os países europeus, especialmente para a Alemanha em matéria de política
externa, e para o regime europeu. Assim, poderemos analisar como a Política Externa Alemã
se comportou no respectivo período e quais as principais mudanças e continuidades da
Política Externa nessa década em relação aos períodos anteriores. Com isso, iremos observar
27
Outros grandes países ampliaram suas cadeiras no Parlamento Europeu, mas por exigência alemã essas
cadeiras seriam menores do que aquelas ampliadas para os alemães, em decorrência da reunificação.
98
como a Alemanha adotou uma postura internacional mais independente, apesar de nunca ter
abandonado a aliança atlântica com seus pares ocidentais e com os Estados Unidos. Na seção
seguinte veremos o processo de alargamento da União Europeia para o Leste europeu na
década de 2000, processo possibilitado com a mudança na estrutura internacional que findou a
bipolaridade. O alargamento aqui a ser analisado vai se concentrar naquele ocorrido a partir
de 2004 e que abarcou, principalmente, os países da antiga área de influência da União
Soviética, isto porque a Alemanha foi e continua sendo o país europeu ocidental com os
maiores laços e influência sob os países europeus orientais, isto graças ao peso da sua
economia. Iremos, contudo, relacionar todo o processo de alargamento que se iniciou na
década de 1970 e avançou até a última adesão ao Bloco, em 2013 pela Croácia. E, além disso,
na seção seguinte, veremos a lenta transformação na estrutura do sistema causada pelo
advento dos grandes países emergentes e da crise financeira internacional que afetou a Zona
do Euro e, então, analisaremos a postura alemã para a União Europeia na condução da Crise
da Dívida que abarcou a Zona do Euro e que levou à consequente contestação da Moeda
Única, da liderança alemã e, também, da própria União Europeia. E assim, por fim, na última
seção poderemos analisar de que forma a Alemanha se comportou desde a reunificação frente
a temas ligados à integração europeia e às políticas regionais, podendo avaliar se houve
mudanças na postura desse país para o Bloco e em que medida essas mudanças estão ligadas
aos processos que descrevemos no capítulo anterior e neste capítulo.
3.1)
A
REESTRUTURAÇÃO
DO
SISTEMA
INTERNACIONAL
SOB
A
UNIPOLARIDADE E AS CONSEQUENTES PERSPECTIVAS ABERTAS À
POLÍTICA EXTERNA ALEMÃ.
O período do final da década de 1980 foi decisivo para os processos que ocorreriam na
Europa a partir de então. Como já mencionamos, em 1985 a União Soviética sinalizou para a
sua abertura política e econômica com a Glasnost e a Perestroika. O abrandamento da rigidez
soviética possibilitou que os países satélites no leste seguissem pelo mesmo caminho de
abertura, abrindo caminho para que reformas e eleições livres fossem realizadas. O
comunismo começou a ruir no leste primeiro na Polônia, com eleições livres para o
99
parlamento ainda em 1989. O movimento foi seguido por Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária
e pela própria Alemanha Oriental. Esse processo possibilitou a reunificação das RFA e RDA,
como já discutimos. Em 1991, não livre de tensões, era a vez de a União Soviética pôr fim ao
comunismo e, então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu em quinze
Estados independentes28 (BANDEIRA, 2000). A derrocada soviética e sua dissolução em
diversos países marcou o fim do período chamado como Guerra Fria que compreendeu os
anos posteriores ao fim da Segunda Guerra na década de 1940 até o ano de 1991. Finda a
URSS, não havia no mundo socialista país que se opusesse aos Estados Unidos de forma a
continuar o enfrentamento e a disputa política-ideológica com capacidade tecnológica de
sustentação, fazendo assim com que a Guerra Fria fosse declarada como acabada e o mundo
se visse livre do sistema bipolar.
A derrocada soviética marcou o que se denominou de Nova Ordem Mundial29, laçando
os Estados Unidos em uma investida neoliberal que buscava desregulamentar e liberalizar o
comércio mundial em um processo global que unisse as nações do mundo em uma perspectiva
de expansão prolongada e ininterrupta do crescimento econômico. Quanto a este contexto,
Paulo Fagundes Vizentini resume bem:
No segundo semestre de 1989, ruíram todos os regimes socialistas do leste europeu,
que integravam o bloco soviético. O presidente norte-americano George Bush colhia
os frutos da ofensiva conservadora de seu antecessor, Ronald Reagan, e saudava o
fim da Guerra Fria como o advento de uma Nova Ordem Mundial de paz,
prosperidade e democracia. Francis Fukuyama, funcionário do Departamento de
Estado norte-americano, em um artigo jornalístico que evocava o pensamento do
filósofo Hegel, proclamou O fim da História, com o triunfo do capitalismo de corte
(neo)liberal e o fim das ditaduras e do socialismo estatista. Dois anos depois, a
própria URSS desintegrava-se e seu regime também desaparecia (VIZENTINI,
2004, p. 2, grifos do autor).
Nesse sentido, o fim da chamada Guerra Fria marca o início de uma nova ordem
mundial baseada na superpotência sobrevivente, os Estados Unidos, que a partir de então
reduziria sua dominação sobre a Europa, reduzindo o contingente militar estacionado sobre o
continente e se concentraria em impulsionar a liberalização dos mercados em todo o mundo.
Já em 1991, no entanto, os EUA se envolveriam em mais um conflito militar, no Golfo
28
Rússia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão,
Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão.
29
Idealizado pelo presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, acreditava-se que o mundo se engendraria em
laços democráticos e de paz contínuas em um ambiente neoliberal global (VIZENTINI, 2004).
100
Pérsico, comprometendo logo de cara a possibilidade de uma nova ordem baseada na paz e na
democracia. Apesar de iniciada pouco tempo antes da extinção da URSS, a Guerra do Golfo
já apresentava a impossibilidade de um mundo baseado na paz hegemônica. A atuação norteamericana no mundo a partir desse período esteve embasada no plano de dominação global
conhecido como Defense Planning Guidance30, com o qual se exerceria o poder pela
globalização neoliberal e pela geopolítica imperial (FOSTER, 2006). Para Samo Sérgio
Gonçalves, no período pós-Guerra Fria, o novo referencial da política externa dos Estados
Unidos foi a estratégia que muitos chamaram de Primazia. Nesse sentido, ele considera que
preservar o mundo unipolar foi o principal objetivo da diplomacia norte-americana desde a
queda do muro de Berlim (GONÇALVES, 2004). Quanto aos governos norte-americanos na
década de 1990 e começo do novo milênio, Foster pontua que:
Durante o governo Clinton, a política externa foi pautada tanto pela globalização
neoliberal quanto pela geopolítica imperial, mas a primeira sempre teve precedência.
No governo George W. Bush o duplo comprometimento permaneceu, mas a ênfase
foi mudada no começo para uma tensão mais direta dada ao fortalecimento da
primazia global dos Estados Unidos por meio do exercício do poder
geopolítico/militar em contraposição ao poder econômico (FOSTER, 2006, p. 29).
Portanto, o projeto global dos Estados Unidos de buscar afirmar sua hegemonia
através de suas forças econômicas e militares serviu, em parte, para dar maior margem de
manobra para a Europa no seu projeto de integração regional e de ampliação do seu regime.
Os EUA criticaram o regionalismo europeu tendo em vista a liberdade comercial, mas não
adotaram medidas concretas para de fato forçar os europeus a recuarem. Nesse sentido, serve
a ponderação de Foster sobre o papel da Comunidade Europeia na tríade do liberalismo e no
projeto de dominação global norte-americano (FOSTER, 2006). Assim, servindo ou não ao
interesse hegemônico, o fato é que o novo contexto internacional unipolar possibilitou que a
União Europeia pudesse avançar alavancando as áreas de atuação da instituição para além da
área econômica (novas issues areas), adotando então o caráter político-diplomático e judicial,
com a implementação da Política Externa e de Segurança Comum e da Cooperação Policial e
Judicial em matéria Penal.
“O Defense Planning Guidance propunha um objetivo geopolítico global para os Estados Unidos de
hegemonia militar permanente por meio de ações preventivas (FOSTER, 2006, p. 26, grifos do autor)”. Para
mais, ver: FOSTER, John B. A nova geopolítica do império. Monthly Review. v. 57, n. 8, 2006, jan. 2006, p.
11-38.
30
101
Nesse contexto, portanto, as restrições externas à política externa alemã que vigoraram
durante o período da Guerra Fria deixaram de existir. O fim da URSS e a estratégia norteamericana de manutenção da hegemonia econômica global através da tríade fizeram da
Europa Oriental a primeira região de atuação mais acentuada da política externa da Alemanha
possibilitando, também, que as forças armadas do país pudessem passar de forças de defesa
para forças militares com atuação externa ao território alemão, uma mudança significativa do
status das forças armadas desse país com respaldo legal (ZEHFUSS, 2001), permitindo que a
Alemanha pudesse atuar nas missões de paz que se desenrolaram longo da década de 1990 e
culminou na participação na Guerra do Kosovo em 1999. Nesse sentido, a Alemanha
reorientaria sua política exterior em relação aos nortes que regiram suas forças armadas desde
sua reconstituição na década de 1950, quais sejam: “Auschwitz nunca mais”, “guerra nunca
mais” e “sozinha nunca mais” (ZEHFUSS, 2007). Ressaltamos que esse período no qual o
Estado alemão priorizou a região oriental da Europa coincidiu com os esforços da
reunificação. No contexto interno, esse período foi demarcado pelo imenso empenho alemão
em garantir o sucesso da reunificação através de programas de convergência entre as regiões
orientais e ocidentais do país que exigiram grande esforço fiscal e econômico durante mais de
uma década, como já discutimos no capítulo anterior. Portanto, a Alemanha se engajaria em
um processo de aproximação daqueles países do leste com a União Europeia e seus valores
comunitários.
Como já discutimos, o processo de aproximação da Alemanha com os países do leste
europeu se iniciou no final da década de 1960 com a política de Willy Brandt conhecida como
Ostpolitik, que visava normalizar as relações com os países satélites da União Soviética e de
reconhecimento mútuo com a República Democrática Alemã, em uma via bastante comercial
que propiciou no final dos anos 1980 à Alemanha o primeiro lugar no nível de investimentos
estrangeiros naquela região. No período da Ostpolitik, no entanto, é quando se delineiam os
traços futuros da política externa alemã com os países do leste, que é a região que recebeu
principal atenção deste país terminada a Guerra Fria. Para René Armand Dreifuss, essa
política externa era projetiva, consentida, mas não controlada que foi se tornando oposta aos
vetos dos parceiros ocidentais. Sobre a política externa alemã no período, ele afirma que:
Fazia da RFA o único país a ter, de fato e conceitualmente, uma formulação
estratégica, voltada para uma política pró-ativa no Leste Europeu. Política esta que
não se limitava à contenção militar, nem ao enfrentamento político e
propagandístico, mas buscava a construção de cabeças-de-ponte (e, em momentos,
102
de efetivas pontes), à espera de uma oportunidade viável para o cruzamento. (...) A
RFA aprendia, om isto, o exercício da política externa (mesmo sem sustentação
militar ostensiva), tornando-se um profundo conhecedor desse campo e o único país
no Ocidente a ter um equivalente linguístico e cultural no Leste Europeu – a própria
RDA. Com isto, o alemão e a Alemanha (re)ganhavam um perfil “oriental”
(DREIFUSS, 2000, p. 351).
Para Dreifuss, contudo, é no período em que Helmut Kohl (CDU) esteve a frente da
Chancelaria Federal (1982-1998) que se consolidam os laços econômicos, políticos e culturais
entre a Alemanha e as repúblicas do leste europeu. Não por acaso este período coincide com a
abertura e derrocada soviética, o fim da Guerra Fria e a reunificação alemã. Nesse sentido, os
laços desenvolvidos tratam de resguardar à Alemanha o papel de ponte entre os valores
ocidentais e os países orientais da Europa através de uma estratégia de arredondamento
regional no centro e leste do continente. Já em 1989, a corrente de comércio atingia cerca de
US$ 34 bilhões, fazendo da RFA a maior parceira comercial dos países da antiga área de
influência soviética, suplantando a própria superpotência comunista. O sistema financeiro
alemão, por outro lado, atuou para formar espaços conexos de influência nesses países,
transformando a Alemanha na maior fornecedora de empréstimos e ajudas emergenciais dessa
região. A RFA nesse período era a maior parceira comercial da Rússia, a segunda maior
investidora na Hungria, comprava cerca de 1/3 das exportações polonesas e correspondia a
25% das importações da República Tcheca (onde fez mais de 5 mil joint ventures), Hungria e
Polônia. Dessa forma, atuou para a neutralização da Hungria, a reafirmação da região Tcheca
no processo de divisão da Tchecoslováquia e da Eslovênia como área de forte presença na exIugoslávia (DREIFUSS, 2000).
Nesse sentido, portanto, a Alemanha seria responsável por criar na Europa Central e
Oriental cadeias de produção transfronteiriças, fazendo processo de interdependência
semelhante ao que foi feito no Ocidente no período pós-guerra que possibilitou a consolidação
da integração europeia. Assim sendo, ao se tornar propulsora da expansão para leste dos
valores ocidentais, se propõe como potência aglutinadora capaz de estabilizar e promover
prosperidade e, assim, representando a maior parceira comercial da Rússia e de todos os
países do leste, a maior emprestadora de dinheiro, a nação que mais investe e a mais próxima
culturalmente e linguisticamente, a Alemanha seria a maior entusiasta e defensora da entrada
dos países do leste europeu na União Europeia, fato que se concretizou com a entrada de mais
de 10 países a partir de 2004. Iremos discutir o processo de alargamento da União Europeia na
seção seguinte, por hora, nos focaremos em como a reformulação do sistema internacional sob
103
a égide unipolar possibilitou que a Alemanha retomasse suas forças armadas expedicionárias,
não mais como forças de defesa, mas como um exército capacitado a atuar internacionalmente
no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte, marcando uma virada histórica no
papel internacional desse país.
As relações desenvolvidas com os países do leste europeu passaram, sobretudo, por
um aval das relações entre Alemanha e Rússia. Desde o fim da União Soviética, o Estado
russo buscou com sua política externa encontrar um aliado na comunidade ocidental que
pudesse servir como interlocutor dos interesses russos no continente europeu e na relação
transatlântica e, pelo histórico vivenciado pela Alemanha e pelas razões econômicas já
citadas, a República Federal serviria a cumprir esse papel (DREIFUSS 2000). No âmbito
dessa relação, a posição da Europa Oriental foi determinada pelo entendimento russogermânico. Esse entendimento passou pelo fator econômico e comunitário, já discutidos, bem
como pelo fator militar, visto que a expansão da OTAN para essas regiões do antigo Pacto de
Varsóvia representavam uma ansiedade do governo alemão. Nesse sentido, a Alemanha
buscava conciliar duas frentes de sua política externa, uma a leste englobando também a
Rússia e outra a oeste, na aliança transatlântica. A Rússia se opôs fortemente à expansão da
OTAN, mas não conseguiu evitar que o processo ocorresse. Quanto a este contexto, Maria
Raquel Freire e Patrícia Daehnhardt explicam o processo:
As políticas de alargamento da UE e da NATO a estes países foram fortemente
promovidas pela Alemanha que se tornou assim um participante activo na
transformação da arquitectura de segurança na Europa. O ministro da Defesa
alemão, Volker Rühe, foi, desde 1993, um dos europeus que mais defendeu o
alargamento da NATO à Polónia, à Hungria e à República Checa. O apoio alemão
manteve-se apesar da contínua oposição por parte da Rússia. Para o então ministro
dos Negócios Estrangeiros russo, Evgueni Primakov, o alargamento da NATO «foi
possivelmente o maior erro desde o fim da Guerra Fria». Na tentativa de acomodar
os interesses de todas as partes envolvidas através de relações altamente
personalizadas, Kohl deu um impulso decisivo na redefinição da relação entre a
NATO e a Rússia, em 1997, aquando da assinatura do Acto NATO-Rússia. (...) Esta
dificuldade de equilibrar uma «política a Leste» (Ostpolitik) com uma «política para
a Rússia» (Russlandpolitik) faz parte das linhas de continuidade da política externa
alemã para esta zona. É em parte este factor que ajuda a explicar porque é que os
decisores políticos alemães promoveram activamente a adesão dos países da Europa
de Leste à UE, e porque é que se mostraram mais reticentes quanto ao alargamento
da NATO para junto das fronteiras com os novos países da ex-União Soviética
(FREIRE, 2011, p. 179-180, grifos do autor).
104
A organização de segurança coletiva ocidental, por outro lado, seria utilizada para
conter conflitos armados desencadeados nos Bálcãs na esteira do processo de
desmembramento da Iugoslávia na década de 1990. Essas intervenções foram as primeiras da
história da OTAN na Europa Oriental desde a sua criação e só puderam ser possíveis graças a
dissolução da União Soviética. A República da Iugoslávia se constituía de uma união de
diversas nações com formações culturais e étnicas diferentes que, terminada a Guerra Fria e
desmantelada a URSS, logo trataram de declarar a independência da união eslava. Nesse
processo, Eslovênia, Macedônia e Croácia foram os primeiros a se tornarem independentes
entre meados e fins de 1991. No ano seguinte, a declaração de independência da Bósnia faz
estourar um conflito armado quando as tropas internas iugoslavas contra e a favor da
independência da Bósnia começam as ofensivas, dando início à Guerra da Bósnia (19921995). O conflito se arrastou até 1995, com pouca interferência da ONU mais efetivamente,
buscando apenas conter as hostilidades e fornecer proteção civil. A Aliança Atlântica entrou
no conflito com o respaldo de defender as posições das Nações Unidas na região após
algumas instalações terem sido atacadas pelo exército com apoio sérvio e, assim, o primeiro
bombardeio da OTAN ocorreu em 1995, no final da Guerra da Bósnia, sendo decisivo para a
derrota das forças militares que contavam com o apoio sérvio, levando ao acordo que pôs fim
ao conflito no mesmo ano e garantindo a independência da Bósnia-Herzegovina da República
da Iugoslávia31. Os Estados Unidos participaram decisivamente nos bombardeios com a
participação de mais 14 países, entre eles a Alemanha (com apoio médico). O conflito nos
Bálcãs assistiria a mais uma volta de hostilidades quando da luta por independência do
Kosovo (1998-1999) e no qual a OTAN participaria mais uma vez e marcaria a primeira
atividade com forças militares de combate alemãs fora do seu território desde o fim da
Segunda Guerra Mundial. Agora o apoio não era só médico, mas com forças de combate,
marcando a transformação dos paradigmas que nortearam a política de defesa alemã desde o
fim da Segunda Guerra Mundial (ZEHFUSS, 2007).
As operações realizadas em 2001 no Afeganistão pela OTAN também contaram com o
apoio da Alemanha, ajudando a consolidar a mudança da sua política externa no pós-Guerra
Fria em relação ao que prevaleceu até os anos 1980. Nesse sentido, a proibição do uso de suas
forças militares fora de suas fronteiras foi substituída por uma possibilidade legal de atuação
militar através da permissão dada pelo parlamento alemão, o Bundestag (NOLTE, 2002).
31
Para a Guerra da Bósnia e a atuação da OTAN, ver: FERREIRA, T. Guerra irregular complexa: Aspectos
conceituais e o caso da Batalha de Vukovar.
105
Assim, as normas que caracterizaram a questão de defesa alemã desde a metade do século XX
tiveram que ser reavaliados para se enquadrarem no novo papel que a Alemanha deveria
desempenhar no novo mundo globalizado na nova ordem mundial idealizada pelos Estados
Unidos. A norma do “sozinha nunca mais” havia sido implementada na total integração da
política de defesa alemã dentro da OTAN, à qual se juntava uma forte ênfase na parceria e na
previsibilidade, estabelecendo que as forças armadas do país só atuariam em conformidade
dos seus parceiros da aliança militar. A norma do “guerra nunca mais” foi implementada pelo
reconhecimento da futilidade política da guerra e seu alto custo destrutivo. E, por último, a
norma do “Auschwitz nunca mais” pregava a vedação ao uso da força por soldados alemães
mesmo em intervenções militares. Esses preceitos funcionaram durante a Guerra Fria dado o
contexto externo e o trauma muito presente na sociedade interna. Por outro lado, a nova
ordem pós-1991 exigiria maiores responsabilidades da Alemanha, que se pretendia um poder
responsável no mundo ao lado dos seus parceiros ocidentais. Esse processo se deu no bojo da
“normalização” da política de defesa no seio da sociedade alemã. Quanto a isso, Kai Michael
Kenkel nos ajuda a reforçar a ideia:
A predominância de fatores externos no caráter do engajamento alemão no debate
quanto às normas de intervenção se manifesta claramente na primeira onda de
contribuições que se referiram enganosamente à reconciliação da opinião pública e
das elites com o uso da força militar pelo Estado alemão como suposta
“normalização” de sua política de defesa (Gordon, 1994; Young, 1992). O rótulo da
“normalização” arroga o caráter de “normal” para a interpretação dada à norma da
intervenção humanitária pelos Aliados ocidentais, deixando entender que a
aproximação com esta é política e moralmente aceitável e desejável. Assim,
aprofunda-se o abismo entre o desejo de evitar um Sonderweg (caminho à parte,
entendido como atuação solitária na política externa), particularmente através da
aliança com o Ocidente, e a renúncia ao uso da força como resultado das
experiências negativas do passado (KENKEL, 2012, p. 162).
Nesse sentido, a Alemanha reforçava o ideal de se apresentar como uma “potência
civil”, como desenvolvido pelo estudioso alemão Hanns Maull (1994), rejeitando a atuação
unilateral de um Estado baseado em cálculos realistas e no interesse nacional geopolítico.
Acreditava-se, sobretudo, que uma potência civil deveria se engajar no uso construtivo da
força militar legitimada pela tomada coletiva de decisões. Dessa forma, invocava-se a
responsabilidade internacional baseada na ideia de uma potência civil como o propulsor das
atividades militares alemãs para fora do seu território em intervenções consideradas
humanitárias. Portanto, a sua participação da Força de Proteção das Nações Unidas
106
(UNPROFOR 1992-1995) foi embasada na ideia de que a Alemanha era uma potência
regional na Europa e deveria assumir suas responsabilidades como tal e como aliada,
evocando a norma do “sozinha nunca mais”. Na Guerra do Kosovo, novamente, a
responsabilidade é evocada como forma de “responsabilidade de proteger” vítimas de
atrocidades embasada na ideia do “Auschwitz nunca mais”.
Assim, as forças armadas alemãs que até 1990 tiveram participação internacional
bastante limitada, atuando exclusivamente em missões de socorro pós-desastre de pequena
escala e na entrega de ajuda humanitária graças a restrições internas originadas em um tabu
político em torno do envio de tropas para o exterior para combate, tendo a RFA recusado duas
vezes pedidos dos EUA de enviar tropas para o Vietnã e para o Golfo Pérsico dada a
inconstitucionalidade, passa por um debate moral e legal de sua atuação internacional nos
anos 1990. O período pós-reunificação foi marcado por uma insistência dos Estados Unidos
para que a Alemanha assumisse seu papel internacional mais proeminente. Nesse sentido,
propostas de participação alemã na primeira Guerra do Golfo foram consideradas pelo
governo Kohl, apesar da recusa. O chanceler, entretanto, defenderia o aumento das
responsabilidades alemãs com os aliados como forma de recompensar o apoio que recebeu
dos mesmos no processo que levou à reunificação. Assim, Kohl, que recebia coro de dois dos
seus maiores ministros – Klaus Kinkel (ministro de relações exteriores) e Volker Rühe
(ministro de defesa) – defendia maior participação alemã externamente. O debate gerado por
aqueles que eram pró-participação e os contra-participação levaram a causa para a Corte
Constitucional Federal, que decidiu em 1994 que as tropas alemãs poderiam ser utilizadas
externamente para garantir os valores dos aliados e para responsabilidades humanitárias.
Nesse contexto, a norma do “sozinha nunca mais” se mantinha com a aliança militar e a
norma “Auschwitz nunca mais” tomava nova conotação, defendendo que as intervenções
humanitárias serviriam para impedir que atrocidades contra a humanidade fossem cometidas,
assim o uso da força por soldados alemães estava permitido desde que seja para defender
vítimas de crimes contra a humanidade, demonstrando preferência por essa norma do que pela
“guerra nunca mais” (KENKEL, 2012).
A primeira participação com forças de combate fora do território alemão no Kosovo
foi seguida por uma participação plena no Afeganistão (2001), ficando a Bundeswehr
responsável pelas operações no nordeste do país (KENKEL, 2012). Mesmo a liderança
política tendo mudado de Kohl para Gerhard Schröder, que era contrário as participações
militares nos seus tempos de oposição governista, não alterou a posição da Alemanha nas
107
campanhas militares internacionais. O governo do SPD aliado aos Verdes defendeu
fortemente a norma do “Auschwitz nunca mais” para justificar as atuações das forças militares
alemãs no Kosovo e, posteriormente, no Afeganistão. O governo tinha respaldo social e
político para tanto, com apoio do Bundestag e da opinião pública alemã, que segundo
pesquisas indicavam que 67% eram favoráveis à atuação no Afeganistão (KENKEL, 2012, p.
174). Menos de dez anos depois esse percentual cairia para 26%, tendo mais de 70%
defendido a rápida retirada as tropas alemãs (KENKEL, 2012, p. 174). O governo Schröder,
por outro lado, mesmo apoiando firmemente a atuação no Afeganistão, defenderia uma
política externa mais europeia, priorizando as relações continentais, tomando a Rússia como
importante parceira nesse sentido (FREIRE, 2011). É nesse contexto que França, Alemanha e
Federação Russa fazem coro no Conselho de Segurança da ONU contra a intervenção dos
Estados Unidos no Iraque em 2003, marcando mais uma negativa alemã aos EUA para
participação no Golfo Pérsico. Mesmo o governo CDU de Angela Merkel não mudou o
posicionamento do país, mantendo as operações no Afeganistão, mas marcando uma redução
da participação alemã em intervenções militares, claramente demarcada com a recusa em
participar na coalizão na Líbia em 2012, seja na esteira da perda do apelo popular pelas
operações militares graças à longa operação no Afeganistão, seja pela recusa de destinar
dinheiro dos contribuintes alemães para operações em um período marcado por uma crise
econômica profunda no continente.
Portanto, o período após o fim da Guerra Fria marcou a inflexão da participação alemã
em intervenções militares após um longo período de dormência desde o fim da Segunda
Guerra Mundial até a reunificação do país. Um curto período de debate moral e legal interno
acabou após a decisão da Corte Constitucional Federal dando permissão às operações fora do
território alemão, ampliando as interpretações das disposições a este respeito trazidas na Lei
Básica do país, reforçando a norma do “sozinha nunca mais” e modificando a norma do
“Auschwitz nunca mais” em detrimento do “guerra nunca mais” (KENKEL, 2012). Esse
movimento se liga ao engajamento da Alemanha em aproximar a Europa Central e Oriental
dos valores ocidentais e promover o alargamento da União Europeia para essas regiões sem,
contudo, desafiar a Rússia. Pelo contrário, a virada para o leste se dá com o apoio russo,
mesmo com certa oposição quanto às posições da OTAN para perto de suas fronteiras.
O processo de “normalização” da política exterior da Alemanha demarca uma virada
na tradição do pós-guerra, mas não elimina a tradição atlanticista dos aliados europeus e
norte-americanos no bojo da segurança coletiva, tendo a política externa nesse período
108
continuidades e rupturas com o que era feito até então. Sobre esse momento, Mayhew,
Oppermann e Hough assumem o seguinte: “In other words, a number of changes in
fundamental parameters of German foreign policy constitute a ‘new’ German foreign policy,
even if many specific policies and orientations of German governments at the international
level ramain the same” (MAYHEW et al¸ 2011, p. 6). Assim, portanto, gozando de menores
restrições externas dadas as transformações ocorridas no sistema internacional no final dos
anos 1980 e começo dos anos 1990, a Alemanha pôde exercer uma política exterior mais
independente do que no período anterior, podendo alterar seu papel condicionado na
comunidade internacional e assumindo sua posição como “potência civil”, baseada na sua
responsabilidade internacional enquanto ator relevante no sistema, arcando com os custos da
manutenção da paz, deixando de lado sua “diplomacia do cheque” (KENKEL, 2012)
fortemente relacionada a sua economia exportadora e liberal.
Na seção seguinte, observaremos os resultados da queda da União Soviética e da
abertura na Europa Oriental de possibilidades de expansão da União Europeia graças a
entendimentos entre a Alemanha e a Rússia, permitindo que já em meados dos anos 1990
diversos países do leste se candidatassem a entrar no regime europeu, concretizando esse
processo menos de dez anos depois, em 2004. Veremos, no entanto, como se deu o processo
de alargamento desde a década de 1970 até a última adesão, ocorrida em 2013 com a entrada
da Croácia. E, também, poderemos abordar a preparação que a instituição passou para
absorver os países que outrora foram área de influência soviética e que se constituíam, agora,
como área de influência ocidental, sobretudo alemã. Esse processo de preparação foi, na
verdade, como veremos adiante, realizado através de tratados internacionais que visavam
garantir a dominação e o poder que os grandes Estados ocidentais tinham na UE.
3.2)
PREPARAÇÃO PARA O ALARGAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA:
ALARGAMENTO DO PODER ALEMÃO?
A expansão da União Europeia que impulsionou a influência alemã na organização
através da sua força sobre outros Estados foi, sobretudo, aquela na qual aderiram os países do
leste europeu, anteriormente área de influência soviética, e é por isso que teremos como foco
109
aqui este processo. Vale ressaltar que o desmantelamento da União Soviética em 1991 abriu
as possibilidades de avanço ocidental sobre os países orientais, movimento que foi
duplamente impulsionado pela Alemanha: no primeiro, a aproximação política e econômica
que levou à adesão daqueles países à União Europeia; e o segundo com a entrada desses
países na Aliança militar atlântica da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN),
como já mencionamos na seção anterior. Veremos, no entanto, um breve histórico do
alargamento da comunidade europeia a partir das primeiras adesões às Comunidades
Europeias na década de 1970 antes de discutirmos o alargamento para os países do leste
europeu.
O processo de alargamento do bloco regional europeu se iniciou na década de 1970
depois que as Comunidades Europeias passaram a enfrentar dificuldades de governança
graças aos desentendimentos entre França e Alemanha quanto à condução das entidades
europeias, ao contexto internacional mais adverso depois das investidas dos Estados Unidos e
às divergências acerca da política alemã para os países do leste europeu adotada a partir do
governo Brandt. A Ostpolitik, como vimos anteriormente, foi precursora da influência alemã
sobre os países da Europa Oriental. Após os Tratados de Roma de 1957, diversos países se
candidataram a adesão às Comunidades Europeias na década de 1960, mas todas elas foram
rejeitadas pelo Conselho Europeu ou por veto de membros-plenos das comunidades.32 As
primeiras adesões para as CE se deram em 1973 quando Reino Unido, República da Irlanda e
Reino da Dinamarca aderiram ao bloco. Como vimos no capítulo anterior, a adesão britânica
foi aceita após o fim da resistência francesa (que havia vetado a candidatura em 1961), que
então apoiou a entrada de Londres para balancear o poder advindo da força econômica e das
relações com o Leste que Berlim adquirira.33
A segunda leva de adesões ocorreu na década seguinte, com a entrada da Grécia
(1981) e de Espanha e Portugal (1986), período posterior ao fim das ditaduras nesses países,
visto que o modelo de governo democrático era pré-requisito para a adesão ao bloco. A
candidatura espanhola na década de 1960 sob o governo de Francisco Franco foi rejeitada
pelo Conselho Europeu porque se tratava de um país ditatorial. Como demonstra Luiz Felipe
Brandão Osório, esse período particular da década de 1980 foi o ponto de virada das políticas
comunitárias que abririam caminho para o que veio a se tonar a União Europeia nos moldes
do Tratado de Maastricht:
32
33
Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1961), Noruega e Espanha (1962).
(SOUSA, 2014).
110
O início da década de 1980 pavimentou o caminho para a inflexão que seria dada no
decênio seguinte. Após a redemocratização e relativa recuperação econômica, a
periferia ocidental foi incorporada, como a Grécia, em 1981, e Portugal e Espanha,
em 1986, que integraram o quadro comunitário, em busca de manter o viés de
reerguimento (OSÓRIO, 2015, p. 97).
O próximo alargamento das Comunidades Europeias ocorreu pela absorção da
República Democrática Alemã pela RFA no advento da reunificação antes do lançamento do
mercado único em 1992. As outras adesões ocorreram no período posterior ao lançamento da
União Europeia e dos critérios de adesão estabelecidos pelo Tratado de Maastricht e pelos
Critérios de Copenhagen (1993). A partir de então, para entrar na UE, um Estado precisa
contemplar condições políticas e econômicas definidas pelo acordo de 1993, que requer
principalmente, dentre outros requisitos: que o Estado disponha de instituições estáveis que
garantam a democracia; a prevalência do Estado de direito; respeito aos direitos humanos; a
proteção das minorias; uma economia de mercado; e a capacidade de assumir as obrigações
em vias de alcançar os objetivos da união política, econômica e monetária da UE. Todos os
países que aderiram à UE desde então tiveram que passar pela análise dos critérios
estabelecidos em Copenhagen.34
Antes dos critérios de adesão serem estabelecidos pelo Conselho Europeu em 1993,
alguns Estados haviam se candidatado a entrar na União Europeia desde o final da década de
1980 e o começo da década de 1990: Marrocos e Turquia se candidataram em 1987; a Áustria
em 1989; Malta e Chipre em 1990; a Suécia em 1991; Suíça, Finlândia e Noruega em 1992.
Das nove candidaturas, apenas três delas resultaram no quarto processo de alargamento do
Bloco em 1995. A candidatura do Marrocos foi recusada pelo Conselho Europeu por não se
tratar de um país europeu.35 A Turquia ainda continua sendo um candidato a membro
negociando as cláusulas de adesão desde a década de 1980. Malta e Chipre, por diferentes
razões internas, não estavam aptos ou congelaram a entrada na União Europeia na década de
1990. A Suíça e a Noruega, que foram aprovadas para entrar no Bloco, tiveram suas adesões
rejeitadas por referendos populares – detalhe que ambos tiveram dois referendos negativos à
adesão (1992 e 2001 no caso suíço e 1967 e 1994 no caso norueguês). Assim, portanto,
apenas Áustria, Finlândia e Suécia entraram na UE em 1995, respaldadas por referendos
populares positivos.
34
35
(http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm) – Visitado em 10/06/2015.
(http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/23a2_en.htm) – Visitado em 10/06/2015.
111
A partir de então, o contexto internacional dado pela década de 1990 apresentou para a
Europa um caminho claro para o qual o processo de alargamento se estenderia, o leste
europeu. O fim da União Soviética abriu as possibilidades de expansão europeia ocidental
para os países da antiga COMECON, que se candidataram para adesão à União Europeia
ainda na década de 1990. Polônia e Hungria foram os primeiros, em 1994. No ano seguinte foi
a vez de Bulgária, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia e Eslováquia. Por fim, em 1996
República Tcheca e Eslovênia se candidataram. Muitos desses países teriam sua entrada
alcançada em 2004, quando 10 países adentraram a União Europeia. No entanto, os Estadosmembros mais antigos trabalharam para garantir que os novos membros que viessem a entrar
se adequassem ao modelo político e econômico mais amplamente adotado pelos países
ocidentais. Nesse sentido, os tratados que se seguiram ao Tratado de Maastricht vieram para
concretizar esses interesses. Para o processo de alargamento até 2004 e os tratados que
prepararam o caminho, vemos Osório:
Da Europa dos Seis gradativamente passou-se à Europa dos Quinze e com concretas
perspectivas de ampliação, haja vista a desocupação do Leste Europeu pelas tropas
soviéticas. Assim, vieram o Tratado de Amsterdã, de 1997, e de Nice, de 2001, para
ajustar a institucionalidade e as competências, preparando a organização para a
grande vaga de ampliação ocorrida em 2004, na qual dez países foram incorporados
pela União Europeia (Malta, Chipre, Letônia, Lituânia, Estônia, Eslovênia, Hungria,
Polônia, República Tcheca e Eslováquia) (OSÓRIO, 2015, p. 97).
Todos os dez países da Europa Oriental que se candidataram acabaram entrando na
União Europeia na década seguinte (2004 e 2007) junto com Malta e Chipre, países do sul da
Europa que por conta de políticas internas haviam tido suas candidaturas congeladas. Mais
tarde ainda, em 2013, a Croácia se tornou, até então, o último país a ingressar no Bloco. Mas
de que forma a adesão de países da região que outrora fora área de influência da União
Soviética representou o aumento da influência alemã na União Europeia? A resposta está na
política para o leste desenvolvida ainda na década de 1960 e nas relações entre Alemanha e
Rússia na década de 1990.
Como já discutimos anteriormente, desde o restabelecimento da soberania alemã sob a
égide da República Federal Alemã, com apoio dos aliados ocidentais, a Alemanha trilhou um
caminho de recuperação econômica orientada para o setor exportador de alta tecnologia
desenvolvido graças aos maciços capitais advindos do Plano Marshall (SANTOS, 2000). O
desgaste do governo Adenauer gerado a partir das distensões provocadas pela Crise dos
112
Mísseis de Cuba e do Muro de Berlim fizeram com que a coligação CDU-CSU de Adenauer
obtivesse apenas 45% nas eleições do Bundestag em 1961. Buscando manter-se no poder, o
chanceler procurou por um entendimento com os liberais do FDP para formar um coligação
mais ampliada. No entanto, esse entendimento lhe custou caro pelo motivo de que o FDP
representava, sobretudo, a elite industrial exportadora e homens de negócios que
enriqueceram durante o período do milagre alemão com enxurradas de capitais norteamericanos
(BANDEIRA,
2000).
Esses
grupos
sociais
específicos
representados
politicamente por um partido pressionaram Adenauer a rever sua política exterior,
principalmente aquela relativa aos países do leste europeu, para que a RFA pudesse
normalizar suas relações com os países sob a órbita da URSS a fim de ampliar o comércio
exterior, o que era obstaculizada pela política de não reconhecimento que prevaleceu até então
da Hallstein Doktrin.
Os liberais entendiam que a doutrina de não-reconhecimento implicava em sérios
prejuízos para a RFA ao impossibilitar missões e relações comerciais, impedindo que a RFA
pudesse exportar para os mercados do leste europeu. A saída encontrada por Adenauer foi
buscar soluções para o impasse, chegando a cogitar colocar o próprio Hallstein na chefia da
Política Exterior Alemã, que foi recusado pelo FDP. Mesmo contra sua vontade, Adenauer
indicou Gerhard Schröder para o cargo e acabou renunciando pouco tempo depois. Como
demonstra Luiz Alberto Moniz Bandeira:
Em 15 de outubro de 1963, porém, o próprio Adenauer renunciou ao posto de
chanceler federal, devido às pressões tanto de forças econômicas e políticas internas
quanto do próprio Kennedy, que pretendia força-lo a rever sua política exterior,
aceitando o status quo, i. e., a divisão da Alemanha, o Muro de Berlim e a linha de
fronteira sobre o Oder-Neisse, afim de que os EUA e a URSS pudessem alcançar um
entendimento (BANDEIRA, 2000, p. 135).
A queda de Adenauer abriu caminho para a reaproximação com o leste. Nesse período,
a RFA já era o maior parceiro comercial ocidental da Tchecoslováquia, iniciando ainda
conversas para o restabelecimento das relações diplomáticas. Ainda, entre 1963-1964, em
busca de abrir novos mercados graças a reorientação dos interesses nacionais a partir da
ascensão do FDP, a RFA foi levada a firmar acordos para o estabelecimento de missões
comerciais com a Polônia, a Romênia, a Hungria e a Bulgária. Já a RDA mantinha dois
escritórios comerciais para o comércio interzonal, um em Frankfurt e outro em Düsseldorf. A
grande coalisão SPD-CSU/CDU que levou Brandt ao posto de chanceler federal em 1969
113
tratou de enterrar a Hallstein Doktrin e a estabelecer a Ostpolitk, como já observamos no
capítulo anterior.
O que nos fica claro, aqui, é que interesses de grupos sociais específicos puderam
reorientar a política exterior alemã, bem como os próprios interesses nacionais. Como vimos,
Moravcsik (1997) defende que o Estado representa os interesses de grupos sociais,
subconjuntos da sociedade doméstica e que, portanto, segue os interesses desses subconjuntos
sociais e que as instituições representativas do Estado são o transmission belt pelos quais o
poder e influência dos grupos sociais são transformados em políticas de Estado, políticas
essas que não são pluralistas porque só representam os interesses de uma parcela da
sociedade. Da mesma forma, Putnam (1993) nos diz que grupos sociais influenciam as
relações externas de um país, perseguindo no âmbito doméstico seus interesses pressionando
o governo a adotar políticas favoráveis a eles, e que os políticos buscam formar coalizões com
esses grupos para agregar poder na dinâmica doméstica. Isso explica em parte o que ocorreu
na dinâmica interna da Alemanha no período aqui exposto da década de 1960. Buscando
agregar poder para se manter no cargo de chanceler, Adenauer procurou se aproximar do
FDP, partido que representava um subconjunto específico da sociedade, os industriais e
businessmen, que ao entrarem na coalizão trataram de defender seus interesses. Nesse sentido,
a aproximação com o leste está diretamente ligada a interesses econômicos privados dentro da
sociedade alemã e a diplomacia usaria justamente o poder econômico alemão para fortalecer e
impulsionar a posição do país naquela região, reforçando as relações comerciais e
diplomáticas com o apoio do governo soviético.
O acesso ao poder estatal adquirido por esse subconjunto social através da ascensão do
FDP ao governo fez com que as instituições estatais buscassem satisfazer os interesses desse
grupo e o resultado foi a reorientação da política exterior alemã para os países do leste
europeu, com o fim da Doutrina de Não-Reconhecimento e a adoção da Política para o Leste.
Nesse sentido, o two-level game e o Liberalismo Multicausal explicam o processo. A política
foi tomada em dois níveis distintos, duas frentes políticas diferentes: uma interna e outra
externa. Como vimos no modelo teórico, primeiro os Estados definem internamente quais são
seus interesses ‘nacionais’, influenciados pelos grupos sociais que têm maior poder do que os
outros. Os interesses podem mudar de acordo com a dinâmica política e social do Estado, que
foi o que ocorreu com a Alemanha no começo dos anos 1960. Depois de definir o que é seu
interesse nacional, o Estado transforma esses interesses em política exterior buscando realizar
114
esses interesses, que também foi o ocorrido nesse período, com a reorientação para o leste a
fim de conquistar mercados para a indústria exportadora alemã recém-maturada.
A normalização das relações exteriores com os países do Leste Europeu garantiu à
Alemanha os mercados consumidores que sua elite industrial reclamava, mas aquela região só
se tornou campo de proliferação de capitais alemães em forma de investimentos massivos a
partir de 1989, na esteira das reformas soviéticas e das revoluções anti-comunistas nos antigos
Estados satélites. Como mostrado por Theotônio dos Santos (2000), os investimentos alemães
na Europa Oriental no período 1989-1992 é quase semelhante ao montante destinado aos
outros países em desenvolvimento no mundo, movimento que se modifica no período
subsequente entre 1995-1996, quando o montante de investimento direto alemão nos países
outrora comunistas dobra em relação ao período aqui mencionado, chegando a 10% de todo o
investimento externo do país. Nesse sentido, o período de adaptação à economia de mercado
dos países do leste é também aquele de grande expansão dos capitais alemães nessas novas
economias capitalistas. O interesse alemão não se caracteriza apenas pelo viés econômico,
mas também pelo cultural, político e social. Segundo Lohbauer:
Desde a unificação de outubro de 1990 a política para o leste pertence a uma outra
lógica. A Alemanha se transformou no mais importante parceiro comercial da
Europa Central e do Leste, além de ser o maior defensor da adesão dos países da
região na União Europeia e na OTAN, ao mesmo tempo em que é o mais cuidadoso
negociador com a Federação Russa quando se trata de ampliar as adesões. Seu
objetivo é apenas um: a manutenção da paz e da ordem econômica na região. O
interesse alemão está principalmente no esforço da contenção dos conflitos, evitando
assim eventuais ondas de imigração (LOHBAUER, 2000, p. 311).
Assim, percebemos qual o papel da Alemanha como interlocutor entre o mundo
ocidental e oriental europeu, principalmente no período que sucedeu a queda da União
Soviética. A proximidade geográfica, política e social, garantiu ao Estado alemão poder de
influência quando a URSS desocupou o leste europeu e a Alemanha adotaria, a partir de
então, uma política de pesados investimentos não só na antiga banda oriental alemã, bem
como em toda a Europa Oriental e com a própria Rússia. Nesse sentido, não é de se espantar
que países que outrora era ditaduras comunistas pudessem adentrar ao espaço da União
Europeia em um curto período de tempo, conseguindo cumprir todos os critérios de adesão
definidos em Copenhagen-1993 enquanto outros, como a Turquia, arrasta as negociações por
volta de 30 anos. Não demorou a tensões anti-democráticas fossem sentidas nas ex-repúblicas
comunistas do leste, como na Hungria, Romênia e Bulgária. Isso demonstra o caráter político
115
do alargamento da UE, descontruindo a ideia do cumprimento de critérios pré-estabelecidos
por regimentos da instituição.
O alargamento de 2004 somou aos números da UE além de 10 países, uma população
em torno de 55 milhões de pessoas, quantidade semelhante às populações da Itália, ou França
ou Reino Unido à época. Além disso, o Produto Interno Bruto (Paridade de Poder de Compra)
foi ampliado em torno de US$ 1.170.000,00, de acordo com dados do Fundo Monetário
Internacional36, valor semelhante ao PIB da Espanha na época. Nesse sentido, a UE agregou
aos seus quadros um contingente populacional considerável, exigindo que esses países fossem
representados nas instituições europeias, principalmente com a cessão de cadeiras do
Parlamento Europeu e votos no Conselho da União Europeia, a maior instância decisória da
UE. Os tratados de Amsterdam e de Nice que sucederam o tratado fundador de 1992
buscaram regulamentar os aspectos representativos dos Estados na instituição. O Tratado de
Nice, principalmente, gerou grande polêmica devido às suas cláusulas consideradas
prejudiciais aos países de menor população e PIB porque se adotou nas áreas mais
importantes da sociedade europeia o voto qualificado, que levará em consideração a questão
demográfica. Assim, países com maior população como a Alemanha, a França, a Espanha, a
Itália e o Reino Unido, que possuem maior população, terão maior peso decisório nos quadros
da União Europeia. A Alemanha, ao projetar sua influência sobre os novos países ingressantes
poderia conseguir votos no Parlamento Europeu e no Conselho da União Europeia
equivalentes a de uma grande nação como a França ou o Reino Unido, ampliando sua já
aumentada voz dentro dessas instâncias. Já acréscimo econômico não foi tão considerável,
porque essas economias ainda apresentavam problemas relativos aos anos de dominação
comunista e economia planejada, terreno propício para a expansão econômica dos capitais
ocidentais, principalmente os alemães, os maiores defensores da adesão dos países da Europa
Oriental ao Bloco.
Como já mencionamos, a Alemanha se constituía entre os anos 1990 e 2000 como o
principal parceiro comercial de diversos países europeus orientais. A entrada desses países no
mercado comum europeu abriu três frentes de combate para os industriais alemães para
garantir os seus interesses internos e externos. Primeiro, o mercado consumidor europeu
isento de taxação permitiu que 55 milhões de novos consumidores pudessem comprar
produtos mais competitivos produzidos, sobretudo, na Alemanha. Segundo, foi permitido aos
36
(http://www.imf.org/external/datamapper/index.php) (Visitado em 11/06/2015).
116
capitais alemães entrarem nesses países não só como investimento estrangeiro direto, mas
como investimento produtivo, deslocando parte da produção para essa região, dada a
diferença brutal do valor da mão-de-obra quando comparada ao preço do trabalhador
praticado em território alemão e permitindo a exportação dos produtos lá produzidos para
todo o mercado comum sem taxas, visto que esses países agora são integrantes da União
Europeia. Terceiro, permitiu que os capitalistas pudessem pressionar os movimentos sindicais
da Alemanha, barganhando uma redução de direitos trabalhistas e a flexibilização do mercado
de trabalho para evitar que as indústrias e seus setores produtivos se deslocassem
completamente para os países do leste. Quanto a esse movimento de expansão da fronteira
econômica das empresas alemãs, Dreifuss relata que:
A Alemanha acumula poder industrial, financeiro, material e social, ciência e
tecnologia (...). Por intermédio desse poder, a Europa Central e a Europa Oriental
são transformadas em áreas de influência e presença alemã, confirmadas pelas
cadeias regionais de produção transfronteiriças. Assim, nos últimos anos, mais de
um terço da produção da indústria de vestiária já havia saído da Alemanha,
instalando-se na Hungria, Eslováquia e Eslovênia. Depois foi a vez da indústria
mecânica, seguida pela automobilística. A Continental, quarta maior fabricante
mundial de pneus, (...) transferiu quase metade de sua produção para a República
Tcheca (...). A Audi deslocou sua unidade de produção de motores convencionais
para a Hungria (...). A Siemens levou suas plantas de produção de motores elétricos
e autopeças trabalho-intensivas para a Polônia e sua unidade montadora de fios
multicoloridos que interligam todas as partes elétricas de um carro para a República
Tcheca (DREIFUSS, 2000, p. 355).
Nesse sentido, portanto, a adesão dos países da Europa Ocidental agradou aos
interesses políticos da Alemanha, aproximando para o ocidente países que eram área de
influência russa, aumentando a força da instituição que ela ajudou a fundar e edificar aos seus
moldes e, por outro lado, agradou aos interesses de um grupo social específico, interessado
nas oportunidades que poderiam ser aproveitadas com a conclusão desse processo. Assim,
mais uma vez os instrumentos estatais servem para atender aos interesses de um subconjunto
da sociedade em detrimento do resto da população, visto que a população trabalhadora foi
prejudicada e perdeu diversos dos seus direitos trabalhistas, levando a um desmonte parcial do
estado de bem-estar social conquistado no período posterior à Segunda Guerra. Moravcsik
(1997) respalda essa análise, pois afirma que as políticas não são pluralistas porque atendem
aos interesses do conjunto social mais poderoso. Além disso, como defendemos no nosso
modelo teórico, a formação dos interesses nacionais são definidos endogenamente por pressão
117
e grupos sociais mais poderosos, bem como por influência de grupos sociais poderosos
estrangeiros. Para Moravcsik, poder é igual a influência sobre interesses e resultados por meio
de ideias que podem influenciar e persuadir. Nesse sentido, o debate interno alemão em torno
da questão militar sofreu grande influência de novas ideias sobre o papel da Alemanha no
sistema internacional. Essa pressão veio, sobretudo, dos Estados Unidos, que evocavam a
Alemanha a assumir maiores responsabilidades internacionais e receberam apoio interno da
indústria de equipamentos militares alemã já uma das maiores do mundo na exportação desses
produtos.
Defendemos também que quanto maior for a contribuição material de um Estado em
uma organização internacional, maior é a influência dos seus grupos sociais sobre os grupos
sociais dominantes em Estados mais fracos. Nesse sentido, portanto, os atores sociais
poderosos na Alemanha exercem maior influência sobre os grupos sociais de Estados mais
fracos do que o sentido inverso, fazendo com que os interesses “nacionais” dos seus
respectivos Estados tendam a convergir em prol dos interesses dos capitalistas industriais
alemães. Assim, o alargamento da União Europeia significou o aumento do poder da
Alemanha na instituição porque os interesses defendidos pelo seu Estado foram ampliados e
absorvidos pelos Estados mais fracos que adentraram à UE, por meio de influência externa
amplificada através dos investimentos de capitais alemães e estabelecimento de indústrias nos
países do leste com força de alterar a dinâmica política e partidária nesses Estados, com um
novo grupo social lá instalado e associado com grupos sociais locais com interesses
econômicos semelhantes, que como vimos com Putnam, pressionam o governo a adotar
políticas favoráveis a eles. Assim, não fica difícil enxergar o posicionamento dos países do
leste europeu quando concordam ou tomam posição semelhante ou que agrade aos alemães.
Nem sempre isso ocorre por imposição ou pressão formal, mas sim estão de acordo com a
dinâmica desenvolvida internamente graças à chegada em massa dos capitais após a entrada
na União Europeia. Assim, portanto, o alargamento da União Europeia, sobretudo, em 2004 e,
em menor grau, em 2007, marcou esse processo de entrada de países que ajudaram a
Alemanha a engrossar sua posição nas instâncias do regime internacional de forma mais
abrangente.
Após as adesões dos países do leste europeu, a integração europeia tentava dar o passo
seguinte com a Constituição Europeia, mas que foi rejeitada em 2005 por referendos
populares nos Países Baixos e na França como já discutimos no capítulo anterior. Para reparar
a rejeição popular, os Estados da UE assinaram em 2007 o Tratado de Lisboa no qual se
118
buscou melhorar o funcionamento institucional do regime, possibilitando que a instituição
possa responder mais rápido em momentos de crise. O Tratado veio para emendar o Tratado
da União Europeia (Maastricht 2002) e o Tratado da Comunidade Europeia (Roma 1957),
mas acabou alterando o TCE de 1957, renomeando para Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia (OSÓRIO, 2014). As principais disposições trazidas no tratado foram
importantes mudanças que incluíram o aumento de decisões por votação por maioria
qualificada no Conselho da União Europeia (que representa os Estados-membros) (55% dos
países e 65% da população comunitária); o aumento do Parlamento Europeu (que representa
os cidadãos); no processo legislativo através da extensão da co-decisão com o Conselho da
União Europeia; a eliminação dos Três Pilares e a criação de um Presidente do Conselho
Europeu, com um mandato mais longo; e um Alto Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança, apresentando uma posição unida sobre as políticas da
UE. O Tratado também fez com que a Carta da União em matéria de direitos humanos, a
Carta dos Direitos Fundamentais, se tornasse juridicamente vinculativa (BONDE, 2008). Uma
organização com um número muito maior de membros impossibilitava decisões rápidas para
assuntos urgentes. Nesse sentido, os europeus buscaram flexibilizar institucionalmente as
decisões da UE, mas isso em certa medida reforçava o poder das economias mais fortes.
Assim, não só os grandes Estados populosos ganharam maior peso decisório no regime com o
Tratado de Nice, mas os mais poderosos economicamente também ganharam com Lisboa
(2007), marcando uma sujeição dos Estados mais fracos do leste europeu aos desígnios das
potências tradicionais no continente. Quanto a esse contexto, Osório afirma:
Um maior número de membros, todos com direito iguais, passou a inviabilizar
decisões céleres sobre assuntos urgentes. Em meio a este impasse, cuja demanda era
por flexibilidade institucional e manutenção do poder das economias mais fortes,
foram celebrados em 2007, os Tratados de Lisboa, cuja composição era feita pelo
Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
Estes documentos traziam ao direito comunitário muitas das disposições materiais
previstas na malfadada Constituição Europeia, além de viabilizarem a flexibilidade
institucional, para possibilitar ações mais rápidas em tempos de crise, os quais se
aproximavam. Logo, os Tratados de Lisboa, que foram firmados em dezembro de
2007, mas somente entraram em vigor em 1° de dezembro de 2009, buscaram
adequar e adaptar as estruturas políticas do contexto hodierno às alterações
econômicas consagradas em Maastricht (OSÓRIO, 2014, p. 84-85).
119
O Tratado de Lisboa buscou amenizar a diferença entre o número de assentos no
Parlamento Europeu baseado na população em favor dos Estados mais fracos, mas ainda
permaneceu com grande concentração de poder nos membros mais populosos. No entanto, a
Alemanha segue possuindo o número máximo de cadeiras, que chega a ser quase 10 vezes
maior do que países como Irlanda, Eslováquia ou Dinamarca (BOLDE, 2008). Associado a
isso, a votação por maioria qualificada no Conselho da União Europeia, que determina que a
maioria de votos possa aprovar uma decisão ao invés da unanimidade, também reforçou a
posição dos grandes países, principalmente porque os grandes Estados possuem maior número
de votos quando comparados aos menores. Assim, quatro ou cinco grandes países podem
bloquear uma proposta que é desejada pelos outros membros graças ao peso de suas
populações. Para a Alemanha, especialmente, o peso da população nas decisões da União
Europeia é importantíssimo, visto que é o maior Estado europeu do ponto de vista
demográfico. Somar os seus votos com os votos dos países que ela pode influenciar,
principalmente do leste, garante com que seus interesses sejam garantidos nas instâncias
decisórias da UE, fazendo com que mesmo países grandes como o Reino Unido tenham
dificuldade em opor os interesses alemães (BONDE, 2008).
Na seção seguinte veremos como a crise econômica iniciada nos Estados Unidos se
alastrou para a Europa provocando a maior crise vivenciada pela instituição desde a sua
criação, enfraquecendo o coro comunitário e contestando a legitimidade da própria UE e suas
lideranças políticas, marcadamente a alemã. Ainda, poderemos analisar o papel que a
Alemanha buscou assumir em parceria com a França no enfrentamento da crise da dívida que
rompeu em 2010 primeiro na Grécia e que acabou atingindo Irlanda, Portugal, Chipre e, em
certa medida, Espanha, ameaçando engolir outros países, como a Itália e a França,
comprometendo a própria moeda única europeia. Por fim, iremos analisar as causas da crise
da dívida nas suas raízes institucionais e nacionais e qual o papel que a Alemanha assumiu
individualmente e como isso está relacionado com o processo que permitiu que ela se tornasse
uma potência regional na Europa se desprendendo da França.
120
3.3)
A CRISE ECONÔMICA INTERNACIONAL E A CONTAMINAÇÃO
EUROPEIA: TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA DO SISTEMA.
O novo milênio tem sido marcado pela gradual transformação da estrutura de poder no
sistema internacional de Estados com o aumento significativo dos países chamados
“emergentes” na participação de organizações internacionais na medida em que também
aumentavam sua participação no comércio mundial, ampliando seu papel em detrimento dos
países desenvolvidos. Essa mudança lenta, mas significante, tem ajudado a suplantar a nova
ordem mundial unilateral idealizada com o fim da Guerra Fria e tem demonstrado cada vez
mais um mundo multipolar, com vários centros de poder e influência global. Essa mudança,
vale ressaltar, não é abrupta como as duas principais mutações que o sistema sofreu no século
XX, que foram a bipolaridade pós-segunda guerra (1945) e a unipolaridade pós-guerra fria
(1991). Esse processo tem se dado principalmente com a importância econômica que os
países ditos emergentes têm adquirido nos últimos quinze anos, com grandes economias
destoando do restante do planeta, associada à crise econômica internacional que tem assolado
a economia mundial desde 2008 e que atingiu principalmente os centros do capitalismo
mundial.
No ano de 2001 um relatório do economista-chefe do grupo Goldman Sachs Jim
O’Neill intitulado “Building Better Global Economic BRIC” baseado no mapeamento do
crescimento do PIB, da renda per capita e dos movimentos financeiros dos países concluiu
que no novo século as economias do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) ultrapassariam as
economias dos países do G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália
e Japão). A partir de então, rapidamente se passou a adotar projeções sobre a capacidade
transformadora da geopolítica mundial em uma dimensão maior do que suas reais capacidades
na época apresentavam. De fato, a criação do termo BRIC não significava que esses países
tinham relações próximas ou promissoras, mas apenas indicava quais países emergentes
seriam mais confiáveis para os investimentos de longo prazo. Por outro lado, a acumulação de
poder econômico, de capacidade militar e de inovação tecnológica por esses países em longo
prazo promete pender o eixo de gravitação das relações internacionais em um sentido “antihegemônico” (ALMEIDA, 2010). Assim, portanto, mesmo que não tenham se articulado
voluntariamente para tanto, os países do BRIC passaram a estimular conversas e relações
121
diplomáticas mais próximas a fim de formar um conjunto analítico próprio reconhecido pela
sua importância no sistema, com capacidade de dialogar e contrapor o peso do centro
hegemônico dado pelos Estados Unidos.
O caso do BRIC e a visibilidade que esses países tomaram não são isolados, mas
retrata um movimento que tem ocorrido para os países emergentes. Muitos outros países
também têm demonstrado grande capacidade econômica capaz de superar os países
capitalistas mais tradicionais e podendo influenciar a economia política global. No entanto,
Brasil, Rússia, Índia e China ganham notoriedade dada suas dimensões territoriais, sua
demografia, seus recursos naturais e relativa estabilidade política, transformando esses países
em economias promissoras com possibilidades de liderança global. Efetivamente, se olharmos
o crescimento econômico que os países emergentes mais notáveis (BRIC) tiveram
comparativamente aos países mais industrializados do mundo (G7) podemos ter noção do que
as transformações no sistema podem acarretar. Segundo os dados do FMI, em 2001, ano de
criação do termo BRIC, a economia dos quatro países somadas equivalia em paridade do
poder de compra a US$ 9.5 trilhões, enquanto as economias do G7 eram de aproximadamente
US$ 22.5 trilhões. Em dez anos, o BRIC alcançou a cifra aproximada de US$ 25.5 trilhões,
enquanto os países do G7 chegaram em 2011 a US$ 31.6 trilhões. Apesar de ainda superior, o
aumento real do grupo de países desenvolvido foi de cerca de 40% em 10 anos, ao passo que
o dos países emergentes viu seu PIB aumentar em 168%.
Muitos argumentam, porém, que o grande peso adquirido pelo BRIC se concentra na
China, visto que ela desponta na frente dos seus parceiros com uma economia que é maior que
a dos outros três somados. No entanto, esquecem que no G7 os Estados Unidos ainda
respondem por 50% do PIB e com um grau de interdependência comercial muito maior. O
certo é que esses dados demonstram o aumento significativo que os países emergentes têm
assistido em seu peso econômico e comercial no sistema internacional, ajudando a enterrar o
mundo unipolar e fortalecendo a multipolaridade. O BRICS, ao convidar a África do Sul para
compor o S, lançou-se como um grupo político que busca coesão e política conjuntas que
visem o desenvolvimento econômico dos seus membros projetando o futuro dessas nações
como potências mundiais (ALMEIDA, 2010). Há quem afirme que o lançamento do Banco
dos BRICS, banco com estrutura semelhante ao FMI sem as mesmas condicionalidades,
parece sinalizar que esses países almejam transformar a estrutura de poder do sistema
internacional em uma acepção não-hegemônico que busca diversificar o sentido do poder
decisório das relações internacionais em prol dos Estados em desenvolvimento. Para nós, no
122
entanto, importa que esse processo oferece novos termos de inserção internacional,
possibilitando novas frentes de persuasão política no sistema multipolar buscando maior
autonomia e se constituindo de uma força importante desse mesmo sistema internacional.
No bojo desse processo, outro episódio importante que ajuda a impulsionar um
sistema baseado em múltiplos centros de poder com o fortalecimento econômico de novos
atores em detrimento dos países tradicionais foi a crise econômica internacional desencadeada
em 2008 nos Estados Unidos. As raízes da crise, no entanto, estavam nos grandes ciclos de
crescimento que os EUA experimentaram após o término da Guerra Fria (BELLUZZO,
2009). O desmantelamento da União Soviética e o fim da Guerra Fria fez com que muitos
apostassem em um crescimento ininterrupto e prolongado da economia global sobre bases
neoliberais de mercado. As projeções otimistas foram acompanhadas por aumentos
significativos no crédito em dois episódios de excitação da demanda, principalmente nos
Estados Unidos, entre 1990-1994 e entre 2003-2007, quando as famílias e as empresas
aumentaram os gastos acima da renda corrente. A acumulação de dívidas ocorreu a taxas
muito superiores às dos salários e dos lucros, representando um crescimento contínuo de
déficits desde a década de 1990.
O crescimento econômico dos Estados Unidos, contudo, não acompanhou o
crescimento do consumo, fazendo com que o nível de poupança no país despencasse para
0,2% do PIB em 2008 (BELLUZZO, 2009). Nesse sentido, com o consumo em alta e os
rendimentos em baixa, cada vez mais os norte-americanos dependeram da valorização fictícia
do patrimônio financeiro e imobiliário, acarretando aumentos sucessivos nos preços dos
imóveis dos Estados Unidos até o ponto em que se tornaram insustentáveis. Quanto a esse
processo, Belluzzo nos mostra que:
No período 2003-2007, a construção residencial e a valorização exuberante dos
imóveis estimularam e sustentaram o consumo das famílias. A “poupança externa”
(o superávit dos asiáticos e da Alemanha) financiou o déficit em conta corrente do
balanço de pagamentos. Foi a contrapartida dos déficits do setor privado
(BELLUZZO, 2009, p. 20).
Assim, a expansão da economia norte-americana se dava pelo aumento do consumo
das famílias e pelo consequente déficit em conta corrente que era financiado pelos excedentes
dos outros países do mundo, sobretudo Alemanha e países asiáticos. Os estadunidenses
passaram a ser cada vez mais dependentes do endividamento via novas modalidades de
crédito, fazendo com que suas dívidas sejam superiores às suas rendas em níveis muito
123
elevados. A expansão econômica, contudo, forneceu maiores expectativas quanto ao vigor e à
duração do crescimento, disseminando entre os bancos, empresas e consumidores o otimismo
em relação à economia. Tal processo possibilitou que ocorresse um aumento da desregulação
financeira, típica do neoliberalismo, fazendo com que os critérios de avaliação de risco
fossem afrouxados, tendo as agências de rating, aquelas que avaliam o grau de insegurança do
investimento, avaliado como confiáveis cartas de crédito, empresas, bancos e até países que
na verdade eram instáveis.
O crescimento elevado e os juros muito baixos incentivaram a multiplicação de
operações financeiras perigosas, de alto risco, entre elas os derivativos de créditos. Bancos
comerciais, de investimentos, fundos de pensão, dentre outros, todos imaginaram que estavam
blindados contra os riscos de mercado, liquidez e pagamentos. O crédito barato associado a
um ambiente altamente desregulado financeiramente instigou o risco e o consumo
desenfreado e os aumentos sucessivos nos preços dos bens imobiliários. O resultado é que
chegou um momento em que não se podia mais diferenciar os créditos de risco dos confiáveis,
levando o setor imobiliário e financeiro dos Estados Unidos a um crash. Para Belluzzo: “[...]a
securitização apoiada na segmentação e posterior empacotamento dos empréstimos
hipotecários de qualidade variada dificultaram sobremaneira a avaliação dos riscos de crédito
pelas agências de rating.” (BELLUZZO, 2009, p.22, grifos do autor). Nesse sentido, ele
completa:
Os sênior estavam garantidos por seguradoras (monolines) ou por derivativos (debt
default swaps). Tais providências supostamente blindavam o investidor final contra
a eventualidade do default. Mas, na verdade, quando a inadimplência se tornou
generalizada e os preços dos imóveis despencaram, o lixo tóxico envenenou toda a
cadeia, desde os que originaram os créditos até os subscritores de garantias. O
colapso de preços dos imóveis e a difícil precificação dos ativos lastreados em
créditos subprime espremeram as margens e tornaram ilíquidos os mercados de
commercial papers, obrigando os bancos a comparecer com a grana ou receber de
volta em seus balanços a gororoba securitizada. A crise financeira atual está inscrita,
desde o início, na estrutura da finança baseada nos métodos de “originar, distribuir,
alavancar e proteger”. (BELLUZZO, 2009, p. 22, grifos do autor).
Os bancos, obrigados a registrar o valor depreciado dos seus títulos de créditos,
passaram a operar com extrema cautela a concessão de empréstimos com o temor de adquirir
papéis considerados podres do setor imobiliário. Isso se manifesta, inicialmente, no
encolhimento da liquidez do mercado interbancário, dado que os bancos não querem adquirir
124
em suas cartas de créditos hipotecas que nunca serão pagas nem reaver imóveis com valores
de mercado muito abaixo do que o financiamento realizado. Nesse sentido, a contração do
crédito interbancário termina contraindo a concessão geral de crédito na economia, obrigando
as famílias e as empresas a reduzirem seus gastos e investimentos, principalmente aqueles
ligados aos setores mais envolvidos nos créditos de alto risco. A crise financeira privada passa
a ameaçar a economia real, ameaçando a renda e o emprego. A quebra do banco de
investimentos Lehman Brothers em 2008 nos Estados Unidos marcou o auge da crise
financeira que assolava alguns países, passando de um episódio local para um fenômeno
global e sistêmico.
A economia de todos os países foi afetada de alguma maneira pelos efeitos da crise,
seja pela retração do crédito ou pela contração do comércio internacional (ACIOLY; LEÃO,
2011). Nesse sentido, os governos logo buscaram adotar medidas de contenção da crise em
vista de garantir o crédito e os empregos para evitar uma recessão econômica mais profunda.
Como resultado, os bancos centrais dos países atuaram de forma intensa no âmbito fiscal e
creditício, buscando restabelecer a confiança no sistema financeiro. O FED (Federal
Reserve), o BCE, o BoJ (Bank of Japan) e o RBA (Austrália) injetaram grandes quantias de
recursos no mercado monetário para garantir a liquidez do sistema e o nível de crédito e
reduziram significativamente suas taxas básicas de juros para incentivar o consumo (IPEA,
2011). Assim, a não intervenção do Estado na economia, princípio básico do liberalismo, foi
negado pelo maior defensor dessa lei, os Estados Unidos. Sozinhos os EUA injetaram US$
850 bilhões no setor financeiro comprando títulos podres das instituições em dificuldades,
elevou de US$ 100 mil para US$ 250 mil o limite de depósitos bancários garantidos pelo
governo, lançou um plano de resgate do Citibroup de US$ 300 bilhões, da General Motors e
da Chrysler de mais de US$ 30 bilhões, etc.37
Os pacotes de recuperação lançados pelos governos dos Estados Unidos e da Europa,
principalmente, foram realizados através de emissão de dívida no próprio mercado financeiro
que se encontrava em dificuldades de negociar crédito. Os governos, ao lançarem papéis de
suas dívidas soberanas, inundaram os mercados com moeda a fim de restaurar o nível de
crédito e tentar salvar as economias da recessão. O ano mais crítico da crise foi 2009, no qual
a economia global ficou estagnada, com as economias desenvolvidas registrando retração de
3,4% no seu PIB ao passo que os países em desenvolvimento tiveram crescimento de 3,1%
37
Para mais informações sobre as intervenções dos Estados Unidos e outros países na economia para conter a
crise, ver: IPEA, A crise internacional e possíveis repercussões: primeiras análises.
125
segundo dados do FMI. Os Estados Unidos recuaram 2,8%, as economias do G7, da União
Europeia e da Zona do Euro recuaram, respectivamente, em 3,8%, 4,3% e 4,5%. 38 Dessa
forma, com a economia em crise retraindo o comércio internacional e a demanda nos países
desenvolvidos e o governo aumentando as dívidas soberanas para salvar as economias em
crise, temos que o déficit em conta corrente tem um salto e a dívida pública também aumenta,
formando um terreno perigoso para os Estados. Apesar de ter ocorrido nos Estados Unidos,
esse processo é bem mais voltado e emblemático na Europa, visto que a Zona do Euro não
oferecia a mesma segurança e confiabilidade que o FED dava ao dólar. Esse processo faz com
que os bancos passem a temer a insolvência de um Estado e aumente o medo de um calote
estatal que, somados às economias bem fragilizadas naquele período, elevam os juros dos
empréstimos concedidos dos bancos para os governos para que salvem o próprio setor
bancário da crise que criou.
Na verdade, a situação na Europa era semelhante àquela nos Estados Unidos anterior à
quebra do Lehman Brothers e suas raízes estão postas na criação da própria moeda única
europeia. Dentre os critérios exigidos para a adoção da moeda única não se encontravam
metas para baixas taxas de desemprego, da sustentabilidade da taxa de câmbio ou
preocupação com déficit ou superávit em conta corrente dos países que se candidataram a
adotar o euro. A estabilidade de preços e os critérios de inflação tiveram peso muito maior no
processo de construção da zona monetária (NUNES, 2013). Criado para gerenciar a moeda
única europeia, o Banco Central Europeu se constituiu de uma instituição politicamente
independente e responsável pela implementação da política monetária comunitária, pela
administração das reservas dos Estados-membros, pela condução das operações de câmbio e
pela detenção do monopólio da emissão de moeda na zona do euro, ficando restrito ao BCE o
controle das políticas monetárias dos Estados-membros e estando ele proibido de exercer o
papel de emprestador de última instância, não podendo emprestar dinheiro diretamente pra os
governos dos membros da Zona do Euro, diferente de como funcionam os bancos centrais de
países soberanos, como os Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e etc. O objetivo principal do
BCE é a manutenção da estabilidade de preços em torno de 2% ao ano, uma política bastate
ortodoxa e restritiva baseada na política monetária que adotava o Bundesbank no controle do
DeutschMark como já mencionamos. Nesse sentido, um grupo de países fica impossibilitado
de exercer políticas monetárias próprias, sem poder emitir moeda e nem ter controle sobre a
taxa de inflação ou de câmbio. Por outro lado, o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi
38
(http://www.imf.org/external/datamapper/index.php) – Visitado em: 10/06/2015.
126
efetivamente suspenso quando a França e a Alemanha escaparam da aplicação rigorosa de
sansões por descumprir os limites de dívida e de déficit em 2003. Ao mesmo tempo,
englobando número elevado de membros com disparidades econômicas tão grandes, a moeda
única europeia ajudou a desvalorizar relativamente a moeda dos Estados mais fortes e a
valorizar relativamente a moeda dos Estados mais fracos economicamente.
Apesar de usarem a mesma moeda, os níveis de competitividade, de produtividade, as
taxas de inflação e investimento, o nível de emprego, a qualificação da mão-de-obra, o parque
tecnológico, entre diversos outros indicadores dos países que adotaram o euro eram bastante
díspares, resultando em que países que antes podiam desvalorizar suas moedas para tornarem
seus produtos mais competitivos internacionalmente estavam agora congelados com a mesma
taxa de câmbio dos Estados mais fortes, perdendo em competitividade para os países mais
desenvolvidos da Europa. Nesse sentido, a moeda única, ao unificar as taxas de câmbio e ao
congelar os instrumentos de política monetária sem criar políticas fiscais comuns, na verdade
criava um ambiente no qual as pequenas economias tendiam a se enfraquecerem diante das
grandes economias. Quanto à vulnerabilidade dos países periféricos da Zona do Euro,
Leonardo Loureiro Nunes afirma:
A perda de competitividade dos países periféricos, associada à inflexibilidade de
preços e salários, à falta de mobilidade de mão de obra e à impossibilidade de
ajustes nas taxas de câmbio nominais desses países, que poderiam servir de
instrumentos para a reversão do quadro, foi a responsável pelas constantes posições
deficitárias na balança comercial dos países periféricos (NUNES, 2013, p. 37).
Portugal, Itália, Grécia e Espanha apresentaram déficits crescentes em conta corrente
em relação à Alemanha desde o momento de criação do euro até a crise desencadeada em
2008, demonstrando que os países de economia mais forte foram beneficiados com a
introdução da moeda única. No entanto, o mercado financeiro não conseguia enxergar risco
nos países periféricos da zona do euro, acreditando que o crescimento econômico e a
“solidariedade” da União Europeia eram garantidores das dívidas soberanas desses países.
Nesse sentido, o período posterior à criação do euro foi marcado pela oferta de crédito
relativamente alta com taxas de juros relativamente baixas, o que possibilitou que os governos
europeus pudessem tomar bastante dinheiro emprestado, chegando até as taxas cobradas de
países da periferia da Europa como a Grécia valores bem próximos daqueles cobrados da
Alemanha, mostrando a total confiabilidade do mercado de que a coesão europeia passava
pelas dívidas soberanas dos Estados (LANE, 2012). Assim, o crescimento foi financiado por
127
déficits crescentes na periferia e superávits nas economias centrais, principalmente a
Alemanha. Quando a crise de 2008 irrompeu, a saída foi o salvamento dos bancos com
injeção de dinheiro na economia através de emissão de dívida pública. O resultado na Europa
foi que as dívidas já elevadas dos Estados da periferia graças aos déficits em conta corrente,
somadas à queda da arrecadação com o esfriamento da economia, aumentaram muito o
endividamento desses países, fazendo surgir o medo de que eles não seriam capazes, em
algum momento, de honrar seus compromissos, elevando as taxas de juros para empréstimos
concedidos aos governos (LANE, 2012).
Assim, os governos passam a pegar dinheiro com juros muito mais altos com os
bancos privados a fim de emprestar esse dinheiro para salvar os mesmos bancos a juros mais
baixos, elevando ainda mais as dívidas dos Estados e, consequentemente, piorando as
expectativas de recebimento dos mesmos governos, aumentando o pessimismo em relação aos
empréstimos e, como resultado, maiores elevações nos juros. Esse processo se torna
insustentável na medida em que os governos passam a não conseguir captar dinheiro no
mercado visto que as taxas de juros estão tão elevadas que o Estado não poderá arcar com os
juros dessas novas dívidas. Não podendo mais arcar com novos empréstimos no mercado e
com vencimentos a chegar, a saída é recorrer a emprestadores finais internacionais e
instituições multilaterais, como é o caso do Fundo Monetário Internacional. O primeiro país a
passar por essa situação na Europa e a pedir ajuda financeira na União Europeia foi a Grécia
em 2010.
Com a economia retraindo 5,4% naquele ano, o desemprego em 12,7%, o déficit em
conta corrente em 10,1% e a dívida pública superando os 140% do PIB, a confiança no
governo grego para arcar com seus compromissos foi arrasada.39 Rapidamente a Grécia
chamou por socorro dos seus parceiros europeus em maio de 2010, que responderam com um
plano de resgate patrocinado pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e
a União Europeia (conhecidos como Troika) no valor de mais de € 110 bilhões em dois anos.
A Grécia foi apenas o primeiro dos países europeus que precisaram de socorro, tendo outros
países como Irlanda (novembro de 2010), Portugal (2011), Chipre (2013) e, em certa medida,
Espanha (para o setor financeiro, 2013) precisado de ajuda externa para enfrentar o aumento
das taxas de juros da dívida pública nos mercados. Os países que demonstravam maior
vulnerabilidade diante dos mercados financeiros rapidamente foram apelidados de PIIGS
39
(http://www.imf.org/external/datamapper/index.php) – Visitado em: 10/06/2015.
128
(Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain), visto que os temores de que não poderiam honrar
suas dívidas dada sua relação dívida/PIB elevada, grandes déficits orçamentários e nenhum
superávit em conta corrente (BEKENN; et al, 2012). Os dados dos outros países chamados
pela sigla PIIGS em 2010 foram: Portugal – desemprego de 10,8%, déficit em conta corrente
de 10,1% e dívida pública de 96,2%; Irlanda – desemprego de 13,9%, superávit em conta de
0,6% e dívida pública de 87,4%; Itália – desemprego de 8,4%, déficit em conta de 3,5% e
dívida pública de 115,3%; e Espanha – desemprego de 19,9%, déficit em conta corrente de
3,9% e dívida pública de 60,1%.40
Buscando responder à crise econômica e demonstrar solidez tentando evitar uma
contaminação de outros países do medo generalizado instalado no mercado financeiro, os
países da Zona do Euro criaram o European Financial Stability Facility – EFSF (Fundo
Europeu de Estabilidade Financeira). Esse fundo temporário criado para lidar com a crise
conta com mais de 440 bilhões de euros inicialmente para garantir assistência financeira aos
países que utilizam a moeda única na Europa ajudando a estabilizar as fragilizadas economias
em dificuldades e altamente endividadas, fornecendo empréstimos e intervindo nos mercados
de dívida primária e secundária e financiando a recapitalização de instituições financeiras. O
EFSF proveu assistência financeira para a Grécia (€ 110 bilhões), Irlanda (€ 67 bilhões) e
Portugal (€ 78 bilhões) (BEKENN; et al, 2012). Buscando sinalizar que os países-membros da
zona do euro estavam compromissados a superar a crise e querendo afastar o pessimismo
quanto à situação dos países em crise, os países que usam a moeda única lançaram em 2012
um fundo permanente de ajuda financeira, demonstrando que os membros podem contar com
mecanismos de ajuda não só na atual crise, mas em qualquer momento futuro, é lançado o
European Stability Mechanism (ESM) com um aporte de mais de 700 bilhões de euros
buscando blindar os países da zona do euro de adversidades decorridas da crise da dívida
soberana. O ESM emprestou dinheiro para o resgate do sistema financeiro da Espanha e para
o Chipre.41
Os empréstimos, contudo, foram concedidos com condicionalidades para os países
solicitantes, muitas das quais foram exigências de governos com da Alemanha e da França na
tentativa de resguardar os próprios sistemas financeiros. Além disso, como a repartição dos
empréstimos de dá com base na proporção do capital de cada Estado na composição do Banco
Central Europeu, a Alemanha responde por cerca de 30% da fatia, sendo o principal
40
41
Dados do FMI.
Para mais informações sobre o European Stability Mechanism ver: http://www.esm.europa.eu/index.htm
129
financiador dos resgates financeiros na Europa. Nesse sentido, não é difícil imaginar porque o
governo alemão muitas vezes define grande parte das condições impostas aos países em
resgate financeiro. Quanto a isso, Bulmer e Paterson afirmam: “As the state contributing most
to the bailout funds, its provision of international public goods has been based on uploading
its beliefs, especially on sound money, to the EU level, albeit with some compromises arising
from EU diplomacy.” (BULMER; PATERSON, 2013, p. 1394). A Alemanha desde o começo
do resgate insistia que os contribuintes da zona do euro não podem suportar inteiramente os
custos envolvidos nas operações de empréstimos (DOURADO, 2012). Reforçava-se, assim, a
necessidade de contrapartidas dos governos que solicitavam os empréstimos da Troika. Na
verdade, muitos países europeus já haviam adotado medidas austeras para superar a crise
econômica, mas foi exigido deles ainda mais cortes nos salários, ainda mais cortes no serviço
público, ainda mais cortes no sistema de proteção social do estado de bem-estar. Philip R.
Lane resume a imposição por parte da Troika sobre os países em déficit:
In each of the three bailouts, joint European Union/IMF programs were established
under which three-year funding would be provided on condition that the recipient
countries implemented fiscal austerity packages and structural reforms to boost
growth (especially important in Greece and Portugal) and recapitalized and
deleveraged overextended banking systems (especially important in Ireland)
(LANE, 2012, p. 57).
O Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governança na União Econômica e
Monetária, de 2012, conhecido como Pacto Fiscal, foi em grande medida assinado por
insistência da Alemanha. O Tratado marcou o reconhecimento da urgência da estabilização da
Zona do Euro e estabeleceu um pacto orçamentário de menos de 3% de déficit orçamentário
geral do PIB e um déficit estrutural de menos de 1,0% do PIB se a relação dívida/PIB é
significativamente inferior a 60%, caso não seja então o déficit deve ser de 0,5% do PIB. O
tratado também contém uma cópia direta dos critérios descritos no Pacto de Estabilidade e
Crescimento que haviam sido abandonados em meados dos anos 2000 pelo descumprimento
por parte de França e Alemanha. No caso de descumprimento a partir do novo pacto, os
Estados serão punidos automaticamente. Muitas das disposições trazidas são crenças
econômicas adotadas internamente na Alemanha. Quanto a isso, Bulmer e Paterson
argumentam:
The Fiscal Compact represents the clearest example of Germany’s stability culture,
enshrined in its own legally binding domestic debt rules being institutionalized at
EU level. Another illustration is the 2011 ‘six-pack’ of measures reforming the
130
Stability and Growth Pact and enhancing macroeconomic surveillance. By the same
token Germany attempted to obstruct solutions based on Eurobonds or a ‘transfer
union’, whereby the debtor states’ financial plight would be communitarized
(BULMER; PATERSON, 2013, p. 1395-1396).
O relacionamento franco-alemão na condução da crise econômica não demorou a
demonstrar um descompasso das opiniões dos países quanto à condução da crise econômica.
A frente “Angela Merkel-Nicolas Sarkozy” que possibilitou certo entendimento nas primeiras
respostas à crise logo seria desfeita com as eleições presidenciais na França que elegeram o
governo de esquerda de François Hollande. O descompasso nos pontos de vista sobre a crise
são retratos na verdade do descompasso dos indicadores econômicos dos dois países.
Enquanto a Alemanha apresentava superávits sucessivos no seu balanço de pagamentos
principalmente devido ao grande superávit na sua balança comercial, a França tinha déficits
constantes desde meados dos anos 2000. Em 1999, ano de adoção da moeda comum de forma
virtual, a França teve um pico de superávit em sua conta corrente no valor de 3,1% do PIB,
enquanto a Alemanha – inserida no processo de convergência pós-reunificação – amargava
um déficit de 1,4% do seu PIB. Em 2014, quinze anos depois da adoção do euro, a França
registrou um déficit de 1,1% enquanto a Alemanha apresentou um superávit de 7,5% em
relação ao PIB, cifra bastante considerável e maior do que o da China (2%), considerado o
maior exportador do mundo.42
Todos os indicadores econômicos alemães indicam que a Alemanha é mais
competitiva do que a França, até mesmo nos custos com mão-de-obra. Enquanto a relação
entre dívida pública e o PIB da Alemanha reduziu de 80,3% do PIB em 2010 para 73,1% em
2014, essa relação na França passou de 81,5% para 95,1%, demonstrando um endividamento
crescente de Paris ao passo que o desemprego dos alemães reduziu de 6,9% da população
economicamente ativa para 5%, enquanto os franceses viram o desemprego sair de 9,3% para
10,2%. Nesse sentido, países que desfrutavam de posições diferentes no contexto da crise
econômica não conseguiram manter a unidade de suas visões sobre a condução da Zona do
Euro. A posição alemã, na verdade, seria defendida por aqueles países que também possuem
superávits e, por isso, condenam os países deficitários como os culpados pela própria crise.
Sobre essa questão, Bulmer e Paterson argumentam o seguinte:
It was the onset of the eurozone crisis that really exposed the limitations of the
Franco-German relationship. Sovereign debt crises have a brutal logic of pitting the
42
FMI.
131
interests of the creditor states very strongly against those of the debtors. This logic
implies that Germany’s natural allies are Austria, Finland and the Netherlands rather
than France, with a common interest in restricting, and imposing strict conditionality
on, any aid (BULMER e PATERSON, 2013, p. 1394).
Os países superavitários tendem a culpar os países deficitários que estão em crise de
terem cavado a própria cova. A irresponsabilidade dos governos é frequentemente apontada
como causa das dificuldades enfrentadas por países como a Grécia, Espanha, Portugal e
Chipre. Na verdade, déficits crescentes em conta corrente e gastos governamentais acima do
suportável em algum momento produziriam dificuldades financeiras e precisariam de ajustes,
mas as práticas adotadas nacionalmente em qualquer um desses Estados são derivadas dos
seus próprios modelos de bem-estar social que garantiam certas benesses sociais e direitos
trabalhistas. O que muitos viam como abusos dos governos desses países, na verdade eram
mecanismos de proteção social que foram durante muito tempo defendidos pela Europa
durante a Guerra Fria. No entanto, poucos apontam os superávits primários exorbitantes de
alguns Estados-membros como os verdadeiros causadores dos desequilíbrios regionais, com
potencial de desestabilizar a economia da união monetária.
Se os países PIIGS estavam registrando déficits contínuos em suas contas correntes e,
estando inseridos em uma organização internacional que favorece o comércio regional, outros
países da mesma organização estavam, portanto, registrando superávits contínuos em suas
contas correntes. Alemanha, Finlândia, Áustria e Países Baixos foram os campeões de
superávit primário na Zona do Euro desde a criação da moeda única. Poderemos observar que
as políticas de austeridade e as reformas realizadas nos países em maior dificuldade carretou
em melhora nos indicadores da conta corrente, a maior parte deles revertendo os números
negativos e conseguindo resultados superavitários após 2010. Ainda precisará ser observado
se essa tendência se manterá assim que o crescimento econômico estiver normalizado e os
níveis de renda e emprego retomarem seus patamares pré-crise para saber se os resultados são
consistentes. Na tabela abaixo podemos observar comparativamente o resultado da conta
corrente dos países PIIGS e dos países superavitários da zona da moeda comum desde a sua
introdução, em 2002, até o ano de 2014.
132
Tabela 1. Saldo da corrente comercial em proporção ao PIB, países selecionados:
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Alemanha
1,9%
1,4%
4,5%
4,7%
5,8%
6,9%
5,8%
5,8%
5,7%
6,1%
7,1%
6,7%
7,5%
Países Baixos
2,4%
5,2%
7,1%
6,9%
8,8%
6,3%
4,1%
4,8%
6,9%
8,4%
8,9%
10,2%
10,3%
Finlândia
8,6%
5,0%
6,4%
3,8%
5,3%
5,2%
3,1%
2,7%
2,4%
-0,6%
-1,2%
-0,9%
-0,6%
Áustria
2,6%
1,6%
2,0%
2,0%
2,7%
3,4%
4,7%
2,6%
3,4%
1,5%
2,3%
1%
1,8%
Portugal
-8,5%
-7,2%
-8,3%
-9,9%
-10,7%
-9,7%
-12,1%
-10,4%
-10,1%
-6%
-2,1%
1,4%
0,6%
Irlanda
-1,0%
-0,2%
-0,6%
-3,4%
-3,6%
-5,4%
-5,7%
-3%
0,6%
0,8%
1,6%
4,4%
6,2%
Itália
-0,5%
-0,9%
-0,5%
-0,9%
-1,5%
-1,4%
-2,8%
-1,9%
-3,5%
-3,1%
-0,4%
1%
1,8%
Grécia
-6,3%
-6,4%
-5,6%
-7,4%
-10,8%
-14%
-14,5%
-10,9%
-10,1%
-9,9%
-2,5%
0,6%
0,9%
Espanha
-3,7%
-3,9%
-5,6%
-7,5%
-9,0%
-9,6%
-9,3%
-4,3%
-3,9%
-3,2%
-0,3%
1,4%
0,1%
Fonte: FMI, 2015.
Assim, podemos destacar que os desequilíbrios foram sustentados na zona do euro por
superávits consideráveis nos grandes países exportadores desde a criação da moeda única até
o estouro da crise econômica sem que medidas fossem adotadas para diminuir ou inibir esses
desequilíbrios. Na verdade, a tendência é que se culpem os países com problemas pelos seus
problemas sem levar em consideração que eles estão engendrados em um processo de
integração monetária na qual não podem adotar políticas que visem equiparar sua
competitividade com a dos países mais desenvolvidos. Essa divisão entre culpados na Europa
só reforça a divisão entre os pontos de vista dos países europeus quanto à política econômica
e monetária. Aqueles países que tradicionalmente priorizaram o controle de preços e a
poupança interna se opunham àqueles que priorizavam o crescimento econômico com
inflação e dívidas elevadas, a relação entre economicistas e monetaristas que mencionamos no
capítulo anterior. O Estado mais poderoso da União Europeia defendia o controle de preços
em detrimento do crescimento econômico e fez do Banco Central Europeu a representação do
seu próprio banco central, levando para a instituição as políticas restritivas bem como o
próprio pensamento mais austero.
Existe na Alemanha um edifício ideológico por trás da ortodoxia econômica que vai
além dos traumas da hiperinflação da República de Weimar. A postura alemã no
enfrentamento da crise e na conformação que tomou o Banco Central Europeu tem a ver com
o pensamento econômico que domina o mainstream na Alemanha, o Ordoliberalism. Essa
teoria foi desenvolvida por economistas como Walter Eucken, Franz Bohn, Leonhard Miksch
e Hans GroBmann-Doerth como uma reação às consequências da desregulamentação liberal
do começo do século XX e a subsequente política fiscal e monetária do regime nazista.
133
Segundo essa teoria, os governos deveriam regular o mercado para proporcionar como
resultado um mercado perfeitamente competitivo, no qual nenhum dos atores deve influenciar
os preços de bens e serviços. Além disso, o Ordoliberalismo se difere de outras escolas do
liberalismo por enfatizar a prevenção à formação de cartéis e monopólios, bem como rejeitar
o uso de políticas ficais e monetárias expansivas para estabilizar o ciclo econômico em uma
recessão, sendo, portanto, anti-Keynesiana (DULLIENT; GUÉROT, 2012). Esse pensamento
ideológico influencia em certa maneira a visão que os partidos políticos alemães têm sobre a
crise do euro, a coalizão formada pelos Christian Democratic Union (CDU) e o Christian
Social Union (CSU), partidos governistas da Chanceler Federal Angela Merkel, que são
extremamente
influenciados
pelo
mainstream
do
pensamento
econômico
alemão
(Ordoliberalismo), tende a culpar os países endividados pela crise e prega a austeridade nessas
nações como a saída. Sebastian Dullient e Ulrike Guérot expressam como o pensamento
ordoliberal enxerga a crise a partir da Alemanha:
However, the German mainstream sees current account imbalances in the eurozone
as a consequence of a loss of competitiveness and excessive consumption in the
deficit countries and weak investment in Germany. Consequently, German neoclassical economists believe the solution is wage restraint or outright wage cuts in
deficit countries. In their eyes, such a policy would increase price competitiveness in
deficit countries to such an extent that exports would increase and imports would
fall. Stronger wage growth in Germany, on the other hand, would simply hamper
German competitiveness and reduce German investment (DULLIENT; GUÉROT,
2011, p. 3).
Por outro lado, no debate político alemão, os principais partidos que tem uma
representatividade no Bundestag e no Parlemento Europeu têm visões muitos próximas sobre
os culpados pela crise econômica. Para o FDP, partido de orientação liberal que representa
parte de grupos de industriais e que formava a coalização com o CDU/CSU de Angela Merkel
até 2013, tendo, portanto, certa influência no governo, a Alemanha não pode ser culpada nem
“pagar” pela sua eficiência. Os sociais-democratas, apesar de defenderem a solidariedade
europeia ainda argumentam a favor da responsabilidade fiscal e políticas austeras e, nesse
sentido, fazendo parte da Grande Coalizão junto com o CDU/CSU desde 2013, não tende a
mudar a postura alemã de forma significativa. O Partido Verde e A Esquerda são os partidos
de oposição com pensamento diferente do mainstream econômico alemão, mas têm posições
diferentes entre si e são partidos considerados nanicos na Alemanha. Assim, não há no
horizonte político possibilidade de mudança da postura alemã, visto que os maiores partidos
134
do país – e em grande medida a própria sociedade e mídia alemãs (GUÉROT; et al, 2011) –
tendem a enxergar os problemas dos outros Estados da zona do euro como frutos de suas
próprias irresponsabilidades (DULLIENT; GUÉROT, 2011).
Nesse sentido, países que tenham um pensamento econômico mais parecido com a
Alemanha tendem a apoiar as políticas de austeridade impostas como condicionantes para os
empréstimos regionais, enquanto que a França, ao se posicionar do lado oposto dificilmente
apoiaria medidas defendidas por Berlim. Ao assumirmos que as medidas adotadas pelo BCE e
pela Troika na condução da crise econômica têm se conformado com os interesses e as
políticas defendidas por Berlim, podemos supor que a Alemanha tem ditado as regras para a
solução da crise com o respaldo de outros países que enxergam a posição alemã como
semelhante às suas próprias. Sobre isso, Bulmer e Paterson argumentam o seguinte:
German leadership is seen as legitimate by the creditor states such as Austria,
Finland and the Netherlands, and by an aspirant member of the eurozone like
Poland. By contrast, on the streets of Greece, Spain and during the February 2013
Italian election anti-German sentiment has become apparent. The ordoliberal policy
of prioritizing sound money over growth is a barrier to wider legitimacy. Similarly,
German hyper-competitiveness as an extraordinary trader is destabilizing and
difficult to replicate (BULMER; PATERSON, 2013, P. 1397).
Assim, portanto, apesar de ter sua liderança questionada por aqueles países que se
encontram em dificuldades financeiras, seu papel é reconhecido por outros Estados que se
encontram em melhores condições econômicas. No entanto, ao se observar que as disposições
adotadas pela Troika, pelo BCE e pelo Pacto Fiscal para responder à crise, percebe-se que a
vontade alemã, ou pelo menos os pontos defendidos pelo governo da Alemanha, tendem a
influenciar fortemente as posições adotadas nas instâncias da UE para lidar com o problema
que assola a zona do euro. Agora, mais do que antes, a Alemanha desempenha papel decisivo
nas políticas europeias, conduzindo o tratamento dado diante da crise financeira se precisar do
respaldo dado pela parceria franco-alemã que sustentou o processo de integração regional
desde suas origens. Estando em uma posição muito mais favorável do que a França, a
Alemanha reduziu gradativamente os constrangimentos à sua atuação mais independente e
nacional na União Europeia, vindo a se tornar o maior poder dentro da instituição e o primeiro
para quem se olha quando se busca solucionar um problema na organização (MAYHEW; et
al, 2011).
135
3.4)
CONSDERAÇÕES FINAIS.
O processo de manutenção do regime internacional europeu, portanto, é resultado da
cadeia causal que as mudanças estruturais ocorridas no sistema internacional e no contexto
interno alemão possibilitaram. A queda da União Soviética e as possibilidades globais abertas
aos Estados Unidos levaram ao afastamento do poder hegemônico do contexto europeu,
incluindo aí a redução do seu contingente militar. Esse processo de mudança na estrutura do
sistema possibilitou que a região da Europa Central e Oriental sofresse com um vácuo de
poder, fazendo com que a Alemanha se candidatasse a assumir esse papel baseado nas suas
relações históricas com a região e nas suas relações comerciais muito mais desenvolvidas com
aqueles países do que qualquer um dos seus parceiros ocidentais e que a própria Rússia. Nesse
processo, os interesses alemães na região rapidamente garantiram a expansão da União
Europeia para as ex-repúblicas socialistas, levando esses países a entrar para a instituição em
2004, pouco mais de uma década depois da dissolução da URSS.
No entanto, os países-membros da UE trabalharam para preparar institucionalmente a
organização para a entrada desses países, garantindo que as instâncias decisórias fossem
repartidas entre seus membros de acordo com os quadros populacionais dos países. Nesse
sentido, os países do leste, em geral menores demograficamente (com exceção feita à Polônia
e à Romênia), tiveram menor representatividade na UE. As principais mudanças nesse sentido
foram trazidas pelos tratados de Nice (2001) e Lisboa (2007), no caso do último
estabelecendo o voto de maioria qualificada para aprovar uma disposição, favorecendo os
grandes Estados, principalmente o maior deles, a Alemanha. Além disso, ocupando o posto de
maior potência com influência sobre os países do leste europeu, o governo alemão passa a
contar com o apoio dos respectivos governos em suas posições nas negociações em âmbito
europeu. Pelo menos no processo que levou à assinatura do Tratado de Lisboa em substituição
da Constituição Europeia, a influência alemã sobre esses países foi considerável. E, ainda,
seria importante nos processos de votação da ajuda financeira destinada aos países em crise
econômica no final da década de 2000.
A outra mudança estrutural importante que possibilitou a manutenção do regime
europeu em maior concordância com os interesses alemães está ligada à grande concentração
136
de capacidades que esse país acumulou, principalmente após o fim da Guerra Fria. Apesar de
ser a maior economia europeia ocidental até a década de 1990, a extinção da URSS e o mundo
unipolar trouxe novas oportunidades para a Alemanha. Isto porque reunificada, além de
passar a ser o país mais populoso da União Europeia (o que ganha ainda mais relevância a
partir de Nice e Lisboa), seu peso econômico passa a ser maior relativamente quando
comparado aos outros países-membros, tendo uma economia cerca de 1/3 maior que a da
França e Itália, segunda e terceira maiores economias na época em PIB (PPP). Representando
o Estado mais poderoso economicamente, não foi difícil à Alemanha condicionar a introdução
da moeda única europeia, fortemente influenciada pelas políticas ortodoxas adotadas pelo
Bundesbank na gestão do Marco Alemão. O Banco Central Europeu, sediado em Frankfurt,
mesma cidade-sede do Banco Central Alemão, teve como objetivo central a manutenção dos
preços, visando uma política econômica bastante restritiva. A influência do pensamento
econômico alemão sobre o BCE seria determinante na gestão da crise da dívida vivida pelos
europeus a partir de 2010.
Ditando a política monetária da Zona do Euro e se constituindo da maior potência
econômica da UE sendo mais competitiva, mais produtiva, com salários mais baixos e mãode-obra mais qualificada, a Alemanha rapidamente superaria os déficits causados pelo esforço
fiscal exigido pela convergência da reunificação. A moeda única eliminou as variações
cambiais dos países que a adotaram, tornando os produtos alemães muito mais competitivos.
O poder econômico da Alemanha só aumentou desde a introdução do euro resultando em
superávits comerciais sucessivos com seus parceiros da União Europeia. Esses sucessos
econômicos resultaram em um enriquecimento alemão relativo que só reafirmou sua liderança
econômica. A crise da dívida, ao afetar diversos países da periferia, bem como grandes países
como Espanha, Itália e, em certa medida, França, acentuou ainda mais a superioridade alemã
visto que em 2011 a Alemanha já havia recuperado a queda ocorrida em 2009 enquanto a
maior parte dos seus parceiros na moeda única continuava em crise.
A crise financeira desencadeada em 2008 ao atingir principalmente os países
desenvolvidos ajuda a alterar a estrutura do sistema porque oferece novas oportunidades aos
países em desenvolvimento. Para a Alemanha, também, a crise apresentou novas
oportunidades porque ao se recuperar rapidamente da crise enquanto os outros países
desenvolvidos patinam, permitiu que o país ganhasse peso relativo quando comparado aos
outros desenvolvidos. No processo de recuperação dos países da Zona do Euro em crise, o
papel da Alemanha é determinante, visto que ela influencia e ajuda a Troika a impor as
137
condicionalidades austeras dos termos dos acordos. O Tratado sobre a Estabilidade,
Coordenação e Governança na União Econômica e Monetária, de 2012, rejeitado apenas por
Reino Unido e República Tcheca, marca o entendimento dos outros países europeus com os
interesses fiscais alemães ratificando a proposta de políticas fiscais ortodoxas.
Assim, as transformações estruturais do sistema internacional ligadas ao fim da URSS
e da crise econômica somadas às transformações internas ligadas enriquecimento da
Alemanha, à sua influência no leste europeu, à “normalização” da sua política externa e ao
fortalecimento da sua indústrias convergem com a redefinição de interesses de grupos sociais
internos da Alemanha e resultam na manutenção da UE, mas agora com regras modificadas
em maior concordância com os interesses alemães. Assim, independente do resultado que as
soluções propostas para a crise baseadas em medidas de austeridade tenha, é improvável que a
União Europeia deixe de existir. A resposta mais provável é que ela passe por mais um
processo de manutenção, mesmo que ela tenha que ser modificada, visto que mudanças
estruturais internacionais e internas tendem a alterar os interesses dos Estados, possibilitando
alterações no regime. Isto porque mesmo os outros Estados-membros que se mostram
contrários ao papel de liderança alemã, irão preferir manter o regime a abandona-lo e criar
outro, visto que é melhor modificar o regime atual do que criar novos regimes devido a
problemas com os custos transacionáveis, informações e a irresponsabilidade dos Estados.
Com certeza os governos se sentem melhor dentro do regime do que fora dele e os
acontecimentos em torno do terceiro pacote de ajuda a Grécia ajudam a refletir essa ideia. A
grande questão sobre a União Europeia que resta é e ela vai ser modificada para garantir a
dominação de grandes Estados como a Alemanha ou se vai caminhar para uma alteração que
supere o déficit democrático da instituição em razão dos Estados mais fracos e dos cidadãos
europeus.
138
CONCLUSÃO
A mudança do papel da Alemanha na União Europeia, de uma liderança
compartilhada com a França para um papel decisivo na condução da crise econômica, passou
pelas transformações que a estrutura do sistema internacional sofreu entre meados da década
de 1980 e os anos 1990. A reunificação alemã, fato importante nessa dinâmica, conferiu à
Alemanha maior peso demográfico e econômico frente aos parceiros na Europa, configurando
um aumento de suas capacidades que abriram a possibilidade para uma futura liderança.
Apesar do enorme esforço fiscal que o país foi obrigado a arcar para “garantir” a reunificação,
com políticas de convergência de transferiam enormes quantias de recursos do lado ocidental
para o oriental, a Alemanha consegue na década seguinte se tornar a principal economia
europeia, não só dado o seu tamanho, mas também graças à sua indústria dinâmica, seu
mercado de trabalho flexível com baixo desemprego e o crescimento econômico acima da
média enquanto boa parte do bloco europeu amarga uma recessão prolongada.
A integração europeia, fruto originário do contexto internacional bipolar que surgiu
após o término da Segunda Guerra Mundial no qual os Estados Unidos e a União Soviética
representavam os dois grandes polos de concentração de poder tecnológico, político, militar e
econômico do mundo foi também possibilitado pelos contextos internos bastante debilitados
dos países europeus pós-guerra. As destruições material e demográfica demonstraram que as
antigas potências europeias tinham sido suplantadas por duas superpotências planetárias com
forças de condicionar o papel da Europa no mundo. Para o poder hegemônico capitalista, o
projeto de submissão das indústrias de aço e carvão da Europa Ocidental a um agente
supranacional representava a estabilidade política com garantias de que a paz na região seria
duradoura. Nesse sentido, associando o contexto internacional bipolar e o contexto interno de
séria destruição com ameaças de revoluções socialistas, não tardou para que os grupos sociais
139
poderosos nos Estados europeus com influência sobre a máquina do governo se engendrasse
no processo de integração regional. Por outro lado, o poder hegemônico dos Estados Unidos
destinaria vultuosas quantias de dólares para reconstruir esses países.
O relativo sucesso da CECA fez com que os países-membros expandissem a
integração europeia para outras issue-areas, como a energia atômica e o mercado comum
através de tratados celebrados em Roma (1957). O período posterior na década de 1960/1970
foi marcado por transformações na estrutura do sistema internacional e no contexto interno
dos países europeus. Enquanto externamente o poder hegemônico que ajudou a impulsionar a
integração europeia se mostrava resistente a ela e assumia posturas globais sem contar com
seus parceiros ocidentais e a União Soviética apaziguava suas tensões com o ocidentes após
os nervosismos causados pela construção do Muro de Berlim chegando à sua abertura nos
anos 1980 e derrocada final em 1991, internamente as nações europeias estavam reconstruídas
e mantinham um crescimento econômico considerável, representando verdadeiros
concorrentes da economia norte-americana com relativa paz social e estabilidade política
graças ao estado de bem-estar social e políticas que favorecem o emprego e a renda. Nesse
contexto mais favorável internamente e mais adverso externamente, os europeus buscaram
alternativas que mesmo não podendo resistir à adoção do padrão dólar-flutuante imposto
pelos Estados Unidos pelo menos buscavam resistir em conjunto com flutuações combinadas
de suas moedas e políticas econômicas coordenadas. Assim, esse período foi marcado por um
impulso à integração no encontro em Hague (1969), no qual as Comunidades Europeias
puderam ser fortalecidas em comunhão, aos primeiros alargamentos abarcando os outros
países ocidentais da Europa até o Ato Único Europeu e o lançamento da União Europeia em
Maastricht (1992). Esse período é marcado por uma tentativa de resistência aos ditames do
poder hegemônico na medida do possível, demonstrando que mesmo quando o poder
hegemônico se transforma em uma espécie de ameaça à integração, aquele grupo pequeno de
potências europeias podem se juntar para resistir à ameaça externa. Nesse sentido, eles
podem conduzir o regime internacional sem um poder hegemônico, modificando a instituição
e ampliando as issues-areas.
Durante esse período conturbado de transformações e adversidades geradas pelo poder
hegemônico, França e Alemanha trabalharam conjuntamente no processo de integração
europeu, mesmo que com divergências certas vezes as decisões eram tomadas em conjunto,
com uma cedendo um pouco para outra e vice-versa. Porém, o desmantelamento da União
Soviética gerado a partir das reformas políticas e econômicas na segunda metade da década de
140
1980 possibilitou que um fato único nesse período ocorresse na Europa: a reunificação da
Alemanha. Nesse sentido, o fim da Guerra Fria teve consequências diretas em três frentes:
primeiro na estrutura do sistema internacional, enterrando o mundo bipolar que prevaleceu
durante a Guerra Fria e possibilitando que os Estados Unidos se tornasse a única
superpotência do mundo, caracterizando esse sistema como unipolar; segundo, que a
Alemanha pudesse se reunificar sob um único Estado-nacional, ampliando suas capacidades
em um sistema internacional novo; e terceiro que a região que outrora fora composta de países
satélites estivesse livre das amarras da dominação soviética e a mercê de outros atores
poderosos.
Assim, o fim da Guerra Fria marcou o ponto de virada para a Alemanha dentro da
União Europeia. Ao acabar com a dinâmica bipolar do mundo, possibilitou que os Estados
Unidos pudessem abrir outras frentes internacionais, se afastando do quadro europeu e
deixando para seus parceiros de aliança atlântica na Europa a manutenção do sistema
capitalista. Nesse sentido, para a Alemanha reunificada novas possibilidades também foram
abertas. Sem as restrições externas que perduraram até a década de 1980, a política externa do
país pôde adotar uma postura mais independente mesmo sem abandonar a aliança atlântica
com seus parceiros ocidentais na Europa e na América do Norte, mas, no entanto, se
construíram restrições externas ligadas ao esforço fiscal que o processo de convergência entre
o lado ocidental e oriental exigia do país. Na Europa, a Alemanha pôde desempenhar papel
mais decisivo no leste europeu, tratando de aproximar esses países que tinham sido aliados
soviéticos para os valores ocidentais e capitalistas. Utilizando sua proximidade geográfica,
sua proximidade cultural e linguística, mas, principalmente, a pujança da sua economia e do
seu sistema financeiro, a Alemanha rapidamente garantiu que a maior parte dos ex-países
satélites e até mesmo ex-repúblicas soviéticas do Báltico entrassem para a União Europei no
mesmo período em que a moeda única foi adotada.
As transformações institucionais que a UE realizou se preparando para a entrada dos
países do leste garantiram a dominação que os grandes Estados ocidentais detinham na
estrutura da instituição. O Tratado de Lisboa (2009) reforçou ainda mais esse peso, garantindo
cotas mais elevadas aos países mais populosos em uma discrepância enorme em relação aos
menos populosos. A Alemanha, sendo o país mais populoso da UE, foi o maior beneficiado.
Por outro lado, o enorme esforço fiscal que compreendeu a década de 1990 foi revertido em
superávits em conta corrente crescentes e recorrentes no Balanço de Pagamentos alemão,
enquanto seus parceiros amargavam déficits constantes, entre eles a França. A
141
competitividade da economia alemã foi elevada quando as moedas nacionais foram subtraídas
e o euro foi introduzido, retirando qualquer possibilidade de diferenciação cambial entre os
países tão diferentes. O resultado é que a economia alemã se tornou ainda mais robusta e
eficiente.
O romper da crise de 2008 em um mundo no qual as potências emergentes se
apresentavam como alternativas ao poder hegemônico rapidamente demonstrou que o sistema
internacional passava por uma transformação lenta de gradual para uma dinâmica multipolar,
no qual a força das economias em desenvolvimento permitirá que muitos desses países
assumam papel de liderança no mundo. No contexto europeu, a crise demonstrou a fraqueza
de diversas economias na periferia da Europa, bem como no centro, caso da economia
francesa, enquanto que a superioridade econômica da Alemanha foi ressaltada, visto que
rapidamente se recuperou da crise e tem apresentado crescimento desde 2010.
Assim, mudanças na estrutura do sistema internacional possibilitaram que a Alemanha
acumulasse capacidades materiais mais fortemente do que os seus parceiros comunitários,
possibilitando que esse países desempenha um papel decisivo de liderança na condução da
crise econômica na União Europeia. Esse papel mudou porque a Alemanha adquiriu
capacidades materiais superiores graças a: a reunificação do país, que garantiu aumento
demográfico e econômico ao país, importante fator visto que a proporção populacional é
determinante para as quotas nas instituições europeias como o Parlamento Europeu e a
Comissão Europeia; o fim da bipolaridade retirou muitas das restrições à atuação
internacional da Alemanha, possibilitando uma política externa mais independente; a
influência sobre os países do leste europeu na União Europeia graças aos laços estreitos
desenvolvidos com esses países desde a Ostpolitk e canalizando isso dentro da instituição; o
poder econômico superior que possibilitou superávits primários constantes na conta corrente,
fortalecendo a própria economia em detrimento das outras em uma zona de moeda comum; e
a crise financeira internacional, que abalou as economias dos seus parceiros europeus, bem
como daquele com quem costumava discutir e decidir em conjunto as políticas europeias, a
França.
Nesse sentido, a mudança estrutural atual no sistema internacional propiciado pela
crise financeira impulsionou a acumulação relativa de poder material pela Alemanha na União
Europeia, possibilitando que ela se torne uma potência regional com maior proeminência,
estimulando que o governo alemão não dependa mais da França para guiar a integração
142
regional. A austeridade é exigida pela Alemanha, mas é imposta pela União Europeia e pelo
Banco Central Europeu, demonstrando que as características dessas instituições foram
influenciadas pelo poder econômico mais poderoso da Europa, a Alemanha. Assim, a
Alemanha influencia a União Europeia a adotar uma postura mais alemã na medida em que a
instituição condiciona o comportamento desses Estados com características originariamente
alemãs. Portanto, sem que haja uma coalizão que possa ponderar com veemência a força da
Alemanha, a União Europeia se tornará cada vez mais alemã.
143
BIBLIOGRAFIA
ACIOLY, Luciana; LEÃO, Rodrigo Pimentel Ferreira. Crise financeira global: mudanças
estruturais e impactos sobre os emergentes e o Brasil. Brasília: IPEA, 2011.
AUST, Helmut Philipp; VASHAKMADZE, Mindia. Parliamentary Consent to the Use of
German Armed Forces Abroad: The 2008 Decision of the Federal Constitutional Court in the
AWACS/Turkey Case. German Law Journal. vol. 9, n. 12, p. 2224-2236.
BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz. A política exterior da Alemanha – 1949-1999. In:
GUIMARÃES, S. P. (Org.). Alemanha: visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais, Fundação Alexandre Gusmão, 2000. p. 117-218.
BAUMANN, Ricardo; et al. Introdução. In: BAUMANN, R. (Org.). O Brasil e os demais
BRICS: comércio e política. Brasília: CEPAL-IPEA, 2010, p. 5-8.
BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A crise financeira e o papel do Estado. In: BISPO, C. R. et al
(Org.). Crise financeira mundial: impactos sociais e no mercado de trabalho. Brasília:
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 2009, p. 19-28.
BEKENN, Ana Elisa; et al. União Europeia: um fim ou um novo começo? Cadernos de
Relações Internacionais. Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 23-46, 2012.
BONDE, Jens-Peter. From EU Constitution to Lisbon Treaty: The revised EU Constitution
analysed by a Danish member of the two constitutional Conventions, Jens-Peter Bonde.
Foundation for EU Democracy and the EU Democrats in cooperation with Group for
Independence and Democracy in the European Parliament. 96 p.
BÖHLKE, Marcelo. O processo de integração regional e a autonomia do seu
ordenamento jurídico. 2002. 264 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências
Jurídicas – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
BULMER, Sebastian.; PATERSON, W.; Germany and the European Union: from ‘tamed
power’ to normalized power? Oxford: The Royal Institute of International Affairs, 2010, p
1051-1073.
BULMER, Sebastian.; PATERSON, W.; Germany as the EU’s reluctant hegemon? Of
economic strength and political constraints. Journal of European Public Policy. Disponível
em: http://www.tandoline.com/loi/rjpp20. Visualizado em: 05 mai. 2014.
144
COMISSÃO EUROPEIA. http://ec.europa.eu/index_en.htm. Acessado em 07/07/2015.
CONVERGENCE REPORT 2014. European Comission. European Economy, n. 4, 2014.
DREIFUSS, René. A visão estratégica na construção do futuro da Alemanha. In:
GUIMARÃES, S. P. (Org.). Alemanha: visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais, Fundação Alexandre Gusmão, 2000. p. 345-364.
DULLIEN, Sebastian.; GUÉROT, Ulrike. The long shadow of Ordoliberalism: Germany’s
approach to the Euro Crisis. Londres: European Council of Foreign Affairs, 2012.
FERREIRA, Thiago Borne. Guerra irregular complexa: aspectos conceituais e o caso da
Batalha de Vukovar. 2012. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Programa de
Pós-Graduação em Ciência Política – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre.
FOSTER, John Bellamy. A nova geopolítica do império. Tradução de Fernando Ferrone.
Monthly Review, v. 57, n. 8, jan. 2008, 28 p.
FREIRE, Maria Raquel; DAEHNHARDT, Patrícia. As relações entre a Alemanha e a Rússia:
duas políticas externas em transição. Relações Internacionais. 2011, p. 171-196.
FUNDO
EUROPEU
DE
ESTABILIZAÇÃO
FINANCEIRA.
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm. Acessado em 08/07/2015.
FUNDO
MONETÁRIO
INTERNACIONAL.
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php. Acessado em 08/07/2015.
GONÇALVES, Samo Sérgio. A nova estratégia da política externa dos Estados Unidos no
mundo pós-Guerra Fria. 2004, 184 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) –
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais - Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
GOWA, Joanne. Hegemonic Stability Theory: A critical review. In: GOWA, J. Allies,
adversaries, and international trade. Princeton: Princeton University Press, 1994, cap. 2, p.
11-30.
GUÉROT, Ulrike.; LEONARD, M. The new German question: how Europe can get the
Germany it needs. Londres: European Council on Foreign Affairs, 2011.
145
GUÉROT, Ulrike. et al. What does Germany think about Europe? Londres: European
Council on Foreign Affairs, 2011.
KENKEL, Kai Michel. O peso do passado e o significado da responsabilidade: a Alemanha e
as operações de paz. In: KENKEL, K. M.; MORAES, R. F. de. O Brasil e as operações de
paz em um mundo globalizado: entre a tradição e a inovação. Brasília, IPEA, 2012, p. 159182.
KEOHANE, Robert. Cooperation and international regimes. In: KEOHANE, R. After
Hegemony: cooperation and discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton
University Press, 1984.
LANE, Philip K. The European sovereign debt crisis. Journal of Economic Perspectives. v.
26, n. 3, summer 2012, p. 49-68.
LOHBAUER, Christian. Os desafios da Política Externa Alemã Contemporânea. In:
GUIMARÃES, S. P. (Org.). Alemanha: visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais, Fundação Alexandre Gusmão, 2000. p. 301-322.
MAYHEW, A.; OPPERMANN, K.; HOUGH, D. German foreign policy and leadership of
the EU – ‘You can’t always get what you want… but you sometimes get what you need’.
Brighton, Sussex European Institute, University of Sussex, 2011.
MECANISMO DE ESTABILIDADE EUROPEU. http://www.esm.europa.eu/index.htm.
Acessado em 08/07/2015.
MORAVCSIK, Andrew. Taking preferences seriously: A liberal theory of international
politics. International Organization, 1997, v 51, n 4, pp 513-553.
NUNES, Leonardo Loureiro. Portugal, Grécia, Itália e Espanha: uma análise das razões das
crises da dívida e alternativas para sua superação. Boletim de Economia e Política
Internacional. n. 15, p. 31-46, set./dez. 2013.
OSÓRIO, Luiz Felipe Brandão. O dilema alemão no sistema interestatal capitalista
contemporâneo. In: Encontro Regional da APUH-RIO Memória e Patrimônio, XIV, 2010,
Rio de Janeiro, Anais do XIV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio: Memória e
Patrimônio, Rio de Janeiro: NUMEM, 2010, p. 1-12.
146
OSÓRIO, Luiz Felipe Brandão. A construção da União Europeia pela ótima da Economia
Política Internacional. In: Seminário de Pós-Graduação em Relações Internacionais, II, 2014,
João Pessoa, Painel de Governança e Relações Institucionais, João Pessoa:, 2014, p. 1-92.
OSÓRIO, Luiz Felipe Brandão. Um estudo crítico da União Europeia: contradições de seu
desenvolvimento institucional e normativo. 2015. 244 f. Dissertação (Doutorado em
Economia Política Internacional) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Economia –
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
OSÓRIO, Luiz Felipe Brandão. Alemanha: a fênix da economia política internacional?
Revista de História Econômica e Economia Regional Aplicada, Rio de Janeiro, v. 5, n. 8,
p. 1-16, jan./jul. 2010.
PRESIDENCY CONCLUSIONS. Copenhagen European Council. 21-22 Junho 1993.
PINHEIRO, Ana; et al. O ontem e o hoje: o processo de transformação da OTAN no pósGuerra Fria. Cadernos de Relações Internacionais. Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 65-90, 2012.
PUTNAM, Robert. Diplomacy and domestic politics: The logic of the two-level games.
International Organization, 1993, v 42, n 3, pp 426-460.
QUINT, Peter. E. The Constitutional Law of German unification. Maryland Law Review,
Maryland, v. 50, n. 3, p. 475-631, 1991.
SANTOS, Theotônio dos. A política econômica externa da Alemanha (1945 a 1989 e 1989
até hoje. In: GUIMARÃES, S. P. (Org.). Alemanha: visões brasileiras. Brasília: Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais, Fundação Alexandre Gusmão, 2000. p. 219-300.
SILVA, Alex Rosa. da; OLIVEIRA, Tiago Carneiro. de. Alemanha: hegemonia na integração
da União Europeia. Fragmentos de Cultura. Goiânia, v. 18, n. ½, p. 79-94, jan.fev. 2008.
SINN, Hans-Werner. Germany’s economic unification: an assessment after ten years.
National Bureau of Economic Research Working Paper Series. Cambridge: NBER, 2000.
SOUSA, Wagner W. de. As relações franco-germânicas e o processo político de criação
da moeda comum europeia: do encontro em Hague (1969) ao Tratado de Maastricht (19691993). 2013. 114 f. Dissertação (Doutorado em Economia Política Internacional) - Instituto de
Economia - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
147
TEIXEIRA, Lucas Henrique Dourado. A atuação do Banco Central Europeu na crise da
dívida. 2012. 46 f. Dissertação (Bacharelado em Economia) – Departamento de Economia –
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
TREIN, Franklin. Apontamentos sobre a política externa da República Federal da Alemanha.
In: GUIMARÃES, S. P. (Org.). Alemanha: visões brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa
de Relações Internacionais, Fundação Alexandre Gusmão, 2000. p. 323-336.
VIZENTINI, Paulo Fagundes. A vida após a morte: breve história mundial do presente pós“fim da história”. Tempo. Rio de Janeiro, n. 16, p. 35-57, 2004.
ZEHFUSS, Maja. Wounds of Memory: the politics of war in Germany. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007.