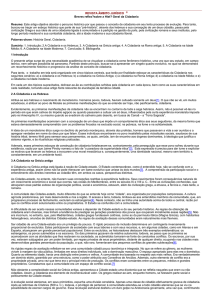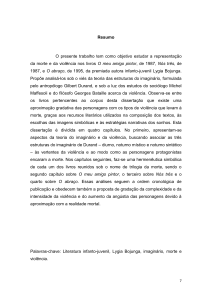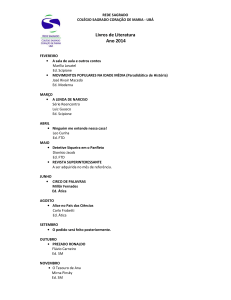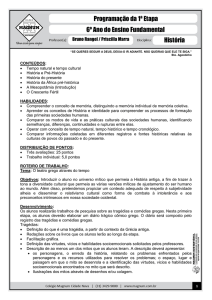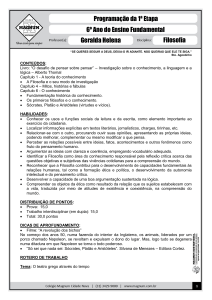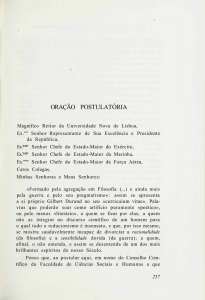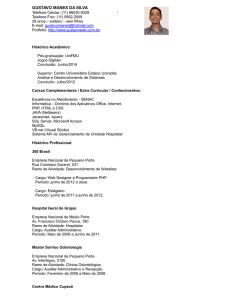resenhas
Jogo de espelhos
Mariluce Moura
H
Por que gostamos
de história
Jaime Pinsky
Editora Contexto
224 páginas, R$ 29,00
94 | Agosto DE 2013
á algo surpreendente de cara, para não dizer mesmo desconcertante, no livro mais
recente de Jaime Pinsky. Porque ante o
título e as qualificações do autor é fácil ao leitor
desavisado se inclinar a crer que tem em mãos um
ensaio erudito sobre os fundamentos culturais e
psicológicos da atração que exercem sobre tantos
as múltiplas narrativas da história – ou sobre as
razões históricas do prazer que a maioria experimenta ao acompanhar bem construídas narrativas reais ou ficcionais, recheadas de peripécias
e de personagens intrigantes. Mas, longe disso,
Por que gostamos de história é uma coletânea de
60 textos curtos organizados sob oito rubricas,
escritos com leveza, fluidez e linguagem clara e
concisa que é recomendável observar quando se
apresentam ideias e se organizam argumentos
em sua defesa para leitores de jornal.
O historiador experimentado que é Pinsky, autor de mais de duas dezenas de livros, professor
titular de história da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), com passagens também
pelas universidades de São Paulo e Estadual Paulista (respectivamente USP e Unesp), aqui assume a face do comunicador, do comentarista que
se dirige a um público de contornos imprecisos,
no qual pode se ocultar tanto um de seus pares
quanto um hipotético trabalhador dono de escassa educação formal e ávido por pistas seguras
para desvendar o mundo. Daí, talvez, uma certa
hesitação ou experimentação do autor a respeito do tom em que é melhor falar a esse público.
Essa fala pode ser modulada como conselho
de professor: “Se não der para ver mais nada no
Louvre, se não der para ver mais nada em Paris,
namore a Vitória [de Samotrácia] por meia hora. Depois disso, você nunca mais será o mesmo,
pois terá visto uma das maiores obras do gênio
humano”, ele diz em “Vale a pena ver museus?”
(p. 68). Mas o tom pode também revestir-se de
um à vontade próprio de uma conversa entre
iguais, papo de intelectuais marcado por referências tranquilas a autores, sem necessidade
de explicar quem são a cada passo. A certa altura, por exemplo, em “Como furtar a história
dos outros” (p. 40-42), Pinsky observa que Jack
Goody, “um dos maiores antropólogos da civilização vivos, reconhecido no mundo inteiro”, mas
ainda “pouco conhecido no Brasil, embora seja
tido como uma espécie de Hobsbawm da antropologia”, percebe “certo desprezo pelo Oriente,
que já custou e pode ainda custar mais caro ao
mundo ocidental”. E completa: “Assim, ele acusa teóricos fundamentais, como Marx, Weber,
Norbert Elias, Braudel, Finley e Perry Anderson
por esconderem conquistas do Oriente e mesmo
de se apropriarem delas em seus escritos”. Em
ambos os artigos, ele se dirige originalmente a
leitores do Correio Braziliense, no primeiro caso,
em setembro de 2005 e, no segundo, em julho de
2008. Aliás, o jornal mais importante de Brasília
foi o destino original da maior parte dos textos
do novo livro de Pinsky (p. 219-220), que nele estão agrupados pelos subtítulos História, Cultura,
Mundo, Povos e Nações, Cotidiano, Educação,
Brasil e Família. Uns poucos textos foram veiculados pela Folha de S. Paulo, Jornal da Unesp,
História Viva e Revista Um. Todos eles foram
publicados entre 2004 e 2013.
A notar, nessa espécie de exercício do jornalismo pelo historiador, que Pinsky se mostra, em
contrapartida, bem receptivo ao trabalho de historiadores amadores, ainda que declare ser favorável à regulamentação da sua profissão. “Nada
tenho contra amadores que ousam adentrar no
reino de Clio”, informa. Em seu olhar, “bons livros
de divulgação histórica têm sido produzidos por
leigos. (...) Cabe ao público e à crítica (ela existe?)
avaliar a qualidade do que está sendo escrito” (p.
53). E para isso ele recomenda que alguns acadêmicos saiam mais “de sua confortável torre de
marfim” e venham a público comentar as obras
lançadas em vez de “ficar resmungando pelos
corredores contra este ou aquele jornalista que
produziu um livro de sucesso. Seria um diálogo
rico e honesto” (p. 53-54).
Em tempo: “Por que gostamos de história?”
(p .19), com interrogação, é o título do primeiro
artigo do livro jornalístico do respeitado historiador Jaime Pinsky, em que se propõe , sem dúvida,
um certo jogo de espelhos. E nele o autor nos diz
que um dos motivos da popularidade dos livros
de história foi explicado por Sófocles há 25 séculos. “Ele dizia que, de todas as maravilhas do
mundo, o homem é a mais interessante para os
próprios seres humanos” (p. 20).
Números para as artes
Joselia Aguiar
E
fotos eduardo cesar
Política cultural e
economia da cultura
José Carlos Durand
Ateliê Editorial/ Edições
Sesc-SP
184 páginas / R$ 39
statísticas lembram economia, que, por sua
vez, se vincula a lucro – visto como ameaça
à autonomia da criação. Estatísticas também
lembram burocracia e controle estatal – noções que
costumam despertar apreensão, dado o histórico de
totalitarismo e censura em regimes do século XX.
Resumidamente, é como José Carlos Durand
explica a grande resistência que os números encontram no campo das artes, em trecho do capítulo “Indicadores culturais: para usar sem medo”, de seu recente Política cultural e economia
da cultura. Sociólogo com extensa trajetória de
estudos sobre o tema, ele tem defendido a importância de pensar economicamente as artes e
a cultura a fim de que sejam adotadas políticas
públicas mais justas e eficientes. Em última instância, quem mais se beneficiará dos números
são o artista e seu público. Só que antes há de se
dirimir um tanto de preconceitos.
O livro soma-se a uma ainda esparsa bibliografia sobre esse campo no país, que no entanto tem
crescido nos últimos cinco anos. Foi Durand quem
incentivou a tradução e prefaciou, em 2007, um dos
clássicos da área, A economia da cultura, de Françoise Benhamou, economista francesa que trata
da experiência europeia. O que o título de Durand
traz de contribuição são dados, análises e propostas para o caso brasileiro. Como nota, só agora a
gestão pública de cultura começa a ter atenção, em
decorrência da década e meia de estabilidade do
país. Além das novas publicações, movimenta cada
vez mais encontros, seminários e redes virtuais.
Para que servem os indicadores culturais? Ora,
como argumenta Durand, para quantificar o setor, sua participação na economia, a contribuição estadual e municipal e o quanto indivíduos
gastam com cultura. Esses dados passaram a ser
levantados de modo mais sistemático na última
década numa iniciativa do Ministério da Cultura
(MinC) em conjunto com Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Levantar estatísticas é apenas a ponta de uma nova lógica que
inclui também a formação do profissional que vai
trabalhar com gestão cultural – para acabar com
um quadro de amadorismo que parece romântico
mas tem efeito pernicioso – e o estabelecimento
de formas inteligentes de financiamento e patro-
cínio, por meio de bancos públicos e agências de
fomento e envolvendo tanto agentes do mercado
quanto da academia.
Os 11 artigos do livro vão então perfazer um percurso que é ao mesmo tempo conceitual, histórico
e comparativo. Com abordagem didática e caráter
introdutório, atendem sobretudo a quem deseja se
iniciar no assunto. A ideia de economia da cultura, como adverte, não deve ser confundida com a
de marketing cultural, e hoje, ao incorporar novas
tecnologias, abre-se para uma noção que é ainda
mais ampla, a de economia criativa. Durand mostra como se transformou o setor no país de 1995 a
2010, analisando ações governamentais e privadas
no âmbito da Lei Sarney e, depois, Lei Rouanet. Primeiro, o MinC se restabelece após o que considera
como a devastação promovida pelo governo Collor.
Será sob orientação liberal que funcionará nos dois
mandatos de Fernando Henrique Cardoso, quando
o autor identifica certo exagero na concessão de
incentivos fiscais para viabilizar parcerias com a
iniciativa privada. No governo Lula, o orçamento
é maior, assim como o quadro de funcionários, e se
configura um modelo notadamente mais inclusivo
e voltado às culturas populares. Entre as tendências
internacionais, os casos dos Estados Unidos e da
França são particularmente abordados, resultado
de intensa pesquisa de pós-doutorado de Durand
naqueles países.
No conjunto de temas tratados, em que se entrelaçam economia e política, há até oportuna
incursão ao território da crítica da arte. Num dos
capítulos, “Premiações como instrumento de política cultural: uma proposta para a América Latina”, o autor discute o enfraquecimento das instâncias de consagração erudita. Numa região que
vive, como define, “tempos de descentramento e
multipolaridade”, lembra que a autoridade pública deve fazer valer seu poder de chancelar antes
que o mercado multiplique e banalize prêmios
e competições. Como ressalta, é preciso olhar
atentamente para os artistas que não são vistos
por editoras ou gravadoras mas têm talentos que
merecem ser reconhecidos. Os números devem,
afinal, estar a serviço das artes.
Joselia Aguiar é jornalista, mestre e doutoranda em história (USP),
concentrando-se em reportagens e estudos no campo da cultura.
PESQUISA FAPESP 210 | 95