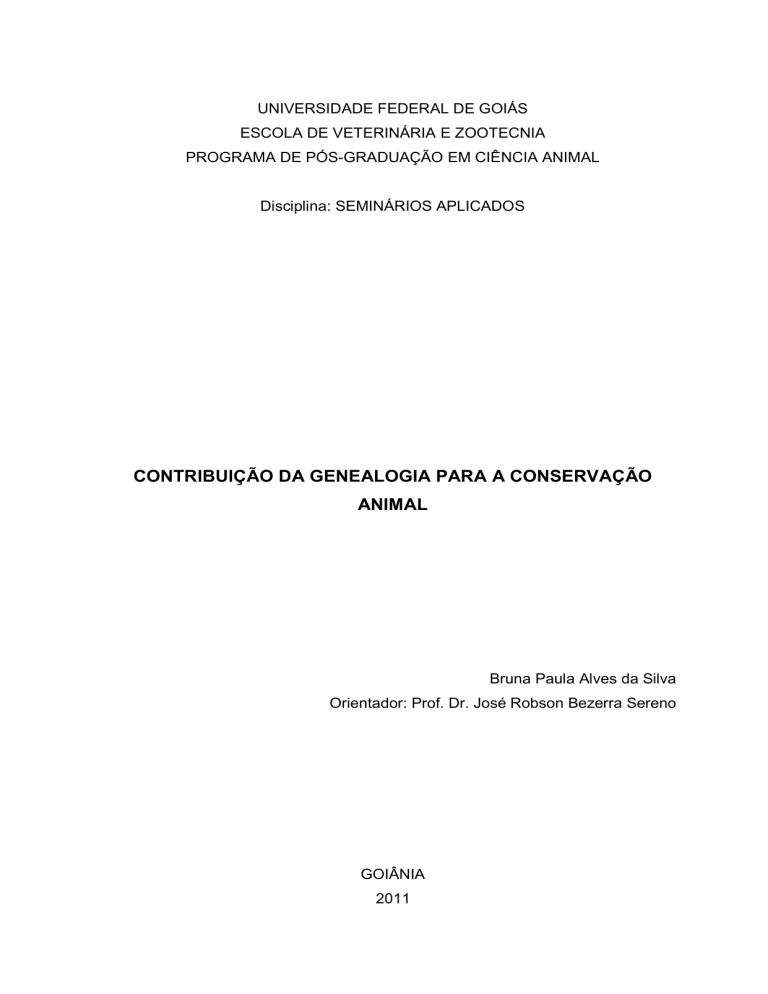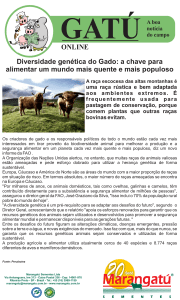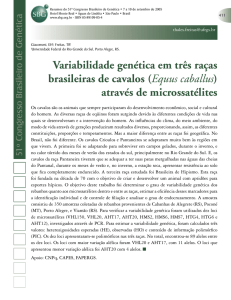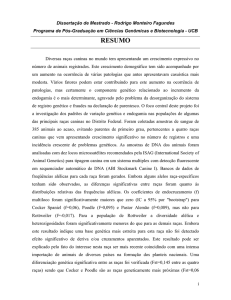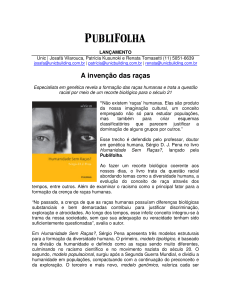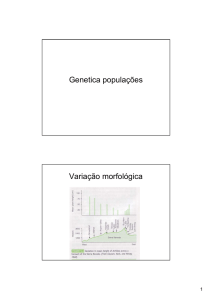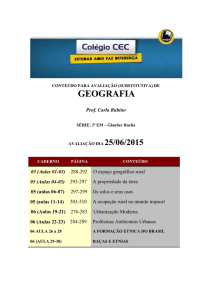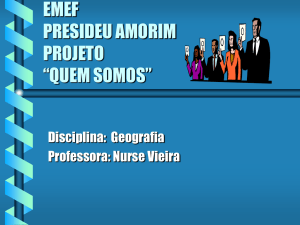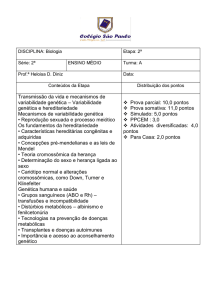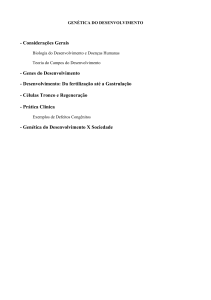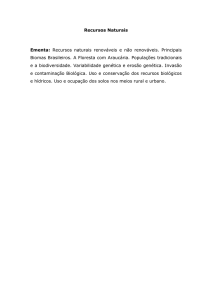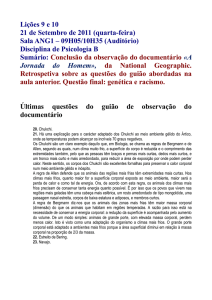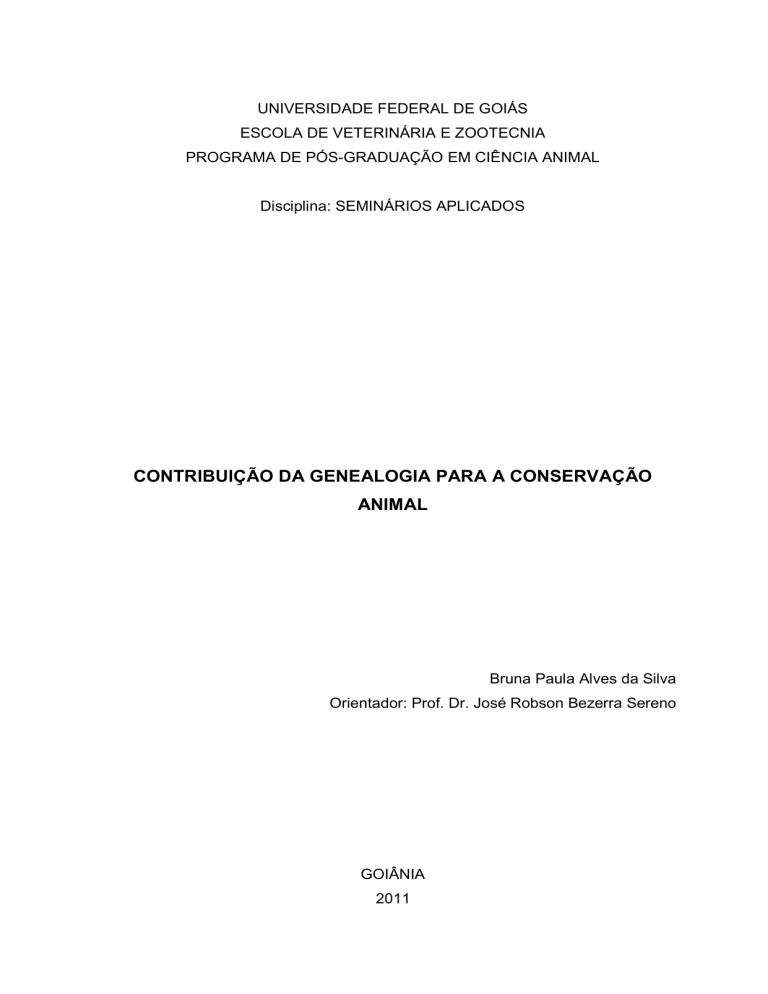
i
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
Disciplina: SEMINÁRIOS APLICADOS
CONTRIBUIÇÃO DA GENEALOGIA PARA A CONSERVAÇÃO
ANIMAL
Bruna Paula Alves da Silva
Orientador: Prof. Dr. José Robson Bezerra Sereno
GOIÂNIA
2011
ii
BRUNA PAULA ALVES DA SILVA
CONTRIBUIÇÃO DA GENEALOGIA PARA A CONSERVAÇÃO
ANIMAL
Seminário apresentado junto à Disciplina
Seminários Aplicados do Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal da
Escola de Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Goiás.
Nível: Mestrado
Área de Concentração:
Produção Animal
Linha de Pesquisa:
Fatores genéticos e ambientais que
influenciam o desempenho dos animais
Orientador:
Prof. Dr. José Robson Bezerra Sereno - EMBRAPA CERRADOS
Comitê de Orientação:
Prof. Dr. Emmanuel Arnhold - UFG
Dra. Raquel Soares Juliano - EMBRAPA PANTANAL
GOIÂNIA
2011
iii
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS.............................................................................
iv
LISTA DE TABELAS............................................................................
v
LISTA DE QUADROS..........................................................................
vi
LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................
vii
1
INTRODUÇÃO.....................................................................................
1
2
REVISÃO DE LITERATURA................................................................
3
2.1
Genealogia...........................................................................................
3
2.1.1
Endogamia...........................................................................................
4
2.1.2
Técnicas utilizadas para estabelecer a genealogia..............................
5
2.1.3
Genealogia em diferentes espécies.....................................................
7
2.1.3.1 Bovinos.................................................................................................
7
2.1.3.2 Caprinos...............................................................................................
11
2.1.3.3 Ovinos..................................................................................................
13
2.1.3.4 Eqüinos................................................................................................. 14
2.1.3.5 Bubalinos..............................................................................................
14
2.1.3.6 Suínos..................................................................................................
15
2.1.3.7 Aves......................................................................................................
15
2.2
Conservação de recursos genéticos animais....................................
16
2.3
Importância
3
da
genealogia
para
a
conservação
animal
e
melhoramento genético.......................................................................
19
CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................
21
REFERÊNCIAS....................................................................................
22
iv
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Dendograma das raças Crioulo Lageano (CL), Junqueira (J) e
outras.................................................................................................. 10
v
LISTA DE TABELAS
Tabela 1
Parâmetros genealógicos da população Holstein portuguesa....
Tabela 2
Número de animais (N), tamanho efetivo (Ne) e taxa de
consangüinidade (∆F) de acordo com a raça/rebanho caprino...
8
12
vi
LISTA DE QUADROS
Quadro 1
Raças suínas em perigo de extinção e localização.......................
17
Quadro 2
Raças bovinas e eqüinas em perigo de extinção e localização.....
18
Quadro 3
Raças de asininos e bubalinos em perigo de extinção e
localização...................................................................................... 18
Quadro 4
Raças caprinas e ovinas em perigo de extinção e localização......
18
vii
LISTA DE ABREVIATURAS
BGA
Banco de Germoplasma Animal
CE
Coeficiente de endogamia
DE
Depressão de endogamia
IEG
Intervalo de gerações
LGA
Laboratório de Genética Animal
NAe
Número efetivo de ancestrais
Ne
Tamanho efetivo da população
NFe
Número efetivo de fundadores
PCR
Reação em cadeia da polimerase
SRD
Sem raça definida
1 INTRODUÇÃO
As raças locais constituem um patrimônio genético que pode ser único
e uma variabilidade genética importante para a manutenção das espécies. O
desajuste produtivo da maioria das raças locais se tornou o principal motivo da
extinção desses animais, causando dificuldade para a manutenção dessas raças.
O manejo reprodutivo se mostra inadequado, com acasalamentos desordenados
e relação macho:fêmea desproporcional. Muitos criadores realizam cruzamentos
com a intenção que problemas relacionados ao baixo desempenho reprodutivo e
diminuição da vida produtiva de seus animais sejam sanados, provocando o
desaparecimento de genes que podem ser raros e raças que poderiam ser mais
bem utilizadas.
Diversas raças de animais domésticos existentes no Brasil foram
desenvolvidas a partir de raças trazidas pelos colonizadores portugueses logo
após o descobrimento, sendo estas, submetidas à seleção natural e artificial, em
diferentes ambientes, desenvolvendo desta forma características específicas de
adaptação a distintas condições, como rusticidade, prolificidade e resistência a
endo e ectoparasitas de diversas regiões brasileiras. No início do século XX,
inúmeras raças exóticas foram importadas para o Brasil, sendo estas
selecionadas em regiões de clima temperado, ocasionando drástica substituição
das raças locais (EGITO et al., 2002).
A preservação e o uso dos recursos genéticos animais são fatores
inseparáveis. Em 1991, a FAO auxiliada por diversos países iniciou um
levantamento sobre a situação de várias espécies de animais domésticos no
mundo, considerando que a perda de uma única raça ou tipo compromete o
acesso a seus genes e consequentemente as combinações genéticas (EGITO et
al., 2002).
No âmbito global de proteger o ambiente e preservar a paisagem rural,
as medidas de política agrícola, principalmente na União Européia, tem buscado
promover sistemas de exploração agropecuária sustentáveis e menos intensivos.
Neste sentido, em relação à produção animal, aumentou-se o interesse pela
exploração de raças locais, em razão de suas características, a adaptação às
2
condições climáticas locais, a natureza cultural, científica e econômica (MATOS,
2000).
O estudo sobre a estrutura das raças e a investigação sobre a filogenia
se faz relevante em termos sócio-econômicos e culturais. Os marcadores
moleculares demonstram ser apropriados para estimar estes parâmetros, por não
sofrerem influência direta da seleção, principalmente para características de
interesse econômico e ambiental (EGITO et al., 2002).
Os procedimentos realizados nas avaliações genéticas baseiam-se na
informação de parentes, consequentemente, membros da mesma família
possuem mais chances de serem selecionados. Com a utilização destes animais
que apresentam melhor desempenho, por diferentes criadores, as chances dos
indivíduos das próximas gerações descenderem de um pequeno número de
touros intensivamente selecionados e aparentados entre si aumentam muito,
aumentando a endogamia e diminuindo a variabilidade genética dos rebanhos
(CARVALHEIRO & PIMENTEL, 2004).
Para estabelecer programas de conservação animal necessita-se obter
dados da genealogia e de controle zootécnico dos animais e das raças,
possibilitando a identificação, o controle da endogamia, o aumento da
variabilidade genética, a elaboração de planejamentos de acasalamentos e a
inclusão destes animais em futuros programas de melhoramento genético, a partir
do estabelecimento do padrão racial e do registro genealógico de raças que ainda
não o possuem, com vistas a aumentar a capacidade produtiva e reprodutiva
destes animais, maximizando a sua criação e utilização.
Objetivou-se
descrever
a
importância
da
genealogia
para
a
conservação de recursos genéticos animais de diferentes espécies, visando
conservar a variabilidade genética dentro das raças, evitando a endogamia.
3
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Genealogia
O número médio de ancestrais conhecidos por indivíduo e ano de
nascimento está aumentando. O mesmo acontece com o número equivalente de
gerações por indivíduo. Na análise genealógica de uma população, outro aspecto
importante relaciona-se ao estudo da probabilidade de perda de genes entre
gerações, considerando que quanto maior a intensidade de seleção, maior será a
homozigose e menor a variabilidade genética (VASCONCELOS et al., 2005).
O conhecimento do tamanho efetivo da população (Ne) ao longo do
tempo permite determinar as alterações na variabilidade genética, pois reflete o
número e a escolha de reprodutores em gerações anteriores. No entanto, o Ne é
um parâmetro extremamente sensível à qualidade do arquivo de pedigree,
fazendo mais sentido quando utilizado em análises de longo prazo. O Ne
representa o número efetivo de indivíduos que se acasalam, sendo calculado
como função da taxa de incremento da endogamia por geração (FALCONER,
1981; VASCONCELOS et al., 2005).
O arquivo de genealogia das raças permite traçar o número médio de
ancestrais por indivíduo e o número de gerações. O número efetivo de fundadores
avalia como o balanço esperado das contribuições dos fundadores é mantido
entre as gerações, considerando a taxa de seleção e a variação de tamanho de
família. Uma das causas de perda ou fixação de alelos nas populações é a
diminuição do número de reprodutores em determinado período, que é
considerado quando se estima o número efetivo de ancestrais, enquanto o
número efetivo de genomas remanescentes avalia o número de alelos fundadores
que são mantidos na população para determinado loco e as possibilidades de
perdas de alelos fundadores (FARIA et al., 2006).
O uso de poucos animais como reprodutores e a utilização destes de
forma intensa, contribuiu para justificar a pouca representação de animais
fundadores no pedigree dos rebanhos ao longo das gerações (BARROS et al.,
2011).
4
O interesse crescente pelos efeitos da dominância apóia-se na intensa
utilização do sêmen de poucos reprodutores, considerados de superioridade
genética comprovada e na utilização de biotecnologias reprodutivas modernas
como, ovulação múltipla, fertilização in vitro, transferência de embriões e
clonagem. Dessa forma, aumentou-se o número de progênies de irmãos
completos, o parentesco nas populações e relacionamentos genéticos de
dominância (CUNHA et al., 2009).
O uso de programas informáticos que simultaneamente minimizem a
endogamia e maximizem o mérito genético da descendência, não deve ser
utilizado como uma opção e sim como uma necessidade para todos os
extensionistas, consultores e criadores, uma vez que, é fundamental diminuir os
efeitos da endogamia nas populações (WEIGEL & LIN, 2000).
2.1.1 Endogamia
A endogamia resulta do acasalamento, intencional ou não, de animais
aparentados, sendo este sistema de acasalamento capaz de alterar a constituição
genética da população, por meio do aumento da homozigose e diminuição da
heterozigose, alterando a freqüência genotípica, mas não as freqüências gênicas.
O aumento da homozigose de uma população é medido pelo coeficiente de
endogamia (CE) e está relacionado à probabilidade de diminuição no
desempenho dos animais, em características de importância econômica,
produtiva e de viabilidade (QUEIROZ, 2000; SWALVE et al., 2003).
O coeficiente de endogamia depende do tamanho efetivo da
população, considerando que, quanto menor a população, em gerações
anteriores, maior o número de ancestrais comuns e maior o coeficiente de
endogamia (BREDA et al., 2004).
O aumento da consangüinidade causa o fenômeno chamado
Depressão de Endogamia (DE), resultado da diminuição da heterozigose e de um
aumento na freqüência de genes deletérios recessivos na população. Este
fenômeno provoca perda da variabilidade genética e diminui as possibilidades
para seleção (DARIO & BUFANO, 2003; SWALVE et al., 2003).
5
Os alelos recessivos devem ser evitados, pois determinam disfunções,
má formação nos animais e deprimem o desempenho nas características de
importância econômica. No entanto, apesar de seus riscos, a endogamia tem sido
utilizada, principalmente por criadores de animais de elite, com o intuito de
assegurar a uniformidade racial e fixação de certas características em linhagens,
em razão dos produtos possuírem maior aceitação comercial (QUEIROZ, 2000).
Mesmo que o efeito depressivo de endogamia não cause reduções
importantes na produção, o aumento intencional da endogamia deve ser evitado,
uma vez que, os efeitos negativos no animal são globais e cumulativos e as
perdas econômicas podem resultar da diminuição da produção, por meio da
redução do tempo de vida produtiva, causado por características ligadas à
reprodução e sobrevivência (VASCONCELOS et al., 2005).
A endogamia pode tornar-se um problema crescente nos programas de
melhoramento genético, considerando que estes identificam indivíduos e famílias
com potencial geneticamente superior e utilizam tecnologias eficientes para
transmitir esses genótipos para a população (WEIGEL & LIN, 2000).
Algumas raças possuem grande população em números absolutos,
mas pequena em tamanho efetivo. A utilização intensiva de touros por meio da
inseminação artificial provoca aumento da endogamia, sendo a intensidade de
seleção elevada, o que faz com que um número reduzido de touros, com um forte
relacionamento familiar, seja responsável pela manutenção de quase todo o
efetivo (SWALVE et al., 2003).
2.1.2 Técnicas utilizadas para estabelecer a genealogia
Para se estudar as populações de animais domésticos têm sido muito
utilizadas técnicas de genética molecular (CURI & LOPES, 2002).
As distâncias genéticas e os índices de similaridade ou dissimilaridade
podem ser obtidos a partir da técnica de RAPD, podendo ser utilizados para
decifrar as diferenças ou unicidade das raças naturalizadas, inclusive avaliandose a diferenciação genética entre estas. Em razão do tipo de marcador, que
destaca-se pela dominância e alta sensibilidade, alguns estudos utilizam
6
marcadores microssatélites, co-dominantes, que possibilitam a estimativa de
parâmetros necessários para a realização da análise da diversidade genética,
como as freqüências gênicas e a herozigosidade média entre e dentro das
populações (EGITO et al., 2002).
Para estimar a similaridade genética de animais das raças Crioulo
Lageano e Junqueira, utilizando como referência animais de raças comerciais
distintas, baseando-se na análise de polimorfismo de marcadores RAPD, realizouse a extração de DNA genômico utilizando-se um kit comercial (Wizard,
Promega), estimando-se a concentração do DNA por eletroforese em gel de
agarose 1%, corado com brometo de etídio por comparação com DNA padrão. A
partir da leitura dos géis, criou-se uma matriz quanto à presença ou ausência de
fragmentos RAPD, estimando-se o coeficiente de similaridade de Jaccard, par a
par, de todos os indivíduos para construir um dendograma, utilizando-se o método
UPGMA (unweighted pair-group average) (RANGEL et al., 2004).
No estudo citado acima, foram formados dois grupos com similaridade
igual a 0,46, sendo um da espécie Bos taurus, em que os indivíduos agrupados
pertencem às raças Crioulo Lageano, Junqueira, Simental, Blonde D’ Aquitaine,
Holândes, Brangus, Curraleiro, Pardo Suíço, Pantaneiro e Caracu e outro da
espécie Bos indicus, sendo os indivíduos da raça Gir, Nelore e Guzerá. Os
resultados obtidos confirmaram a origem européia das raças naturalizadas
brasileiras (RANGEL et al., 2004).
Na realização de estudos genéticos, com vistas à obtenção de mapas
genéticos, as análises que mais têm sido destacadas são as obtidas por
marcadores microssatélites, que são sequências repetidas de DNA, 5 a 20 vezes,
apresentando loci discretos com alelos co-dominantes e sendo altamente
polimórficos em razão do mecanismo interno chamado slippage, que o confere
elevada taxa de mutação. Os microssatélites possuem maior capacidade de
ganhar alelos que perder, sendo que um lócus de um microssatélite tem
aproximadamente de 4 a 10 alelos e são facilmente amplificados por meio da
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) e analisados depois de passar
pela eletroforese (STRACHAN & READ, 1999).
No ano de 2000, foi realizado um Convênio de Cooperação
Internacional entre o Laboratório de Genética Animal (LGA) da EMBRAPA e o
7
Laboratório de Genética Animal e Conservação da Universidade do Porto, de
Portugal, com o intuito de comparar as raças bovinas naturalizadas brasileiras e
as raças autóctones portuguesas, por meio do uso de marcadores microssatélites,
relevando-se quais raças portuguesas participaram da formação de raças
brasileiras naturalizadas. A partir desses resultados poderão ser realizados
intercâmbios de germoplasma, que por sua vez, podem ser fundamentais para a
preservação de raças brasileiras que possuem populações reduzidas, além de
raças comerciais também serem incluídas no programa para que se investigue a
existência de genes dessas raças introduzidos nas raças naturalizadas (EGITO et
al., 2002).
Com vistas a descrever a variabilidade genética podem ser utilizados
parâmetros que se baseiam na probabilidade de origem do gene, como o número
efetivo de fundadores, número efetivo de ancestrais e número de genomas
remanescentes. Os parâmetros populacionais e o cálculo do intervalo de
gerações podem ser obtidos utilizando-se o software PEDIG®/2002 (VOZZI et al.,
2007).
2.1.3 Genealogia em diferentes espécies
2.1.3.1 Bovinos
As raças portuguesas que mais contribuíram para a formação do gado
naturalizado brasileiro são a Mértola, Alentejana, Arouquesa, Barrosã, Minhota e
Mirandesa, sendo as cinco últimas formadoras das raças Caracu e Curraleiro. A
raça Pantaneira é descendente de bovinos de origem espanhola que foram
trazidos nas expedições que ocorreram na Bacia do Prata (PRIMO, 2000).
A endogamia, em vacas, diminui a sobrevivência, a produção de leite, o
desempenho reprodutivo e pode causar aumento do número de células somáticas
no leite. O Ne da população Holstein Portuguesa nos últimos 10 anos
corresponde a 1.798,6 reprodutores efetivos, sendo que a diferença entre estes e
o número de fundadores, demonstra os problemas estruturais existentes no
8
pedigree, considerando que em pedigrees com taxa tão elevada de pais
desconhecidos, não justifica o uso destes parâmetros em sua análise, Tabela 1
(VASCONCELOS et al., 2005).
TABELA 1 - Parâmetros genealógicos da população Holstein portuguesa
N° de animais no pedigree
1.197.384
N° de animais sem descendência
753.851
N° de fundadores ª
93.765
N° efetivo de fundadores
276,5
N° efetivo de ancestrais b
136,1 - 162,0
ª Animais com descendência, mas sem pais conhecidos.
b
Limites mínimo e máximo estimados com base em 50 ancestrais geneticamente mais influentes
na população.
Fonte: Adaptado de VASCONCELOS et al. (2005)
A principal diferença entre o NFe (número efetivo de fundadores) e o
número efetivo de Ancestrais (NAe), reside no fato de o NAe ajustar também para
afunilamentos no pedigree, o que ocorre quando um número reduzido de famílias
contribuem para a maior parte da diversidade genética. Isso pode acontecer
porque os ancestrais, fundadores ou não, no NAe são selecionados na base do
valor esperado da sua contribuição para o pool genético dos indivíduos que
constituem a população de referência, que são animais nascidos em um
determinado período. A diminuição relativa do NFe representa perda na
variabilidade genética da população, que pode ser justificada pela deriva genética
e a alta intensidade de seleção, principalmente de touros (VASCONCELOS et al.,
2005).
Na população Holstein portuguesa, 10 touros geneticamente mais
influentes contribuíram com cerca de 21% para o pool de genes da população
atual das vacas. Outro aspecto importante está relacionado à diminuição da
possibilidade de se encontrar emparelhamentos onde a descendência não seja
endogâmica (VASCONCELOS et al., 2005).
A raça Gir Mocha pode entrar em processo de extinção, considerando
o decréscimo no número de animais com registro de nascimento nos últimos anos
e a perda da variabilidade genética (FARIA et al., 2006).
9
Na raça Guzerá, o fundador com maior contribuição respondeu por
apenas 4,07% e os 50 primeiros por 41,06% dos genes. Entretanto, na raça Sindi,
o primeiro ancestral respondeu por 28,67% dos genes e os cinco primeiros por
quase 60% (FARIA et al., 2004).
Por meio da observação da ocorrência de alelos que são considerados
marcadores raciais do gado zebu, em estudo que avaliou a variabilidade genética
no genoma de bovinos Pantaneiros, pode-se afirmar que ocorreu a introdução de
genes zebuínos na raça Pantaneira (LARA et al., 1997).
Apesar dos animais das raças Crioulo Lageano e Junqueira
apresentarem diversas semelhanças fenotípicas, estes compõem dois subgrupos
distintos, contrariando a hipótese de que as duas raças pudessem apresentar alta
similaridade genética advinda de um processo de formação racial comum. As
raças demonstraram divergências genéticas que indicam que elas possuem um
processo de formação independente (Figura 1) (RANGEL et al., 2004).
10
FIGURA 1 - Dendograma das raças Crioulo Lageano (CL), Junqueira (J) e outras
Fonte: RANGEL et al. (2004)
Conforme a figura acima, os animais das raças Crioulo Lageano e
Junqueira possuem fontes distintas de alelos, necessitando serem conservadas
em rebanhos diferentes. Além disso, os animais da raça Blonde D’ Aquitaine,
Holandês e Pardo Suíço foram agrupados com animais da raça Junqueira,
demonstrando que essas raças tiveram origem comum ou que uma dessas raças
podem ter participado da formação da outra (RANGEL et al., 2004).
11
Nas condições típicas do Nordeste, os criadores de bovinos realizam a
seleção de animais baseando-se em características anatômicas e raciais e em
menor proporção selecionam pelo desempenho produtivo. Esses fatos associamse a cruzamentos desordenados, falta de orientação técnica e pequena utilização
de animais que possuem avaliação genética, causando uma tendência genética
negativa ou até mesmo nula para a característica peso, além de redução no
tamanho efetivo da população, principalmente da raça Indubrasil (BIFFANI et al.,
1999).
O aumento do coeficiente de endogamia médio na raça Indubrasil da
região Nordeste passou de 0,95% na segunda geração para 7,37% na sexta.
Esse aumento se deu em razão da diminuição dos rebanhos, refletida na redução
do número de nascimentos por ano e do fato de poucos animais serem utilizados
na reprodução. Avaliou-se 17.057 animais e verificou-se que 5.494 possuíam ao
menos um pai que era conhecido, sendo a população referência, que tem ambos
os pais conhecidos, de 11.469 animais e o número de animais com ambos os pais
desconhecidos foi 94. A contribuição genética dos 37 fundadores mais influentes
na raça justifica 21,60% da variabilidade genética da população e 50% da
variabilidade genética é explicada por apenas 225 ancestrais, sendo estes
fundadores ou não (CARNEIRO et al., 2009).
2.1.3.2 Caprinos
O Nordeste concentra 90% do efetivo populacional de caprinos,
contribuindo para a subsistência familiar no semi-árido nordestino. As raças
Moxotó, Canindé, Repartida e Marota são os principais caprinos nativos, sendo a
primeira muito semelhante fenotipicamente à raça portuguesa Serpentina, além
de outros grupos raciais como a Gurguéia, Azul, Graúna e Nambi (LIMA et al.,
2007; EGITO et al., 2002).
A maioria da população de caprinos é denominada sem raça definida
(SRD), em razão do cruzamento indiscriminado entre diferentes raças de
populações nativas (EGITO et al., 2002).
12
Em um levantamento populacional do efetivo caprino da Paraíba, foram
avaliados 18 rebanhos, Tabela 2, o que demonstrou a necessidade de se
aumentar o efetivo populacional de caprinos, uma vez que, apenas a raça Moxotó
apresentou tamanho efetivo da população superior ao mínimo recomendado pela
FAO, que é 50 (LIMA et al., 2007).
TABELA 2 - Número de animais (N), tamanho efetivo (Ne) e taxa de
consangüinidade (∆F) de acordo com a raça/rebanho caprino
Raças
N
Ne
∆F
Azul
193
48,50
0,010
Azul
368
19,73
0,025
Azul
7
3,43
0,146
Azul
63
11,43
0,044
Azul
24
3,83
0,130
131,00
17,38
0,070
Canindé
39
31,59
0,016
Canindé
184
7,91
0,063
Canindé
53
11,32
0,044
118,00
17,24
0,06
Graúna
101
7,84
0,064
Moxotó
405
19,75
0,025
Moxotó
125
80,00
0,006
Moxotó
322
11,89
0,042
Moxotó
130
36,92
0,013
Moxotó
650
383,76
0,001
Moxotó
30
10,80
0,046
Moxotó
11
3,64
0,137
Moxotó
48
45,00
0,011
Moxotó
5
3,20
0,156
Média
191,78
66,11
0,05
Média
Média
Fonte: Adaptado de LIMA et al. (2007)
A partir dos dados apresentados na tabela acima, verifica-se a
necessidade
de
controlar
os
acasalamentos,
evitando
acasalamentos
13
desordenados com raças exóticas e promovendo a elevação do índice de
conservação genética de raças locais, considerando o aumento do intervalo de
gerações (IEG), que está próximo de três anos em todas os grupos, e a
contribuição dos genes de indivíduos fundadores. A consangüinidade é baixa,
demonstrando que se aumentar o IEG não haverá risco de perda de diversidade
por endogamia (LIMA et al., 2007).
2.1.3.3 Ovinos
As raças ovinas deslanadas provavelmente são originárias de países
africanos e podem ser descendentes de ovinos de países como Angola e Nigéria,
sendo trazidas para o Brasil nos séculos XVII e XVIII, quando ocorria o tráfico de
escravos (PRIMO, 1999).
Os ovinos naturalizados brasileiros são motivo de controvérsia no país.
A raça Crioula Lanada pode ser descendente da raça espanhola Churra ou da
raça portuguesa Churra Bordaleira, no entanto, estudos sobre polimorfismos
sanguíneos indicaram proximidade com a raça espanhola Lacha (PRIMO et al.,
2000).
A raça ovina Altamurana, autóctone da Itália, se encontra em risco de
extinção, com apenas 200 indivíduos, em razão da competição com as raças
exóticas, sendo que esta raça apresenta características importantes para a
produtividade, como resistência a algumas doenças ambientais, entre elas
babesiose e mastite. A endogamia em ovinos dessa raça causou diminuição de
duração da fase de lactação e influenciou com menos intensidade a produção de
leite diária, mas demonstrando perda considerável de leite durante toda a fase de
lactação (DARIO & BUFANO, 2003).
14
2.1.3.4 Eqüinos
Provavelmente as raças ibéricas Andaluz, Bérbere, Garrano e Sorraia
são as que mais contribuíram na formação dos cavalos nativos do Norte e
Nordeste do país, como a raça Lavradeiro (BRAGA, 2000).
Diferentemente de outras espécies os eqüinos foram selecionados pelo
seu rendimento, principalmente nos desportos eqüestres. As reduções na
capacidade reprodutiva junto com o incremento da mortalidade se mostram como
efeitos mais destacados da consangüinidade, apesar de não ser em todas as
linhas consangüíneas (VALERA et al., 2000).
A diversidade genética da raça Mangalarga é baixa de acordo com a
probabilidade de origem dos genes encontrados nesta, o que requer a
implementação de programas de monitoramento da variabilidade genética, de
maneira que possibilite a manutenção de famílias de mesmo tamanho, aumentese a número de fêmeas em reprodução e se incremente a taxa macho:fêmea.
Para isso, precisa-se conhecer a composição genética da população e otimizar os
acasalamentos dos animais (MOTA et al., 2006).
O cavalo Pantaneiro vem sendo alvo de estudos em programas de
conservação, sendo que o Núcleo de Criação e Preservação do Cavalo
Pantaneiro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul visa manter o padrão
da raça, por meio de programas de conservação in situ no Pantanal e ex situ por
bancos de germoplasma (ZÚCCARI et al., 1999).
2.1.3.5 Bubalinos
Os búfalos foram introduzidos no país a partir do final do século XIX e
destacaram-se principalmente na região Norte, por apresentar regiões favoráveis,
aumentando o efetivo populacional (EGITO et al., 2002).
Os primeiros animais trazidos ao Brasil foram da raça Mediterrâneo e
vieram da Itália para a Ilha de Marajó, no Norte do país, em 1895. As outras
raças, Carabao, Murrah, Jafarabadi e Baio, originários de Trinidad, da Itália e da
15
Índia, foram trazidas posteriormente por meio de outras importações (MARQUES
& CARDOSO, 1993).
2.1.3.6 Suínos
Em 1958 foi criada a Associação Brasileira de Criadores de Suínos
(ABCS), dando início ao controle genealógico dos suínos e a importação de raças
exóticas, com vistas a aumentar a produtividade da criação, sendo introduzidas
raças como a Duroc e Wessex. A partir desse período, as raças importadas foram
sendo multiplicadas para melhorar geneticamente os rebanhos, substituindo as
raças nativas por raças exóticas, que eram difundidas principalmente por meio de
exposições de animais (FÁVERO & FIGUEIREDO, 2009).
A maioria das raças suínas naturalizadas encontram-se em pequenas
propriedades, sendo utilizadas para a produção de carne e banha para o
consumo familiar e estão em risco de extinção. Destas, destaca-se o suíno Piau
predominante da região sul de Goiás e do Triângulo mineiro, o Pirapetinga, raça
mais longelínea entre as naturalizadas, o Canastra, do tipo ibérico, sendo
provavelmente descendente da raça portuguesa do Alentejo, o Canastrão, do tipo
céltico, que descende da raça portuguesa Bizarra e o Moura ou Pereira, que
originou-se provavelmente do cruzamento entre as raças Canastrão, Canastra e
Duroc (EGITO et al., 2002).
2.1.3.7 Aves
A galinha caipira origina-se de quatro ramos genealógicos diferentes, o
inglês, o americano, o mediterrâneo e o asiático. Foi introduzida no Brasil na
época do descobrimento, adaptou-se ao clima brasileiro e adquiriu resistência a
algumas doenças. As galinhas caipiras se assemelham as principais raças que as
originaram, a Andalusian, Australorp, Columbian, Assel, Brown Leghor e Buff
Plymouth Rock. Essas semelhanças são referentes à plumagem, porte e
características de carcaça (BARBOSA et al., 2011).
16
O conhecimento da origem genealógica das raças de galinhas
introduzidas no Brasil possibilita o criador introduzir genes de maneira ordenada,
de acordo com o objetivo da criação e com planejamento e manejo adequados,
com o intuito de melhorar geneticamente e conservar as raças locais (BARBOSA
et al., 2011).
No ano de 1960 a avicultura nacional intensificou-se na importação de
linhagens de alta produção, especializadas em postura, corte e dupla aptidão.
Esse fato ocasionou a extinção de algumas raças de galinhas, sendo preservadas
poucas raças caipiras em pequenas propriedades do interior do país
(FONTEQUE, 2011).
As galinhas caipiras brasileiras de ovos azuis são criadas em
ambientes
com populações
pequenas,
endogâmicas
e
geralmente
são
submetidas à seleção natural e artificial. Entretanto, estas apresentaram elevada
variabilidade genética, capacitando-as como fonte de recursos genéticos e
justificando sua conservação (FONTEQUE, 2011).
2.2 Conservação de recursos genéticos animais
Um
número
indefinido
de
raças
e
variedade
animal
está
desaparecendo, sendo absorvido ou trocado por outras raças, consideradas de
maior produção. Os recursos genéticos de um país constituem um patrimônio
biológico e cultural único e devem-se identificar os valores de cada raça,
buscando desenvolver raças nacionais, por meio da seleção intra-rebanho
(BARROS et al., 2011).
A conservação de recursos genéticos animais se realiza por meio de
duas formas: in situ e ex situ. A conservação in situ ocorre na situação em que os
animais são mantidos no ambiente natural de criação e a conservação ex situ
envolve a criopreservação de ovócitos, células somáticas, embriões, sêmen e
DNA (FAO, 1998).
Entre os processos envolvidos na conservação de recursos genéticos
se destacam a identificação das populações que se encontram em risco de
17
extinção ou diluição genética, a caracterização fenotípica e genética e ainda a
avaliação do potencial produtivo das populações (EGITO et al., 2002).
Em 1998, foi implantado o Laboratório de Genética Animal na Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN), o qual possui um banco de
amostras de DNA, hemácias e soro para consequentemente realizar a
caracterização genética de raças que estão em perigo de extinção. As amostras
são identificadas por código específico e cadastrada num Banco de Dados,
separado por raça e espécie, sexo, descendência, genealogia, data de
nascimento e origem (EGITO et al., 2005).
A partir da identificação de novos rebanhos aumenta-se o número de
indivíduos para coletas, fundamental para armazenar materiais de maior
variabilidade genética das raças em conservação (EGITO et al., 2002).
A coleta de sangue para o banco de dados é realizada utilizando-se
tubos a vácuo contendo EDTA como antigoagulante e processadas em até cinco
dias para separar os constituintes sanguíneos. Amostras de hemácias e plasma
também são armazenadas para desenvolvimento de projetos referentes a
polimorfismos protéicos (EGITO et al., 2005).
As amostras de sêmen e embriões das raças incluídas no Programa de
Conservação são colhidas e armazenadas a -196°C, ou seja, criopreservados, no
Banco de Germoplasma Animal (BGA), situado na Fazenda Experimental do
Cenargen (EGITO et al., 2002).
Com o intuito de criação e manutenção destas populações foram
criados os Núcleos de Conservação no Brasil, de acordo com as condições
ambientais de cada nicho ecológico das regiões onde estes animais se
estabeleceram, Quadros 1, 2, 3 e 4, sendo estes núcleos geralmente organizados
na forma de projetos de pesquisa e monitorados por Centros de Pesquisa (EGITO
et al., 2002).
QUADRO 1 - Raças suínas em perigo de extinção e localização
Raças suínas
Localização
Moura
SC
Piau
GO
Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)
18
QUADRO 2 - Raças bovinas e eqüinas em perigo de extinção e localização
Raças bovinas
Localização
Raças eqüinas
Localização
Crioulo Lageano
SC
Lavradeiro
RR
Mocho Nacional
SP, GO
Pantaneiro
MS
Pantaneiro
MS
Campeiro
SC
Curraleiro
PI, TO, GO
Marajoara
PA
Caracu
SP
Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)
QUADRO 3 - Raças de asininos e bubalinos em perigo de extinção e localização
Raças asininas
Localização
Raças bubalinas
Localização
Jumento Brasileiro
SP
Carabao
PA
Jumento Nordestino
RN
Tipo Baio
PA
Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)
QUADRO 4 - Raças caprinas e ovinas em perigo de extinção e localização
Raças caprinas
Localização
Raças ovinas
Localização
Moxotó
CE
Morada Nova
CE
Canindé
PB
Santa Inês
SE
Marota
PI
Crioula Lanada
RS
Cabra Azul
PI
Repartida
BA
Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)
A conservação de recursos genéticos animais no Brasil objetiva a
identificação
e
caracterização
fenotípica
dos
animais
dos
núcleos
de
conservação, descrevendo os centros de origem, diversidade e variabilidade
genética, além do monitoramento dos núcleos de conservação, implantação de
novos núcleos, conservação ex situ do material genético, caracterização genética
das populações e conscientização da sociedade sobre a necessidade e a
importância da conservação dos recursos genéticos animais (EGITO et al., 2002).
19
2.3 Importância da genealogia para a conservação animal e melhoramento
genético
Anteriormente, a caracterização das raças de animais domésticos
baseava-se em características morfológicas e produtivas, sendo que estas podem
ser influenciadas pelo meio ambiente (EGITO et al., 2002).
A performance produtiva de um animal depende de uma combinação
da genética e do ambiente de criação. As alterações nas características
produtivas de uma população também sofrem influência de fatores ambientais e
da constituição genética dos indivíduos (ARAÚJO et al., 2003).
A estrutura genética das populações pode ter uma contribuição
genética desigual e prolongada de determinados reprodutores, sendo que este
fato associado ao longo período de permanência desses reprodutores em centrais
de inseminação, pode causar aumentos no intervalo de geração e no nível de
endogamia, diminuindo o ganho genético (WEIGEL, 2001).
Embora as raças locais sejam consideradas menos produtivas que as
comerciais, despertando pouco interesse por parte dos criadores, estas são muito
adaptadas às condições brasileiras, sendo resistentes a diversas doenças e
parasitas, o que por sua vez, pode estabelecer importantes contribuições aos
programas de melhoramento genético (RANGEL et al., 2004).
A manutenção da variabilidade genética em uma população, doméstica
ou selvagem, justifica-se na importância de garantir respostas à seleção a curto e
longo prazo e para fins de conservação (HILL, 2000).
Como a manutenção da diversidade genética intra-racial é um aspecto
fundamental para a conservação animal, precisa-se realizar uma análise
demográfica da população para descrever a sua estrutura, avaliando se existem
desequilíbrios
e
se
ocorreram
afunilamentos
ao
longo
das
gerações,
considerando que a população seja um conjunto de indivíduos em permanente
renovação, utilizando a metodologia para a caracterização das populações, em
termos de variabilidade genética e evolução ao longo de gerações. A
caracterização demográfica inclui a dimensão das criações, a faixa etária, a
utilização excessiva de poucos reprodutores e as trocas de material genético
entre as criações (CAROLINO et al., 2008).
20
Com o intuito de conservar raças ou espécies é necessário que se faça
uma gestão genética de maneira correta, baseando-se no acasalamento de
animais menos aparentados entre si, controlando a consangüinidade (RIBEIRO et
al., 2004).
Algumas raças naturalizadas apresentam fenótipos semelhantes que
podem indicar que suas identidades pertençam a um único grupo racial ou uma
raça distinta, ou seja, que estas populações podem apresentar-se geneticamente
similares ou diferentes. Ainda que estas pertençam à mesma raça, em razão do
isolamento geográfico e da adaptação a nichos ecológicos distintos, elas poderão
ter acumulado diferentes alelos, principalmente por causa da deriva genética,
levando-se em consideração que a caracterização genética pode permitir a
identificação destes grupos genéticos únicos, que se encontram isolados (EGITO
et al., 2002).
Com a realização de estudos, principalmente em laboratórios de
genética animal, visando estimar a diversidade e variabilidade genética, pode-se
estabelecer critérios para quais raças devem ser conservadas, principalmente nos
casos em que os recursos são escassos, evitando a duplicação de esforços para
manter raças que podem ser as mesmas. Além disso, pode-se evitar que
populações de uma mesma raça e que possuem características importantes,
sejam descartadas, uma vez que, podem garantir a manutenção da variabilidade
genética (EGITO et al., 1999).
21
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cruzamentos endogâmicos proporcionaram a perda de vários alelos
e raças em geral e se não forem evitados, causarão um processo de deriva
genética irreversível, considerando que a maioria das raças locais ou mesmo as
utilizadas comercialmente no Brasil, descendem de um número restrito de
ancestrais ou pertencem a rebanhos fechados, com elevado índice de
endogamia, podendo apresentar alteração nas características produtivas,
reprodutivas e econômicas.
O estudo da genealogia dos animais, principalmente os que se
encontram em processo de extinção, é fundamental para se evitar os
acasalamentos endogâmicos e as perdas de variabilidade genética, causados
principalmente pelo uso intensivo da seleção e permanência prolongada de
poucos animais em reprodução.
22
REFERÊNCIAS
1 ARAÚJO, C. V.; TORRES, R. A.; RENNÓ, F. P.; PEREIRA, J. C.; PEREIRA, C.
S.; ARAÚJO, S. I.; TORRES FILHO, R. A.; SILVA, H. C.; RENNÓ, L. N.;
KAISER, F. R. Tendência genética para características produtivas em bovinos
da raça Pardo-Suíça. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.32, n.6, Sup.
2, p.1872-1877, 2003.
2 BARBOSA, F. J. V.; NASCIMENTO, M. P. S. B.; DINIZ, F. M.; NASCIMENTO,
H. T. S.; ARAÚJO NETO, R. B. Sistema alternativo de criação de galinhas
caipiras. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2007. (Embrapa Meio-Norte.
Sistemas de Produção, 4. Versão Eletrônica). Disponível em:
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ave/SistemaAlterna
tivoCriacaoGalinhaCaipira/Origemgenealogica.htm. Acesso em: 22 jul. 2011.
3 BARROS, E. A.; RIBEIRO, M. N.; ALMEIDA, M. J. O.; ARAÚJO, A. M. Estrutura
populacional e variabilidade genética da raça caprina Marota. Archivos de
Zootecnia, Córdoba, v.60, n.231, p.543-552, 2011.
4 BIFFANI, S.; MARTINS FILHO, R.; GIORGETTI, A. Fatores ambientais e
genéticos sobre o crescimento ao ano e ao sobreano de bovinos Nelore,
criados no Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.28,
p.468-473, 1999.
5 BRAGA, R. M. Lavradeiro horse - formation of the breed, morphological aspects,
productive performance and bases for its conservation. In: GLOBAL
CONFERENCE IN CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL GENETIC
RESOURCES, 5., 2000, Brasília. Proceedings... [CD-ROM], Brasília:
EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2000.
6 BREDA, F. C.; EUCLYDES, R. F.; PEREIRA, C. S.; TORRES, R. A. T.;
CARNEIRO, P. L. S.; SARMENTO, J. L. R.; TORRES FILHO, R. A.; MOITA, A.
K. F. Endogamia e limite de seleção em populações selecionadas obtidas por
simulação. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.33, n.6, Sup. 2, p.20172025, 2004.
7 CARNEIRO, P. L. S.; MALHADO, C. H. M.; MARTINS FILHO, R.; CARNEIRO,
A. P. S.; SILVA, F. F.; TORRES, R. A. A raça Indubrasil no Nordeste brasileiro:
melhoramento e estrutura populacional. Revista Brasileira de Zootecnia,
Viçosa, v.38, n.12, p.2327-2334, 2009.
8 CAROLINO, N.; GAMA, L. T.; VICENTE, A. Retrospectiva sobre estudos
demográficos em raças autóctones Portuguesas. In:
SIMPOSIO
IBEROAMERICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
RECURSOS ZOOGENÉTICOS, 9., 2008, Mar del Plata. Anais... Mar del Plata:
IX Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos
Zoogenéticos, 2008. p.523-526.
23
9 CARVALHEIRO, R.; PIMENTEL, E. C. G. Endogamia: possíveis conseqüências
e formas de controle em programas de melhoramento de bovinos de corte. In:
GEMPEC – WORKSHOP EM GENÉTICA E MELHORAMENTO NA PECUÁRIA
DE CORTE, 2., 2004, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal: UNESP, 2004. p.1-10.
10 CUNHA, E. E.; EUCLYDES, R. F.; TORRES, R. A.; SARMENTO, J. L. R.;
CARNEIRO, P. L. S.; CARNEIRO, A. P. S. Impactos de se ignorarem os efeitos
genéticos não-aditivos de dominância na avaliação genética animal. Revista
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.38, n.12, p.2354-2361, 2009.
11 CURI, R. A.; LOPES, C. R. Evaluation of nine microsatellite loci and
misidentification paternity frequency in a population of Gyr breed bovines.
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.39, p.129135, 2002.
12 DARIO, C.; BUFANO, G. Efeito da endogamia sobre a produção de leite na
raça ovina Altamurana. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v. 52, p.401-404,
2003.
13 EGITO, A. A.; ALBUQUERQUE, M. S. M.; MARIANTE, A. S. Situação atual da
caracterização genética animal na Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia. In: SIRGEALC - SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS
PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 2., 1999, Brasília. Anais eletrônicos...
[CD-ROM], Brasília: EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 1999.
14 EGITO, A. A.; MARIANTE, A. S.; ALBUQUERQUE, M. S. M. Programa
brasileiro de conservação de recursos genéticos animais. Archivos de
Zootecnia, Córdoba, v.51, p.39-52, 2002.
15 EGITO, A. A.; ALBUQUERQUE, M. S. M.; CASTRO, S. T. R.; PAIVA, S. R.;
MARQUES, J. R. F.; McMANUS, C.; MARIANTE, A. S.; ABREU, U. P. G.;
SANTOS, S. A.; SERENO, J. R.; FIORAVANTI, M. C. S.; VAZ, C. M.; NOBRE,
F. V.; OLIVEIRA, J. V.; CARVALHO, J. H.; COSTA, M. R.; RIBEIRO, M. N.;
LARA, M. A. Situação atual do banco de DNA de recursos genéticos animais
no Brasil. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.54, n.206-207, p.283-288, 2005.
16 FALCONER, D. S. Introdução a genética quantitativa. SILVA, M. A.; SILVA,
J. C. (Tradução). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1981. 279p.
17 FAO. Secondary guidelines for development of National Farm Animal
Genetic Resources Manegements Plans: management of small populations
at risk. FAO, Rome, Italy, 1998. 215 p.
18 FARIA, F. J. C.; VERCESI FILHO, A. E.; MADALENA, F. E.; JOSAHKIAN, L. A.
Estrutura genética da raça Sindi no Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia,
Viçosa, v.33, n.6, p.1989-1994, 2004.
24
19 FARIA, F. J. C.; VERCESI FILHO, A. E.; MADALENA, F. E.; JOSAHKIAN, L. A.
Estrutura genética da raça Gir Mocha registrada no Brasil. Boletim de
Indústria Animal, Nova Odessa,v.63, n.3, p.135-141, 2006.
20 FÁVERO, J. A.; FIGUEIREDO, E. A. P. Evolução do melhoramento genético
de suínos no Brasil. Revista Ceres, Viçosa, v.56, n.4, p.420-427, 2009.
21 FONTEQUE, G. V. Investigação da variabilidade genética de quinze loci
de microssatélites em galinhas caipiras brasileiras de ovos azuis [online].
2011. 51f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Centro De Ciências
Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages. Disponível
em:
http://cienciaanimal.cav.udesc.br/dissertacoes/Graziela_Fonteque.pdf.
Acesso em: 09 ago. 2011.
22 HILL W. G. Maintenance of quantitative genetic variation in animal breeding
programmes. Livestock Production Science, Amsterdam, v.63, p.99-109,
2000.
23 LARA, M. A. C.; SERENO, J. R. B.; MAZZA, M. C. M.; CONTEL, E. P. B.
Investigação da variabilidade genética em bovinos Pantaneiros através de
polimorfismos protéicos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ZOOTECNIA, 34., 1997, Juiz de Fora. Anais… Juiz de Fora: SBZ, 1997.
p.59-61.
24 LIMA, P. J. S.; SOUZA, D. L.; PEREIRA, G. F.; TORREÃO, J. N. C.; MOURA,
J. F. P.; LOPEZ ACOSTA, J. M.; REY SANZ, S.; RIBEIRO, M. N.; GOMES, J.
T.; PIMENTA FILHO, E. C. Gestão genética de raças caprinas nativas no
estado da Paraíba. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.56, Sup. 1, p.623-626,
2007.
25 MARQUES, J. R. F.; CARDOSO, L. S. Conservação de raças bubalinas em
perigo de extinção. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ZOOTECNIA, 30., 1993, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro:SBZ,1993.
p.321-339.
26 MATOS, C. A. P. Recursos genéticos animais e sistemas de exploração
tradicionais em Portugal. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.49, p.363-383,
2000.
27 MOTA, M. D. S.; PRADO, R. S. A.; SOBREIRO, J. Caracterização da
população de cavalos Mangalarga no Brasil. Archivos de Zootecnia, Córdoba,
v.55, n.209, p.31-37, 2006.
28 PRIMO, A. T. Introdução de animais domésticos no Novo Mundo. In:
SIRGEALC - SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS PARA AMÉRICA
LATINA E CARIBE, 2., 1999, Brasília. Anais eletrônicos... [CD-ROM], Brasília:
EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 1999.
25
29 PRIMO, A. T. The discovery of Brazil and the introduction of domestic animals.
In: GLOBAL CONFERENCE ON CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL
GENETIC RESOURCE, 5., 2000, Brasília. Proceedings... [CD-ROM], Brasília:
EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2000.
30 QUEIROZ, S. A. Efeito da endogamia sobre características de crescimento de
bovinos da raça Gir no Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.4,
p.1014-1019, 2000.
31 RANGEL, P. N.; ZUCCHI, M. I.; FERREIRA, M. E. Similaridade genética entre
raças bovinas brasileiras. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39,
n.1, p.97-100, 2004.
32 RIBEIRO, M. N.; GOMES-FILHO, M. A.; DELGADO BERMEJO, J. V.;
PIMENTA FILHO, E. C.; CARVALHO, F. F. Conservação de raças caprinas
nativas do Brasil: histórico, situação atual e perspectivas. Recife: Imprensa
Universitária UFPE, 2004. 62 p.
33 STRACHAN, T.; READ, A. P. Genética molecular humana. Barcelona:
Omega, 1999. 655 p.
34 SWALVE, H. H.; ROSNER, F. E.; WEMHEUER, W. Inbreeding in the German
Holstein cow population. In: ANNUAL MEETING, 54., 2003, Rome.
Proceedings... Rome: EAAP, 2003. 17p.
35 VALERA, M.; ESTEVES, L.; OOM, M. M.; MOLINA, A. La raça equina
autóctone Puro Sangue Lusitano: estudo genético dos parâmetros reprodutivos
de importância nos esquemas de conservação e melhoramento. Archivos de
Zootecnia, Córdoba, v.49, n.185-186, p.147-156, 2000.
36
VASCONCELOS, J.; MARTINS, A.; FERREIRA, A.; PINTO, S.;
CARVALHEIRA, J. Níveis de endogamia e depressão de endogamia no gado
bovino leiteiro em Portugal. Revista Portuguesa de Ciências Veterinária,
Lisboa, v.100, n.553-554, p.33-38, 2005.
37 VOZZI, P. A.; MARCONDES, C. R.; BEZERRA, L. A. F. Pedigree analyses in
the Breeding Program for Nellore Cattle. Genetics and Molecular Research,
Ribeirão Preto, v.6, p.1044-1050, 2007.
38 WEIGEL, K. A. Controlling inbreeding in modern breeding programs. Journal
of Dairy Science, Chicago, v.84, p.177-184, 2001.
39 WEIGEL, K. A; LIN, S. W. Use of computerized mate Use of computerized
mate selection programs to control inbreeding of Holstein and Jersey cattle in
the next generation. Journal of Dairy Science, Chicago, v.83, p.822-828,
2000.
26
40 ZÚCCARI, C. E. S. N.; PAPA, F. O.; FERREIRA, J. C.; NUNES, D. B.;
FONSECA, I. C. B. Avaliação computadorizada do sêmen congelado de
garanhão da raça Pantaneira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA
VETERINÁRIA, 26., 1999, Campo Grande. Anais... Campo Grande, 1999.