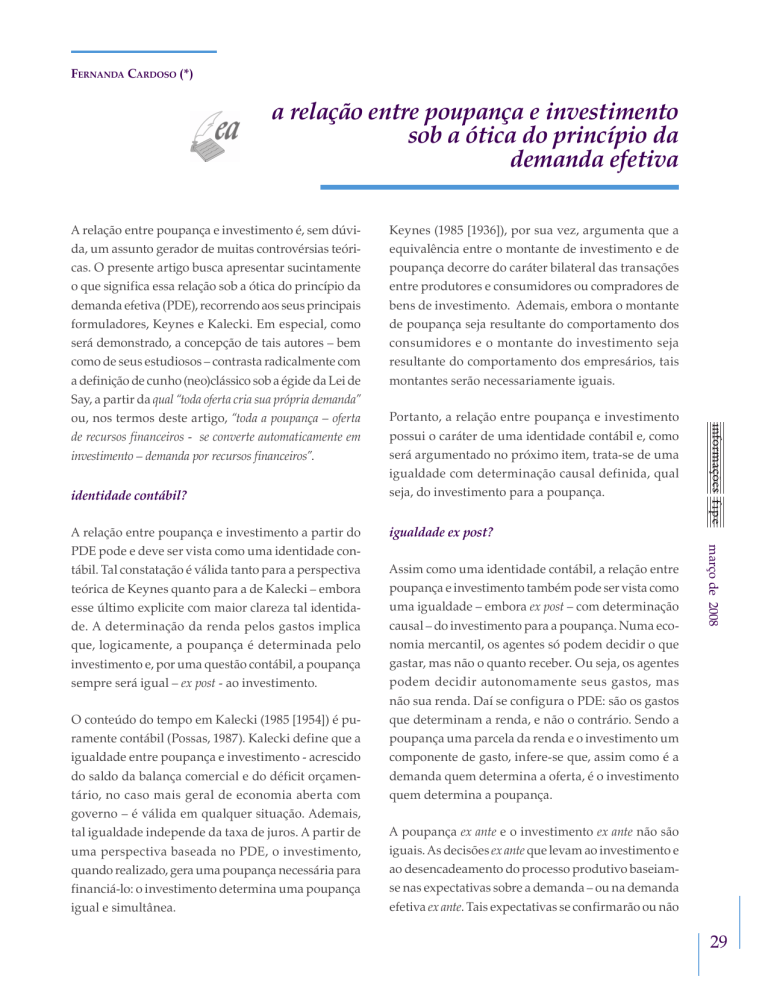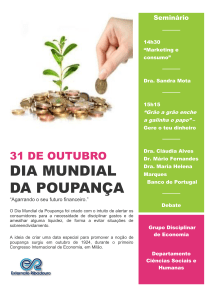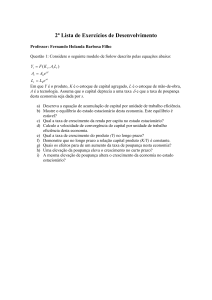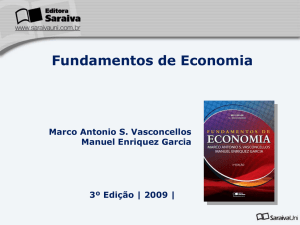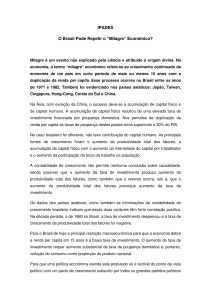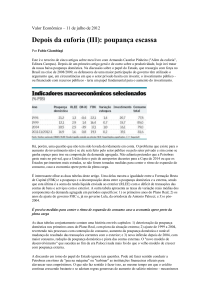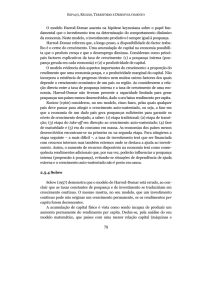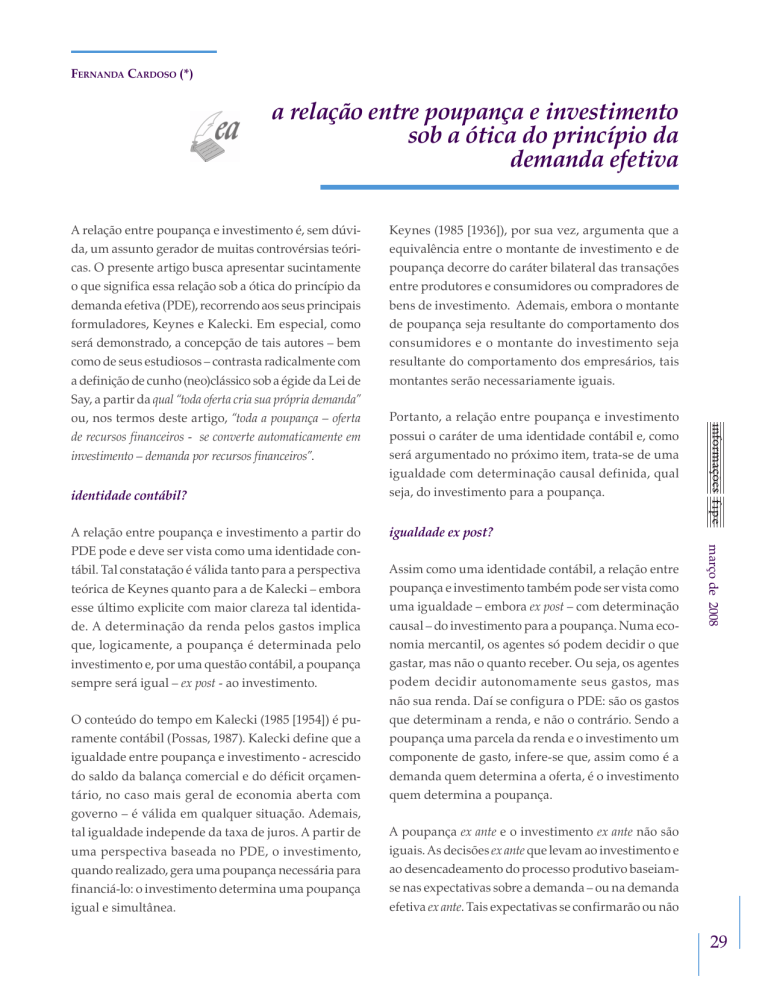
Fernanda Cardoso (*)
a relação entre poupança e investimento
sob a ótica do princípio da
demanda efetiva
A relação entre poupança e investimento é, sem dúvida, um assunto gerador de muitas controvérsias teóricas. O presente artigo busca apresentar sucintamente
o que significa essa relação sob a ótica do princípio da
demanda efetiva (PDE), recorrendo aos seus principais
formuladores, Keynes e Kalecki. Em especial, como
será demonstrado, a concepção de tais autores – bem
como de seus estudiosos – contrasta radicalmente com
a definição de cunho (neo)clássico sob a égide da Lei de
Say, a partir da qual “toda oferta cria sua própria demanda”
ou, nos termos deste artigo, “toda a poupança – oferta
de recursos financeiros - se converte automaticamente em
investimento – demanda por recursos financeiros”.
identidade contábil?
O conteúdo do tempo em Kalecki (1985 [1954]) é puramente contábil (Possas, 1987). Kalecki define que a
igualdade entre poupança e investimento - acrescido
do saldo da balança comercial e do déficit orçamentário, no caso mais geral de economia aberta com
governo – é válida em qualquer situação. Ademais,
tal igualdade independe da taxa de juros. A partir de
uma perspectiva baseada no PDE, o investimento,
quando realizado, gera uma poupança necessária para
financiá-lo: o investimento determina uma poupança
igual e simultânea.
Portanto, a relação entre poupança e investimento
possui o caráter de uma identidade contábil e, como
será argumentado no próximo item, trata-se de uma
igualdade com determinação causal definida, qual
seja, do investimento para a poupança.
igualdade ex post?
Assim como uma identidade contábil, a relação entre
poupança e investimento também pode ser vista como
uma igualdade – embora ex post – com determinação
causal – do investimento para a poupança. Numa economia mercantil, os agentes só podem decidir o que
gastar, mas não o quanto receber. Ou seja, os agentes
podem decidir autonomamente seus gastos, mas
não sua renda. Daí se configura o PDE: são os gastos
que determinam a renda, e não o contrário. Sendo a
poupança uma parcela da renda e o investimento um
componente de gasto, infere-se que, assim como é a
demanda quem determina a oferta, é o investimento
quem determina a poupança.
março de 2008
A relação entre poupança e investimento a partir do
PDE pode e deve ser vista como uma identidade contábil. Tal constatação é válida tanto para a perspectiva
teórica de Keynes quanto para a de Kalecki – embora
esse último explicite com maior clareza tal identidade. A determinação da renda pelos gastos implica
que, logicamente, a poupança é determinada pelo
investimento e, por uma questão contábil, a poupança
sempre será igual – ex post - ao investimento.
Keynes (1985 [1936]), por sua vez, argumenta que a
equivalência entre o montante de investimento e de
poupança decorre do caráter bilateral das transações
entre produtores e consumidores ou compradores de
bens de investimento. Ademais, embora o montante
de poupança seja resultante do comportamento dos
consumidores e o montante do investimento seja
resultante do comportamento dos empresários, tais
montantes serão necessariamente iguais.
A poupança ex ante e o investimento ex ante não são
iguais. As decisões ex ante que levam ao investimento e
ao desencadeamento do processo produtivo baseiamse nas expectativas sobre a demanda – ou na demanda
efetiva ex ante. Tais expectativas se confirmarão ou não
29
e será determinada a renda total quando da realização
da produção. Partindo do PDE, em termos agregados,
o investimento necessariamente implica uma poupança equivalente, a qual, por sua vez, corresponderia
simplesmente a uma diferença – ex post – entre renda
e consumo agregados.
março de 2008
Como bem observa Possas (1999), a poupança não financia o investimento: quem financia o investimento é
o crédito que o precede tanto do ponto de vista temporal quanto lógico. A poupança é estritamente residual
e involuntária. Portanto, a poupança, ao contrário do
investimento, não constitui um ato de decisão.
Sob a perspectiva teórica de Kalecki, a renda - assim
como em Keynes - é determinada pelos gastos, mas o
primeiro distingue o padrão de gastos entre as classes
- investimento, consumo dos capitalistas e consumo
dos trabalhadores. A renda, por sua vez, divide-se
entre lucros – determinados residualmente ex post - e
salários. Por meio da hipótese simplificadora de que os
trabalhadores gastam (consumo) tudo o que ganham
(salários), o autor infere que os capitalistas ganham
(lucros) tudo o que gastam (consumo e investimento).
No entanto, vale observar, a constatação de Kalecki
de que são os gastos que determinam a renda tem
validade independentemente de qualquer hipótese
sobre a propensão a consumir dos trabalhadores.
A determinação da taxa de juros, por exemplo, conforme buscam inferir modelos de viés neoclássico, não
se dá a partir da igualdade entre poupança e investimento. Investimento e poupança são variáveis de
natureza distinta e, por conseguinte, a determinação
da taxa de juros – ou de qualquer outra grandeza – a
partir de sua igualdade não faz sentido. Investimento
e poupança, portanto, não se tratam de demanda e
oferta por crédito. A identidade entre investimento
e poupança possui natureza estritamente contábil. A
poupança não é uma função da taxa de juros e sim
função indireta da renda e, ademais, não representa
em si uma decisão: é apenas residual da função consumo.
relação de equilíbrio?
O reconhecimento da presença de incerteza realizado
por Keynes traz à tona a crucialidade do processo de
formação de expectativas. Baseados nisso, os agentes
tomam decisões fundamentais para o funcionamento
da economia, tal como o investimento. Na presença
de incerteza, os agentes baseiam-se em suas expectativas para tomar decisões, seja no curto – decisões de
produção - ou no longo prazo – decisões de investimento. Keynes desenvolve uma “teoria geral de aplicação
de ativos” que busca explicar como agentes decidem
o seu portfólio. Os empresários baseiam-se em suas
expectativas para decidir a composição de sua carteira de ativos – financeiros, produtivos ou moeda – e,
uma vez adquirido um ativo produtivo, para decidir
o quanto produzir e o quanto continuar investindo.
Para decidir o quanto produzir e investir, levam fundamentalmente em conta as suas expectativas com
relação ao quanto realizarão de sua produção.
A relação entre poupança e investimento não pode
ser vista como uma relação de equilíbrio entre oferta
e demanda de recursos líquidos para investir no mercado de crédito. Partindo da perspectiva do princípio
da demanda efetiva, a natureza de determinação do
Já em Kalecki, o investimento é determinado pelo
lucro retido, por um componente de investimento
induzido e por componentes autônomos. O investimento em estoques é determinado pela variação
da renda e o investimento em capital fixo, por sua
Em suma, a relação entre poupança e investimento
pode e deve ser vista como, primeiramente, uma
identidade contábil e, em segundo lugar, a partir
da perspectiva do PDE, como uma igualdade com
determinação causal: sendo a poupança uma parcela
da renda e o investimento um componente de gasto,
sob a perspectiva do princípio da demanda efetiva é
o investimento que determina a poupança.
30
investimento é completamente diferente daquela da
poupança. Por isso, é logicamente impossível construir
qualquer “gráfico” que busque expressar uma relação
de ajuste – via renda, ou via juros – ou de equilíbrio
entre essas variáveis.
vez, é determinado positivamente pelo lucro retido,
positivamente pelos lucros e negativamente pela
acumulação de capital. A parcela de investimento
induzido é norteada pelo atendimento da demanda,
via variação da utilização da capacidade produtiva.
Quanto à parcela de investimento autônomo – embora
não desenvolva em detalhes -, o autor indica que seria
explicada pelos fatores de desenvolvimento.
Enfim, partindo do princípio da demanda efetiva, em
termos agregados, o investimento necessariamente
implica uma poupança equivalente, a qual, por sua
vez, corresponde simplesmente a uma diferença – ex
post – entre renda e consumo agregados. Dessa forma,
não faz sentido definir um equilíbrio entre poupança
e investimento, pois seus determinantes são distintos
permanecer indefinidamente em “desequilíbrio” no
que se refere ao quanto consomem e ao quanto poupam de sua renda, pois não há mecanismo de ajuste
“virtuoso” que faça com que o consumo e a renda
se ajustem de tal maneira que a sua diferença seja
igual ao investimento. O funcionamento do mecanismo multiplicador é - como será discutido no item
seguinte - apenas potencial: não há como definir a
priori o “tempo necessário” e os efeitos necessários do
mecanismo multiplicador de tal forma que o ajuste
ocorra de forma perfeita. Ademais, vale observar que
a poupança não tem relação lógica direta com o nível
efetivo de renda – e, por conseguinte, conhecido apenas a posteriori – e sim, provavelmente com o fluxo de
renda em certa medida prévia, por meio da propensão
a consumir (Possas, 1987). e independentes.
No entanto, tal contradição de a poupança ser função
da renda seria apenas aparente, pois a contabilidade
e o PDE conjuntamente asseguram que a poupança
seja sempre igual e determinada pelo investimento
(Possas,1999). Ademais, assumir a existência de uma
função consumo não implica supor que o consumo
represente sempre uma proporção desejada da renda – ou que os consumidores estejam sempre em
“equilíbrio”. Dessa maneira, os consumidores podem
ajuste temporal?
A relação entre poupança e investimento também não
pode ser vista como um ajuste temporal da poupança
ex post à poupança ex ante (propensão a poupar) via
multiplicador, dado o investimento. A temporalidade
do circuito de determinação da renda não se refere ao
funcionamento do multiplicador – em Keynes ou em
Kalecki. Por isso, seria preferível encarar o multiplicador de maneira estritamente lógica e atemporal ou
como um mecanismo potencial e, conseqüentemente,
sem definição temporal precisa (Possas, 1987, 1999).
A poupança é sempre igual – ex post – ao investimento:
não é necessário “esperar”, portanto, o funcionamento
do mecanismo multiplicador para que tal igualdade
se verifique. Ou, em outras palavras, a igualdade
entre investimento e poupança, por ser uma relação
contábil, não necessita do funcionamento do mecanismo multiplicador para ser definida. E não haveria
nada de surpreendente em tal constatação uma vez
que, a partir da perspectiva do PDE, a renda – bem
como seus componentes – não é passível de decisão
deliberada.
março de 2008
Tampouco a relação entre poupança e investimento
pode ser vista como uma relação de “equilíbrio” entre os consumidores, a qual seria dada pela função
consumo. A função consumo não desempenha papel
fundamental – contrariamente à função investimento
– para a definição do PDE, embora o consumo seja
parcela importante dos gastos. A função consumo
não é importante para determinar a poupança, pois
essa representa sempre uma relação contábil; ou seja,
não importa do que ou se o consumo é função de
alguma variável – por exemplo, da renda - para que
seja determinada a poupança. A função consumo é
uma constatação apenas empírica: não é formulada no
mesmo nível de abstração necessário para determinar
o PDE. Mas, por ser o consumo também função da
renda, em geral infere-se que a poupança também
seria função da renda.
Enfim, conforme discutido nos dois primeiros itens,
a relação entre poupança e investimento é uma identidade contábil e uma igualdade com determinação
31
causal. Por isso, não precisa de ajustes ou de qualquer
outro mecanismo – tal como o multiplicador - para
que tais situações sejam observadas.
ajuste via taxa de juros entre oferta e demanda de
recursos monetários?
como oferta de recursos – e investimento – visto como
demanda de recursos. Poupança e investimento são
variáveis de natureza radicalmente diferente e, ainda,
a poupança tampouco compõe um ato de decisão,
dado o seu caráter de determinação residual.
conclusão
Por fim, a relação entre poupança e investimento
também não pode ser vista como um ajuste, via
taxa de juros, entre os esforços interno – privado e
público – e externo de ofertar recursos monetários
e reais excedentes e a sua alocação pela demanda
dos investidores. De acordo com Possas (1999), quase
sempre a partir da definição Sp + Sg + Sx =I (sendo Sp
a poupança privada, Sg a poupança do setor público,
Sx a poupança externa e I o investimento), que embora
março de 2008
não esteja errada do ponto de vista formal, conduz a
interpretações errôneas.
Primeiramente, pode-se inferir de maneira enganosa
que o déficit público (T-G=Sg, sendo T os impostos
e G os gastos públicos) e o déficit externo (X-M=Sx,
sendo X as exportações e M as importações) não são,
na verdade, determinados por gastos autônomos; e,
em segundo lugar, que seriam as poupanças privada, pública e externa – seguindo tal definição - que
financiariam o investimento. Outra inferência enganosa se refere à suposta complementaridade entre os
“esforços” de poupança dos setores privado, público
e externo. Pelo contrário, a poupança privada manteria relação negativa com a “poupança pública” e a
“poupança externa”: a poupança sofreria uma redução
– aumento – diante do aumento – diminuição – delas,
da mesma forma como sofreria caso ocorresse uma
redução – aumento – autônoma(o) do investimento.
Além disso, segundo Kalecki, um déficit orçamentário
– assim como um saldo positivo na balança comercial
– tem o efeito de permitir um aumento dos lucros do
setor privado acima daquele determinado pelos gastos
dos capitalistas.
Em suma, assim como exposto no item sobre “relação
de equilíbrio”, não faz sentido falar em uma compatibilização via taxa de juros entre poupança – vista
32
O presente artigo procurou apresentar de maneira
sucinta o que representa a relação entre poupança e
investimento sob a perspectiva do PDE. Conforme
argumentado, tal relação trata-se de uma igualdade
contábil com determinação causal do investimento
– gasto, parcela da demanda – para a poupança parcela da renda. E, diferentemente do que define a
teoria baseada na Lei de Say, a relação entre poupança
e investimento sob o PDE não representa uma relação
de “equilíbrio” ou ajuste temporal via taxa de juros,
pois se tratam de variáveis de natureza essencialmente distintas.
referências bibliográficas
Kalecki, M. A teoria da dinâmica econômica. (Coleção Os Economistas). São Paulo: Nova Cultural, 1985.
Keynes, J. M. A teoria geral do emprego, da renda e dos juros. (Coleção
Os Economistas). São Paulo: Nova Cultural, 1985.
Possas, M. L. A dinâmica da economia capitalista: uma abordagem
teórica. São Paulo: Brasiliense, 1987.
____________. Demanda efetiva, investimento e dinâmica: a
atualidade de Kalecki para a teoria macroeconômica. Revista
de Economia Contemporânea, v. 3, n. 2, 1999.
(*) Economista pela FEA-USP e mestranda em
Economia pelo IE-UFRJ.
(E-mail: [email protected]).