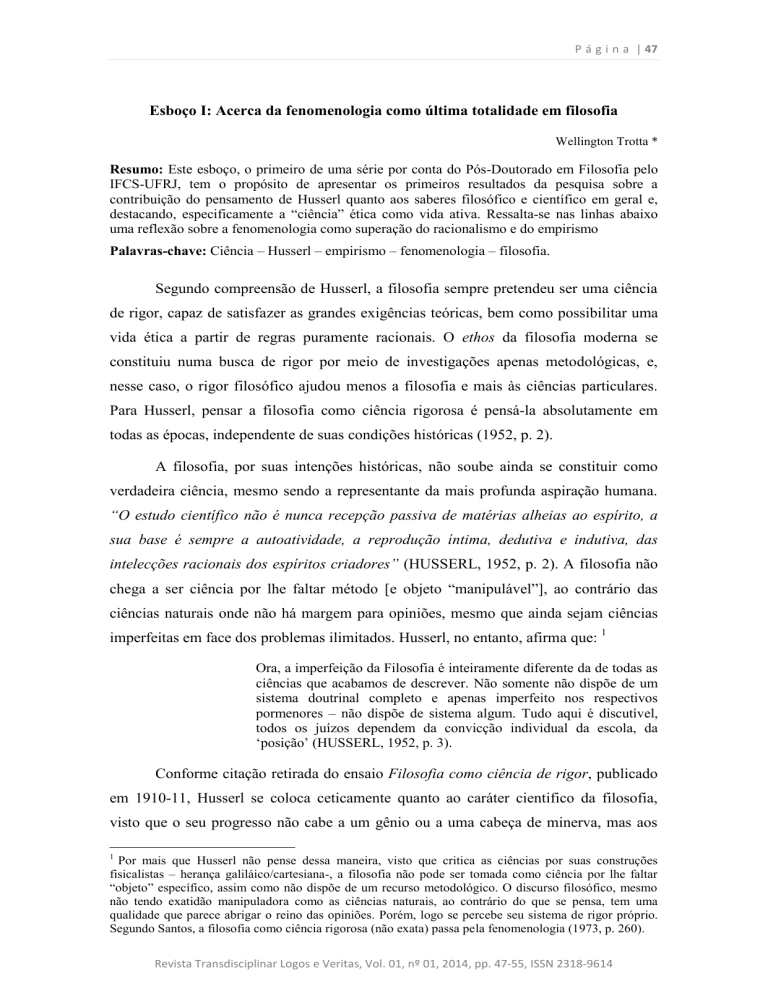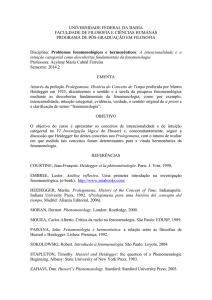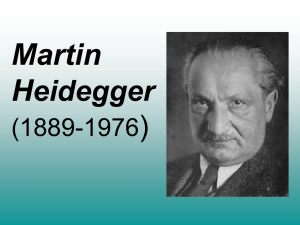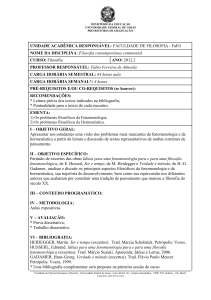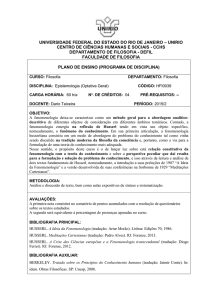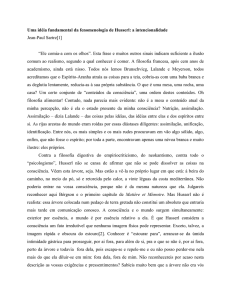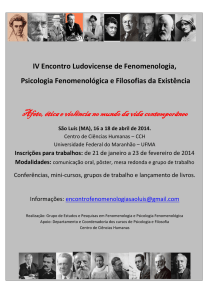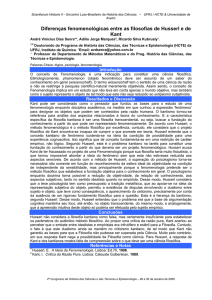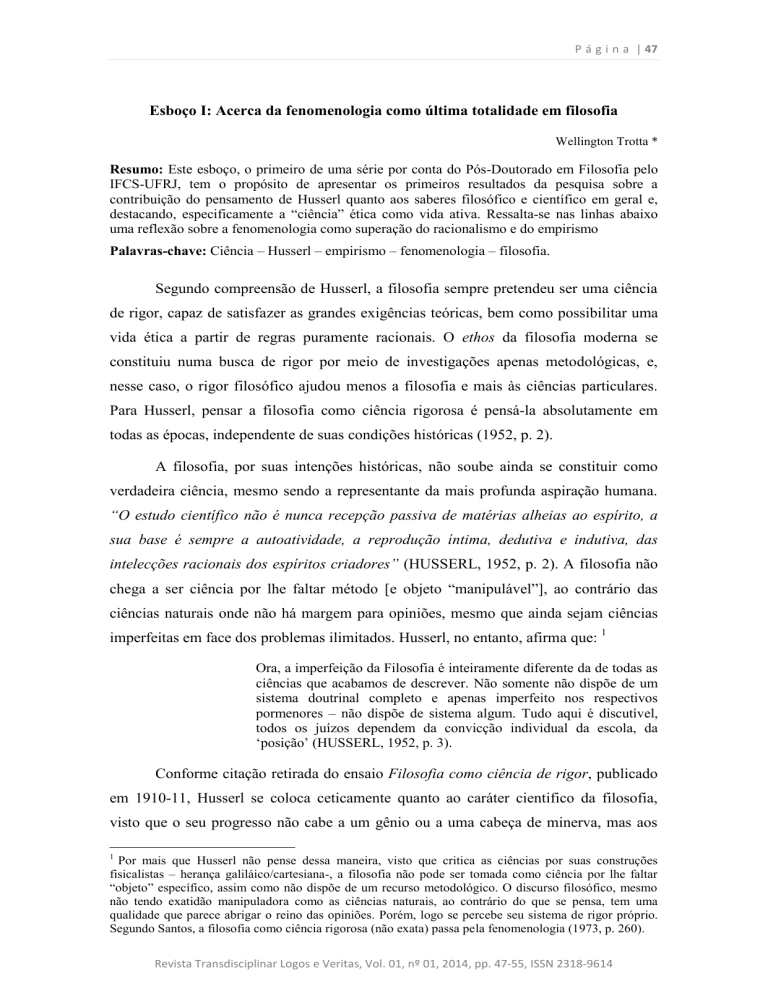
P á g i n a | 47
Esboço I: Acerca da fenomenologia como última totalidade em filosofia
Wellington Trotta *
Resumo: Este esboço, o primeiro de uma série por conta do Pós-Doutorado em Filosofia pelo
IFCS-UFRJ, tem o propósito de apresentar os primeiros resultados da pesquisa sobre a
contribuição do pensamento de Husserl quanto aos saberes filosófico e científico em geral e,
destacando, especificamente a “ciência” ética como vida ativa. Ressalta-se nas linhas abaixo
uma reflexão sobre a fenomenologia como superação do racionalismo e do empirismo
Palavras-chave: Ciência – Husserl – empirismo – fenomenologia – filosofia.
Segundo compreensão de Husserl, a filosofia sempre pretendeu ser uma ciência
de rigor, capaz de satisfazer as grandes exigências teóricas, bem como possibilitar uma
vida ética a partir de regras puramente racionais. O ethos da filosofia moderna se
constituiu numa busca de rigor por meio de investigações apenas metodológicas, e,
nesse caso, o rigor filosófico ajudou menos a filosofia e mais às ciências particulares.
Para Husserl, pensar a filosofia como ciência rigorosa é pensá-la absolutamente em
todas as épocas, independente de suas condições históricas (1952, p. 2).
A filosofia, por suas intenções históricas, não soube ainda se constituir como
verdadeira ciência, mesmo sendo a representante da mais profunda aspiração humana.
“O estudo científico não é nunca recepção passiva de matérias alheias ao espírito, a
sua base é sempre a autoatividade, a reprodução íntima, dedutiva e indutiva, das
intelecções racionais dos espíritos criadores” (HUSSERL, 1952, p. 2). A filosofia não
chega a ser ciência por lhe faltar método [e objeto “manipulável”], ao contrário das
ciências naturais onde não há margem para opiniões, mesmo que ainda sejam ciências
imperfeitas em face dos problemas ilimitados. Husserl, no entanto, afirma que: 1
Ora, a imperfeição da Filosofia é inteiramente diferente da de todas as
ciências que acabamos de descrever. Não somente não dispõe de um
sistema doutrinal completo e apenas imperfeito nos respectivos
pormenores – não dispõe de sistema algum. Tudo aqui é discutível,
todos os juízos dependem da convicção individual da escola, da
‘posição’ (HUSSERL, 1952, p. 3).
Conforme citação retirada do ensaio Filosofia como ciência de rigor, publicado
em 1910-11, Husserl se coloca ceticamente quanto ao caráter cientifico da filosofia,
visto que o seu progresso não cabe a um gênio ou a uma cabeça de minerva, mas aos
1
Por mais que Husserl não pense dessa maneira, visto que critica as ciências por suas construções
fisicalistas – herança galiláico/cartesiana-, a filosofia não pode ser tomada como ciência por lhe faltar
“objeto” específico, assim como não dispõe de um recurso metodológico. O discurso filosófico, mesmo
não tendo exatidão manipuladora como as ciências naturais, ao contrário do que se pensa, tem uma
qualidade que parece abrigar o reino das opiniões. Porém, logo se percebe seu sistema de rigor próprio.
Segundo Santos, a filosofia como ciência rigorosa (não exata) passa pela fenomenologia (1973, p. 260).
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 48
“enormes preparatórios de gerações inteiras, e como todas as construções sólidas, se
iniciam na base de fundamentos seguros” (HUSSERL, 1952, p. 4). A construção da
filosofia como ciência de rigor é proporcional ao desmoronamento das tendências
filosóficas anteriores. É importante submeter a filosofia à crítica radical, e, nesse caso, a
fenomenologia, enquanto perspectiva científica, surge como investigação da existência
não separada de sua essência, pretendendo apresentar contundente construção teórica a
partir de uma radicalização gnosiológica, em seguida epistemológica (1989, p.46). 2
Assim, segundo Husserl, a busca da filosofia como ciência rigorosa passa,
fundamentalmente, pela crítica à Teoria do Conhecimento porque a fenomenologia
afigura-se como nova crítica ao conhecimento por entender que o seu conteúdo é a
objetividade, e com isso a nova crítica do conhecimento quer criar claridade, que em
sentido amplo significa compreender o apreender (HUSSERL, 1989, p. 25). Mas em
que consiste a compreensão desse apreender? Segundo a fenomenologia, a consciência
é puramente descritiva quanto aos fenômenos na medida em que o eu não interfere na
descrição de algo, portanto os objetos existem como tal porque são intuídos pela
consciência e não construídos por esse mesmo eu.3 Nesse sentido, sendo a consciência
pura intencionalidade, a pesquisa, segundo o método fenomenológico, implica na
descrição daquilo que imediatamente é dado na consciência como vivência. Destarte,
levando em consideração esse conjunto de princípios, para Husserl, a tarefa de pensar a
filosofia como ciência de rigor é pensá-la absolutamente como perseguição insistente
pela clareza conceitual na busca da essência do conhecimento, isso porque a filosofia
seria a única ciência que formula os seus próprios fundamentos.
A fenomenologia4 pode ser tomada, então, como um retorno às coisas mesmas
visto que parte do principio de que sem evidência não há ciência, pois as evidências
ensejam à manifestação de algo que não pode ser negado, logo, as evidências são
manifestações de si mesmas: os fenômenos. A fenomenologia anseia descrever os
2
Gnosiologia é o ramo da filosofia que tem por preocupação investigar os problemas concernentes ao
conhecimento em geral, enquanto a epistemologia, especificamente, como ramo filosófico, estuda o
universo e a natureza dos problemas da ciência.
3
A consciência não explica o objeto das ciências naturais, mas o descreve como objeto evidente. A
consciência, na perspectiva fenomenológica, apresenta a essência da coisa pelo fenômeno.
4
A fenomenologia constitui-se numa orientação filosófica específica que busca o sentido dos fenômenos
como essência. Segundo Martin Heidegger, a fenomenologia expressa um conceito de método, e ao
determinar-se como tal, instiga a manifestação do que está escondido. A fenomenologia é a única
ontologia possível em razão da superação do dualismo parecer e ser. Logo, “a expressão fenomenológica
diz, antes de tudo, um conceito de método [...] A palavra ‘fenomenologia’ exprime uma máxima que se
pode formular na expressão: ‘As coisas em si mesmas’ por oposição às construções soltas no ar, às
descobertas acidentais, à admissão de conceitos só aparentemente verificados” (2005, p. 57).
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 49
fenômenos intuídos pela consciência após colocar todos os juízos entre parênteses, isto
é, mantê-los em suspensão (epoché)
5
até que os dados sejam irrefutáveis. A
fenomenologia não é ciência de fato, mas sim de essência, ela estuda os fenômenos
como algo que encerra em si aquilo que aparece como própria essência de si.
No entendimento de Husserl “a fenomenologia é a doutrina universal das
essências, em que se integra a ciência da essência do conhecimento” (HUSSERL,
1989, p. 22). A pesquisa, segundo esse método, consiste na descrição daquilo que
imediatamente é dado na consciência como vivencia, e assim a fenomenologia tem dois
objetivos capitais, a saber: descrição do que a consciência é, intencionalidade, e
compreensão acerca da psique humana, seja, o sentido ontológico expresso pelas
evidências. Logo, a consciência é puramente descritiva pela imediata relação com o
objeto dado intencionalmente por ser fluxo de movimento (SALAHSKIS, 2006, p. 59).
Husserl, através de seu método fenomenológico, rompendo com as crenças
habituais, aconselha a suspensão provisória do entendimento sobre as coisas, pois
assim, com tal atitude, suspende-se um juízo, colocando-se este acima do mundo
(tempo), situando-o entre parênteses - epoché. Esta solução determina que não se deve
negar ou aceitar qualquer entendimento como definitivo, mas tão somente o irrefutável
como fenômeno oferecido pela consciência, isto é, o fenômeno em si mesmo, que
desvela a essência da coisa considerada como sua existência real e concreta. Assim
sendo, mais uma vez, repete-se que a postulação básica da fenomenologia é a noção de
intencionalidade, que por fim tem a pretensão de anunciar a superação do racionalismo
e do empirismo, ou seja, a superação da dicotomia razão versus experiência no processo
do conhecimento, onde destaca-se a consciência como doadora de sentido.
O problema da oposição entre o a priori e o a posteriori no processo do
conhecimento cindiu a relação intelecto-experiência necessariamente real, ficando a
critério das escolas a eleição deste ou daquele fundamento gnosiológico na explicação
do problema conhecimento. Segundo a fenomenologia, essa dicotomia é falsa. Na
perspectiva fenomenológica a consciência não está separada do mundo, pois toda
consciência o é de alguma coisa, já que a atividade é constituída de atos como intuição,
5
Termo retirado do ceticismo antigo que significa atitude de “imperturbabilidade” pelo fato de não negar
ou aceitar algo a priori. Husserl toma o termo e o radicaliza como uma atitude de suspender de todo juízo
a priori. “Pode-se dizer que a epoché é o método universal e radical pelo qual me percebo como eu puro,
como a vida de consciência pura que me é própria, vida na qual e pela qual todo o mundo objetivo existe
em mim exatamente de forma que existe para mim [...] A bem dizer o mundo não é para mim outra coisa
senão o que existe, e vale para minha consciência num cogito semelhante” (HUSSERL, 2001, p. 38).
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 50
percepção, imaginação, descrição etc., e não uma substância como a alma. Esses atos
em seu conjunto são por Husserl divididos metodologicamente em noesis, parte real da
estrutura da vivência pela atividade da consciência – ato; e noema, projeção da vivência
pela intencionalidade, estrutura da vivência subjetiva, o conteúdo objetivo vivido.
A fenomenologia afirma que não há objeto em si, visto que o objeto existe para
aquele sujeito que a ele oferece significado. Com essa exemplificação a fenomenologia,
por intermédio da ação da intencionalidade, também critica a objetividade posta pelos
positivistas através da naturalização da ciência, propugnando, ao contrário, por uma
nova formulação na relação sujeito-objeto, homem-mundo, razão-experiência ao criticar
a postura fisicalista das ciências em geral. A fenomenologia aborda os objetos do
conhecimento tais como aparecem no mundo, como são apresentados à consciência,
porque a intencionalidade é a estrutura básica da consciência que conecta fatos e
objetos que se visa conhecer. Assim, a relação necessária entre noético e noemático
constitui, estruturalmente, a possibilidade de conhecer o significado do ser longe das
construções soltas no ar (HEIDEGGER, 2005, p. 57). Desse modo:
Passamos agora a uma peculiaridade dos vividos que pode ser
designada até como o tema geral da fenomenologia orientada
‘objetivamente’, a intencionalidade. Ela é uma peculiaridade da
essência da esfera de vividos em geral, visto que de alguma maneira
todos os vividos participam da intencionalidade [...] A
intencionalidade é aquilo que caracteriza a consciência no sentido
forte, e que justifica ao mesmo tempo designar todo o fluxo de vivido
como fluxo de consciência e como unidade de uma única consciência
(HUSSERL, 2006, p. 189-190).
Para Husserl, a noção de ciência se baseia na unidade do conhecer com o
conhecido, um conjunto de conexões objetivas.6 Logo, toda ciência pressupõe a relação
noético-noemático transcendental que determina os conteúdos ideais de cada ramo do
conhecimento. Pode-se deduzir que a consciência não é só intelecto, mas,
intencionalidade, pois a fenomenologia tem como preocupação central a descrição da
realidade, aquilo que passa na e pela consciência. A fenomenologia, como filosofia da
vivência, tem por tarefa urgente o recomeço radical na ordem do saber, e pretende, em
seu esforço teórico, realizar uma síntese através da superação do racionalismo e do
empirismo. Ao contrário deste, a fenomenologia assinala que não há objeto em si, e
6
Husserl defende a ideia de que a ciência constitui o núcleo racional da civilização ocidental, isso quer
dizer, o seu ethos, a morada da inteligência. Esse significado de ciência não exclui a qualidade racional
que, segundo Husserl, é o puro ideal. Contudo, a ciência a qual Husserl se refere tem o seu ideário no
mundo grego, visto que a chamada ciência moderna se perdeu no mecanicismo, e, com isso, perdeu o
sentido humano (sem falar de sua mercantilização).
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 51
contrapondo-se também àquele nega a consciência separada do mundo. Todo objeto é
percebido pela consciência que tende para o mundo porque todo fenômeno, por ser uma
manifestação, é essência de si. Se o racionalismo marca a preponderância da razão que
conhece, e o empirismo destaca a determinação do objeto conhecido sobre o elemento
psíquico, a fenomenologia enfatiza, na superação dessas escolas, que não havendo
consciência fora de si e objeto em si, o que há é pura intencionalidade, visto que não se
separando do mundo, tende para o mesmo como ato de intencionalidade. O objeto está
relacionado à consciência que intuitivamente o percebe, pois a partir da “descrição
fenomenológica pode e deve descobrir os problemas que se apresentam ao fenômeno do
conhecimento e fazer com que tomemos consciência deles [...] Na descrição
fenomenológica caracterizamos esta relação [sujeito-objeto]” (HESSEN, 1987, p. 34).
O pensamento filosófico moderno ao definir o problema do conhecimento como
objeto central, “pode já chamar-se teoria do conhecimento à tentativa de tomada de
posição científica perante estes problemas” (HUSSERL, 1990, p. 22), já que vislumbra
a reflexão sobre a essência do conhecimento e a possibilidade de sua efetuação. O
método da crítica da teoria do conhecimento é o fenomenológico: “a critica do
conhecimento é, neste sentido, a condição da possibilidade da metafísica [...] A
fenomenologia é a doutrina universal das essências, em que se integra a ciência da
essência do conhecimento” (HUSSERL, 1989, p. 22).
Ao pôr o conhecimento em questão, não se declara sua validade, pois ele ainda
está aberto, isto é, suspenso por ainda não configurar-se como conhecimento, assim
“fomos conduzidos um pouco mais para as profundidades, e nas profundidades residem
as obscuridades e, nas obscuridades, os problemas” (HUSSERL, 1989, p. 30). Essas
obscuridades são os objetos a serem investigados pela fenomenologia que os evidencia
pela crítica do conhecimento, e, nesse caso, somos, como Husserl, obrigados a admitir
que o “conhecimento é um facto da natureza, é vivência de seres orgânicos que
conhecem, é um factum psicológico” (HUSSERL, 1989, p. 41). 7 E, sendo assim,
conhecimento é por essência conhecimento da objetividade, logo “o conhecimento é,
em todas as suas configurações, uma vivencia psíquica: é conhecimento do sujeito que
conhece. Perante ele estão os objetos conhecidos” (HUSSERL, 1989, p. 42).
7
“Assim lançamos já a âncora na costa da fenomenologia, cujos objetos estão postos como existentes, da
mesma maneira que a ciência põe os objetos da sua investigação; não estão postos como existência num
eu, num mundo temporal, mas como dados absolutos capitados no ser puramente imanente. O puramente
imanente deve aqui, de início, caracterizar-se mediante a redução fenomenológica: eu intento justamente
isso aqui, não o que ele visa transcendentalmente, mas o que é em si mesmo” (HUSSERL, 1989, p. 72).
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 52
O objeto como tal é captado e não construído, por isso a consciência o descreve
como ele é, fenômeno que se revela em sua totalidade como é. Nesse sentido, todo
conhecimento, por essência, parte da subjetividade à pura objetividade. E o objetivo
para a filosofia, segundo Husserl, marca a ciência como radicalidade última e é
fornecido pela teorização do conhecimento como tarefa da crítica racional. Logo, a
contribuição fenomenológica marca profunda vitalização da filosofia na medida em que
toma o conhecimento como preocupação central, e esse dado a distingue das
construções ideológicas tidas como científicas, pois se a filosofia almeja ser uma ciência
de rigor, deve estabelecer um combate permanente contra as particularidades
subjetivistas de escolas que só veem um único aspecto do sistema, esquecendo o
conjunto como necessidade científica. Assim, para Husserl, a filosofia como
fundamento de si mesma, teria por obrigação retomar a unidade do conhecimento como
derradeira instância do pensamento (1989, p.57).
Outra grande preocupação que a reflexão fenomenológica apresenta é o aspecto
do vivido cuja resultante é o problema da vivência. A matriz do pensamento
fenomenológico procura compreender apreendendo o quotidiano humano. Essa
preocupação passa pela relação vivência-valores, porque o indivíduo deve,
permanentemente, apontar sua praxis dentro do mundo, com o outro como
autodeterminação, expressando liberdade no mundo. E essa liberdade consiste
justamente em uma efetivação da subjetividade como elemento necessário de
responsabilidade consigo e com o outro. Essa responsabilidade, que nasce como ato de
vivência, impõe uma ação de consciência que implica desconsiderar qualquer ação
social que desobrigue o outro de resolver seus problemas. Dessa forma, a perspectiva
fenomenológica, a primeira vista, pode parecer conservadora quando apela para a
determinação subjetiva. Todavia, ao contrário do que se pensa, não se constitui como
reação às formas de interpretar o mundo postas pelo pensamento materialismo dialético
(PACI, 1970). Cabe enquanto tarefa filosófica, constituir um olhar reflexivo que não
exclua as numerosas e importantes contribuições da fenomenologia. O sucesso teórico
de um pensador é justamente apropriar-se das categorias postas pela tradição filosófica
e, a partir dela, construir sua perspectiva como alternativa, indicando problemas e
abrindo perspectivas filosóficas no intuito de compreender o homem e a complexidade
que o cerca, tendo por problema central a relação subjetividade-objetividade. Assim:
Quem quiser seriamente tornar-se filósofo deve uma vez na vida
retirar-se para dentro de si mesmo e em si tentar o derrube de todas as
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 53
ciências existentes e a sua reconstrução. A filosofia é um assunto
inteiramente pessoal de quem filosofa. Trata-se [...] de seu saber em
busca do universal – mas de um saber cientifico genuíno, pelo qual ele
desde início e em cada passo se responsabiliza absolutamente em
virtude das suas razões absolutamente evidentes. Só posso tornar-me
verdadeiro filosofo pela minha livre decisão de querer viver para este
objetivo (HUSSERL, 1990, p. 10).
Essa atividade não é estranhamente subjetiva, mas incrivelmente objetiva na
medida em que remete ao derrube das pseudociências que cada um carrega dentro de si
como mera ilusão de cientificidade. Husserl adverte que a filosofia é assunto de quem
filosofa, de quem procura pensar problemas, levando em conta a atividade do espírito
livre de preconceitos, doença que entorpece a capacidade do homem compreender tudo
aquilo que confere conhecimento verdadeiro e necessariamente universal como
descrição dos fatos. Em função disso, Husserl chama atenção quanto ao movimento da
filosofia ser um estranhamento às mensagens de um quotidiano que se tornou vulgar e
trivial. A tarefa do filósofo consiste em resgatar a dimensão do espírito que parece ter
perdido sua identidade pela corrente das soluções imediatas tidas como verdadeiras.
Filosofar é o plano do rigor para o qual o filósofo deve atentar com vistas a não
sucumbir ao engodo do subjetivismo travestido de objetividade. Portanto, a dimensão
subjetiva, traçada pela fenomenologia, é uma condição de se lançar à objetividade como
tarefa do espírito que busca a verdade ao suspender as falsas ciências. Nesse sentido,
pode-se ponderar que a filosofia de Husserl, ao se preocupar com o problema
subjetividade-intersubjetividade, apresenta algumas elucidações quanto à objetividade
por se preocupar com as coisas mesmas. Essa preocupação é crucial porque admite o
espaço que o sujeito tem no mundo objetivo, como, também, sugere que a dimensão
objetiva influencie os movimentos do sujeito. A fenomenologia captura a problemática
estudada pela filosofia platônica que, ao se preocupar com a precisão das opiniões,
busca radicalmente o conhecimento verdadeiro como saída aos impasses do plano
puramente subjetivista, que pode desencadear-se numa relatividade em que tudo pode
ser arbitrariamente tido como verdadeiro (HUSSERL, 1962, p. 5-10).
Husserl, filósofo que advém da esfera lógico-matemática, preocupado em
estudar a estrutura cognoscível do indivíduo enquanto sujeito, toma para si a tarefa de
combater o psicologismo sem deixar-se envolver com a crítica fácil à Psicologia, como
também nunca olvida a tarefa da filosofia como instância prática. Talvez esta dimensão,
salvo engano, ainda precise de consistentes investigações com o propósito de repensar o
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 54
projeto ético-político da fenomenologia, pois o problema subjetividade-objetividade
ainda não chegou ao seu fim, ou melhor, parece que nunca terá uma conclusão
satisfatória que possa acalmar o duelo entre o indivíduo, enquanto sujeito, e as relações
sociais, enquanto estrutura que o absorve. Esse pessimismo (realismo) não é gratuito e
muito menos desprovido de fundamento, pelo contrário, justifica-se em razão da
unilateralidade com que se tem analisado o problema. Talvez essa dicotomia indivíduosociedade seja radicalizada pelas escolas que, a partir de suas crenças, constroem
sistemas de realidades díspares. Isso não quer dizer que ambas as dimensões não
existam, mas também não significa que uma seja a determinação da outra,
necessariamente como um axioma universal e mecânico. É necessário repensar tudo.
A reflexão fenomenológica pode parecer, a princípio, pela sua natureza
epistêmica, privilegiar o indivíduo como realidade última em detrimento de uma
concepção totalizante que o suprime. Essa escolha parece não ser arbitrária, pois todas
as escolas têm os seus sistemas lógicos que lhes conferem veracidade. O difícil é
apontar a medida exata de como o problema é trabalhado corretamente. Nem se deseja
usar a expressão cientificamente porque muito se apela para esse sentido com o fim de
justificar argumentos que se tornaram datados. Não se quer dizer que foram ondas ou
discursos de autoridade, mas suposição de que a ciência pode postar-se como instância
capaz de enunciar a verdade com sentido de divino.
Entende-se que a reflexão fenomenológica atenta para a dimensão do indivíduo
como ser no outro, diferente da compreensão liberal que o toma como algo em si e para
si deslocado de sua sociabilidade necessária. Enquanto a perspectiva fenomenológica
toma o indivíduo como uma esfera que tem no outro o espelho de si, o liberalismo
considera o outro como algo péssimo, um existir que não posso suprimir, mas que
justifica a criação do Estado como sistema político ancorado na concepção do malnecessário na condição de árbitro dos muitos na esfera do um. As ponderações
fenomenológicas interessam pela compreensão de que a sociabilização do indivíduo não
foi algo forçado, porém, indubitavelmente, uma condição de ordem lógica. Para
Salahkis, a ética como dimensão do espírito parte da lógica que a consubstancia como
dedução, sendo que a humanidade só pode ser pensada na figura do indivíduo que a
constitui, ao mesmo tempo em que o indivíduo não pode ser pensado isolado dessa
humanidade que o absorve como condição da esfera espiritual, como fluxo da vida
(2006, p. 105).
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614
P á g i n a | 55
7 – Referências Bibliográficas
ABBAGNANO, Nicolá. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Tradução de Alfredo Bosi e Ivone Castilho Banedetti.
FABRI, Marcelo. A atualidade da ética husseliana. p.157-172. In: Princípios: Revista
de Filosofia. Natal: UFRN, v. 12, nº. 17-18, jan./dez. 2005
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte I. Petrópolis: Vozes, 2005. Tradução de
Márcia Sá Cavalcante Schucack.
HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Coimbra: Arménio Amado Editora, 1987.
HOUAISS, A. Houaiss dicionário eletrônico da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Editora Objetiva, 2010.
HUSSERL, Edmund. Filosofia como ciência de rigor. Coimbra: Atlântida, 1952.
Tradução de Albin Beau.
______. Lógica formal y lógica transcendental. México DF: Universidad Nacional
Autónoma de México, 1962. Traducción Luis Villoro.
______. A ideia da fenomenologia. Lisboa: Edições 70, 1989. Tradução de Artur
Mourão.
______. Conferências de Paris. Lisboa: Edições 70, 1990. Tradução de Antônio Fidalgo
e Artur Mourão.
PACI, Enzo. O significado do homem em Marx e em Husserl. In: A crise do pensamento
moderno. Vol. 02. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970.
SALANSKIS, Jean-Michel. Husserl. São Paulo: Estação Liberdade, 2006. Tradução de
Carlos Alberto Ribeiro de Moura.
SANTOS, José Henrique. Do empirismo à fenomenologia. A crítica antipsicologista de
Husserl e a ideia da lógica pura. Braga: Livraria Cruz, 1973.
SCHERER, R. Husserl, a fenomenologia e seus desenvolvimentos. In: CHÂTELET,
François (org.). A filosofia do mundo científico e industrial. Vol. 6. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1974, 234-261. Tradução de Guido de Almeida.
* O autor é Doutor em Filosofia pelo IFCS-UFRJ. Atualmente leciona a disciplina
Filosofia nos Cursos de Direito, História, Pedagogia e Serviço Social na UNESA do
Campus Cabo Frio, além de ser membro do NPCJS.
[email protected]
Revista Transdisciplinar Logos e Veritas, Vol. 01, nº 01, 2014, pp. 47-55, ISSN 2318-9614