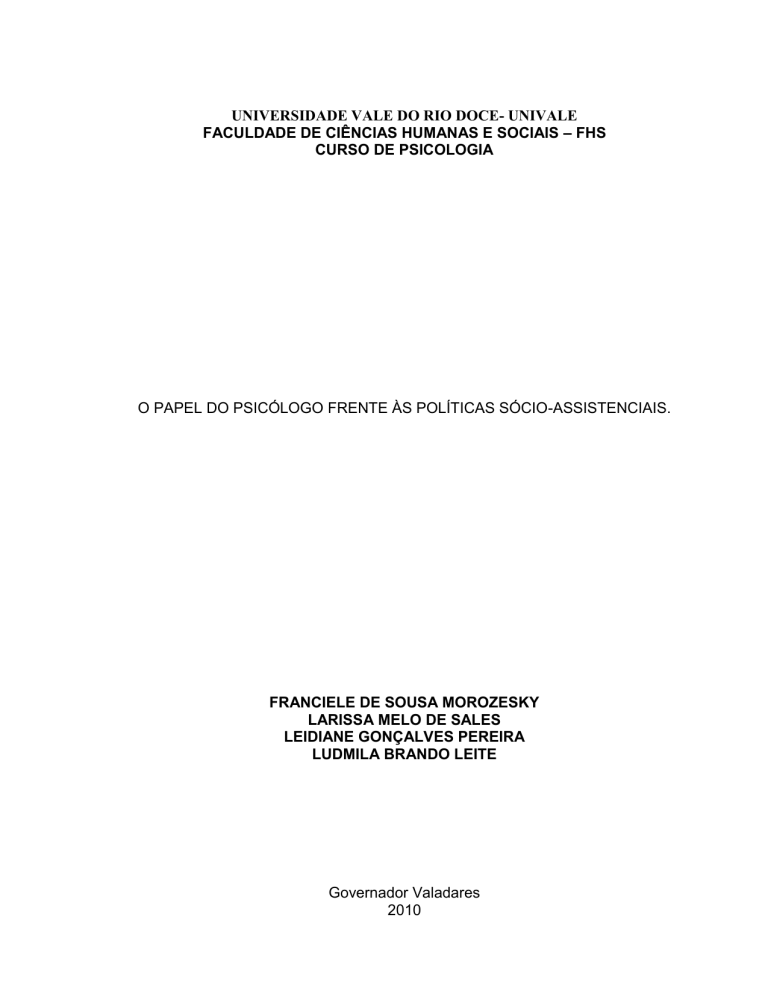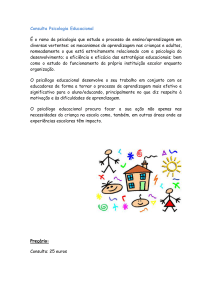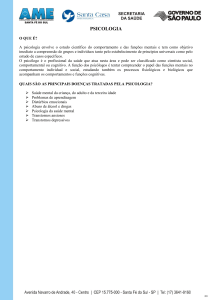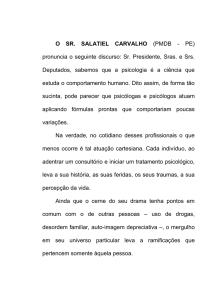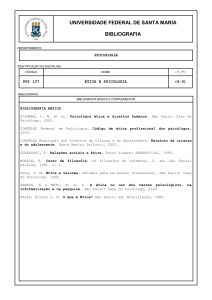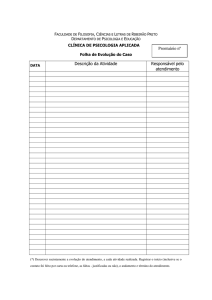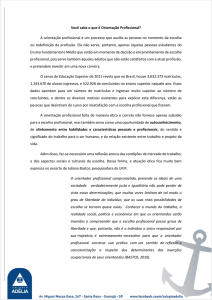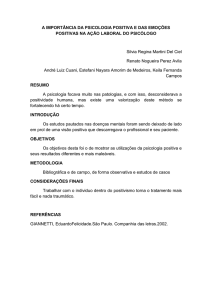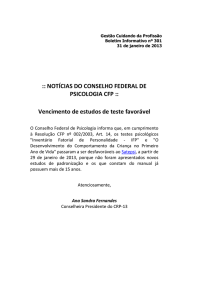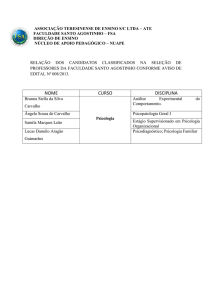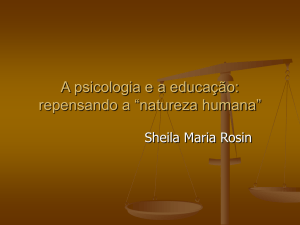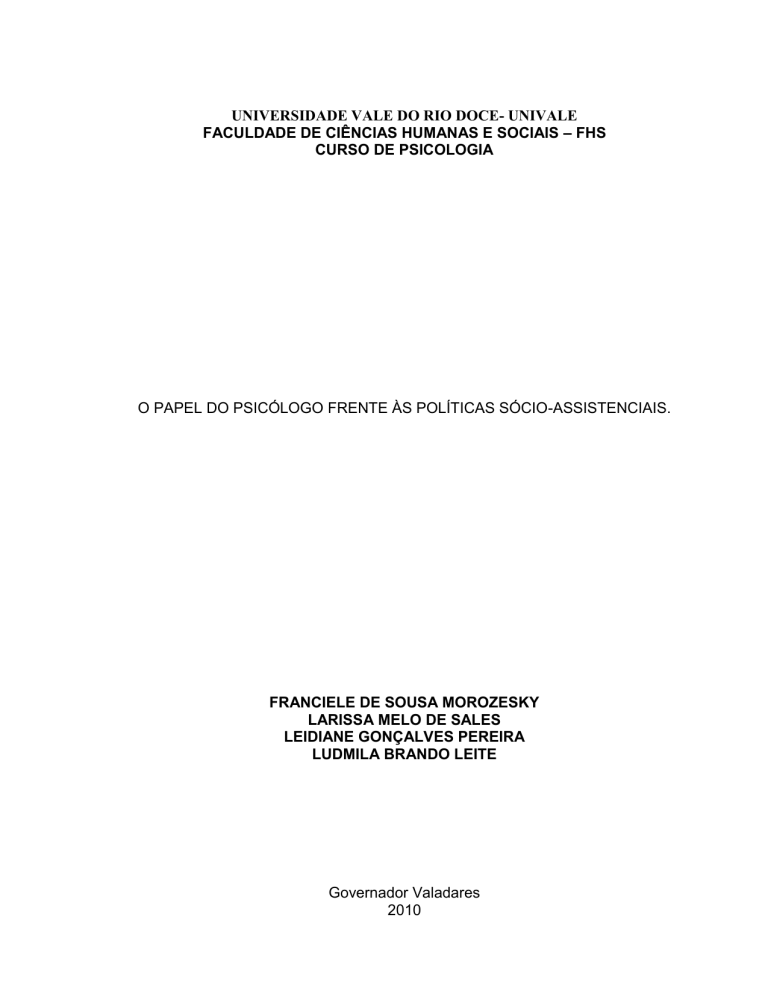
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE- UNIVALE
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – FHS
CURSO DE PSICOLOGIA
O PAPEL DO PSICÓLOGO FRENTE ÀS POLÍTICAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS.
FRANCIELE DE SOUSA MOROZESKY
LARISSA MELO DE SALES
LEIDIANE GONÇALVES PEREIRA
LUDMILA BRANDO LEITE
Governador Valadares
2010
FRANCIELE DE SOUSA MOROZESKY
LARISSA MELO DE SALES
LEIDIANE GONÇALVES PEREIRA
LUDMILA BRANDO LEITE
O PAPEL DO PSICÓLOGO FRENTE ÀS POLÍTICAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS.
Monografia apresentada ao curso de
Psicologia da Faculdade de Ciências
Humanas
Universidade
e
Sociais
Vale
do
-FHS
Rio
Doce
da
-
UNIVALE, como requisito parcial para
aprovação na Graduação do curso de
Psicologia.
Orientadora: TANDRÉCIA CRISTINA OLIVEIRA
Governador Valadares
2010
2
O PAPEL DO PSICÓLOGO FRENTE ÀS POLÍTICAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS.
FRANCIELE DE SOUSA MOROZESKY
LARISSA MELO DE SALES
LEIDIANE GONÇALVES PEREIRA
LUDMILA BRANDO LEITE
Monografia defendida e aprovada em oito de novembro de 2010, pela banca
examinadora constituída pelos professores:
__________________________
Tandrécia Cristina Oliveira
Orientadora
__________________________
Valeria Chequer
Professora Convidada
__________________________
Solange Coelho
Professora Convidada
3
DEDICATÓRIA:
Dedicamos este trabalho aos nossos
pais por todo amor e esforço a nos
dedicado em todos esses anos, a toda
nossa família pela paciência e
alegria em todos os momentos, e a
todos nossos amigos.
Obrigada.
4
MOROZESKY, F.S; SALES, L.M; PEREIRA, L. G; LEITE, L. B;(2010). O PAPEL
DO PSICÓLOGO FRENTE ÀS POLÍTICAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS. Trabalho
de Conclusão de Curso. Governador Valadares: UNIVALE/ FHS. Orientadora profª.
Tandrécia Cristina Oliveira.
RESUMO
Esse trabalho apresenta uma revisão da literatura a partir de uma pesquisa
bibliográfica, com caráter qualitativo, sobre o papel do psicólogo frente às
políticas sócio-assistenciais. Objetiva esclarecer alguns parâmetros técnicos com
a perspectiva de conhecer a atuação de psicólogos nas políticas de assistência
social. Possibilita explanar fatos históricos de uma Psicologia brasileira;
conhecer a legislação da Assistência Social; relatar sobre a inserção do
psicólogo nas políticas públicas de assistência social e conhecer os objetos de
estudos da Psicologia Social e do Serviço Social e entender suas
específicidades. Constitui-se como ponto de partida para discussões sobre o
assunto e um melhor entendimento sobre a caracterização da atuação
profissional de psicólogos no campo da assistência social.
Palavras chaves: Assistência Social. Psicologia Social. Políticas Públicas.
5
SUMÁRIO
RESUMO............................................................................................................... 5
INTRODUÇÃO....................................................................................................... 7
CAPÍTULO 1 – FATOS HISTÓRICOS DA PSICOLOGIA BRASILEIRA E
BREVE CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA SÓCIO-ASSISTENCIAL
NO BRASIL..........................................................................................................10
CAPÍTULO 2 – INSERÇÃO E O PAPEL DO PSICÓLOGO NA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.......................................................................................21
CAPÍTULO 3 – A PSICOLOGIA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL........................29
CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................33
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA........................................................................35
6
INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará alguns parâmetros técnicos com a perspectiva
de referenciar a atuação de psicólogos no âmbito da política de Assistência
Social, concretizada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e resulta
de reflexão realizada conjuntamente pelo Conselho Federal de Serviço Social
(CEFSS) e pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
As Políticas de Assistência Social são ações, programas, projetos,
regulamentações, leis e normas que o Estado desenvolve para administrar de
maneira mais eqüitativa os diferentes interesses sociais, abrangendo e
organizando a dimensão coletiva de uma determinada sociedade. Como
exemplo, situa o Sistema Único de Saúde – SUS, como uma das políticas
públicas mais férteis para a superação de iniqüidades de nosso país.
A psicologia ao inserir-se neste mercado de trabalho, ou seja, nas Políticas
de Assistência Social, ampliou consideravelmente seu campo de atuação, junto
a uma camada da população que não tenha acesso aos consultórios
particulares. Aos poucos, os psicólogos sociais foram construindo um processo
de participação nas discussões sobre Políticas Públicas e com isso, favoreceuse o entendimento da conceituação de saúde, não mais como ausência de
doença, mas sim como reflexo das condições sociais, econômicas e ambientais
sobre a vida das pessoas.
A Psicologia enquanto ciência e a Psicologia Social como uma área do saber
psicológico, estão muito próximas da prática dos profissionais com formação em
Serviço Social, considerando-se os objetos de estudo das respectivas disciplinas.
A Psicologia Comunitária Social dá força aos processos de mobilização e ação
política que visam neutralizar as diferenças sociais, dessa forma, está sempre
comprometida com as demandas que surgem das mais diversas classes sociais.
7
A reflexão sobre as competências e atribuições da profissão, a definição de
estratégias e procedimentos no exercício do trabalho, orienta e contribui para
fortalecer a intervenção interdisciplinar, resguardando as competências e
atribuições privativas de cada profissão.
Portanto, é necessário desenvolver uma reflexão sobre as possibilidades de
construção de saberes e práticas interdisciplinares decorrentes da relação
dialógica
entre
as
áreas
de
conhecimento
em
questão,
através
de
questionamentos voltados às próprias áreas que se encontram inseridas no grupo
das Ciências Socias e Humanas.
É importante também distinguir o trabalho de psicólogos e assistentes sociais
na política de Assistência Social, sabemos que o mesmo requer uma interface
com as políticas da saúde, previdência, educação, trabalho, lazer, meioambiente, comunicação social, segurança e habitação, na perspectiva de
mediar o acesso dos cidadãos aos direitos socais.
Diante disto, como se caracteriza a atuação profissional de psicólogos no
campo da assistência social?
A investigação acerca do tema tem como objetivo esclarecer as ações da
Psicologia no âmbito social, através das políticas públicas e dos movimentos
sociais, mas principalmente abordar as contribuições da Psicologia para o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a importância do trabalho dos
psicólogos na execução dos programas sociais.
Portanto, esta pesquisa científica é importante para que os psicólogos possam
ter um melhor esclarecimento sobre o assunto, podendo assim, ter um auxilio em
sua prática.
8
O estudo foi realizado com base em uma pesquisa bibliográfica, descritiva,
tendo como fonte de obtenção de dados, obras literárias, artigos retirados da
internet e revistas cientificas.
9
1 – Fatos Históricos da Psicologia Brasileira e Breve Considerações Sobre
a Estrutura Socio-assistencial no Brasil:
A profissão de psicólogo foi regulamentada no Brasil em 1962, pouco tempo
antes do Golpe Militar que condenou o País a um longo período ditatorial. Na
época, as práticas psicológicas se consolidaram sob a influência de ideologias
desenvolvimentistas, pautadas pela repressão política e pelo patrulhamento
ideológico, que caracterizaram o Brasil ao longo de quase três décadas de
ditaduras explicitas. (CFP/CFESS, 2007)
Segundo Vasconcelos (1989), as primeiras iniciativas comunitárias não
tiveram origem Estatal, devido às características antipopulares dos governos
locais após a década de sessenta, período em que o conhecimento psicológico
passou a ser usado como instrumento de práticas em comunidades. E
principalmente por universidades e programas na rede pública de grande
impacto, através de projetos de extensão, que possibilitou a proximidade entre
profissionais de saúde e a população, beneficiando esta contra o controle da
ditadura militar.
A partir do surgimento dos movimentos sociais e sindicais urbanos,
comunidades eclesiais de base, movimentos negros e femininos, que foi possível
a construção dos laços e ações comunitárias. Neste período, os psicólogos
trabalhavam
associados
à
esfera
da
educação
e
da
saúde
mental,
especialmente no âmbito da prevenção (SCARPARO; GUARESCHI, 2007).
Nos grupos sociais passou-se a ecoar as questões políticas, bem como as
reflexões éticas, que invadiram o cotidiano da civilização atual e alcançou o
controle sobre o sistema global, sobre a natureza e sobre a reprodução humana.
Discussões sobre o trabalho realizado pelo psicólogo sempre estiveram
presentes. Na época da ditadura militar, que teve inicio em 1964, o psicólogo era
10
visto como aquele que fazia psicoterapia. Só no final dos anos 80, com o inicio
de movimentos para mudanças na atuação psicológica, varias ações foram
realizadas pelos psicólogos e entidades de Psicológica brasileira no sentido da
construção de práticas comprometidas com a sociedade brasileira (CFP/CFESS,
2007).
Segundo Eidelwein (2007), a Psicologia Social pode ser compreendida como
uma área do conhecimento psicológico, que tem seus primórdios nos estudos de
Wundt, no que tange aos objetos de estudos de sua psicologia das massas.
Desenvolveu-se como conhecimento científico sistemático por volta do fim da
I Guerra Mundial, diante do objetivo de compreender as crises e convulsões que
abalavam o mundo. A partir da II Guerra Mundial, ela atingiu seu auge nos
Estados Unidos, dentro de uma perspectiva positivista-funcionalista, onde a
sociedade era compreendida como o pano de fundo sob o qual o indivíduo
desenvolvia suas ações. (Eidelwein, 2007)
Ao estudar os fenômenos: de liderança, opinião pública, propaganda,
preconceito, mudança de atitudes, comunicação, relações raciais, conflitos de
valores, relações grupais e outros, o psicólogo social procurava através de
pesquisas e experimentos, ações e estratégias de intervenção nas relações
sociais em busca de uma promoção de qualidade de vida. Os assuntos
estudados continuavam sendo os mesmos, tratavam-se ou não de sistemas
teóricos da psicologia, todos se voltavam para a procura de fórmulas de
ajustamento e adequação de comportamentos individuais ao contexto social.
(Eidelwein, 2007 apud LANE, 1985)
A Psicologia Social foi introduzida na década de 1950 no Brasil, a partir dos
referenciais norte-americanos. E na década 60, as experiências da Psicologia
Comunitária, contribuíram para a construção de uma Psicologia Social brasileira
crítica, considerando a interlocução com as experiências de outros países latinoamericanos. (Eidelwein, 2007)
11
Entretanto, a Psicologia Social não diz respeito apenas aos trabalhos
desenvolvidos no campo comunitário, uma vez que é definida por seu objeto de
estudo e não pelo local de atuação profissional.
“A Psicologia Social estuda a relação
essencial entre o indivíduo e a sociedade,
esta entendida historicamente, desde como
seus membro se organizam para garantir sua
sobrevivência, até seus costumes, valores e
instituições necessários para continuidade da
sociedade. (...) a grande preocupação atual
da Psicologia Social, é conhecer como o
homem se insere nesse processo histórico,
não apenas em como ele é determinado, mas
principalmente, como ele se torna agente da
história, ou seja, como ele pode transformar a
sociedade em que vive”. (LANE, 1988, p.10)
Sendo assim, vale salientar que o enfoque da Psicologia Social, está no
comportamento de indivíduos, no que ele é influenciado socialmente. E isto
acontece desde o momento em que nascemos, ou mesmo antes do nascimento,
enquanto condições históricas que deram origem a uma família, a qual convive
com certas pessoas, que sobrevivem trabalhando em determinadas atividades,
as quais já influenciam na maneira de encarar e cuidar da gravidez e no que
significa ter um filho. Ela estuda também, a relação essencial entre o indivíduo e
a sociedade, esta entendida historicamente, desde como seus membros se
organizam para garantir sua sobrevivência até seus costumes, valores e
instituições necessários para a continuidade da sociedade, lembrando que essa
história não é estática e nem imutável, estando sempre em transformação.
Augusto Comte, considerado por muitos como o fundador da Psicologia
Social, escreveu muito sobre a mesma, mas ela só se desenvolveu como estudo
científico, sistemático, após a Primeira Guerra Mundial, justamente com outras
ciências sociais, procurando compreender as crises e convulsões que abalavam
o mundo. (LANE, 1985)
12
A política e a ética estabelecem questões fundamentais para a humanidade.
A Psicologia Comunitária procura atribuir referência às possibilidades da vida em
comunidade, tais como à participação social dos indivíduos, à construção de
uma comunidade política, à garantia e o aprofundamento da igualdade sem
ameaças às liberdades individuais, o combater ao individualismo crescente, e as
formas de se aprofundar os valores democráticos (PRADO, 2002).
Contudo a Psicologia Comunitária se orienta através desta interação humana
e seus comportamentos, no que constituem também o objeto da Psicologia
Social, tendo em vista que a Psicologia Social estuda os fenômenos sociais
comportamentais e cognitivos decorrentes da interação entre pessoas. Essa
relação visa uma educação e o desenvolvimento da consciência social de grupos
de convivência dos mais diversos (Rodrigues, 1999). Portanto são fundamentais
no estudo e orientação das práticas no campo da assistência social.
Para estudar as questões sociais, tais como o homem em sociedade, os
fenômenos sociais, os comportamentos de grupo, as famílias, a comunicação, os
processos de socialização, e demais conceitos relacionados a situação do
homem em sociedade, os psicólogos utilizaram e utilizam até hoje princípios e
conceitos da Psicologia Social, que surgiu justamente para suprir esse campo de
atuação da psicologia.
No entanto, por muito tempo, estudo realizado na área de Psicologia Social
tem privilegiado abordagens internalistas ou mediacionais, explicando o
comportamento de indivíduos em grupo com base em variáveis intrínsecas aos
indivíduos, tais como variáveis emocionais e/ou intelectuais, e características de
personalidade (FARIAS 2005).
As reivindicações pelos direitos civis, políticos, éticos e sociais, inauguraram
um campo no qual surge a Psicologia Comunitária, na tentativa de articular com
a sociedade uma forma de atuar, voltada para objetivos próprios e segundo uma
visão crítica bem definida. E tratar os aspectos de construção da consciência
política e ética que perpassa pela psicologia comunitária.
13
A psicologia social e comunitária está diretamente implicada na construção
de uma consciência ética e política, não se poder fazer psicologia comunitária
fora do contexto econômico e político que envolve o Brasil e America Latina.
Diante disso, os psicólogos sociais comunitários dentre outros, passaram a
atuar também na área da Assistência Social, auxiliando na compreensão e no
enfretamento dos problemas sociais.
Seguindo essa perspectiva de trabalho, a política de Assistência Social
regulamentada em 1988 é uma política de proteção social ao conjunto das
proteções previstas pela Seguridade Social, com sua integração e articulação às
demais políticas sociais, assim como a saúde e a previdência social se configura
como responsabilidades do Estado próprias a serem asseguradas aos cidadãos
brasileiros.
Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e
grupos e comunidades que se encontra em situações de vulnerabilidade e risco,
tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de
afetividade,
pertencimento
e
socialização;
ciclos
de
vida;
identidades
estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sexual; desvantagem pessoal
resultante de deficiências; e outros. (Brasil, 2004)
Dessa forma, a Assistência Social é voltada à garantia de direitos e de
condições dignas de vida, que se configura como possibilidades de
reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários e
espaço de ampliação de seu protagonismo no que refere a comunidade.
(BRASIL, 2004).
O que não se pode confundir é assistência social com assistencialismo,
caridade ou ações pontuais, assistência social é uma política pública que tem o
14
compromisso do Estado com a sociedade, uma estratégia de enfrentamento da
questão social.
Como regulamentação da Assistência Social no Brasil, foi promulgada, em
1993, a lei orgânica da Assistência Social – LOAS. Nasceu a partir de um
movimento articulado nacionalmente por trabalhadores da área de Assistência
Social e outras entidades da sociedade civil e contém diretrizes básicas e regras
para a organização da Assistência Social no Brasil, considerando o cenário
social e político do país surgido após a promulgação da Constituição de 1988
(BRASIL, 1993).
A LOAS envolve a participação ativa da sociedade civil também por meio
delas, são colocadas aos municípios as necessidades de mudança para a
população, que são desde no sentido simbólico e político da assistência à sua
organização gerencial, enquanto política pública.
De acordo com a LOAS, a Assistência Social tem como objetivos: Proteger a
família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice dos indivíduos;
amparar crianças e adolescentes carentes; integrar, os indivíduos no mercado
de trabalho; promover habilitação/reabilitação
de pessoas com deficiência e
integrá-la na sociedade; e garantir os benefícios necessários aos idosos e ás
pessoas com deficiência que tem direito (BRASIL, 1993).
Foi, então, em 2004 que a Política Nacional da Assistência Social - PNAS foi
elaborada e aprovada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a
Fome – MDS, por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS e do Conselho nacional de Assistência social –CNAS com intenção de
concretizar a redefinir princípios desta política no Brasil, proposta pela LOAS, na
perspectiva
de
implementar
o
Sistema
Único
da
Assistência
Social.
(BRASIL,2004)
15
Para atingir seus objetivos, a PNAS procura integrar-se ás políticas setoriais,
considerando e minimizando as desigualdades socioterritoriais, para garantir a
universalização dos direitos sociais. Para tanto, a PNAS tem como propostas a
promoção de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social
básica e, ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.
(BRASIL, 2004)
Dessa forma, a PNAS visa favorecer a inclusão e a equidade dos usuários e
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais
básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais. Isso tudo, assegurando que
ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2004).
A PNAS traz á tona às necessidades de uma população excluída pelas
desigualdades, em situação de vulnerabilidade e risco marcada pela pobreza e
extrema pobreza. Diante dessas necessidades, propõe ações que são
organizadas pelo Sistema Único da Assistência Social – SUAS para atender e
cuidar dessa população tratando-a dignamente e formando-a cidadã. (BRASIL,
2004)
O Sistema Único de Assistência Social – SUAS constitui-se como uma
regulação e organização da política de assistência e prever a estruturação de
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter continuando ou
eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob
critério universal e lógico de ação em rede hierarquizada e em articulação com
iniciativas da sociedade civil.
Além disto, o SUAS define e organizam os elementos essenciais e
imprescindíveis á
execução
da
política
pública
de
assistência
social,
possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no
atendimento aos usuários, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura
dos serviços e da rede prestadora de serviços socioassistenciais (BRASIL,
2005).
16
Na prática, os serviços socioassistenciais oferecidos são divididos em dois
tipos: Proteção Social Básica – PSB e Proteção Social Especial – PSE, este
ultimo sendo subdividido em media e alta complexidade.
No modo de Proteção Social Básica as ações de proteção social são de
caráter preventivo com o objetivo de fortalecer os laços familiares e
comunitários. Um exemplo é o Programa de Atenção Integral á Família – PAIF,
que conta com a presença do assistente social e do psicólogo no
desenvolvimento das ações voltadas ás famílias, atividades de socialização e
convivência (BRASIL, 2005).
Os serviços de Proteção Social Básica de Media Complexidade referem-se a
ações de proteção social destinadas a situações em que os direitos do individuo
e da família já foram violados, mas ainda, há vínculo familiar e comunitário
(BRASIL, 2005).
O serviço de combate á exploração e ao abuso sexual de crianças e
adolescentes é um exemplo de serviço de média complexidade.
Por fim, os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
atendem casos em que os direitos do individuo ou da família já foram violados e,
também, quando o vinculo familiar é rompido. Eles garantem proteção integral
(moradia, alimentação, trabalho) para quem esta em situação de ameaça
necessitando deixar o núcleo familiar ou comunitário. Abrigos e albergues são
alguns exemplos de serviços de proteção social especial de alta complexidade
(BRASIL, 2005).
A unidade pública de atendimento á Proteção Social Básica é o Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS, e a unidade de atendimento á
Proteção Social Especial de Media Complexidade é o Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social – CREAS. A Proteção Especial de Alta
17
Complexidade conta com unidades diversas com condições de receber os
usuários no sentido de acolhê-los e abrigá-los como é o caso de casas de
passagem e albergues. (CREPOP,2007).
Para melhores resultados, todas essas unidades devem trabalhar em
articulação com serviços das demais políticas públicas como escolas, centros de
atendimento psicossocial – CAPS, estratégia de saúde da família, defensorias
publicas, Ministério Publico, Vara da Infância e da Juventude e outros órgãos
que possam ser envolvidos. (CREPOP,2007)
Em resumo, é dessa forma que a NOB/SUAS propõe atender a população
em situações de vulnerabilidade e risco de acordo com as necessidades
individuais, tendo como principal objetivo o fortalecimento ou reintegração das
relações familiares. (CREPOP,2007)
Todo o desenvolvimento do trabalho do SUAS é como eixo estruturante a
matricialidade sócio-familiar, pois a Assistência Social considera a família como
o espaço primeiro de proteção e socialização dos indivíduos e que, para que
cumpra com tais funções, precisa ser protegida, através dos trabalhos
socioassistenciais (BRASIL,2005).
A forma como esses trabalhos são realizados dever se construída e pensada
a partir de intencionalidades, conhecimento e experiências. Portanto, a
metodologia de trabalho com as famílias deve, primeiramente, embeber-se da
realidade do território, contextualizar essa realidade e perseguir os objetivos da
ação,
considerando-se
que
cada
família
age
de
acordo
com
suas
particularidades.
Diante dessa realidade, a presença do psicólogo nas equipes técnicas de
trabalho
do
SUAS
passou
a
ser
fundamental
(NOB/SUAS,
2005
e
NOB/RH/SUAS, 2006) e o Conselho Federal de Psicologia – CFP e o Centro de
Referencia Técnica em Psicologia e Políticas Publicas – CREPOP propuseram
18
parâmetros de atuação aos psicólogos integrantes dessas equipes como forma
de auxiliar o trabalho desses profissionais (CRP-SP, 2007).
Dessa forma, a psicologia esta inserida na Assistência Social oferecendo
contribuições relevantes para que essa política pública realmente promova
qualidade de vida aos cidadãos.
Essa contribuição se da através de práticas que garantam acesso aos
direitos de forma humana e ética, favorecendo o desenvolvimento de sujeitos
capazes de reflexão social e política, com atitudes de autonomia e emancipação.
Com isso, as contribuições do psicólogo pretendem abarcar o cotidiano de
desigualdades e violências dessas populações, visando o enfrentamento e
superação das vulnerabilidades, procurando desenvolver, em todos, o anseio por
conquistas e reivindicações de seus direitos como cidadãos, para tanto, as
praticas psicológicas não devem categorizar, patologizar e objetificar a classe
trabalhadora e outros segmentos da população, mas buscar compreender os
processos de sua interação psicossocial estudando as particularidades e
circunstancias em que ocorrem.
Os processos devem ser compreendidos de forma articulada com os
aspectos histórico-culturais da sociedade, produzindo-se construção de novos
significados ao lugar do sujeito-cidadão autônomo e que deve ter vez e voz no
processo de tomada de decisão e de resolução das dificuldades e problemas
vivenciados (CFP/CFESS, 2007, p.23).
As Políticas Públicas de Assistência Social, têem perspectivas futuras de
investir na construção de metodologias, avaliar a capacidade do CRAS (Centros
de Referência de Assistência Social), efetivamente permitir pró-atividade,
integração, focalização, adequação e o cumprimento de co-responsabilidades,
promover integração com todos os programas sociais e fazer uso do
19
acompanhamento das famílias para a adequação da oferta local de serviços
sociais.
Nesta perspectiva o entendimento das características da formação do
profissional é um passo inicial necessário para que entendam que é a partir da
junção de conhecimentos oriundos de diversas áreas, de seu comprometimento
e responsabilidade com propostas políticas e éticas, que lhe é conferido um
espaço de atuação junto à comunidade, assunto que se buscará discutir no
capítulo a seguir.
20
2 – Inserções e o papel do Psicólogo na Política de Assistência Social
Após a primeira metade da década de 1990, significativas alterações
institucionais foram operadas em torno das políticas públicas da Assistência
Social, como uma abordagem que conciliava iniciativas do Estado e do terceiro
setor.
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) operacionalizada
através do SUAS (2005), traz como projeto político, a radicalização dos modos
de gestão e financiamento da política de Assistência Social.
De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “ a assistência social, direito do
cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades
básicas”.(NOB/SUAS, pag.31)
A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência
Social, regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em
dezembro de 1993, como política social pública regulada pela Política Nacional
de Assistência Social em 1998 e 2004 e pelas Normas Operacionais Básicas
(NOB) de 1997, 1998 e 2005. Esta última implantou o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
A política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às
demais políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais,
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais sob a perspectiva
de: prover serviços, projetos e benefícios de proteção social básica voltada para
família, indivíduos e grupos que deles necessitarem; contribuir com a inclusão e
a equidade dos usuários ampliando os acessos ao serviço sócio assistenciais;
21
de maneira a assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família, garantindo a convivência familiar e comunitária.
Através do NOB/RH SUAS, o psicólogo compõe a equipe de assistência
social. Importante lembrar que esta norma surge num contexto de reestruturação
e requalificação do setor público no Brasil.
Segundo Silva (2005), essa inserção é fruto da caminhada dos psicólogos em
direção à sociedade, mediante as lutas por direitos humanos e da reforma
psiquiátrica, por meio do Banco Social de Serviços, da apropriação e participação
em espaços políticos, principalmente no plano federal, mostrando seu trabalho
através de campanhas e políticas de proteção à criança e adolescentes, sendo o
CFP aprovado como quarta entidade mais votada para compor o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, dentre outras campanhas e
lutas nacionais sobre temas de relevância para a sociedade brasileira. Esse espaço
que se abriu na legislação da assistência social é, portanto, resultado do movimento
em prol de uma Psicologia do Compromisso Social,
Uma Psicologia comprometida com a transformação social toma como foco
as necessidades, potencialidades, objetivos e experiências dos desfavorecidos.
Neste sentido a Psicologia contribui na elaboração e execução de políticas
públicas de Assistência Social, preocupadas em promover a emancipação social
das famílias e fortalecer a cidadania junto a cada um de seus membros,
contribuindo no sentido de considerar e atuar sobre a dimensão subjetiva dos
indivíduos, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e cidadania.
Essas mudanças são resultados de novos cenários políticos, especialmente
no contexto social em defesa de um novo modelo para a assistência social. E
através do SUAS, percebe-se a crescente inserção do psicólogo no âmbito
social.
22
O SUAS propõe a sua intervenção a partir de duas grandes estruturas
articuladas entre si: a Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições
e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É destinada a populações
que vivem em situações de vulnerabilidade social como a pobreza, privação e a
fragilização de vínculos afetivos. ”.(NOB/SUAS, pag.33)
Esses serviços serão executados de forma direta nos Centros de Referência
da Assistência Social – CRAS, também conhecido como casa de apoio à família,
localizada em áreas de vulnerabilidade social, atuando com famílias e indivíduos
no seu contexto comunitário, orientando o convívio sociofamiliar e comunitário,
promovendo o fortalecimento a proteção e a socialização dos seus membros,
trabalhando questões como referências morais, de vínculos afetivos e sociais.
Como afirma Lane (2001), a Psicologia deve recuperar o indivíduo na
interseção de sua história com a história de sua sociedade, pois é somente este
conhecimento que permite compreender o homem como produtor de sua
história. Assim, a participação social é condição básica à cidadania.
Outra intervenção promovida pelo SUAS é a Proteção Social Especial, uma
modalidade de atendimento assistencial, destinada a famílias e indivíduos que
se encontram em situações de risco pessoal e social, por ocorrência de
abandono, maus tratos físicos, e psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias
psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, trabalho
infantil, que considera a necessidades de ações de média e alta complexidades.
(NOB/SUAS, pág. 37)
Os mesmos requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas
soluções protetivas. Comportam encaminhamentos monitorados. Tem uma
relação com o poder Judiciário, Ministério Público entre outros órgãos e ações
do Executivo.
23
A intervenção do psicólogo no SUAS é de promover a liberdade, a dignidade,
a igualdade e a integralidade das pessoas atendidas por ele, trabalhando no
sentido de promover a saúde e a qualidade de vida não somente dos indivíduos,
mas também do grupo onde está inserido, quer seja a família quer seja a
comunidade, contribuindo para extinção de qualquer forma de discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Para tanto, o profissional, deve analisar o contexto político, econômico, social
e cultural, visando o enfrentamento e superação das vulnerabilidades,
trabalhando a autonomia do sujeito e suas crenças para que rompam com o
processo de exclusão social e oportunizando o empoderamento do sujeito, dos
grupos e da comunidade.
O olhar socioeducativo sob o olhar da psicologia visa desempenhar trabalhos
em grupo, abordando questões como a importância de se trabalhar em conjunto
despertando o interesse por atividades coletivas, visto que, auxilia os
participantes a situarem a questão em seu contexto social mais amplo,
informando, debatendo, orientando para a compreensão do que é vivido e
sofrido subjetivamente (CAMPOS, 2005).
A convivência é a base do ser social: pertencer a grupos, reconhecer-se num
contexto, construir referências de comportamento e valores, perceber e respeitar
a diversidade são caminhos que só podem ser percorridos nas relações sociais.
Sendo assim alguns valores precisam ser retomados, valores que fortaleçam e
desperta o prazer de viver em comunidade, abordando questões como a
importância da auto-estima dentro de padrões sociais (CAMPOS, 2005).
Através da atuação em grupos, pode-se atender um número maior de
famílias num mesmo momento, promovendo a interação entre os mesmos. São
proporcionadas através dos encontros, atividades que buscam desenvolver a
auto-estima, autonomia, protagonismo, criatividade, capacidade de análise e
resiliência (CAMPOS, 2005).
24
Segundo Carvalho (2007), As ações sócio educativas no âmbito da
Assistência Social, tem o intuito de promover o convívio social, pois envolve
várias dimensões como o desenvolvimento do sentido coletivo, da autonomia da
vida, e do reconhecimento e participação da vida pública. Essas dimensões são
condição necessária para que crianças, jovens e adultos alcancem, sobretudo,
sentido de pertencimento e inclusão social, favorecendo integração a redes de
proteção social.
A atuação psicológica necessita explorar e compreender os significados
presentes nas ações do sujeito, bem como dos grupos de sujeitos, buscando
apreender o sentido que leva a determinada direções de relacionamento,
conflitos e decisões, com o intuito de encontrar novas formas de lidar com tais
problemas.
Segundo o Guia de Orientação Técnica, as atividades desenvolvidas revelam
coerências com as ações básicas propostas pelos CRAS, onde o profissional de
psicologia irá atuar, e podem ser resumidas em: visitas domiciliares e familiares;
grupo: oficina de convivência e de trabalho sócio educativo para famílias, seus
membros e indivíduos; palestras voltadas à comunidade ou à família, seus
membros e indivíduos; atendimentos individuais, encaminhamentos. (SUAS,
2005)
As visitas domiciliares têm como objetivo acompanhar de forma mais ativa a
realidade das famílias. São utilizadas também para identificar demandas de
vulnerabilidades, para que sejam feitos os encaminhamentos.
Através dos trabalhos realizados em grupos juntamente com projetos e
instituições sócio educativas, o profissional da área de psicologia reconhece a
importância de não apenas analisar, mas também vivenciar o cotidiano da
comunidade como forma de se inserir na comunidade. Isto sugere a necessidade
de utilizar estratégias de inserção variadas que propicie a vivência do cotidiano
25
da comunidade, indo além da busca de dados quantitativos e das visitas
institucionais tradicionais.
De acordo com Afonso (2006), quando o grupo se inicia, todos chegam
trazendo o que é seu, e um grupo quando se forma, é devido a cada individuo
que encontrou o seu lugar e sua importância dentro do mesmo. Fazer parte de
um grupo, muitas vezes é se sentir valorizado, pois fortalece a auto-estima e
prepara o indivíduo para a convivência em diferente contexto.
Existem vários tipos de oficinas que podem ser desenvolvidas no CRAS,
entre elas: o grupo do tipo oficinas, onde são realizadas oficinas de cultura, de
esporte, artesanato, oferecendo oportunidades de lazer e desenvolvendo
habilidades e conhecimento, prevalecendo à convivência entre os membros. Já a
oficina de reflexão, procura trabalhar algum tema específico.
Montero (2006) chama a atenção para a importância do aprofundamento dos
conhecimentos sobre a comunidade neste processo de inserção para que haja a
identificação real das necessidades daquele lugar e daquelas pessoas e para o
desenvolvimento da ação comunitária.
Os atendimentos individuais, também conhecidos como escuta/acolhida,
embora não esteja diretamente no cotidiano do CRAS, muitas vezes é
necessário, para isso é importante que o profissional esteja pronto para acolher,
escutar e identificar as demandas para orientar e em seguida encaminhar.
O modelo de entrevista é o mais utilizado pelos psicólogos, muitas vezes
para
diferenciar
a
ação
da
perspectiva
clínica
e
dos
atendimentos
psicoterapêuticos. São utilizados como o instrumento uma ficha de cadastro.
Esta é uma atividade também prevista no Guia de Orientação para os CRAS
(BRASIL, 2005), o qual indica que: A entrevista é um procedimento técnico que
serve para acolher, conhecer, coletar dados, orientar, acompanhar, avaliar e
26
indicar os elementos para trabalhar a família em seu processo de formação
cidadã. A entrevista é realizada após a família ter passado pelo serviço de
acolhimento/recepção do CRAS.
É feito um registro do atendimento e a marcação de uma entrevista ou visita
domiciliar, conforme indicação. A entrevista deve ser realizada em local que
assegure a privacidade da(s) pessoa(s) entrevistada(s).
O instrumento de entrevista é composto de questões comuns a todas as
famílias, quantificáveis e objetivas e deve conter questões qualitativas que
possam compreender a família em sua singularidade e particularidade. A ênfase
é o levantamento de dados sobre as condições de vida e vulnerabilidades da
família e a avaliação junto com ela sobre o risco de violação de direitos.
Os questionamentos ou perguntas devem, sempre que possível, buscar
captar a percepção do(s) entrevistado(s) de suas dificuldades, potencialidades e
demandas. Deve, também, apresentar o parecer técnico que expresse a síntese
técnica do atendimento.
Conforme estabelece a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
SUAS (NOB-RH/SUAS), atuam no CRAS, assistentes sociais, psicólogos e, em
alguns casos, também outros profissionais (BRASIL,2006b).
Portanto o trabalho de assistentes sociais e psicólogos nas políticas de
Assistência Social requer interface com as políticas da saúde, previdência,
educação, lazer, trabalho, meio ambiente, comunicação social, segurança e
habitação, na perspectiva de mediar o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.
As duas profissões podem somar-se com intuito de assegurar uma
intervenção interdisciplinar capaz de responder as demandas individuais e
coletivas, defendendo a construção de uma sociedade livre de todas as formas
de violência e exploração de classe, gênero, etnia e orientação sexual.
27
Para exercer trabalhos como esses citados acima, o psicólogo precisa
entender a demanda e essa é ao mesmo tempo uma demanda de objeto, uma
dimensão não explícita que expressa um desejo, uma falta mais difícil de ser
percebida - oferecer tempo, disponibilidade para relação, promoção da qualidade
de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de
quaisquer formas de discriminação, exploração e violência.
Portanto, quando se trata de políticas públicas sociais, devemos ter em
mente que essas só cumprirão de fato seus objetivos quando tiverem como
compromisso a diminuição das desigualdades sociais.
28
3- A Psicologia Social e Serviço Social
Este capítulo foi elaborado com o intuito de se conhecer os objetos de
estudos da Psicologia Social e do Serviço Social na assistência social e entender
suas específicidades. Ao pensar sobre a prática interdisciplinar de ambas as
áreas, torna-se interessante apresentar alguns parâmetros que diferenciam uma
profissão da outra no âmbito social.
O psicólogo e a sua relação com o trabalho interdisciplinar enfatizam a
formação integral do sujeito, tornando-se importante trabalhar esta “totalidade da
atividade humana” (CONTINI, 2003) de maneira que articula e complementa com
outros saberes.
Segundo as orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS), as ações dos profissionais que atuam no CRAS devem (...) provocar
impactos na dimensão da subjetividade política dos usuários, tendo como diretriz
central a construção do protagonismo e da autonomia, na garantia dos direitos
com superação das condições de vulnerabilidade social e potencialidade de risco
(BRASIL, 2006a, p.13).
A Psicologia Social e o Serviço Social, são duas áreas do conhecimento
científico, muito próximas uma da outra, devido ao fato de que seus respectivos
objetos de estudos estão estreitamente ligados. Considerando então, o objeto de
estudo da Psicologia Social e do Serviço Social, parece ser interessante pensar
sobre possibilidades de construções teóricas e metodológicas que resultem da
capacidade de diálogo das disciplinas em questão.
A regulamentação da Psicologia como profissão ocorreu em 1962, como
citado anteriormente com a ditadura militar em 1964, fora impedido de exercer o
seu trabalho no âmbito social, influenciando a idéia de que o psicólogo só fazia
Psicoterapia. No final dos anos oitenta, surgiram movimentos de mudanças na
29
atuação do profissional adotando assim, o compromisso social, como norteador
da atuação psicológica.
Intervindo através da política de Assistência Social, o psicólogo deve estar
atento
aos
processos
de
sofrimentos
instalados
nas
comunidades,
principalmente onde as famílias estabelecem seus laços mais significativos.
Sendo assim, o psicólogo trabalha com o intuito de promover a qualidade de vida
do indivíduo e da coletividade. Seu trabalho envolve ações relacionadas à
comunidade em geral, realizando estudos sobre a relação do indivíduo na
sociedade.
O Serviço Social surgiu no Brasil em 1936, se regulamentando como
profissão em 1957 e sendo reconceituada na década de sessenta. Atua em
programas como o Centro de Referencia a Assistência Social – CRAS, Centro
de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS e Proteção e
Atendimento Integral de Apoio a Família – PAIF. Tem como objetivo, tratar
questões do direito, trabalho, educação, as quais as famílias que vivem em
situações vulneráveis enfrentam. Tais situações demandam ao Serviço Social
métodos de intervenção que vão além de medidas ou projetos de Assistência
Social
Dentro do que o Assistente Social trabalha, são desempenhadas funções
que engloba atividades individuais, familiares e grupais fazendo atendimentos às
necessidades básicas. Essa dimensão não deve se confundir com o atendimento
psicoterapêutico a indivíduos e famílias (próprio da Psicologia), mas sim uma
orientação ao individuo no sentido de identificar recursos e fazer o uso dos
mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos.
A natureza social do fenômeno psíquico, ou seja, a construção do mundo
interno a partir das relações sociais vividas pelo homem é de suma importância
para a Psicologia Social. E pelo fato da Assistência Social ter como seu objeto
30
de estudo, as questões sociais em suas múltiplas expressões, é que essas duas
áreas do saber são próximas.
O campo da Assistência Social quem tem objetivo principal, tratar questões
sociais, e a reflexão quanto à visão de mundo dos profissionais que atuam na
área, torna-se imprescindível. Esta influencia a relação estabelecida com a
prática, desde o posicionamento que assume em relação ao pensamento
hegemônico em nossa sociedade e que se reflete diretamente em sua atuação
cotidiana.
A Assistência Social constitui
como: “(...) uma área que não foi
concebida como campo de definição
política dentro do universo das
políticas sociais, constituindo-se num
mix
de
ações
dispersas
e
descontínuas
de
órgãos
governamentais e de entidades
assistenciais que gravitando em torno
do Estado, construíram relações
ambíguas
e
contraditórias”.
(Degensjajn, 2006, p.5)
Sendo assim, o objetivo da inserção de psicólogos e assistentes sociais no
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é de produzir contribuições para as
políticas de Assistência Social, pautando no compromisso com situações em que
a sociedade vem enfrentando, discutindo técnicas e estratégias para a atuação
dos profissionais nas políticas públicas.
Muitas vezes o trabalho em conjunto entre profissionais do Serviço Social e
da Psicologia Social constitui um ponto de conflito e muitas vezes geram dúvidas
para o psicólogo acerca de seu papel profissional, a complementaridade e a
especificidade em relação a sua atuação com assistentes sociais e outros
profissionais. O psicólogo deve apropriar-se dos princípios e diretrizes das
legislações da Assistência Social, necessárias em seu cotidiano de trabalho
(Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal de Serviço Social, 2007).
31
Dessa forma, os profissionais de psicologia e serviço social, ao trabalharem
de
forma
interdisciplinar,
deverão
fazer
primeiramente,
uma
reflexão
epistemológica, sobre a concepção do ser humano no berço social, concepção
essa, que muitas vezes fica subentendida a partir das teorias, métodos e
metodologias utilizadas.
O psicólogo social, quando engajado numa prática no campo da Assistência
Social, sentirá a necessidade de aguçar o seu olhar crítico nas relações
hegemônicas da sociedade, nas políticas públicas existentes e construídas neste
contexto, e nas condições concretas de vida da população atendida.
Refletir sobre esta prática profissional implica em uma análise da inserção da
Psicologia no campo da Assistência Social, contextualizando o momento atual
de implementação do SUAS e do movimento de compromisso social emergente
na Psicologia nas últimas duas décadas.
Encontramos uma proliferação de práticas e trabalhos comunitários dirigidos
a uma variedade de problemáticas. Dessa forma, observamos o crescimento de
inúmeras organizações não governamentais, que constituíram suas intervenções
para várias finalidades e de forma segmentada, em uma lógica historicamente
construída nas políticas públicas de Assistência Social.
A prática psicológica na Assistência Social encontra assim, o desafio de
ampliar o debate entre os diversos atores da política dessa área e de investir na
sistematização das práticas, buscando uma maior clareza, na definição de
parâmetros para uma intervenção comprometida com a transformação social.
Ao contrário do que se pensam os avanços no discurso na área da
Assistência Social, assim como da própria Psicologia, ainda não são
acompanhados de avanços no cotidiano da ação, ou seja, Assistentes Sociais e
Psicólogos tem uma função importante na sociedade, no sentido de debater
32
sobre o reconhecimento e a defesa do papel na Assistência Social, garantindo
melhoria nas condições de vida, tratando questões como a desigualdade social.
33
5- Conclusão
No contexto da política pública de assistência social os psicólogos são
confrontados com uma realidade complexa e com a necessidade de
desenvolver ações terapêuticas de socialização e de reinserção.
A atuação desse psicólogo é marcada por perspectivas que recomenda o
trabalho em equipe, em grande parte das atividades há uma necessidade de
realizar um diálogo interdisciplinar. Daí a importância de reuniões de equipe
para discutir e planejar intervenções.
Os capítulos citados na pesquisa foram mencionados a propor um estudo da
atuação desse profissional comprometido com a transformação social e dos
desafios enfrentados no dia a dia na construção de uma consciência ética e
política de cada indivíduo.
Observa-se que, o fortalecimento da presença desses profissionais, implica
no desencadeamento de um processo que requer, entre outros aspectos, o
investimento na formação continuada, no desenvolvimento de novas pesquisas
que valorizem a prática profissional, na participação e posicionamento dos
psicólogos em outros espaços sociais de discussão sobre a atuação e na
apropriação estratégica dos profissionais, dos espaços de debate abertos, pelos
gestores da assistência social.
Nessa pesquisa dentre muitas descobertas, pode-se perceber que o
processo de trabalho do psicólogo no CRAS, cabe aos profissionais da
assistência social, que apesar da experiência com equipes multidisciplinares,
ainda mantém uma ausência de capacitação específica, para a atuação dos
psicólogos. Sendo assim, o papel do psicólogo e do assistente social muitas
vezes acaba sendo confundido, ficando diluído nas angústias do tarefismo e na
repetição mecânica da burocracia, já que os profissionais encontram muitas
34
dificuldades no rompimento com esse círculo danoso para uma prática
comprometida com a transformação social.
Logo, acredita-se que é necessário ampliar o conhecimento sobre a
experiência dos profissionais no âmbito das políticas públicas, contribuindo para
a qualificação e a organização no trabalho. Observa-se, portanto, que existem
reflexões sobre as possibilidades de uma construção de saberes e práticas
interdisciplinares e questionamentos que permitem a interface das profissões,
sendo eles: estratégias que são utilizadas pelos profissionais da área para
buscar garantir a adesão às atividades de intervenção proposta; capacitações
nos locais de trabalho; a organização de grupos de estudos que discuta os
princípios de cada profissão; estratégias e soluções que envolvem um esforço de
aproximação da comunidade e na busca de parcerias com instituições.
Pela revisão literária feita é possível visualizar a importância do compromisso
social dos profissionais da psicologia com a política de assistência social.
35
6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
AFONSO, Lucia
(org). Oficinas em dinâmica de grupo: um método de
intervenção psicossocial. São Paulo: Editora Casa do Psicólogo, 2006.
BRASIL (1993). Presidência da República. Lei Orgânica da Assistência Social,
Lei n.8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da
assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da República
Federativa
do
Brasil,
Brasília,
DF.
Acesso:
18
de
out.
2009
em:
<http//www.planalto.gov.br/ccivill_03/leis /l8742.htm>.
BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria
Nacional de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Norma
Operacional
Básica
(NOB/SUAS).
Construindo
as
bases
para
implantação do Sistema Único de Assistência Social. Brasília, Julho de 2005.
BRASIL(2004). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Brasília: Brasil.
BRASIL(2005). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Brasília. Acesso: 18 de out. 2009
em: http://www.mds.gov.br/suas.
CAMPOS, G. F. A ação psicológica em assistência social: Um enfoque na família
e crianças vulneráveis. Minas Gerais: UNIVALE 2005
CARVALHO, M. C. B.; de AZEVEDO, M. J. Ação Sócia Educativas no âmbito
das Políticas Públicas. In: CENPEC. Avaliação: Construindo Parâmetros das
Ações Sócios Educativas. São Paulo,2007.
36
Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) –
Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS/ Conselho
Federal de Psicologia (CFP) – Brasília, CFP 2007.
Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS). (2007) Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos
na Política de Assistência Social. Brasília, DF: CFP/CFESS.
Conselho Regional de Psicologia – SP (CRP-SP). (2007) Brasil promove
revolução na assistência social. Psi Jornal de psicologia CRP SP, 151, (mar/abr).
São Paulo: CRP – SP.
CONTINI, M. L. Psicologia e a construção de políticas públicas voltadas para a
infância e adolescência: contribuições possíveis. In: BOCK, A. M. (org)
CFP. Quem é o psicólogo brasileiro? SP, Edicon/Educ, 1988.
EIDELWEIN, K.Psicologia Scoail e Serviço Social: uma relação interdisciplinar
na direção da produção de conhecimento. Porto Alegre/RS. Revista Textos e
Contextos Porto Alegre. V. 6. N 2. 2007.
FARIAS, A. K. C. R. (2005). Comportamento Social: Cooperação, competição e
trabalho individual. Santo André, SP: Esetec.
LANE, Silva T. M. O que é Psicologia Social. São Paulo: Nova Cultural:
Brasiliense, 1988.
LANE, S.T. M.; CODO, W. Psicologia Social: O homem em movimento. São
Paulo: Brasiliense, 2001
LANE, Silvia T. M. Psicologia Social comunitária – da solidariedade à autonomia.
Histórico e fundamentos da psicologia comunitária no Brasil. São Paulo: Nova Cultural:
Brasiliense, 1985.
37
LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS), Lei nº 8.742, de 07 de dezembro
de 1993, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 8 de dezembro de 1993. Dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
MASSIMI, M. Histórias das Idéias Psicológicas no Brasil em Obras do Período
Colonial. Dissertação de Mestrado. SP, USP, 1984.
PRADO, Marco Aurélio Máximo. A psicologia comunitária nas Américas: o
individualismo, o comunitarismo e a exclusão do político. Psicol. Reflex. Crit.,
Porto
Alegre,
v.
15,
n.
1,
2002
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010279722002000100021&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de Julho de 2010.
RODRIGUES, Aroldo. Psicologia Social: Conceito; Psicologia Social Cientifica,
Aplicações da Psicologia Social e Tecnologia Social; Métodos de Investigação;
Breve Histórico. Ed. Vozes. 1999. Capitulo 1.
SCAPARO, H.; GUARESCHI, N. Psicologia Social Comunitária e Formação
Profissional.
Psicologia
&
Sociedade,
PUC-RS,
2007.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19nspe2/a2519ns2.pdf>. Acesso em: 05 de jul.
2010.
SILVA, Rosane N. D. A invenção da Psicologia Social. Petrópolis, RJ: Vozes,
2005.
SIQUEIRA, Sueli. O trabalho e a pesquisa científica na construção de
conhecimento. Governador Valadares: Univale, 2002. p.50.
VASCONCELOS, Eduardo Mourão. O que é psicologia comunitária. 4. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1989. 102 p.
38