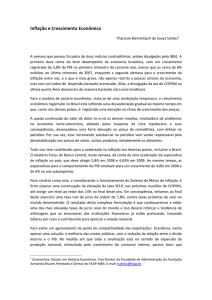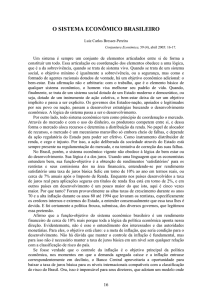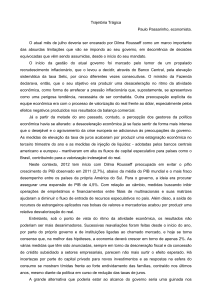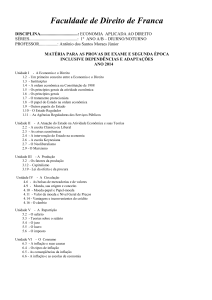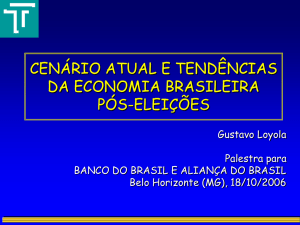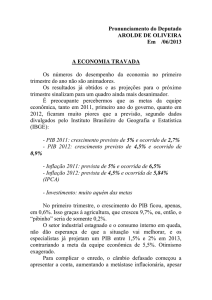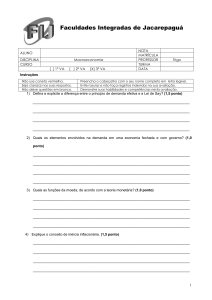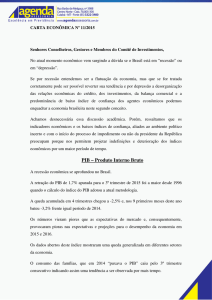Pensamento do Dia
Economistas analisam a Economia, o Brasil
e o mundo,
mundo, na mídia diária 29 a 31 01 2011
2011
------------------------------------------------------------------Folha de S.Paulo - 31/01/2011
Manipulação da China ameaça os objetivos
do Mercosul
Rubens Ricupero
ANÁLISE
Integração dos países do Mercosul tem ameaças vindas de fora e de dentro
A visita de Dilma Rousseff à Argentina não será a ocasião para relançar a integração
porque mais uma vez não coincidem os ciclos políticos e econômicos dos países.
Do lado brasileiro, o governo começa, enquanto, do outro lado, termina. As políticas
econômicas e os resultados em inflação, deficit orçamentário, câmbio e proteção à
indústria são contrastantes e difíceis de harmonizar.
Não obstante, o encontro pode ser a oportunidade de reflexão sobre os dilemas do
Mercosul, que enfrenta ameaças de fora e de dentro.
De fora, afastado o perigo da Alca, que teria dissolvido o bloco na geleia da integração
subordinada aos EUA, o risco provém da China.
A diferença é que, graças à opacidade que lhes permite manipular câmbio, empréstimos
e favores tributários para estimular exportações, os chineses não precisam negociar
acordos para passar por baixo de qualquer barreira.
O resultado é que a China ocupa mercados destinados em princípio à indústria dos
parceiros do Mercosul. A China põe assim em risco o próprio pressuposto da integração:
viabilizar a industrialização de cada país graças aos ganhos de escala derivados da soma
dos membros.
Sem manufaturas competitivas para exportar, o que resta aos latinos é acentuar o
aspecto das economias em que são concorrentes, não complementares: o de
exportadores de commodities minerais e agropecuárias.
Na medida em que a China se torna o motor do avanço das exportações para todos,
desaparece outro objetivo da integração, que é aumentar o comércio dentro da zona.
A ameaça de dentro se origina da frustração com projeto que estancou. Após atingir o
pico em 1997-98 (17%), o comércio intrazona caiu. As vendas dos parceiros a terceiros
se expandem muito mais rápido do que dentro do bloco. Nem o grupo nem o mercado
brasileiro se revelaram capazes de proporcionar aos sócios demanda que lhes
possibilitasse diversificar e desenvolver as economias.
Diante disso, a Argentina optou pelo unilateralismo: protege seus interesses sem ligar
para regras. A resposta do Brasil é contemporizar.
Falta iniciativa para pôr fim aos casuísmos e renovar o conceito da integração.
Será preciso partir de realidade inexistente na fundação do bloco: a China e a acentuação
da dependência de Brasil e Argentina das commodities. Integrar concorrentes na
exportação de commodities não faz sentido.
A fim de sair do dilema, os dois países terão de, finalmente, enfrentar o desafio da sua
persistente falta de competitividade.
RUBENS RICUPERO foi embaixador nos EUA e na Itália e ministro da Fazenda
--------------------------------------Valor Econômico - 31/01/2011
O fim do superávit chinês
Martin Feldstein
O superávit em conta corrente da China - combinação de seu superávit comercial e lucro
líquido com investimentos no exterior - é o maior do mundo. Com um superávit
comercial de US$ 190 bilhões e a renda proveniente de sua carteira de ativos
estrangeiros de quase US$ 3 trilhões, o superávit externo da China é de US$ 316 bilhões,
o equivalente a 6,1% do Produto Interno Bruto (PIB) anual.
Como o superávit em conta corrente é denominado em moeda estrangeira, a China
precisa usar esses fundos para investir no exterior, especialmente comprando bônus
governamentais lançados pelos Estados Unidos e países europeus. Como resultado, as
taxas de juros desses países estão mais baixas do que estariam sem essas compras.
Tudo isso pode estar para mudar. As políticas que a China adotará como parte de seu
novo plano de cinco anos encolherão seus superávits comercial e em conta corrente. É
possível que, antes do fim da década, o superávit em conta corrente da China se
transforme em déficit, com o país importando mais do que exportando; e gastando a
renda de seus investimentos externos em importações e não em papéis estrangeiros. Se
isso ocorrer, a China não será mais um comprador líquido de bônus dos EUA e de outros
governos, o que pressionará as taxas de juros desses países para cima.
É possível que, antes do fim da década, a China passe a ter déficit em conta corrente,
com o país importando mais do que exportando; e gastando a renda de seus
investimentos externos em importações e não em papéis estrangeiros
Embora atualmente esse cenário possa parecer implausível, na verdade é bem possível.
Afinal, as políticas que a China adotará nos próximos anos têm como alvo o enorme
índice de poupança do país - a causa de seu grande superávit em conta corrente.
Em qualquer país, o balanço em conta corrente é a diferença entre a poupança doméstica
e o investimento nacional em fábricas, equipamentos, residências e estoques. Esse fato
fundamental não é uma questão de teoria econômica ou algo historicamente periódico. É
uma identidade contábil fundamental da renda nacional que vale para todos os países,
todos os anos. Portanto, qualquer país que reduza sua poupança doméstica, sem cortar o
investimento, verá um declínio em seu superávit em conta corrente.
O índice de poupança doméstica da China - incluindo a poupança das pessoas físicas e
das empresas - está agora em cerca de 45% do PIB, a maior no mundo. Mais à frente,
no entanto, o plano quinquenal reduzirá o índice de poupança, uma vez que a China
busca aumentar o consumo doméstico e, dessa forma, o padrão de vida média dos
chineses.
O plano almeja maiores salários reais, de forma que a renda familiar, enquanto
participação do Produto Interno Bruto (PIB), aumentará. Além disso, as empresas
estatais terão de distribuir uma maior parte de seus lucros na forma de dividendos. E o
governo aumentará seus gastos em serviços como assistência médica, educação e
habitação.
Essas políticas são motivadas por considerações domésticas, uma vez que o governo
chinês tenta elevar o padrão de vida em ritmo superior ao do PIB, que está se
desacelerando. Seu impacto líquido será elevar o consumo como porcentagem do PIB e
reduzir o índice de poupança nacional. E, com essa queda na poupança, virá uma queda
no superávit em conta corrente.
Como o superávit em conta corrente da China gira atualmente em torno dos 6% do PIB,
se o índice de poupança cair dos atuais 45% para menos de 39% - ainda maior do que o
de qualquer outro país - o superávit se tornará déficit.
Essas perspectivas para o balanço em conta corrente não dependem do que vier a
ocorrer com a taxa de câmbio do yuan em relação às demais moedas. O desequilíbrio
poupança/investimento é fundamental e, sozinho, determina a posição externa do país.
A queda na poupança doméstica, contudo, provavelmente levará o governo chinês a
permitir uma maior valorização do yuan. Do contrário, o aumento no consumo doméstico
criaria pressões inflacionárias. Permitir a valorização da moeda ajudará o país a
compensar essas pressões e restringir o crescimento dos preços.
Um yuan mais forte reduziria a conta com as importações, incluindo os preços pagos pelo
petróleo e outros insumos, e tornaria os bens chineses mais caros para os compradores
estrangeiros, além de deixar os produtos externos mais atraentes para os consumidores
chineses. Isso reorientaria a produção voltada às exportações para o mercado interno e
reduziria, portanto, o superávit comercial, além de restringir a inflação.
O superávit comercial chinês e a taxa de câmbio do yuan estavam no topo da lista dos
assuntos discutidos pelos presidentes da China, Hu Jintao, e dos Estados Unidos, Barack
Obama, quando o primeiro foi a Washington neste mês. Os americanos estão ansiosos
para que a China reduza seu superávit e permita uma maior valorização do yuan. Mas
deveriam ter cuidado com o que desejam, porque um superávit menor e um yuan mais
forte sugerem que, algum dia, a China não será mais compradora líquida de bônus do
governo americano. Os EUA deveriam começar a planejar-se para esse dia.
Martin Feldstein é professor de economia em Harvard, foi presidente do
Conselho de Assessores Econômicos do ex-presidente dos Estados Unidos
Ronald Reagan e foi presidente do National Bureau for Economic Research.
--------------------------------O Estado de S.Paulo - 30/01/2011
Dois desafios
Affonso Celso Pastore
A aceleração da inflação é uma preocupação do governo. A valorização do real é outra.
Os ingressos de capitais serão ainda mais estimulados pela elevação da taxa de juros
necessária para trazer a inflação de volta à meta, acentuando a valorização do real. Para
minimizar este custo, o Banco Central se propõe a usar junto com a taxa Selic um novo
instrumento de política monetária, que são as medidas macroprudenciais.
Elas se distinguem das medidas microprudenciais, que são usadas para reduzir os riscos
de instituições financeiras individualmente. Medidas macroprudenciais produzem esse
mesmo efeito, mas evitam também um risco sistêmico, e por isso vêm sendo
crescentemente recomendadas nos fóruns internacionais. Há um conjunto grande de
medidas com essa característica, como a acumulação de reservas e os controles de
capitais, que podem evitar que o país seja exposto aos efeitos de reversões bruscas de
fluxos de capitais, ou as que evitam o descasamento de prazos no passivo e no ativo dos
bancos. O recolhimento compulsório sobre depósitos e os requisitos de capital maiores
em empréstimos de prazos longos abrangem esta segunda categoria.
O Banco Central do Brasil merece aplausos por usar medidas macroprudenciais evitando
o surgimento de risco sistêmico. Mas não temos uma experiência rica sobre os efeitos
dessa medida no controle da demanda agregada. Sabe-se que mudanças no
recolhimento compulsório e no requisito de capital para empréstimos de prazos mais
longos reduz a expansão do crédito e eleva os juros dos empréstimos. Existem, também,
evidências de que as vendas reais do comércio, no Brasil, são sensíveis (entre outras
variáveis) ao crescimento das novas concessões de crédito ao consumo em termos reais,
cuja velocidade cai com aquelas medidas. A direção do efeito é conhecida, mas não há
estimativas precisas sobre a sua magnitude. O BC estará caminhando em um território
novo, sujeito a incertezas.
O primeiro desafio enfrentado pelo BC é o de conter o crescimento da inflação usando
esses dois instrumentos. As projeções dos preços livres para 2011 aproximam-se
perigosamente de 6%, e isso não vem apenas de um choque temporário de preços de
alimentos, como insinua o ministro da Fazenda, mas predominantemente de uma
economia aquecida. A demanda agregada vem crescendo acima do PIB, estimulada pela
expansão do consumo das famílias e dos investimentos em capital fixo. A política fiscal
pode ajudar na tarefa do controle da inflação, mas, embora o superávit primário deva
crescer relativamente ao que ocorreu em 2010, é improvável que se atinja a meta de
3,1% do PIB, ficando na melhor das hipóteses próximo de 2,5% do PIB quando for
computado sem os artifícios que mascararam o seu comportamento no último ano.
Para piorar o quadro, enfrentamos um novo ciclo de elevação dos preços das
commodities, cujo nível supera, atualmente, o atingido durante a bolha que terminou em
2007. Este não é um movimento passageiro. O crescimento acelerado da China e dos
emergentes é uma das causas dessa expansão. A outra é a elevada liquidez
internacional, gerada pelas reações de política monetária dos EUA e da Europa.
A valorização do real e o aumento das importações líquidas têm sido aliados do Banco
Central na sua tarefa de trazer a inflação de volta à meta. Se um pedaço grande da
demanda doméstica em expansão não estivesse vazando para as importações líquidas,
pressionaria mais os preços domésticos, elevando ainda mais a inflação. Se o real não
estivesse se valorizando, o aumento dos preços de commodities em dólares causaria um
aumento maior desses preços em reais. Esses são dois benefícios da valorização do real.
Mas há custos. O Brasil vem ganhando relações de troca como nunca, que é uma das
forças que levam à valorização cambial. No entanto, esse ganho é devido somente à
elevação dos preços dos produtos básicos exportados, que seguem de perto o índice CRB
de preços de commodities. Os preços dos produtos manufaturados exportados e dos
produtos importados têm um crescimento muito menor, que não é suficiente para
compensar a valorização do câmbio real. Com isso, os exportadores de manufaturas e os
produtores domésticos de bens substitutos de importação perdem competitividade e
pressionam o governo para que "faça algo" com a taxa cambial.
O comportamento da taxa cambial impõe ao governo o seu segundo desafio. No mundo
econômico, benefícios sempre ocorrem ao lado de custos, e os governos são chamados a
fazer opões. O governo se sentiria mais confortável com o real mais desvalorizado, mas
enfrenta dois problemas. Primeiro, ao impor ao BC a tarefa de ser mais ativo no controle
da taxa cambial, que o obriga a ter um olho no diferencial entre a taxa doméstica e a
internacional de juros, reduz-lhe os graus de liberdade no controle da inflação, que é a
tarefa primordial que somente pode ser executada por ele. Segundo, luta contra forças
muito grandes valorizando o real.
A primeira são os ganhos de relações de troca, que valorizam as moedas de todos os
exportadores de commodities, como Chile, Brasil e Austrália, por exemplo. O segundo
são os abundantes ingressos de capitais. Ambos têm uma causa comum, as políticas
monetárias dos Estados Unidos e Europa. A outra causa é o processo de mudança
permanente de preços relativos de commodities, gerada pelo aumento de sua demanda
na China e em outros países emergentes.
Esse quadro de política monetária expansionista no mundo industrializado não tem
perspectivas de mudança no curto prazo. Por isso, teremos de continuar enfrentando
ingressos grandes de capitais, com a liquidez internacional exacerbando o aumento de
preços de commodities provocado pelo crescimento da China e dos demais emergentes.
O BC poderá, com suas intervenções no mercado de câmbio, evitar uma valorização
maior, mas este é o limite de sua capacidade, porque ao fazê-lo dispara forças que
atraem ainda mais os ingressos de capitais.
Um nível maior de reservas reduz ainda mais a percepção de risco por parte de
investidores internacionais. Com isso, os investidores são estimulados a aumentar suas
compras de ativos brasileiros, quer no exterior quer dentro das fronteiras do País. Esses
ingressos, que já eram estimulados pelas perspectivas favoráveis de crescimento
econômico e pelo diferencial elevado entre a taxa doméstica e a taxa internacional de
juros, são ainda mais estimulados pela percepção da queda do risco.
Finalmente, temos de lembrar que a esterilização das reservas acumuladas tem custos
elevados. Reservas são aplicadas em ativos internacionais líquidos, cuja taxa atualmente
é próxima de zero, e deverá persistir nesse nível por um extenso período. Para esterilizálas, o BC vende títulos públicos, cuja taxa de juros é bem mais elevada. Se computarmos
esse custo apenas sobre o nível de reservas que excede o razoável, e assumindo que
este nível razoável seja tão alto como US$ 100 bilhões, por exemplo, o governo estará
gastando a cada ano mais do que o total empregado em programas relevantes, como a
bolsa família. A esterilização exige do governo um esforço fiscal maior, mas o governo
nem sequer se propõe a discutir o tema, e continua falando em metas de superávit
primário sem estabelecer a ligação empírica entre o tamanho desta meta e a queda da
demanda agregada que aliviaria a pressão para a elevação da taxa de juros, de um lado,
e sem incluir nos seus cálculos o custo da esterilização da acumulação de reservas, de
outro.
ECONOMISTA E EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL. ESCREVE MENSALMENTE
PARA O "ESTADO"
----------------------------------Valor Econômico - 31/01/2011
Especulação cambial e controle de capitais
Mario Cordeiro de Carvalho Junior
Os operadores das mesas de câmbio têm, hoje, no Brasil, incentivos para obterem
ganhos diários, semanais e mensais, especulando com o real. A cada manhã, antes do
mercado abrir, eles definem suas estratégias de ganhos. Esta convenção vem da época
do Renascimento, quando se sentavam numa banca e compravam e vendiam moedas de
diferentes origens.
Para a mesma mercadoria - o real - eles estabeleceram preços diferentes para a compra
e para a venda. Este preço depende da posição do exportador (que vende moeda) ou do
importador (que a compra). A diferença entre esses preços é o spread. O lucro é obtido
multiplicando-se este valor pelo número de transações feitas por dia. Como o que vai
ocorrer ao longo do expediente bancário é incerto, sempre se esperava dos mercadores
de moedas prudência e que estes nunca ficassem vendidos além do capital inicial.
Depois, eles criaram uma inovação financeira, a "bill of exchange". Com isso, os lucros
começaram a ser obtidos pela transferência de moedas entre reinos diferentes - o que
hoje é feito eletronicamente pelo sistema Swift. Ao prestarem serviços aos exportadores
e importadores, os mercadores de moedas do século XVIII perceberam uma
regularidade: os clientes voltavam, mas em datas (dias) diferentes. Para juntar as
partes, criaram uma outra inovação financeira: de uma operação pronta, à vista ("spot")
derivaram uma operação para frente ("forward") em que se estabelece o preço de
entrega futura das moedas a uma taxa pré-estabelecida entre exportadores e
importadores.
Desse modo, os mercadores criaram o primeiro mercado de derivativos da história. Por
ser trabalhoso montar operação por operação, os mercadores criaram o mercado de
futuros, no século XIX, que requereu concentração física, contratos por quantidade de
moedas negociadas e margens de garantias; e, no final do século XX, eles introduziram o
mercado de opções cambiais.
Lucra-se em todas essas operações e todas são inovações financeiras, humanas e
imperfeitas. O lucro foi ainda maior quando, ao invés de comprarem e venderem apenas
moedas diferentes no mercado spot e/ou no futuro, os operadores começaram a fazer
arbitragem de juros. Em outras palavras, passaram a ganhar com o diferencial entre o
nível da taxa de juros interna e externa.
Mas, esse ganho depende do grau de movimentação de capital. A história mostra que
este é relativo. Houve momentos de liberdade, e outros de controle. E, a bem da
verdade, esses mercadores têm historicamente função importante que é ajudar na
melhor alocação de recursos na economia. Mas, junto com essa nobre função, eles
também propiciam a especulação.
Hoje em dia, face ao excesso de liquidez internacional, a especulação com o real ocorre
no mercado de câmbio futuro. Este mercado é líquido e não envolve desembolsos
grandes, o que viabiliza a "alavancagem" dos bancos. Para impor prudência aos
operadores, o Banco Central (BC) estabeleceu um depósito compulsório sobre as
posições vendidas com base no capital dos bancos.
Essa exigência apenas reproduz a convenção existente desde o Renascimento de que os
mercadores de moedas nunca deveriam ficar mais vendidos que o seu capital inicial.
Se as autoridades quisessem realmente conter a especulação em curso, elas teriam de
alterar também as garantias depositadas para honrar as margens no mercado futuro; e
elevar ainda mais o IOF sobre os investimentos estrangeiros em renda fixa para diminuir
a rentabilidade da arbitragem.
Além dessas medidas, seria necessário ainda reduzir a mobilidade do capital na nossa
economia. Isso requer a imposição de controle inteligente de capital. Este tem de
simultaneamente reduzir o volume líquido das entradas de capitais; alterar a composição
dos fluxos de capitais; e reduzir as pressões sobre a taxa de câmbio real e efetiva.
O Conselho Monetário Nacional (CMN) poderia autorizar o BC a não aceitar empréstimos
e financiamento externos para financiamento de comércio exterior e entre empresas para
financiamento ao consumo doméstico de bens duráveis.
O BC adotaria leilões de liquidez em moeda nacional, como o Term Auction Facility (TAF)
do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Em termos legais, esses leilões
podem ser feitos face ao exposto no artigo primeiro da Lei 11.882/2008, e do artigo 4º
da Lei 4.595/64, que confere competência para regulamentar as operações de
redesconto. Essas operações substituiriam os financiamentos ao comércio exterior e
intercompanhias, que também poderiam ser substituídas por empréstimos lastreados nas
reservas internacionais, com base na Lei 11.882/2008.
Esses empréstimos das reservas deveriam ser feitos para o Fundo Soberano, que por sua
vez, poderia fornecer recursos para o setor privado e as exportações.
O governo deve ainda encaminhar ao Congresso Nacional legislação para repatriar o
capital brasileiro que fugiu do país. Para atuar sobre portfólio, o governo deveria
determinar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o estabelecimento de novos critérios
para a operação de fundos de investidores estrangeiros. Prioridade deveria ser dada para
a constituição de fundos imobiliários, para infraestrutura e criação de empresas, impondo
prazos de permanência e garantindo a não incidência de impostos, tributos e gravames
sobre esses recursos.
Uma medida que não deveria ser adotada de modo algum é exigir depósitos não
remunerados como mecanismo de quarentena para a entrada de investimentos externos.
Isto afugenta o capital internacional e cria fricções desnecessárias. Se tiver que ser
adotado, este instrumento deve ser eventual e só aplicado sobre o capital especulativo.
Estamos em guerra cambial, e não dá para esperar por medidas do G-20 e da
Organização Mundial do Comércio (OMC). Se as medidas aqui propostas forem adotadas
serão reduzidos a entrada de capital estrangeiro, a apreciação da taxa de câmbio real e
efetiva, e a especulação cambial. Depende apenas de decisão soberana e unilateral
brasileira, e de governo.
Mario Cordeiro de Carvalho Junior é professor da FAF/UERJ
------------------------O Estado de S.Paulo - 30/01/2011
A nova política econômica
Amir Khair
Dilma enfrentará problemas sérios nos campos da inflação, câmbio, contas internas e
externas, procurando conjugá-los com níveis de crescimento superiores a 5% ao ano,
com distribuição de renda. Não será tarefa fácil e ela deve montar uma estratégia que
melhor conduza ao sucesso desses desafios.
Algumas análises defendem um ajuste fiscal com redução das despesas de custeio para
abrir espaço à elevação dos investimentos do governo federal e elevação da Selic para
conter a inflação. Afirmam que a expansão das despesas do governo aumenta a
demanda que pressiona a inflação e reduz a poupança do governo, que fica dependente
da poupança externa para poder crescer 5% ao ano.
Outras análises recomendam que o ajuste fiscal seja feito com racionalização e
priorização das despesas, com ênfase na redução das despesas com juros (redução da
Selic) para elevar investimentos e poupança pública. Afirmam que 90% dos
investimentos são de empresas, baseados principalmente em lucros e em forte ascensão
com o crescimento do consumo. Para conter a inflação defendem políticas amplas com
controle da oferta de crédito, estímulos à produção e investimentos e política de
comércio exterior via tarifas e quotas para importação e exportação em casos de
concorrência desleal e/ou de abuso nos preços internos por falta de concorrência.
Consideram que as taxas de juros ao consumidor se descolaram da Selic, pois de abril a
novembro caíram dois pontos ao passo que a Selic subiu 2 pontos. Para as empresas
subiram 2,3 pontos. Assim a Selic, não altera a demanda e pune a oferta.
A despesa do governo é a soma de custeio, investimentos e juros. Se os investimentos
mais os juros superarem a redução do custeio há aumento da demanda com pressão
inflacionária. Além disso, 70% dos fatores que influenciam a inflação não dependem do
Banco Central (BC). São os preços externos, choque de oferta, preços de alimentos e
commodities, tarifas do transporte coletivo, energia e comunicações. Assim, a adoção da
Selic para combater a inflação é inadequado e prejudicial, pois: a) aumenta as despesas
com juros do governo federal e para o carregamento das reservas internacionais; b) em
decorrência aumenta a demanda pressionando a inflação; c) não aumenta as taxas de
juros ao consumidor, ou seja, não reduz a demanda; e) onera as pequenas e médias
empresas cujos juros se elevam com a Selic; f) desestimula os investimentos privados e;
g) atrai o capital especulativo internacional.
A nova política - tudo começou com a decisão do Conselho Monetário Nacional de reduzir
a liquidez e encarecer o crédito para financiamentos superiores a 24 meses, que já
produziram efeito para atenuar a demanda. Dados do BC mostram que essa decisão
causou uma elevação de 4,5 pontos nas taxas de juros para o consumidor em duas
semanas e reduziu o ritmo de expansão do crédito. Em sequência foram impostas
exigências aos bancos para reduzir a posição vendida em dólares através de maior ônus
nos depósitos compulsórios para atenuar a valorização cambial do real. Constituem as
primeiras medidas da nova política e foram ministradas em dosagens brandas.
Intensificação delas e novas medidas poderão ser usadas para controle da demanda via
crédito e de redução da valorização cambial. O poder de fogo delas dependerá só do
governo, sem passar pelo Congresso. Portanto, o governo pode pilotar a demanda e o
câmbio como desejar.
Faz parte da nova política a redução da Selic para níveis internacionais. Isso irá
proporcionar a elevação da poupança do setor público e privado e romper com a tradição
do BC operar com as taxas básicas de juros mais elevadas do mundo - o triplo do
segundo colocado! Portanto, não falta espaço para o ajuste fiscal e melhoria da poupança
necessária à sustentação de níveis mais elevados de crescimento e menor dependência
da poupança externa.
No combate à inflação é fundamental separar o impacto dos preços externos. A expansão
dos países emergentes incorporou novos consumidores, ampliando a demanda por
alimentos e commodities. Problemas com quebras de safras em alguns países agravaram
o atendimento à demanda causando a elevação de preços destes bens. Outro agravante
é a especulação em cima desses bens como reação ao forte aumento da liquidez
internacional adotada pelos países desenvolvidos para o enfrentamento da crise. Em
sentido oposto registra-se uma contenção/queda nos preços dos demais produtos
importados devido à maior concorrência internacional, fruto da necessidade de colocação
das produções chinesa, americana e europeia para superar a estagnação econômica dos
países desenvolvidos e da perda de valor do dólar perante as outras moedas. Todos
esses fatores continuarão repercutindo na inflação mundial.
No ano passado o país importou um volume 13,9% maior que o de 2008, mas o preço
médio caiu 8%, segundo a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex),
mas a inflação de origem externa de alimentos e commodities predominou sobre a
redução dos preços dos demais bens importados e começou a nos atingir a partir de
setembro após inflações nulas de junho, julho e agosto - apesar da economia ser
considerada aquecida. Só os alimentos foram responsáveis por 40% da inflação em
2010. Se considerarmos as commodities, mais da metade da inflação escapou do
controle do governo.
Neste início de ano é de se esperar níveis elevados de inflação devido às fortes chuvas,
material escolar, passagens de ônibus, IPTU, IPVA e outros, que irão se somar à inflação
importada.
Isso servirá de pretexto adicional ao BC para elevações da Selic. Mas cada aumento de
0,5 ponto percentual na Selic ocasiona uma elevação das despesas e da demanda do
governo de 0,2% do PIB. Supondo que a série de elevações da Selic neste ano atinja 2,0
ponto porcentual, o dano fiscal alcançaria 0,8% do PIB (R$ 30 bilhões) num ano!
O mercado financeiro está atribuindo essa nova elevação inflacionária ao excesso da
demanda e pressionam o BC a elevar a Selic, como se isso resolvesse o problema de
baixar a inflação. O que causa estranheza é que, segundo o BC, a alteração da Selic leva
nove (!) meses para fazer efeito, mas é imediato na elevação das despesas/demanda do
governo com juros que decorrem da dívida interna e no custo do carregamento das
reservas internacionais, este último estimado em R$ 50 bilhões (1,4% do PIB) em 2010.
Ou seja, o BC acaba causando o oposto do que se deseja na contenção da demanda e no
ajuste fiscal necessário ao manter a Selic elevada.
Nas contas externas é necessário considerar o efeito danoso da valorização do real
devido à atração que a Selic exerce sobre os especuladores internacionais, causa
apontada pelo setor real da economia como principal indutor do processo de
desindustrialização. A manchete do Estado do dia 10 destaca o estudo da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no qual a indústria perdeu R$ 17,3 bilhões e
46 mil postos de trabalho em apenas nove meses de 2010, com importação.
A estratégia adotada pelo BC, desde o Plano Real, para controlar a inflação baseada na
Selic elevada (âncora cambial) está sendo anulada pelo Ministério da Fazenda que elevou
o IOF para 6% e poderá elevar ainda mais, para anular os ganhos especulativos dos
investidores estrangeiros com títulos do governo. Se subir a Selic, subirá o IOF.
Enquanto houver ganhos nessas aplicações elas permanecerão no País, mas caso sejam
anulados ocorrerá saída líquida de dólares com lucros aos capitais aplicados e
consequente desvalorização do real.
Nesse caso a importação diminuirá, pois ficará mais cara. Isso poderá causar inflação,
mas o governo poderá combatê-la com políticas articuladas fiscais, monetárias,
alfandegárias, de abastecimento e outras. Por outro lado, aumentarão as exportações
elevando a balança comercial e reduzindo as perdas com balança de serviços (remessa
de lucros e dividendos, royalties, viagens internacionais, etc) contribuindo para melhor
desempenho das contas externas.
Perspectivas: crescimentos de 5%, com redução de um ponto porcentual da Selic por ano
e superávit primário de 1,9% do PIB, permite obter ao final de 2014, equilíbrio fiscal e
dívida líquida de 30% do PIB. Se o crescimento for de 4%, basta superávit primário de
2,2% do PIB. Nos dois casos a despesa com juros em 2014 seria de 2,1% do PIB,
portanto, próximo do nível internacional.
Mantendo políticas de estímulo ao consumo para ampliar o mercado interno, se garante
nível adequado de crescimento econômico. Reduzindo a Selic ao nível internacional fica
garantida de forma eficaz e rápida a maior parte do ajuste fiscal e, racionalizando e
priorizando despesas, se completa o ajuste. Tributando os investimentos estrangeiros
especulativos, reduz-se a apreciação do real, o rombo nas contas externas e aumenta a
arrecadação. Resta ver se o governo vai fazer o que ainda resta a ser feito. Vamos
aguardar.
MESTRE EM FINANÇAS PÚBLICAS PELA FGV E CONSULTOR
---------------------------O Estado de S.Paulo - 31/01/2011
A trilogia impossível
José Márcio Camargo
A inflação está de volta às manchetes. China, Brasil, Índia, Colômbia, Coreia do Sul,
União Europeia, Inglaterra, enfim, apenas os Estados Unidos e o Japão continuam com
taxas de inflação estáveis ou em queda. O irônico é que a principal causa da volta do
fenômeno inflacionário é o excesso de liquidez gerado pela política monetária do banco
central americano, o Fed. Como ele emite dólares, que é a moeda utilizada para as
transações comerciais e financeiras internacionais, um aumento de liquidez acima do que
a economia americana é capaz de absorver é automaticamente desviado para o resto do
mundo, aumentando a demanda por bens, serviços e ativos reais e financeiros nos
outros países. O resultado é a pressão sobre os preços dos bens, commodities e serviços
(inflação) e o aumento dos preços dos ativos reais e financeiros (bolhas).
Apesar da aceleração da taxa de inflação, as taxas de juros reais continuam muito abaixo
de antes da crise econômica de 2008/2009, e os bancos centrais têm resistido a
aumentá-las preventivamente, o que diminuiria os custos da estabilização.
A resistência dos bancos centrais deve-se a dois fatores. Nos países desenvolvidos, as
economias ainda não retomaram uma trajetória de crescimento sustentável, continuam
com grande ociosidade e elevadas taxas de desemprego. Na verdade, com os atuais
níveis de taxas de juros e liquidez, os elevados déficits fiscais e ociosidade, essas
economias deveriam estar "voando". Ao contrário, elas estão apenas começando a
"engatinhar". Um aumento dos juros, nessas condições, traz consigo o risco de uma
diminuição do já baixo crescimento, o que poderia levar a um duplo mergulho na
recessão, o que os bancos centrais pretendem evitar a qualquer custo.
Entre os emergentes, a questão é que o excesso de liquidez tem gerado forte pressão
por valorização das taxas de câmbio. Dado o diferencial (atual e esperado) de
crescimento e de juros entre os países desenvolvidos e os emergentes, a liquidez
excedente tem se deslocado na direção desses últimos, gerando aumento da oferta de
dólares e sua desvalorização. Isso afeta a competitividade das empresas desses países,
reduz as exportações e aumenta as importações, com efeitos negativos sobre o
crescimento. Para evitar uma excessiva valorização das moedas e um possível risco de
desindustrialização, os bancos centrais intervêm no mercado de câmbio, criam controles
de capitais e evitam aumentar os juros.
Porém, em economia, nem tudo é possível e restrições precisam ser respeitadas. Em
especial, sabe-se que é impossível adotar, simultaneamente, câmbio fixo, política
monetária independente e liberdade do fluxo de capitais.
Suponha, por exemplo, que o país adote uma política de câmbio fixo. Se a taxa de juros
interna for maior que a externa, o país atrai capitais internacionais e o fluxo de capitais
aumenta, o que gera pressão por valorização da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio
nominal permanecer constante, o aumento de liquidez leva a um aumento da taxa de
inflação e, portanto, a uma valorização real da moeda. O aumento da inflação gera
expectativa de aumento dos juros, o que eleva o fluxo de capitais e a pressão por
valorização cambial. Nesse caso, a solução seria introduzir controles sobre o fluxo de
capitais, ou flexibilizar a política cambial, ou adotar a política monetária de seus parceiros
comerciais.
Os países emergentes bateram nessa restrição. Para evitar a valorização de suas
moedas, estão introduzindo controles de capitais e tornando suas políticas monetárias
mais dependentes da adotada pelo Fed, mantendo taxas de juros muito baixas e
aceitando uma taxa de inflação mais elevada. Com isso, suas taxas de câmbio real estão
se valorizando, ainda que as taxas nominais possam permanecer constantes, ao mesmo
tempo que os controles de capitais e as intervenções no câmbio têm se intensificado.
Em países como o Brasil, com baixa taxa de poupança, um risco adicional é de que a
introdução de controles acabe afugentando os capitais de longo prazo, dificultando o
financiamento do déficit em conta corrente e forçando uma redução drástica do
crescimento.
Porém o problema estrutural persiste. Enquanto o Fed insistir com sua política de gerar
liquidez excessiva, as pressões inflacionárias continuarão a se aprofundar. A menos que
os países emergentes decidam atacar o problema com políticas monetárias mais duras do
que as atualmente vigentes, aceitem uma valorização mais pronunciada de suas moedas
com menos crescimento ou decidam fechar sua conta de capitais. Eventualmente, os
aumentos dos preços das commodities acabarão chegando à economia americana,
gerando pressões inflacionárias e queda da renda real e do consumo, o que poderá afetar
negativamente o crescimento. Por outro lado, caso as expectativas de inflação sejam
afetadas, poderão forçar o Fed, o Banco Central Europeu ou o Banco da Inglaterra a
reduzir a liquidez e aumentar os juros. É a trilogia impossível.
ECONOMISTA DA OPUS GESTÃO DE RECURSOS E PROF. DO DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA DA PUC/RIO
-------------------------------------Valor Econômico - 31/01/2011
Os três governos de Lula
Pedro C. Ferreira e Renato F. Cardoso
Segundo muitos analistas econômicos, a condução da política econômica do governo Lula
se dividiria em dois períodos distintos. O primeiro coincidiria com a gestão de Antonio
Palocci no Ministério da Fazenda, quando o conservadorismo fiscal marcou a
macroeconomia, enquanto a ousadia restringiu-se à microeconomia, tendo-se implantado
importantes reformas em várias áreas, notadamente a do crédito.
No segundo período, quando Guido Mantega substituiu Palocci, teria sido inaugurada uma
postura fiscal mais frouxa, com uma agenda microeconômica tímida e um viés
desenvolvimentista. Em comum aos dois períodos se destacariam as políticas sociais
agressivas - expansão do programa Bolsa Família, aumentos reais do salário mínimo, por
exemplo - e a preservação da herança bendita do governo FHC, resumida no tripé
superávit primário com câmbio flutuante e regime de metas de inflação.
A divisão acima é muito simplista, pois o período que coincide com a gestão Mantega
deve ser dividido entre os sub-períodos pré e pós crise de 2008. Após a saída de Palocci,
em março de 2006, houve um afrouxamento da política fiscal e arrefecimento das
reformas microeconômicas, mas não a ponto de comprometer a trajetória anterior.
Fragilizado pelo escândalo do mensalão, o governo buscou apoio junto à sua clientela
política, o que implicou em mais concessões aos servidores públicos e maiores correções
do salário mínimo. Reduziu-se a velocidade do barco, mas se preservou seu rumo
anterior.
A crise de 2008, entretanto, forneceu o pretexto para avalizar uma violenta inflexão que
perdurou até o fim do segundo mandato de Lula. A postura fiscal após a crise de 2008,
que muitos consideraram uma mera intensificação das políticas inauguradas em 2006,
consistiu numa abrupta guinada ditada por motivos ideológicos e não apenas
econômicos. O diagnóstico era de que a crise havia desmascarado a farsa do Estado
enxuto, o embuste do modelo neoliberal. Em vez de uma política fiscal transitoriamente
expansionista justificada pela crise, aumentaram-se gastos permanentes em consonância
com a visão de que, no novo mundo pós-crise, o Estado passaria a ocupar perenemente
uma maior fatia da economia.
O novo papel do Estado, num mundo em que o neoliberalismo teria sido derrotado,
inspirou uma série de políticas gestadas fora do Ministério da Fazenda. A mudança do
marco regulatório do petróleo, marcada pela deliberada hipertrofia da Petrobras,
sinalizou uma volta aos anos 1970 em que o Estado liderou diretamente os grandes
investimentos. A ressurreição da agonizante Telebrás, ainda que em sua nova roupagem
de provedora de banda larga, mostrou que o Estado empreendedor estava de volta. Por
pouco não se criou uma grande empresa estatal na área de seguros.
Mas a grande novidade na fase pós-crise foi a ressurreição do Nacional
Desenvolvimentismo. Não apenas a Petrobras seria mais estatal do que antes, como
passaria a atuar como geradora de externalidades para a indústria brasileira,
incentivando setores específicos independentemente dos custos incorridos, conforme
atesta a queda de 30% do valor de suas ações. Os bancos públicos foram instados a
expandir o crédito em ritmo inédito, recuperando o espaço perdido para os bancos
privados ao longo dos anos de dieta. As sucessivas capitalizações do BNDES - em torno
de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) - abriram portas para a distribuição de generosos
subsídios a setores e empresas escolhidos por sábios tecnocratas guiados por critérios
pouco claros.
No início de 2010, a economia já dava sinais de rápida recuperação, o que deveria ter
resultado numa reversão da política fiscal expansionista implantada no ano anterior. Mas
a necessidade de eleger uma candidata sem experiência nas urnas motivou a ampliação
adicional dos gastos. A fim de manter as aparências de responsabilidade fiscal, num
criativo malabarismo contábil, a capitalização da Petrobras permitiu ao Tesouro
transformar receitas incertas e longínquas em aumento imediato de sua participação
acionária na estatal, além de obter 1% do PIB de ajuda para cumprir a meta de superávit
primário.
Para segurar a inflação provocada pela explosão do consumo, coube ao Banco Central
voltar a elevar a taxa de juros. Num ambiente em que os grandes países adotam
políticas monetárias flagrantemente expansionistas, agravou-se a valorização cambial,
com consequente ampliação do déficit em conta corrente e redução da competitividade
da indústria nacional.
Os primeiros sinais emitidos pela presidente Dilma são de correção do rumo tomado após
a crise de 2008, mas não está claro se o modelo escolhido será o que coincidiu com a era
Palocci, ou o que vigorou em seguida até a eclosão da crise. A regulamentação da
reforma previdenciária dos servidores públicos, aprovada em 2003, mas abortada pelo
mensalão em seguida, seria um alvissareiro sinal concreto. O engavetamento definitivo
de qualquer possibilidade subsídio ao megalomaníaco projeto do trem bala indicaria um
retorno à racionalidade econômica. Afinal, o mínimo que se espera de um país que poupa
pouco é que aloque eficientemente a limitada poupança disponível.
Pedro Cavalcanti Ferreira e Renato Fragelli Cardoso - Professores da Escola de
Pós-graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas.
------------------------------O Estado de S.Paulo - 30/01/2011
Resultado primário ou nominal?
Amir Khair
São comuns análises do mercado financeiro e de algumas consultorias sobre a situação
das finanças públicas via resultado primário (receitas menos despesas exclusive juros).
Não fazem o acompanhamento pelo resultado nominal (receitas menos despesas
inclusive juros), que mede o resultado final das contas públicas. Será porque o País é
campeão mundial das taxas reais de juros há vários anos?
Exemplo interessante ocorreu em 2005 e 2009, quando foram registrados,
respectivamente, o melhor e o pior resultado primário desde 1999, mas com o mesmo
resultado nominal de déficit nominal de 3,2% do PIB, pois os juros foram menores em
2009 do que em 2005.
O governo estabeleceu como meta para 2014 zerar o resultado nominal e, para isso, vai
reduzir a taxa real de juros dos atuais 5% para 2%. Com isso, prevê redução da relação
dívida/PIB dos atuais 41% para 30%.
Mas esse último objetivo não será atingido se não cessarem as políticas de emitir títulos
do governo para emprestar ao BNDES e elevar as reservas internacionais. Isso infla a
dívida bruta, o que aumenta a despesa com juros, embora, de imediato, fique inalterada
a dívida líquida. Provavelmente será eliminada/atenuada a política de recursos para o
BNDES via estímulos ao setor bancário privado, mas é preocupante a elevação das
reservas internacionais. Argumenta-se que essas reservas correspondem a apenas 14%
do PIB, comparadas com China (53%), Índia (24%), Rússia (41%), Coreia do Sul (35%)
e Arábia Saudita (109%). Ocorre que nesses países o custo de carregamento das
reservas é baixo, pois suas taxas de juros são bem inferiores às nossas.
Caso não ocorram os problemas acima e haja mudança na política monetária com a Selic
tendendo para o nível internacional a partir de 2011, será possível, antes de 2014,
atingir as metas fiscais.
O importante é que o governo cumpra o que já afirmou por diversas vezes o ministro
Mantega: que o acompanhamento dos resultados fiscais será feito a partir de 2011 pelo
resultado nominal, levando em conta o impacto da política monetária - no caso, da taxa
de juros - e da política cambial - no caso, o nível das reservas internacionais. É
importante ressaltar que esses impactos monetário e cambial têm hoje maior peso na
questão fiscal do que as alterações que têm ocorrido nesses anos no resultado primário.
Mas, apesar da forte influência das políticas monetária e cambial na questão fiscal, isso
não exime o governo da responsabilidade de conseguir realizar mais com os mesmos
recursos. Para isso, deve impor rigorosa disciplina orçamentária aos ministérios com
liberação de quotas só para despesas, aprovadas como prioritárias dentro de custos
racionalizados.
O esforço fiscal, no entanto, não é só do governo federal. Ele estende-se aos Estados e
municípios, responsáveis por metade da despesa pública, e sobre isso as análises são
difíceis, ou até impossíveis, por causa da falta dessas informações em tempo hábil.
Vamos aguardar para ver se neste ano ocorre avanço no grau e abrangência de
acompanhamento das finanças públicas. O mínimo desejável no curto prazo é que se
escape da insuficiência analítica de olhar apenas o resultado primário.
MESTRE EM FINANÇAS PÚBLICAS PELA FGV E CONSULTOR
--------------------------------Valor Econômico - 31/01/2011
Nacionalismo permite entender a
globalização
Sergio Leo
A estreia do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini como porta-voz do governo
para a comunidade internacional incluiu um almoço do Fórum Econômico Mundial
encerrado ontem, em Davos, na Suíça. Enquanto a nova autoridade monetária do Brasil
discursava sobre a solidez da economia brasileira num inglês perfeito, bem humorado e
um tanto distante do microfone, um convidado, Keneth Hersh, administrador de US$ 9,5
bilhões em fundos de investimento em energia, comentava, em uma mesa afastada, por
que o setor agrícola, responsável por apenas 1,2% da economia dos EUA, tem um dos
lobbies mais eficientes no poderoso Congresso americano.
"Iowa é o Estado responsável pelo lobby que garante subsídios agrícolas ao milho nos
EUA, e sustenta tarifas contra o etanol importado do Brasil", lembrava Hersh, fundador e
presidente da NGP Energy Capital Management. "É o Estado com os mais antigos
senadores, Bill Grassley, republicano, e Tom Harkin, democrata; juntos, somam quase
60 anos no Congresso".
Acontece que Iowa é também o primeiro lugar onde se realizam as primárias nos EUA,
que dão impulso às candidaturas presidenciais. Contrariar poderosos políticos locais é
impensável para qualquer candidato a presidente americano, e é essa uma das maiores
razões para o sucesso do lobby agrícola, diz ele.
Exata ou não, essa peça de ciência política informal lançada sobre a mesa em um almoço
de Davos serve para recordar como temas locais ditam tendências mundiais, embora a
crise financeira internacional não tenha interrompido o processo inevitável de
globalização. Muitos analistas defendem a tese polêmica de que os subsídios ao etanol
americano estão entre os maiores responsáveis pela crise alimentar global, porque
estimulam produtores de milho desviar para a produção de álcool boa parte dos grãos
que serviriam de alimento. "É algo quase criminoso", exagera Hersh.
Na discussão aberta a todos que se seguiu ao almoço, outro ocupante da mesa de
Tombini, Alberto Weisser, presidente da Bunge, uma das maiores produtoras de grãos do
mundo, afirmou que o aumento dos custos, em dólares, para os produtores de soja e
cana de açúcar no Brasil têm criado um piso de preços para as cotações agrícolas,
ajudando a sustentar a inflação das commoditties no mundo todo, já que os produtores
locais só são incentivados a aumentar a produção (e a oferta) com preços bem mais altos
que a média histórica.
Uma das razões para esse aumento de custos é local, o salário mínimo. A outra, a
desvalorização do dólar, no Brasil e no resto do mundo, é empurrada pela política
monetária americana, que despeja no mercado US$ 600 bilhões para estimular a
recuperação econômica nos EUA e gerar emprego. Pode-se até argumentar que essa
recuperação beneficia o mundo todo, ligado direta ou indiretamente à demanda
americana. Mas a motivação para o afrouxamento da autoridade monetária nos EUA é o
interesse local, não uma estratégia da política externa.
No outro polo do poder mundial o panorama é semelhante: pressionada por países de
todos os continentes a valorizar a própria moeda, que, atrelada ao dólar baixo, turbina as
imbatíveis exportações chinesas, a China diz que fará o que deve fazer, do seu modo, a
seu tempo.
Como lembrou o economista-chefe do HSBC, Stephen King, em conversa com pequeno
grupo de jornalistas no Fórum, a China, que já sofre pressões inflacionárias e de
competitividade com o aumento de salários locais, teme o exemplo do Japão, que, nos
anos 80, valorizou a moeda e engatou uma estagnação da qual não saiu até hoje. O
Japão tinha um nível de renda que lhe permitiu a estagnação econômica sem grandes
perturbações políticas; a China não tem essa saída, comentou King.
Não houve ilusões em Davos de que os países relevantes no cenário internacional
abdicarão de interesses imediatos em favor de um futuro menos incerto para a
recuperação econômica. Não à toa, o Fórum começou com uma palestra em que o
economista Nouriel Roubini, criticou a falta de coordenação global, que se acreditava
possível com a ajuda do grupo das nações mais influentes do mundo, o G-20. Nem G-20
nem G-2 (China e EUA), o mundo está nas mão do Gzero, lamentou Roubini.
O comentário faz jus à fama de catastrofista do economista, um dos primeiros a ver a
chegada da crise de 2008, e revela um estado de espírito comum em Davos. "Nenhum
país está disposto a ceder soberania, mas há um meio termo entre a situação onde cada
faz o que bem entende e o extremo de fingir que somos um mundo unificado", comentou
ao Valor o vice-presidente da influente Comissão de Planejamento da Índia, Montek
Singh Ahluwalia, uma das estrelas do Fórum neste ano.
"Há alguma coordenação, o que é saudável. Mesmo sem um acordo claro, as pessoas
têm ideia de para onde o mundo está indo", argumentou o indiano. É a definição possível
do mundo globalizado: cada um por si, de olho nos outros.
Sergio Leo é repórter especial e escreve às segundas-feiras
-------------------------------O Estado de S.Paulo - 31/01/2011
E agora, como ficar rico?
Carlos Alberto Sardenberg
Considerem a seguinte tese: pode parecer exagerado e, de fato, é surpreendente, mas a
América Latina está em condições de ensinar, sobretudo aos países desenvolvidos, como
sair da crise e voltar a crescer. Podem reparar, a América Latina já pratica muitas
políticas hoje recomendadas na Europa e nos Estados Unidos, como um sistema bancário
sólido e regulado (não houve quebradeira na região) e controle das contas públicas,
incluindo os orçamentos dos governos estaduais e municipais, mercado de capitais sob
vigilância e responsabilidade monetária (ao contrário do que os Estados Unidos fazem,
por exemplo, espalhando seus dólares desvalorizados pelo mundo).
Quem anda defendendo essa tese em palcos internacionais? Lula? A presidente Dilma?
Na verdade, ouvi toda a história em uma exposição do presidente da Colômbia, Juan
Manoel Santos, na abertura do 3.º Fórum Econômico Internacional da América Latina e
Caribe, promovido na semana passada pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris. E ele não estava contando vantagem.
Apenas tentava explicar porque a América Latina passara bem pela crise e voltara a
crescer rapidamente.
Falou também de perspectivas. A América Latina tem uma população jovem, o que
significa que está colocando no mercado milhões de consumidores e trabalhadores na
formação das "novas classes médias". A região tem energia - incluindo aí carvão e
petróleo, com reservas novas descobertas em diversos países. Mas também existem
algumas possibilidades amplas na energia limpa ou verde: hidrelétrica, eólica e,
sobretudo, biocombustível.
A América Latina tem água e a biodiversidade das florestas (aliás, Santos contou que
uma empresa da Califórnia havia lhe mostrado uma novíssima tecnologia para medir e
avaliar as riquezas da Floresta Amazônica).
A América Latina é uma grande produtora de minérios e de alimentos, com a
possibilidade de expandir mais a oferta.
No campo social, uma boa notícia: a pobreza é uma questão bem encaminhada. Não
resolvida, claro, porque há milhões de pobres pela região. Mas, em praticamente todos
os países, essas pessoas são atendidas por algum programa de "transferência de renda
com condicionalidade", designação técnica de políticas tipo Bolsa-Família.
Foi um avanço notável, observa o diretor do Centro de Desenvolvimento da OCDE, Mario
Pezzini. Há dez anos, na virada do século, apenas três países da América Latina tinham
programas de transferência de renda: México (pioneiro), Honduras e Brasil. Hoje estão
por toda a parte e, mais importante ainda, em geral, funcionando bem.
Pode-se dizer, por aí, que o problema da pobreza extrema está resolvido? Sim, se isso
quer dizer que essas pessoas recebem renda mensal e regular suficiente para a
manutenção básica. Mas não, se a meta é criar condições para que essas pessoas deixem
de ser pobres e vivam por sua própria conta, quer dizer, com seu trabalho ou seus
empreendimentos.
E isso nos remete à agenda da América Latina, tal como foi debatido no fórum da OCDE.
Como dar o salto definitivo para a prosperidade? Ou, na palavra de Santos, como
podemos realizar "a década ou, quem sabe, o século da América Latina?".
A observar: se os leitores acharam que o presidente colombiano descreve muito bem a
situação brasileira, verificarão agora que as agendas propostas também caem como uma
luva para o Brasil.
Sim, somos muito parecidos.
A prioridade número um é a educação. Mais exatamente: educação pública de qualidade.
No geral, as crianças já estão na escola, mas aprendem pouco e mal. Esse é um fator de
injustiça social - os ricos vão melhor nas escolas privadas - e de baixa produtividade no
trabalho, uma restrição à prosperidade das famílias e do País.
A segunda prioridade está no emprego ou, mais amplamente, nas oportunidades de
trabalho. Há muito trabalho informal e, para os empreendedores, os que tocam o próprio
negócio, por necessidade ou por escolha, a formalização das empresas é complicada e
cara.
Outro risco para as famílias - que podem perder tudo de repente e cair da classe média
para a pobreza - e outra restrição ao crescimento.
A terceira é desenvolver e/ou melhorar os sistemas públicos de saúde, incluindo o
saneamento básico.
No âmbito da macroeconomia, a questão imediata é como lidar com o boom das
commodities (minérios e alimentos), puxado especialmente pela China, numa onda em
que todos os principais países da América Latina estão surfando desde o início deste
século.
Um dos temas do fórum da OCDE era: comércio de commodities, maldição ou bênção?
Esses produtos têm trazido navios de dólares para a América Latina, aos quais se somam
os recursos externos que entram para investimentos e aplicação financeira. A região,
sempre carente de dólares e com moedas locais desvalorizadas, agora tem sobra de
dólares e moedas valorizadas. Como lidar?
(A propósito: não há uma agenda comum da América Latina para lidar com a China nem
com os Estados Unidos e o ambiente global. A Colômbia, por exemplo, não está no G-20
e o presidente Santos disse que seu país não se sente representado por Brasil, México ou
Argentina, membros do grupo.)
Finalmente, está na agenda de todos a construção de uma infraestrutura - estradas,
portos, aeroportos - que permita ganhos de produtividade.
Como fazer? Nossos próximos temas.
JORNALISTA
----------------------------------Correio Braziliense - 29/01/2011
Por onde começar
Antonio Machado
Nada é mais urgente que romper o descompasso entre a demanda robusta e o
ritmo lento da produção
Das muitas prioridades sobre a mesa da presidente Dilma Rousseff, e são dezenas neste
início de governo, nenhuma se sobressai tanto quanto a urgência de romper o impasse
provocado pelo desequilíbrio entre a demanda robusta e o crescimento mais lento da
produção.
Cobra-se muito da nova presidente — como o aumento maior do salário mínimo e a
correção da tabela de desconto do Imposto de Renda pela inflação passada, pleitos das
centrais sindicais, e desistência do projeto da hidrelétrica de Belo Monte, pressão dos
ambientalistas. E, no entanto, maiores gastos públicos, menores receitas fiscais e
ameaça ao cronograma de expansão da oferta de energia elétrica são questões que
Dilma não pode atender. Se ceder, morrerá na praia.
Lula foi tolerante com as pressões, sobretudo por maiores gastos, porque vinha da crise
do mensalão, assustou-se com a crise global, estava empenhado em eleger o sucessor e,
pragmaticamente falando, sabia que as consequências do laxismo fiscal não cairiam
sobre as suas costas. Agora está feito, e não será Dilma que vai reclamar.
Os aliados é que deveriam demonstrar compreensão, mas seria pedir muito de gente
como o deputado Paulo Pereira, o Paulinho da Força (PDT-SP), que com sua habitual
rudeza queixou-se de Dilma, dizendo que FHC começou assim, ao relacionar a discussão
sobre o reajuste do mínimo e do desconto do IR com o período tucano. Não tem nada a
ver um período com o outro, e o presidente da Força Sindical sabe disso, mas por
pressões e chantagens como essas é que Lula largou a sua agenda de reformas
econômicas e sociais do primeiro mandato.
Dilma pode até não retomar as maiores, como a reforma tributária e a da Previdência,
mas não tem como ignorar mudanças pontuais, além de resistir a outras, como o
abandono do fator previdenciário e a redução da jornada de trabalho — temas da agenda
sindicalista e de parte dos parlamentares petistas, com apoio malicioso da oposição.
Até agora, a presidente tem se comportado com segurança diante dos achaques,
especialmente de setores espaçosos do PMDB, que resistem a abrir mão da direção de
empresas estatais, como Furnas — espécie de lupanar de peemedebistas do Rio —, ainda
que trate o imbróglio com distinção, já que não demonstra o mesmo empenho em
relação ao feudo dos Sarney na Eletronorte. E tem sido compreensiva com o PT.
Os riscos do legado
O risco de Dilma é se ver enrolada por uma agenda que não atende mais o interesse
nacional e acabar como o presidente Barack Obama, prisioneiro dos problemas legados
pelo antecessor George W. Bush.
Lula, para ela, não deverá ser problema, mas o seu legado sim, se os aliados forem
insensíveis. E, sobretudo, se Dilma não romper os descompassos do crescimento, growth
mismatch, em inglês, que tem abortado todos os ciclos de crescimento desde a falência
do modelo autoritário. Se o fizer, o ciclo atual da economia brasileira, que começa com o
real em 1994, estará pronto para outro salto.
Pororoca da demanda
O problema da economia brasileira não é técnico, mas político. O efeito riqueza foi
produzido na economia tanto pela melhora dos termos de troca do comércio exterior,
com o preço das commodities evoluindo muito acima do preço das importações, como
pelo aumento do crédito ao consumo, das transferências orçamentárias de renda e do
gasto público em geral. Isso vem se dando, especialmente depois de 2006, a um ritmo
muito maior que o do crescimento da produção.
Da junção dessas duas correntes, a da demanda vaza para pressões de preços —
combatidas com aperto monetário, que eleva os juros e atrai capitais externos, que
apreciam o real —, e importações, que reduzem o superavit comercial, exigindo mais
fluxos financeiros de fora para zerar as contas cambiais. Já a corrente da oferta, com o
baixo nível da poupança nacional, depende de investimento externo, o que ajuda a
deprimir o dólar, e de crédito público subsidiado.
Superavit ou juros
Com uma rápida batida de olhos, já se constata que o consumo, de modo geral, tem
mais forças a saciá-lo que o investimento, estando aí a incompatibilidade do crescimento
acelerado com estabilidade.
É por isso que importa a meta cheia de superavit primário de 3,1% do PIB, ou R$ 121,7
bilhões, este ano: para conter a demanda sem que o Banco Central estique a Selic além
do que sinaliza — aumento dos 10,75% ao ano, no fim de 2010, para 12,25% em
dezembro. Não é o risco fiscal, como sugere relatório do FMI, o que demanda superavit
primário maior, mas a troca entre mais ou menos arrocho monetário para enfrentar a
inflação. E essa escolha é política.
Lógica de Macunaíma
A decisão entre encolher o orçamento fiscal como parte das ações para o aumento não
inflacionário do investimento, e sem as quais o que resta é o porrete dos juros e o
controle do crédito pelo BC, ou deixar a inflação sentar raízes, é política. Mas muito
menos pelos motivos habitualmente arguidos envolvendo consequências sociais.
As consequências dizem respeito aos interesses não atendidos se o orçamento for
podado, sabendo-se que disponível à tesoura há só o gasto discricionário, normalmente
para obras originadas de emendas parlamentares. O ministro da Fazenda tem poder para
tesourar tais despesas públicas, se o presidente não se sentir ameaçado pela ira dos
aliados no Congresso, e dos lobbies que os mantém. É a lógica de Macunaíma: “Pouca
saúde e muita saúva, os males do Brasil são”.
--------------------------------------Correio Braziliense - 30/01/2011
Risco do frenesi
Antonio Machado
A inflação está pegando e o governo não pode ficar parado, mas não é o caso
para histerismos
Noves fora que a inflação está pegando e o governo não pode ficar parado, não se deve
tomar problema pontual como permanente. É o que supõem as análises segundo as
quais o Banco Central está muito “atrás da curva”, jargão de economistas para falar da
tal “taxa de juros neutra”, aquela que permite o crescimento sem inflação.
É cedo para avaliar que a inflação chegou para ficar. Também o é para falar de riscos
fiscais, sentido de estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em que o Brasil surge
misturado aos problemas dos EUA e Japão — ambos com deficits orçamentários da
ordem de 10% do PIB e dívida pública de 84% do PIB (EUA) e 225% (Japão).
As duas questões, a inflacionária e a fiscal, estão conectadas no Brasil, mas por razões
diversas da dos países avançados. A Zona do Euro, o Japão e EUA enfrentam
inconsistências fiscais gravíssimas, dependentes, para escapar da insolvência, de
crescimento econômico vigoroso, complementado por cortes de gastos, aumento de
impostos e alguma inflação para corroer a dívida pública acumulada.
EUA e Japão temem a deflação, que não há no Brasil. As ações que seus bancos centrais
têm tomado são expansionistas e substituem o incentivo fiscal que não conseguem mais
promover. Aqui, cogita-se o superavit primário, como é chamada a economia
orçamentária, não visando saneamento fiscal, já que não há esse risco. O deficit do
orçamento é baixo, estimado este ano em 2% do PIB, contra 2,96% em 2010. E a dívida
do setor público é metade da dos EUA, 40% do PIB.
O superavit primário é necessário como instrumento auxiliar ao BC para a contenção do
crescimento da demanda agregada sem que todo o peso do ajuste antiinflacionário recaia
sobre os juros e o aperto do crédito. Não é a mesma motivação que vai aos EUA e à
Europa, por exemplo, que por ora nem falam em ajuste fiscal, mas de bancar os pesados
fardos resultantes do resgate de bancos da insolvência.
Tais argumentos fazem mais sentido para defender a estratégia do governo Dilma, e os
diferenciais da economia brasileira em relação à dos países avançados, que o falatório do
ministro Guido Mantega contra o relatório do FMI. Ele fez blague das criticas do FMI, o
que não parece pertinente a um ministro de Estado, ainda mais por falar da realização da
meta de superavit primário de 3,1% do PIB, em 2010, conseguida por meio de alquimias
contábeis.
E para que, se tal resultado só se justifica se obtido por meio de poupança em dinheiro
sonante, já que não há, como ele diz com razão, nenhuma crise fiscal? É muita confusão
a troco de nada.
Credibilidade em jogo
A troco de nada? Não, a troco da perda de credibilidade das metas econômicas do
governo Dilma, o que só serve à especulação dos que vivem o curtoprazismo da
expectativa da inflação para faturar em cima dos juros dos papéis do Tesouro e das
apostas sobre a Selic.
Não há, ao contrário, sinais de que o quadro inflacionário esteja descontrolado, não
obstante pareça hoje claro que a retomada ou do aumento dos juros ou da contenção de
crédito devesse ter começado já no último semestre e não em dezembro com as medidas
prudenciais — como o Banco Central chamou o aperto do financiamento do consumo —,
e da Selic este mês. É possível que o BC de Henrique Meirelles quisesse saltar o período
eleitoral sem marolas. Mas isso passou.
Prudência emula Selic
Fato, como diz o economista Celso de Campos Toledo Neto, da LCA Consultores, é que as
medidas prudenciais do BC produziram já em dezembro queda da média diária das
concessões de crédito à pessoa física comparável à ocorrida após a quebra do Lehman
Brothers.
“Mesmo que parte dessa queda seja apenas ruído estatístico”, diz, “trata-se de resultado
equivalente ao que normalmente seria obtido com muitos pontos de aumento da taxa
básica de juro”.
A servidão dos juros
O mundo, enfim, não vai ruir na Presidência Dilma. Mas ela deve atentar para que não
caia o teto de seu governo, se relutar e vir a fazer uma contenção menor que a
necessária para que o custo do controle da inflação e dos deficits externos não onere só
o setor privado, entre empresas e famílias. Os interesses sustentados pelo governo,
exceto os programas sociais, é que precisam ser contidos.
Ponto importante, segundo Celso Toledo, é saber quanto o governo cortará do orçamento
e em que medida será contida a concessão de créditos subsidiados. Ele estima um
“impacto bastante expressivo” sobre a demanda e a taxa de juro neutra um corte de R$
40 bilhões. É pouco, se for para nos livrar da servidão dos juros altos.
Governo como problema
Um mês de noticiário tomado desses velhos problemas não é um bom agouro para os
próximos quatro anos. Há coisas mais interessantes a fazer que manter a economia
orbitando problemas criados por um sistema político divorciado em boa parte do
interesse nacional e por concepções superadas de políticas públicas. Se o impasse está
na questão fiscal, o problema é o governo, não o setor privado.
---------------------------------O Estado de S.Paulo – 30/01/2011
Espigas chochas
Celso Ming
Desde José do Egito os dirigentes políticos tratam de garantir suprimentos de grãos para
a população.
E foi quando tratava de abastecer Roma com carregamentos de trigo que Pompeu, o
Grande, proferiu uma frase que se tornou lema de inúmeras companhias de navegação:
“Navegar é preciso, viver não é preciso”, ordenou ele ao capitão de seus navios que
insistia em permanecer no porto para não ter de enfrentar uma tempestade.
O presidente da França, Nicolas Sarkozy, prepara-se para assumir a presidência rotativa
do Grupo dos 20 (G-20) e avisou reiteradas vezes, a última delas em sua participação no
Fórum Econômico Mundial realizado essa semana em Davos (Suíça), que vai propor a
criação de um sistema global de estoques reguladores de alimentos. Ele acha que a
disparada dos preços das commodities está colocando em risco a segurança alimentar da
humanidade.
Há razões para desconfiar de que Sarkozy quer apenas montar um esquema que
aumente os subsídios agrícolas na França e em toda União Europeia, e, nessas
condições, recuperar a boa vontade do eleitor.
Estoques reguladores podem funcionar dentro de um determinado país quando se trata
de reduzir as perdas provenientes de quebras de safra. Mas não fazem sentido em escala
global.
Também desde José do Egito sabemos que há períodos de espigas cheias e vacas gordas
sucedidos por períodos de espigas chochas e vacas magras. No entanto, em escala
mundial, quando há um ano de seca em um continente, há ano de boas chuvas em outra
parte. A produção mundial tende a se compensar reciprocamente.
A atual escalada dos preços (veja o Confira) apenas em parte se deve a quebras de
safra, como é o caso do trigo, cuja cultura foi duramente atingida em 2010 pela seca na
Ucrânia, um dos grandes produtores. Para Sarkozy, o principal fator de alta é a
especulação financeira no mercado de derivativos. Segunda-feira, criticara a versão
preliminar de um relatório da União Europeia que concluiu que a especulação global na
área é irrelevante. Sarkozy recomendou que o documento fosse publicado no Dia da
Mentira, ou seja, em 1.º de abril. Ele parece ter interesse em que se eleja a especulação
como responsável por tudo porque também defende a criação de um imposto mundial
sobre transações financeiras (uma espécie de CPMF global), aparentemente porque quer
contar com mais dinheiro na mão.
É difícil escapar do diagnóstico de que o principal acelerador dos preços é mesmo o
aumento do consumo, especialmente pela população asiática, cujo poder aquisitivo
cresce rapidamente. Além de mais demanda para alimentação, cada vez maior volume
de grãos está sendo canalizado para a ração animal e para a produção de etanol,
especialmente nos Estados Unidos e na Europa.
A criação de um sistema global de formação de estoques reguladores tenderia a novas
distorções. Os preços subiriam ainda mais porque, além de atender ao consumo
crescente, seria preciso canalizar a produção para os armazéns.
Além disso, o simples crescimento dos estoques seria fator de derrubada de preços e,
portanto, de desestímulo da produção, especialmente em países de produtividade mais
baixa. Aparentemente, Sarkozy está forçando esse projeto para reforçar o orçamento de
subsídios do Plano Agrícola Comum (PAC), da União Europeia, e compensar com novas
jogadas a mediocridade de seu governo.
CONFIRA
O gráfico mostra com que força vêm evoluindo as cotações das commodities alimentares
no mercado global.
O salto da soja. A Consultoria Tendências projeta alta de 18,4% nos preços médios da
soja em 2011. Mas a esticada nas cotações do óleo de soja deve ser ainda maior, de
24,2%, em consequência de estoques baixos demais.
Moeda de troca. O banco que assumir o Panamericano vai resolver certos problemas do
governo. O que exigirá como moeda de troca?
-----------------------------------
ECONOMIA E OUTRAS NOTÍCIAS
ISTOÉ Dinheiro - 29/01/2011
China versus Brasil em Davos
Em Davos, na Suíça, já despontaram os dois maiores protagonistas, Brasil e
China, como era previsível.
por Carlos José Marques
Além de polarizarem as atenções, esses dois parceiros/adversários protagonizaram
também as melhores disputas. A China é hoje, disparado, o país que mais investe no
Brasil, liderando o ranking de inversões diretas no mercado interno com sonoros US$ 17
bilhões.
O volume de recursos despejado pelos chineses aqui representou pouco menos de um
terço dos quase US$ 53 bilhões do total de ingressos de capital estrangeiro ao longo de
2010.
Em dezembro último essa proporção chegou a 40% dos US$ 15,3 bilhões registrados no
mês. E, mesmo assim, o Brasil quer rever a relação bilateral, sob o prisma de uma
menor “invasão” dos produtos de lá para o mercado de cá – que estariam provocando
um início de desindustrialização local.
O ringue da batalha está montado no gelado cenário de Davos, onde os dois
contendedores foram buscar mais atenção. A China, que saiu de 2010 a todo vapor,
mostrou ali, para uma plateia atenta, que segue na balada.
E convenceu. O Brasil pleiteou e negociou maior espaço comercial no plano global porque
teme o risco de um déficit na balança - hoje estimado em ao menos US$ 1 bilhão, como
saldo negativo para o final de 2011, dado o ritmo de importações, em especial de
mercadorias vindas do Oriente.
A primeira arma do combate Brasil/China são as retaliações. O governo brasileiro quer
pressionar os chineses com a ameaça de não formalização do status de economia de
mercado àquele país. A falta dessa chancela ergue um muro de dificuldades práticas para
os negócios chineses no continente sul-americano.
O status foi preliminarmente formalizado em 2004, mas precisa de uma renovação em
2011. Sem ela será mais fácil para as autoridades brasileiras comprovar nos tribunais da
OMC a prática de dumping (preço abaixo do custo de produção) dos chineses e assim
amealhar compensações.
De uma maneira ou de outra, as relações comerciais entre os dois países passa por um
momento de interseção importante e de decisão. O Brasil não engoliu e busca também
uma saída para a guerra cambial provocada em parte pelos chineses.
Alega que a postura do parceiro atravanca um acordo para o reequilíbrio econômico
global. O clima dos discursos esquenta na arena do Fórum Mundial enquanto Davos
segue abaixo de zero do lado de fora do pavilhão.
--------------------------------------Valor Econômico - 31/01/2011
Davos encerra trabalhos com otimismo e
olho em 'desafios'
À saída de uma mesa de debates do Fórum Econômico Mundial na Suíça, no sábado, o
vice-presidente da Comissão de Planejamento da Índia, Montek Singh Ahlwalia, disse ao
Valor que "a situação é melhor do que esperávamos, mas há desafios à frente". E
emendou, rindo de si mesmo: "Curioso, essa é exatamente a frase que o general David
Petraeus usou para definir a situação no Afeganistão".
A comparação inconsciente com o general que, na semana passada, fez um relatório
ufanista sobre a ação militar dos EUA no Afeganistão, deixando de lado a catástrofe em
que está mergulhado o país, tem alguma razão de ser. Aliviados com a volta do
crescimento econômico mundial, os organizadores de Davos tiveram de montar às
pressas, no sábado, o debate do qual saia Ahlwalia. O tema: Tunísia, país de onde se
originou uma revolta popular contra governos corruptos na África que, durante a
semana, engolfou também o Egito.
Crescimento e novos desafios marcam encontro em Davos
Sergio Leo | De Davos
À saída de uma mesa de debates anormalmente movimentada para um último dia do
Fórum Econômico Mundial, no sábado, o vice-presidente da Comissão de Planejamento
da Índia, Montek Singh Ahluwalia, falou em "cauteloso otimismo", o bordão mais popular
em Davos, neste ano, ao definir, para o Valor, qual a sensação geral entre os
participantes do encontro que reuniu por quatro dias na Suíça boa parte da elite mundial.
"A situação é melhor do que esperávamos, mas há desafios à frente", disse. "Curioso.
Essa é exatamente a frase que o general David Petraeus usou para definir a situação no
Afeganistão", emendou, rindo de si mesmo.
A comparação inconsciente com o general que fez um relatório ufanista sobre a ação
militar dos Estados Unidos no Afeganistão na semana passada, deixando de lado a
catástrofe em que está mergulhado o país, tem alguma razão de ser. Aliviados com o fim
do temor de volta da recessão em 2010, os organizadores de Davos tiveram de montar
às pressas, no sábado, o debate do qual saía Ahluwalia. O tema: Tunísia, país de onde se
originou uma revolta popular contra governos corruptos na África que, durante a
semana, engolfou também o Egito.
Na quinta-feira, Yasmine Allam, a assessora de imprensa do ministro do Egito, Rachid
Mohamed Rachid, telefonou ao Valor para informar que o egípcio havia cancelado a
entrevista com o jornal, marcada na semana anterior, porque desistira de ir a Davos.
Dois dias depois, caía o gabinete de ministros, em meio a tumultos e mortes nas ruas do
país. Até sábado, quando passou a um dos temas principais, a crise egípcia, comentada
discretamente nos corredores, tinha recebido atenção limitada em poucas das mais de
uma centena de sessões de debate e palestras do Fórum.
Os temas que despertaram mais atenção foram a vitalidade das economias emergentes,
especialmente China e Índia; a recuperação do crescimento dos Estados Unidos, às
custas de gigantesco déficit público que chegou a ser comparado a "um elefante debaixo
da mesa"; as queixas dos banqueiros contra o que consideravam uma demonização dos
bancos fomentada pelos governos; e as dúvidas sobre o futuro do euro e dos governos
europeus dobrados por rombos nas contas públicas - situação que, para irritação da
ministra da França, Christine Lagarde, o presidente do banco Barclays, Robert Diamond,
disse ter passado de aguda, no ano passado, para "crônica", neste ano.
O tumulto político egípcio serviu em Davos como exemplo das reações inesperadas nas
ruas a problemas não identificados como prioritários pelos radares do Fórum Econômico.
Motivada em parte pelo aumento nos preços dos alimentos, mas principalmente pela
rejeição popular a regimes autoritários e corruptos, a crise egípcia, por pressão dos
jornalistas presentes, foi tratada em algumas declarações de governantes e se insinuou
num painel de discussão, no sábado, sobre as previsões de especialistas e acadêmicos.
No debate, o ex-vice-presidente do Banco Mundial e ex-secretário-geral adjunto da ONU
Mark (lord) Malloch-Brown, da consultora FTI, disse apenas que o assunto era delicado
demais para se cobrar recomendações saídas de Davos. O ex-presidente do México,
Ernesto Zedillo, ao lado de Malloch-Brown, advertiu aos que torcem pela derrubada da
ditadura egípcia de que os resultados podem ser maior instabilidade na região. "Cuidado
com o que desejam", comentou, prevendo problemas em países do Oriente Médio, como
Síria e Jordânia caso fosse de fato derrubado o governo do Egito.
"O cidadão árabe está zangado e frustrado; o nome do jogo é reforma", disse na sextafeira o secretário-geral da Liga Árabe, ex-ministro de Relações Exteriores do Egito, Amr
Moussa, que, num dos primeiros painéis do Fórum, frustrou com um discurso genérico
quem esperava que discutisse os acontecimentos na África.
Apesar da nota sombria deixada pelas incertezas políticas no fim da semana, a reunião
de Davos foi marcada, em geral, pelo clima de alívio com a volta do crescimento norteamericano e as boas perspectivas das economias emergentes, especialmente China e
Índia. "Há bem mais otimismo, isso aqui no ano passado parecia um enterro",
reconheceu o presidente da Embraer, Frederico Curado.
Nos quatro dias de debates, foi possível ouvir discursos veementes de diferentes
autoridades europeias garantindo apoio político para evitar o calote das dívidas
soberanas dos países mais afetados pela crise na Europa e explanações sobre como a
China deve lidar com a ameaça de uma "bolha especulativa" gerada pelo crescimento do
país. Mas, como o caso do Egito, muitos temas delicados foram apenas mencionados
pelos especialistas reunidos com parte da elite mundial, como o perigo de crise da dívida
no setor privado de uma Europa estagnada e o risco de nova crise hipotecária nos EUA,
devido à permanência das altas taxas de desemprego.
-----------------------------ISTOÉ Dinheiro - 29/01/2011
As duas faces da mesma Argentina
Destino da primeira viagem da presidente Dilma Rousseff ao Exterior, o país de
Cristina Kirchner esbanja crescimento, mas sofre com a disparada da inflação.
Empresas brasileiras como JBS, Itaú e Votorantim já enviam seus dólares
Por Tatiana Bautzer
"Trabalho não falta. Se eu perder o emprego, consigo outro em um mês”, dizia o técnico
de som Mario Miranda, enquanto fazia compras com a mulher, Claudia Ybarra, e os dois
filhos pequenos, Bianca e Mario, num supermercado no bairro de classe média de San
Cristóbal, em Buenos Aires, na terça-feira 25.
Mas o carrinho mesmo estava quase vazio. Assustado com a alta de preços dos produtos
básicos, o casal procura diariamente promoções. Tenta fugir dos altos preços da carne e
do frango, principais vilões da inflação no país, calculada em até 26% no ano passado
pelos institutos independentes, mais que o dobro dos 10% estimados pelo desacreditado
instituto oficial Indec. A perspectiva é de que a taxa continue subindo em 2011 para algo
em torno de 30%.
Não muito longe dali, a comerciante Guillermina Masaut, 31 anos, mostrava-se satisfeita
com as vendas de roupas em seu pequeno estande, numa galeria de comércio popular no
centro de Buenos Aires. O negócio lhe rende cerca de 3 mil pesos (R$ 1.250) ao mês.
Entretanto, ela também reclama do custo de vida. “Antes se comprava algo no
supermercado com 50 pesos. Hoje, levo 100 e saio com duas sacolinhas. Na minha casa,
estamos comendo carne só três vezes por semana.”
Satisfação com a economia e medo da deterioração do poder de compra são duas faces
da mesma Argentina que Dilma Rousseff encontrará em sua primeira viagem
internacional no cargo de presidente, marcada para a segunda-feira 31.
O país vizinho está claramente aliviado com o aquecimento econômico, ainda que o preço
a pagar seja a segunda maior taxa de inflação na América Latina, atrás apenas da
Venezuela. Dilma e sua colega Cristina Kirchner, as duas mulheres mais poderosas da
região, têm muito o que conversar nos próximos meses.
Temas importantes fazem parte da agenda bilateral, como a maior integração do setor
automotivo e da cadeia de petróleo, além de um possível acordo para vendas conjuntas
em terceiros mercados. Enquanto o Brasil está mais avançado na rota do crescimento
sustentado, a Argentina tem sofrido para ajustar sua economia e entrar na rota da
estabilidade.
Aumentar a taxa de investimento no país para tornar o crescimento sustentável é o
principal desafio de Cristina, que lidera as pesquisas de intenção de voto e pode se
reeleger em outubro. “O crescimento com inflação tem pernas curtas se não houver
investimento”, afirmou à DINHEIRO o ex-ministro da Economia Roberto Lavagna.
Empresas brasileiras instaladas na Argentina dão sinais de que essa onda já está a
acontecendo. Animadas com o crescimento que chegou a 8% no ano passado e pode
superar os 5% neste ano, companhias que já sofreram em diferentes momentos com as
imprevisibilidades e crises no país redesenham suas estratégias e voltam a investir. “Os
empréstimos cresceram 36% no ano passado, bem acima dos 27% que esperávamos”,
diz o presidente do Itaú Argentina, Sergio Feldman.
Desde o segundo semestre do ano passado, o Itaú está repassando financiamentos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para companhias que
adquiram maquinário brasileiro.
A carteira já tem 25 empresas, num total de US$ 55 milhões. “Linhas de crédito com
prazo de quatro ou cinco anos como essa não existem aqui”, conta Feldman, que espera
que a carteira de crédito do banco na Argentina, de 3,4 bilhões de pesos (cerca de R$
1,4 bilhão) continue crescendo no mesmo ritmo acelerado em 2011. O maior crescimento
deve ocorrer nos empréstimos para empresas de médio e pequeno portes.
O banco retomou os investimentos na rede física de agências e gastou R$ 35 milhões
para trocar todos os caixas eletrônicos no ano passado. Deve repetir o valor neste ano
para atender os clientes de alta renda.
E acaba de abrir uma nova agência do segmento Personnalité em Puerto Madero, ponto
nobre da capital argentina e prova de que a recuperação de áreas urbanas degradadas é
possível. Quem acredita no resgate de um país inteiro, que, como o Brasil, deu calotes
na dívida pública e trocou de moeda inúmeras vezes no passado, está aproveitando o
momento para investir.
É o caso do executivo brasileiro Artemio Listoni, do grupo JBS, maior produtor mundial
de carnes. Ele desembarcou em Buenos Aires há cinco meses para reorganizar o negócio.
Depois de amargar prejuízos com o abate de bovinos por conta da falta de gado no
mercado e restrições à exportação de carne, a líder mundial do setor mudou o foco e
dará mais ênfase à produção de industrializados para o mercado interno.
Continuam fechadas sem perspectivas de reabertura três das seis unidades de abate.
Porém, o grupo acaba de inaugurar uma nova fábrica em Pilar, que produzirá até três mil
toneladas mensais de hambúrgueres. É o resultado de um investimento de US$ 50
milhões. Outros US$ 2 milhões serão usados para ampliar a produção de patês na
unidade de Ponte Vedra até julho.
Parte da estratégia da JBS é uma reação à mudança de hábitos de consumo dos
argentinos causada pela disparada dos preços dos alimentos. “O consumo de carne in
natura caiu. Está havendo uma migração dos tradicionais cortes nobres para produtos
industrializados mais baratos.
O argentino vai trocar o tradicional ojo de bife com batatas por hambúrguer, quibe,
almôndegas ou pizza”, diz Listoni, que espera recuperar faturamento com a maior ênfase
nos industrializados. A receita líquida deve crescer cerca de 10% neste ano, para algo
em torno de R$ 650 milhões. O grupo tem três mil funcionários na Argentina, dois mil a
menos do que quando comprou a Swift, em 2007.
Uma das maiores críticas ao crescimento argentino, além da inflação, é a sua
concentração em poucos setores: o automobilístico, altamente dependente das vendas
ao Brasil, e o siderúrgico. Juntos, os dois setores responderam por 75% da performance
da indústria argentina, segundo a consultoria ACM.
A Votorantim Siderurgia, dona da Acerias Bragado, produtora de aços longos com
capacidade de 300 mil toneladas, comemora crescimento de 15% do faturamento no ano
passado, para US$ 250 milhões. “A construção civil está aquecida, os argentinos
investem muito em ativos imobiliários”, diz o superintendente da Votorantim Siderurgia,
Albano Chagas Vieira.
Embora já tivesse o controle da empresa desde 2007, a Votorantim concluiu no ano
passado a compra das últimas ações ainda detidas pela ex-controladora, a família Vara.
Agora, projeta construir uma termoelétrica para garantir o suprimento de energia da
siderúrgica.
Os investimentos em infraestrutura, aliás, são um dos maiores gargalos para a
sustentabilidade do crescimento na Argentina nos próximos anos. A onda de calor no fim
do ano passado provocou cortes e ameaças de sanção a algumas distribuidoras, e é
possível que neste ciclo de expansão volte a haver cortes seletivos para as empresas
como houve em 2007, afirma o economista Mauricio Claverí, da consultoria Abeceb.
Tentar atrair mais investimentos para o setor energético foi uma das razões de uma
viagem recente da presidente Cristina Kirchner ao Oriente Médio. Outro problema é o
aumento das pressões salariais.
“Meu salário subiu só 10% neste ano, não está acompanhando os gastos”, constatou
Mario Miranda, o pai de família que pesquisava os preços no supermercado de Buenos
Aires. Nas negociações em curso, categorias como as dos comerciários pedem reajustes
de até 35%.
Para os exportadores brasileiros, a preocupação principal é com possíveis novas medidas
protecionistas, já que o superávit brasileiro com a Argentina deve crescer para até US$
5,5 bilhões neste ano, calcula a Abeceb.
A relação comercial tem sido mais favorável ao Brasil nos últimos anos (veja gráfico).
“Acho que o mais provável é que haja uma tentativa de negociar com setores, nos
moldes do acordo voluntário fechado com o setor calçadista, mas não a imposição de
sanções com alto custo político”, diz o economista Claverí.
A presidente Cristina Kirchner vem dando sinais de que entende os maiores riscos ao seu
legado e vem adotando, pelo menos em discursos, uma postura mais pró-investimento.
Um dos exemplos é a missão do Ministério da Economia que mandou para resolver até
junho a última parcela da dívida que entrou em moratória, em 2001, com o Clube de
Paris.
Se for fechado, o acordo pode abrir uma larga janela de crédito para empresas
argentinas hoje penalizadas no mercado internacional. O Brasil já viu esse filme e, como
destino preferido dos investimentos estrangeiros na região, pode se beneficiar
indiretamente da melhoria da Argentina.
Colaborou Hugo Cilo
-------------------------------------ISTOÉ Dinheiro - 29/01/2011
Davos. Ainda vale a pena?
Ausência de líderes de governo e empresas do mundo emergente levanta a
questão se compensa gastar mais de R$ 1 milhão para participar do encontro
por Denize Bacoccina
Todo ano, nesta época, uma cidadezinha no interior da Suíça vira notícia nos jornais,
revistas e telejornais de todo o mundo. Presidentes de países tentam provar como seus
mercados são atraentes, dirigentes de empresas querem mostrá-las como sólidas e
inovadoras, e economistas otimistas e pessimistas desfilam suas previsões para os
meses seguintes.
Há 40 anos, “o mundo se encontra em Davos”, como se costumava dizer. E costumava
ser assim mesmo. As salas e corredores do Kongresszentrum já presenciaram encontros
importantes. Foi lá, nos anos 80, que os primeiros-ministros grego e turco sentaram-se
lado a lado para discutir economia.
E foi lá que, em 1990, as duas Alemanhas discutiram a reunificação. Mas será que Davos
ainda é tão importante quanto costumava ser? Ainda vale a pena se deslocar para uma
estação de esqui para ouvir palestras e mais palestras sobre o estado da economia
mundial? Vale a pena para a sua empresa?
A resposta a esta pergunta deve ser precedida por uma informação importante. Por mais
tentador que pareça passar uns dias numa estação de esqui, os seis dias de eventos
podem custar o mesmo que o salário anual de um executivo de primeira linha.
O editor do New York Times Andrew Ross Sorkin fez as contas: a filiação com direito a
participação em todos os eventos para cinco pessoas de uma empresa custa US$ 662
mil. O equivalente a R$ 1,1 milhão.
E isso é só para participar dos encontros. A conta aumenta muito se a empresa organizar
um jantar para clientes. Mas será que tamanho investimento tem retorno? Que tipo de
informação o executivo ouvirá nas palestras ou nos corredores do congresso que valem
tanto?
Aí é que está o problema. O fórum já contou com a participação de líderes importantes.
Bill Clinton ia quando era presidente americano (ainda vai, mas agora como dono de
ONG), assim como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.
O ex-secretário de Comércio americano Donald Evans desdenhou do custo da guerra do
Iraque quando ela ainda parecia fácil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez lá sua
primeira aparição no palco internacional, em 2003, com uma palestra defendendo o
combate à pobreza.
Foi efusivamente aplaudido. Neste ano, Dilma Rousseff esnobou Davos. A presidente
considerou que o Brasil, agora credor do Fundo Monetário Internacional e liderando o
processo de reforma do sistema financeiro internacional, já não precisava pedir a bênção
dos países ricos.
O problema é que vários outros governantes e dirigentes de empresas pensaram
parecido. Países como China e Índia, assim como o Brasil, enviaram apenas ministros.
Chefes de governo, basicamente da Europa. Barack Obama e Hu Jintao? Nem pensar.
O mesmo se pode dizer do meio empresarial. Os organizadores afirmam que o encontro
tem a participação de mais de 1,4 mil líderes de mil empresas. Mas uma lista dos 100
principais presidentes de empresa (organizada pelo próprio fórum) lista apenas seis
indianos e três chineses, os dois países que mais crescem no mundo.
E apenas um brasileiro (o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli). A diversidade é
pequena. E aproveitando um conceito discutido nos debates do fórum, o do crescimento
da economia mundial em duas velocidades diferentes, o setor privado era representado
basicamente pelos países que crescem em velocidade mais lenta.
Por isso tudo é que vale a pena perguntar: será que hoje em dia Davos ainda é o local
onde “o mundo” se encontra ou apenas o mundo em crise?
------------------------------Veja - 29/01/2011
A China é aqui mesmo
Em sua corrida por recursos naturais; empresas chinesas
investimentos estrangeiros feitos na economia brasileira
lideram
os
A política do filho único não bastou para impedir que a população chinesa saltasse de 550
milhões de habitantes há seis décadas, quando os comunistas tomaram o poder, para a
atual massa humana de 1,3 bilhão de pessoas. A modernização da economia também
forçou as famílias a deixar o campo. Segundo uma pesquisa da consultoria americana
McKinsey, 400 milhões de chineses deverão passar a viver em cidades até 2025, quando
se estima que 64% deles estarão em centros urbanos - ante 13% em 1950. O número de
megalópoles com mais de 10 milhões de habitantes passará de três para oito. Mas a
China não dispõe de recursos naturais suficientes para saciar a sua crescente fome
calórica e energética. O país tem se lançado a conquistas no além-mar, à procura de
fontes de alimentos, minério e petróleo. Um dos alvos escolhidos foi o Brasil. No ano
passado, empresas chinesas investiram mais de 17 bilhões de dólares em negócios na
economia brasileira, pondo a China, pela primeira vez, como líder em investimento
estrangeiro direto.
Em vez de simplesmente importarem minérios e grãos brasileiros, os chineses buscam
agora produzir eles mesmos os insumos de que necessitam para manter o seu
crescimento de 10% ao ano. A agricultura brasileira explora apenas 50 milhões de
hectares de um potencial estimado de 400 milhões de hectares de terras próprias ao
plantio. Essa é a razão que motiva a China a comprar terras no país. Grande parte
dessas terras se concentra na região conhecida do cerrado nordestino. Em julho de 2010,
representantes da Chongqing Red Dragonfly Oil Corporation, a mais importante das 51
empresas que formam a principal estatal chinesa de industrialização e comércio de óleo
alimentício, foram a Barreiras, no oeste baiano, negociar a implantação de uma indústria
de esmagamento de soja. As jazidas de minério e os poços de petróleo também vêm
atraindo investidores. Em outubro passado, a petrolífera Sinopec, a segunda maior da
China, adquiriu 40% da subsidiária da Repsol no Brasil, por 7,1 bilhões de dólares. Sete
meses antes, o Bureau de Exploração e Desenvolvimento Mineral do Leste da China
(ECE) pagou 1,2 bilhão de dólares pela mineradora Itaminas.
O apetite chinês tem provocado reações. Os críticos falam em neocolonialismo. Ao
contrário de multinacionais americanas e européias, que instalam fábricas para atender à
demanda brasileira, a China foca apenas satisfazer a estratégia do politburo comunista.
No ano passado, o governo brasileiro deu o primeiro passo para conter esse avanço ao
proibir a venda de terras acima de 5000 hectares a empresas que possuam 51% ou mais
de seu capital nas mãos de estrangeiros. No caso das jazidas de minério, o governo
estuda restringir sua aquisição por estrangeiros através do marco regulatório da
mineração. Afirma o embaixador Sergio Amaral, presidente do Conselho Empresarial
Brasil-China: “A China é ao mesmo tempo uma oportunidade e uma ameaça. Os chineses
caminham para ser a primeira economia mundial. Precisamos trabalhar, portanto, em
parceria, tomando as devidas precauções, mas sem protecionismo”.
---------------------------------ÉPOCA - 29/01/2011
A nova realidade de Davos
Antes um templo do livre mercado, o Fórum Econômico Mundial virou palco para
temas como inclusão social, meio ambiente e ética nos negócios
José Fucs, de Davos
O Fórum Econômico Mundial, realizado todo mês de janeiro em Davos, uma pequena
cidade dos Alpes suíços, tornou-se conhecido como uma das principais trincheiras de
defesa do capitalismo de livre mercado e da globalização desde sua criação, em 1971.
Não por acaso, os movimentos de esquerda, que haviam perdido a referência com a
queda do comunismo no início da década de 1990, decidiram criar, sob a liderança do PT
brasileiro, o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, em 2001, para servir de contraponto
a Davos.
Pelas características antagônicas dos dois eventos, pensava-se até pouco tempo atrás
que eles seriam como água e óleo. Mas, nos últimos anos, desde a crise financeira que
abalou o mundo em 2008, as ideias liberais que fizeram a fama de Davos têm se tornado
cada vez menos relevantes nos debates – e, no encontro deste ano, na semana passada,
não foi diferente. Em muitas sessões, um observador desavisado teria a impressão de ter
entrado no Fórum Social (que acontecerá em fevereiro, em Dacar, no Senegal), e não no
templo da livre-iniciativa global.
Embora o Fórum de Davos continue a atrair a elite política e econômica internacional,
principalmente dos países desenvolvidos, a agenda do encontro, batizado com o
indecifrável título Normas Compartilhadas para a Nova Realidade, parecia a plataforma
de uma Organização Não Governamental ambientalista ou de apoio ao desenvolvimento
de cidadãos socialmente responsáveis. A própria expressão “nova realidade” era um sinal
da mudança na filosofia do encontro. O programa deste ano ainda incluía painéis para a
discussão de temas como o aumento do capitalismo de Estado no mundo, a recuperação
do sistema financeiro e o futuro da indústria. Mas as sessões voltadas para a análise de
questões consideradas politicamente corretas, como a inclusão social, o aquecimento
global, a preservação ambiental, a ética nos negócios e a corrupção, dominaram o
evento. Dezenas de empreendedores sociais que desenvolvem trabalhos em campos
como saúde, educação ou energia participaram do encontro. Houve até uma palestra
sobre o “teatro do oprimido”, do dramaturgo brasileiro Augusto Boal, morto em 2009.
“Nunca imaginei que um dia seria convidado para dar uma palestra em Davos”, afirmou
Brent Blair, professor de arte dramática da Universidade do Sul da Califórnia, na fila do
almoço.
É verdade que os principais executivos dos grandes bancos internacionais voltaram a
Davos em 2011, depois de dois anos de ausência. É certo também que houve uma
recuperação parcial da autoestima dos participantes, abalada pela crise. Mas não havia
ninguém no encontro defendendo abertamente o livre mercado. “Neste ano, parou
aquela coisa de culpar a comunidade de negócios, os bancos, pelos estragos causados na
economia mundial”, disse a ÉPOCA o cientista político americano Ian Bremmer,
presidente do Eurasia Group, em Davos. “Mas ainda há um desejo de ser muito cauteloso
com a administração de imagem, porque o modelo ocidental sofreu um golpe pesado
desde a crise financeira.”
Ao longo de sua história, o Fórum de Davos abriu as portas para todas as correntes de
pensamento e para a discussão dos principais temas da agenda global. Mas seu ponto
forte eram as grandes questões econômicas e financeiras. Em 2001, a participação do
então líder da Autoridade Palestina, Iasser Arafat, morto em 2004, fez sucesso. O
discurso improvisado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, logo depois da
posse, também foi um dos momentos mais marcantes desde a criação do Fórum
Econômico, há 41 anos. Em 2003, também foi criado o Open Forum, aberto ao público e
realizado numa escola, perto do local onde acontece o encontro principal, o Congress
Centre. Mas nunca antes a pauta foi tão diversificada, com a inclusão de tantos painéis
sobre os mais diversos campos de conhecimento, que pouco ou nada têm a ver com os
destinos do mundo.
De acordo com Klaus Schwab, fundador e o principal executivo do Fórum de Davos, o
programa deste ano procurou refletir a “nova era” pós-crise, marcada pela troca do
centro político e econômico global do Norte para o Sul e do Oeste para o Leste, pelo
surgimento de novas lideranças, pela escassez dos recursos naturais e pelo aumento no
poder dos sites de relacionamento social. “Não vamos mais voltar ao velho mundo”,
afirmou Schwab na abertura do encontro. “Não sabemos aonde isso vai dar, mas
sabemos onde estamos hoje e não queremos correr o risco da omissão.”
Bremmer, do Eurasia Group, afirma que as mudanças em Davos nos últimos anos, em
especial 2011, são parte de uma estratégia adotada para manter a relevância do Fórum,
não um sinal de que seus participantes tenham abandonado a crença no capitalismo de
livre mercado. “A comunidade de negócios ainda é dominante aqui, mas a forma está se
adaptando, à medida que o mundo muda – e o mundo está se tornando um lugar
diferente a cada dia”, diz ele. “Essa é uma das razões pelas quais o Fórum Mundial está
tentando falar tanto sobre essas outras questões, como governança, responsabilidade
social, meio ambiente.”
Nos últimos 40 anos, de acordo com Bremmer, o Fórum Econômico Mundial tem sido o
principal defensor da globalização. O dinheiro e o poder continuam presentes em Davos.
Os tomadores de decisão continuam basicamente os mesmos. Mas algo mudou. A
influência das economias de livre mercado diminuiu. A influência do dólar como reserva
de valor global diminuiu. A habilidade que o mundo desenvolvido tinha para atrair os
melhores talentos do mundo e mantê-los, também. Na visão de Bremmer, nenhum país
desempenhará o papel de líder global no novo cenário. O poder estará pulverizado. Ele
afirma que o maior problema é que os grandes países emergentes, como China, Índia e
Brasil, não têm a mesma capacidade para assumir s um papel de liderança comparável
ao exercido historicamente por Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. “É uma
realidade desconfortável. Ninguém aqui gosta disso. Eu não gosto. Mas é uma realidade
que a gente está procurando aceitar, e é isso o que importa.”
Para os convidados a discutir os novos temas de Davos, as mudanças seriam o reflexo de
uma “conscientização” de que as grandes empresas e seus líderes perderão espaço no
mercado se não incorporarem essas questões no dia a dia do negócio. “Isso veio da
crise, de uma demanda dos governos por regulação, mas também dos consumidores, dos
trabalhadores”, afirmou a ÉPOCA Brian Gallagher, presidente da United Way Worldwide,
organização voltada para a melhoria das condições de vida das populações carentes e
palestrante do painel Novas normas para as corporações. “Hoje, fala-se muito a respeito
da falta de confiança do público nos líderes empresariais. E eles estão se dando conta de
que, para recuperar a autoestima, precisam investir nas pessoas.”
De acordo com Daniel Esty, diretor do Centro de Legislação e de Política Ambiental da
Universidade Yale, nos Estados Unidos, o programa eclético de Davos mostra que, hoje,
os líderes empresariais não podem restringir seu conhecimento aos “limites estreitos” do
negócio. Eles precisam se preocupar também com a forma como seus negócios se
conectam com a sociedade em que atuam. “É mais do que ser politicamente correto. É o
reconhecimento de que a agenda se tornou muito mais complexa”, diz Esty, moderador
de um painel sobre a questão ambiental em 2011. “Os líderes de negócios do passado
não estavam conscientes dessas coisas, e os líderes modernos estão constrangidos e
entendem que isso não pode continuar, ou a sociedade vai se rebelar. Em alguns países
em que as empresas não agiram dessa forma, a população fez pressão para exigir uma
mudança – e conseguiu.”
Esty, que faz pesquisas sobre a questão ambiental em diversas regiões do planeta,
afirmou a ÉPOCA que o Brasil é, entre todos os países em que trabalhou, aquele em que
as empresas levam mais a sério suas ações ambientais. “O meio ambiente não é só
custo, riscos. É também a oportunidade de desenvolver novos produtos, promover a
inovação e construir marcas que despertem a admiração da comunidade.”
Apesar das mudanças em Davos, a presença de líderes globais, como Nicolas Sarkozy, da
França, Dmitri Medvedev, da Rússia (leia mais na reportagem ao lado), ou o ministro do
Comércio da China, Chen Deming, ainda é – e continuará a ser – o ponto alto do
encontro. O mesmo vale para economistas respeitados em todo o mundo, como o ítaloiraniano radicado nos EUA Nouriel Roubini, conhecido como Senhor Apocalipse por suas
previsões catastrofistas. Ou Joseph Stiglitz, Nobel de Economia em 2001. Ou ainda Larry
Summers, ex-diretor do Conselho Nacional de Economia do governo de Barack Obama e
ex-secretário do Tesouro do governo Clinton. São eles que ainda fazem de Davos o
centro das atenções por uma semana. São suas ideias e suas declarações que movem os
mercados.
Foi o que aconteceu com Sarkozy, na quarta-feira, quando fez uma defesa entusiasmada
do euro, que enfrenta duros ataques nos últimos tempos, em razão da crise em países
como Grécia, Irlanda, Espanha e Portugal. “O euro é a Europa. Não é apenas uma
questão econômica ou monetária. É algo que tem a ver com nossa identidade como
europeus”, disse Sarkozy. “Àqueles que pretendem especular com o euro, eu digo:
tenham cuidado. Nunca, escutem-me com atenção, nunca a França e a Alemanha darão
as costas para o euro.”
Neste ano, o baixo-astral que predominou em Davos em 2009 e 2010 cedeu lugar a um
otimismo moderado, com a perspectiva de volta do crescimento nos países ricos. Apesar
do temor em relação à volta da inflação global, a tensão dos últimos anos parece ter
ficado para trás. Dois banqueiros – James Dimon, do JP Morgan Chase, e Gary Cohn, do
Goldman Sachs – até se aventuraram a criticar, como nos velhos tempos, o excesso de
regulação que querem impor aos bancos. Talvez, quando a atual crise global entrar para
a história, Davos volte a ser, mais que tudo, um polo de discussões sobre os benefícios
(e os problemas) do livre mercado, sem o receio de desagradar a ninguém nem de
preservar a imagem dos homens (e mulheres) de negócios. O mundo pode ter mudado
bastante, mas o grito de Davos já faz falta no debate de ideias.
-------------------------------ISTOÉ - 29/01/2011
O degelo da inflação
Um aumento generalizado de preços em países pobres, ricos e emergentes
acende o sinal de alerta no Fórum de Davos
Adriana Nicacio
Por muitos anos, o Fórum Econômico de Davos foi realizado em clima de festa. Ali
costumava se discutir até quando se estenderia o ciclo de prosperidade internacional. A
partir da crise de 2008, o clima do famoso resort suíço mudou. Ficou mais austero e
sombrio. As principais lideranças da economia mundial passaram a se debruçar sobre
temas espinhosos como os gargalos do crédito bancário e a necessidade de regulamentar
com mais rigor o sistema financeiro. Na reunião deste ano, uma nova preocupação veio à
tona: a escalada da inflação, pela primeira vez, tomou conta dos debates. Teme-se que a
alta dos preços das commodities contamine as economias nacionais, sem distinguir entre
países desenvolvidos, emergentes e pobres. Afinal, a tendência inflacionária está criando
dor de cabeça para autoridades de Pequim a Nova Délhi. Todos consideram que a alta
dos preços dos alimentos pode pôr em xeque até mesmo a estabilidade social. “As
commodities sobem puxadas pelo forte crescimento dos emergentes e o impacto na
inflação é enorme”, advertiu, em Davos, o economista americano Nouriel Roubini, que
ganhou fama ao prever a derrocada do sistema bancário.
Também preocupado com a inflação, o presidente da Indonésia, Susilo Bambang
Yudhoyono, argumentou que o aumento generalizado das commodities elevará a pobreza
e a fome com graves consequências nas políticas sociais. “A próxima guerra econômica
pode envolver os preços dos alimentos”, afirmou. A inflação da Indonésia em 2010 foi de
6,95%.
Os Brics (Brasil, Rússia, Índia e China), que são responsáveis por um quinto da atividade
econômica do planeta, também correm séria ameaça. Se de um lado o crescimento do
consumo nesses países contribui para a alta dos preços, de outro lado eles têm a
economia prejudicada pela retomada da inflação. A China é o principal exemplo desse
contraste. O país continua a exibir taxas de crescimento espetaculares, mas viu a taxa
anual de inflação subir de 0,7% em 2009 para 4,6% previstos para este ano.
As populações de países pobres e emergentes são as que mais sofrem com o aumento do
preço dos alimentos, que representam uma parcela maior na composição da inflação do
que nos países desenvolvidos. Enquanto nos Estados Unidos a alimentação compõe
apenas 16% do Consumer Price Index, por exemplo, no Brasil são 23%, na China 35% e
na Índia 42%.
No ano passado, o custo dos alimentos subiu a níveis assustadores. O índice de preços
da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), que mede
cereais, carnes e laticínios, entre outros, sobe desde julho de 2010. Em novembro
passado chegou a patamares recorde. “Preços mais altos de alimentos e volatilidade são
as maiores ameaças para a recuperação da estabilidade econômica e social. Você viu o
que aconteceu na Argélia e em outros países recentemente?”, diz Ngozi Okonjo Iwela,
diretora-geral do Banco Mundial e ex-ministra das Finanças da Nigéria, referindo-se às
manifestações de estudantes e trabalhadores argelinos contra o aumento de preço de
itens básicos. Os Brics, na verdade, não estão de braços cruzados. O Brasil deu início a
uma nova rodada de alta dos juros e restringiu o crédito. A China também elevou os
juros, valorizou ligeiramente a moeda e tomou medidas contra a especulação de preços
de alimentos. O Banco Central indiano adotou o mesmo remédio, depois que as
expectativas com a safra de arroz não se confirmaram. E a Rússia também iniciou sua
política de aperto monetário. Claro que essas medidas vão cobrar seu preço. Os Brics
deverão crescer menos em 2011 em relação a 2010.
Em sua intervenção em Davos, o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude
Trichet, alertou para as pressões inflacionárias na zona do euro. No mês passado, a
inflação passou para 2,2%, ficando pela primeira vez nos últimos dois anos acima da
meta de 1,9%. Há previsões de que pode chegar a 2,5% em março. Trichet disse que a
inflação deve ser observada de perto e pediu aos banqueiros centrais para ficarem
atentos ao aumento dos preços da energia e dos alimentos. O Brasil mostrou que tem
feito sua lição de casa. Na mesa-redonda sobre a economia brasileira, o presidente do
Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que a principal prioridade do BC é manter a
inflação dentro da meta e reafirmou o compromisso com a austeridade. Mesmo antes de
pisar em Davos, Tombini já sabia que a inflação é o vilão do momento.
---------------------------------------O Globo - 29/01/2011
Com manobra, governo cumpre meta fiscal
Com manobras que reforçaram o caixa em R$ 33 bi, o governo cumpriu a meta de
superávit de 2010. Para Mantega, o alerta do FMI à piora fiscal é "bobagem"" de velho
ortodoxo.
Governo cumpre meta de superávit com manobra, e Mantega ironiza FMI:
"bobagem de velho ortodoxo"
Martha Beck
Com a ajuda de manobras fiscais que deram um reforço de caixa superior a R$33
bilhões, o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central)
conseguiu cumprir a meta de superávit primário de 2010, fixada em 2,15% do Produto
Interno Bruto (PIB). A economia para o pagamento de juros da dívida pública fechou o
ano passado em R$79 bilhões (2,16% do PIB). O resultado foi comemorado pelo ministro
da Fazenda, Guido Mantega, que aproveitou para criticar relatório do Fundo Monetário
Internacional (FMI) que aponta uma deterioração das contas públicas brasileiras. Mesmo
assim, ele admitiu que a meta fiscal do setor público consolidado - que inclui estados,
municípios e estatais e que será divulgada na segunda-feira pelo Banco Central (BC) não foi atingida.
Isso significa que, para chegar aos 3,1% do PIB fixados como meta anual do setor
público, a equipe econômica teve que abater das despesas parte dos investimentos
previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - contrário ao que prometia o
governo. Segundo Mantega, esse abatimento se deve a dificuldades que estados e
municípios tiveram para fechar suas contas:
- Em relação a estados e municípios, eu acredito sinceramente que eles não vão cumprir
integralmente (a meta de 2010), então, vai faltar alguma coisa para completar os 3,1%
e se usará parte do PAC. Mas estamos melhorando.
Mantega adiantou que o déficit nominal - diferença entre receitas e despesas do setor
público, incluindo o pagamento de juros da dívida - ficará entre 2,4% ou 2,7% do PIB em
2010, menor do que em 2009 (3,34%). A dívida pública também diminuiu sobre 2009:
de 42,5% para 41% do PIB.
O ministro classificou a visão do FMI de equivocada e disse que "as bobagens" do
relatório Monitor Fiscal - que para ele "não é muito importante" - devem ter sido escritas
por um "velho ortodoxo" do Fundo.
- O diretor-gerente do FMI (Dominique Strauss-Khan) deve ter saído de férias e aí algum
daqueles velhos ortodoxos do Fundo Monetário escreveu esse monitor e falou essas
bobagens em relação ao Brasil - disse.
Segundo o relatório, Brasil, China e Índia usaram aumentos de arrecadação para
financiar gastos maiores. E o FMI prevê um patamar diferente para o déficit nominal em
2011, de 3,1%, questionado por Mantega, que cita 1,8%.
O superávit primário do governo central de 2010 equivale ao dobro do de 2009: R$39
bilhões. Em dezembro, o ficou em R$14,4 bilhões (o maior já registrado para o mês),
contra R$1 bilhão de novembro. Houve forte aumento na arrecadação tributária, como
PIS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
Mas, em 2010, a equipe econômica utilizou artifícios para fechar as contas. A operação
de capitalização da Petrobras, por exemplo, rendeu R$32 bilhões ao Tesouro em receitas
primárias. E R$1,4 bilhão veio da venda para o BNDES de títulos da União na Eletrobras.
- O governo fechou suas contas por meio de uma contabilidade criativa. Sem os R$32
bilhões da Petrobras, por exemplo, o primário do ano teria ficado em 1,26% do PIB afirma o economista da consultoria Tendências Felipe Salto.
O governo Lula conseguiu manter as contas públicas equilibradas, mas entregou gastos
recordes em 2010.
- O governo perdeu a oportunidade de reduzir despesas com custeio e pessoal e acabou
tendo que aumentar investimentos para fazer o país crescer. Um gasto não substituiu o
outro - disse Salto.
Pelos dados do Tesouro, os gastos da União, que eram de 15,14% do PIB em 2003,
chegaram a 19,14% em 2010. As receitas subiram de 17,44% para 21,3%.
- O governo Lula conseguiu manter o equilíbrio das contas, mas se apoiou mais no
crescimento econômico e na alta das receitas do que na redução das despesas. A
qualidade do gasto não melhorou - disse Alex Agostini, economista-chefe da Austin
Rating.
Em 2010, as despesas com pessoal cresceram 9,8% em termos nominais, enquanto as
de custeio cresceram 17,2% e os investimentos, 38%. Já as receitas tiveram alta de
quase 30%.
Mantega disse que o quadro fiscal é resultado de uma política anticíclica - de aumento de
investimentos e gastos públicos para impulsionar a economia na crise - que foi receitada
pelo FMI:
- O próprio diretor-gerente em diversas ocasiões sugeriu isso. Fizemos à risca. E agora o
Fundo diz que houve uma piora. Isso não procede.
Para 2011, o ministro e o secretário do Tesouro, Arno Augustin, prometem cumprir a
meta cheia de superávit primário, fixada em 3% do PIB.
----------------------------------Folha de S.Paulo - 29/01/2011
Manobra da Caixa faz país atingir meta
fiscal
Deposito judicial de R$ 4 bilhões, feito em dezembro pela Caixa e contabilizado como
receita pelo governo, permitiu o cumprimento da meta fiscal do país em 2010.
O valor é, de longe, a maior operação do gênero no país realizada no ano passado. Os
recursos se referem a pendências no pagamento ao PIS/Pasep.
A operação fez explodir a arrecadação dessas contribuições, que não chegam a R$ 3,5
bilhões mensais.
A Caixa diz que o depósito foi realizado porque a instituição vai contestar em juízo a
cobrança de tributos realizada pela Receita. Guido Mantega usou o cumprimento da meta
para ironizar críticas do FMI.
Operação da Caixa ajudou governo a cumprir meta fiscal do Tesouro
Depósito judicial de R$ 4 bi, feito pela estatal em dezembro, foi contabilizado
como receita
Caixa diz que depósito é resposta à contestação, na Justiça, de cobrança de
tributos realizada pela Receita Federal
GUSTAVO PATU
LEONARDO SOUZA
MÁRIO SÉRGIO LIMA
DE BRASÍLIA
Uma operação realizada em dezembro pela Caixa Econômica Federal foi contabilizada
como receita pelo governo e permitiu, de última hora, o cumprimento formal da meta
fiscal estabelecida para o Tesouro Nacional no ano de 2010.
O banco estatal fez um depósito judicial -ou seja, separou recursos para o eventual
pagamento futuro de tributos questionados na Justiça- no valor de R$ 4 bilhões -de
longe, a maior operação do gênero em todo o país durante o ano passado.
Segundo a assessoria da CEF, o depósito foi realizado porque a instituição decidiu
contestar em juízo a cobrança do tributo realizada pela Receita Federal. "O procedimento
judicial prevê a garantia do juízo para a suspensão da exigibilidade do crédito e
consequente emissão da Certidão Negativa de Débitos Fiscais (CND), documento
essencial para a continuidade dos negócios da Caixa", informou a instituição.
Segundo uma regra consolidada pela administração petista, todos os depósitos judiciais
devem ser feitos na CEF e transferidos para a conta do Tesouro, para engordar a
arrecadação federal. A Caixa, portanto, fez o depósito em seu próprio caixa.
Os recursos se referem a pendências no pagamento da contribuição ao PIS/Pasep, um
tributo incidente sobre o faturamento cujos recursos são direcionados, entre outras
finalidades, ao pagamento do seguro-desemprego. A operação da CEF fez explodir a
arrecadação do PIS/Pasep, que não chega aos R$ 3,5 bilhões mensais.
Isso permitiu ao governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência Social)
economizar o equivalente a R$ 14,4 bilhões no mês passado, elevando o esforço fiscal do
ano para R$ 79 bilhões -quase R$ 3 bilhões acima da meta.
Além do depósito judicial, também contribui para o resultado do governo central uma
manobra contábil que utilizou a capitalização da Petrobras para engordar os cofres do
Tesouro em R$ 31,9 bilhões.
Em setembro, o governo cedeu R$ 74,8 bilhões em barris de petróleo para permitir o
reforço de capital da estatal. E pagou à Petrobras o equivalente a R$ 42,9 bilhões,
referentes à participação da União na operação. A diferença entrou como receita na
contas do Tesouro Nacional.
O cumprimento da meta foi usado ontem pelo ministro Guido Mantega (Fazenda) para
ironizar as críticas que o FMI havia feito no dia anterior em relatório a respeito da
deterioração da política fiscal do governo brasileiro.
Para Mantega, o texto trazia "bobagens e equívocos" feitos provavelmente por "velhos
ortodoxos" do Fundo à revelia da direção do FMI.
Mas, sem as receitas extraordinárias e manobras contábeis, o governo teria sido incapaz
de obter o resultado primário, mesmo em ano de arrecadação federal de tributos
recorde.
As despesas também foram elevadas, atingindo 19,14% do PIB (Produto Interno Bruto).
Contudo, se o governo central atingiu a meta, o setor público consolidado, que ainda
engloba estatais, Estados e municípios, só será capaz de fazer o mesmo com o
abatimento dos gastos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), segundo
Mantega.
Para atingir a meta de economizar o equivalente a 3,1% do PIB, o governo pode abater
os gastos com investimentos. O resultado das contas do setor público será divulgado na
próxima segunda-feira pelo Banco Central.
----------------------------------Folha de S.Paulo - 30/01/2011
Cortes ameaçam promessas de Dilma feitas
no período eleitoral
Atrasos e cortes ameaçam obras propostas por Dilma
Ajuste fiscal e restos a pagar praticamente inviabilizam novos investimentos em
2011
GUSTAVO PATU
DE BRASÍLIA
Atrasos herdados da administração anterior e a necessidade de cortar investimentos para
equilibrar as contas do governo ameaçam algumas das principais promessas da
campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff.
Manter em dia o cronograma de realizações significa construir, só neste ano, 3.288
quadras esportivas em escolas, 1.695 creches, 723 postos de policiamento comunitário,
2.174 Unidades Básicas de Saúde e 125 Unidades de Pronto Atendimento, além de
centenas de milhares de moradias subsidiadas para a população de baixa renda.
As metas constam do planejamento oficial que embasou a elaboração do Orçamento
deste ano -até hoje não sancionado pelo Planalto, o que reduz a virtualmente zero a
possibilidade de liberar dinheiro público para novos projetos.
Fora os compromissos de apelo popular mais imediato, há ainda R$ 7 bilhões destinados
a novas obras em rodovias, ferrovias, portos, irrigação e saneamento, igualmente
incluídas na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, batizada de PAC
2.
Completar um mês sem iniciar investimentos é usual para um começo de administração,
mesmo no caso de um governo de continuidade. A equipe econômica, porém, já prepara
o terreno para uma demora maior.
É preciso combinar dois objetivos: o fiscal -bloquear despesas e elevar os recursos para o
abatimento da dívida pública, desde 2009 abaixo do prometido- e o gerencial -encerrar a
lista de obras e projetos prioritários inacabados, grande parte deles coordenados pela
própria Dilma nos tempos de ministra-chefe da Casa Civil.
Em um cenário de recursos escassos, as obras já em curso ganham primazia, como já
indicaram a Fazenda e o Planejamento. Mais delicado politicamente seria citar pelo nome
os candidatos a serem preteridos.
O exemplo de maiores proporções é o da segunda etapa do programa habitacional Minha
Casa, Minha Vida, que pretende viablizar a construção e a aquisição de 2 milhões de
casas e apartamentos até 2014.
Há R$ 12,7 bilhões autorizados no Orçamento de 2011 para a iniciativa, de longe o maior
volume destinado a um programa de caráter não permanente nem obrigatório.
Mas, ainda que escape dos cortes a serem anunciados até março, a verba terá de
acomodar também R$ 9,5 bilhões em despesas que ficaram por ser executadas da
primeira etapa do Minha Casa -na qual as moradias efetivamente concluídas não
chegaram a um quarto do 1 milhão contratado no papel.
O mesmo acontece com as novas Unidades de Pronto Atendimento, os prontos-socorros
24 horas que estrelaram a plataforma petista para a saúde. Os recursos reservados para
iniciar as 500 UPAs programadas até 2014 terão de disputar espaço com a conclusão das
outras 500 que deveriam ter sido entregues até 2010.
Pelos dados do Ministério da Saúde, apenas 91 UPAs estavam em funcionamento até o
início de dezembro.
Sintomaticamente, a bancada governista no Congresso ajudou a promover, sem alarde,
um corte de 15% nos recursos para as UPAs e a construção de postos UBS (Unidades
Básicas de Saúde) durante a tramitação do projeto de lei orçamentária.
Maior ainda, de quase 35%, foi a redução da verba para a construção e adequação de
quadras esportivas nas escolas de ensino médio, ação também classificada como
prioritária, incluída no PAC 2 e repetida na campanha eleitoral.
Outro complicador é que todas essas metas -incluindo a construção de creches e de
postos de policiamento- dependem da participação de governos estaduais ou prefeituras
para elaboração de projetos, cessão de terrenos e custeio das unidades.
--------------------------------------O Estado de S.Paulo - 29/01/2011
FMI tira ministro do sério
Guido Mantega atacou texto do FMI sobre o País: "O diretor-gerente saiu de férias e
algum velho ortodoxo deve ter escrito esse relatório com bobagens sobre a Brasil".
Mantega reage a puxão de orelha do FMI
Para ministro, relatório que diz que País sofre brusca deterioração nas contas
públicas são "bobagens de um velho ortodoxo do Fundo"
Célia Froufe e Adriana Fernandes
Irritado com o "puxão de orelha" do Fundo Monetário Internacional (FMI), o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, classificou ontem de "bobagens de um velho ortodoxo" as
críticas do Fundo.
Com apenas alguns minutos na agenda antes de embarcar para São Paulo, Mantega
convocou ontem a imprensa de última hora e de forma atabalhoada para contrapor, com
palavras duras, a avaliação sobre a deterioração fiscal brasileira. "Acho que o diretorgerente do FMI saiu de férias e algum velho ortodoxo do Fundo Monetário deve ter
escrito esse relatório com essas bobagens sobre o Brasil", disse ao citar Dominique
Strauss-Kahn.
Pode-se dizer que a avaliação do FMI foi uma virada de página do que se via até então. O
Fundo foi um dos órgãos internacionais que mais deram apoio ao Brasil nos últimos anos
e, mesmo quando as contas públicas começaram a sofrer deterioração no passado
recente, o FMI chegou a ser condescendente com o País.
A posição brasileira em relação ao FMI também mudou nos últimos anos, com o País
passando de devedor para credor. Isso pode ter ajudado a engrossar a voz do ministro
Mantega, que disse ter telefonado para Washington para mostrar incômodo com o teor
do relatório. "Mas ainda eram 7 horas da manhã e, por isso, não havia ninguém."
Déficit nominal. Por si só o teor do relatório teria peso, mas ganhou ainda mais força por
ter sido publicado na véspera da divulgação dos números das contas públicas pelo
Tesouro. Inicialmente, o resultado do Governo Central seria conhecido na próxima
segunda-feira e há quem avalie que a antecipação ocorreu justamente para contrapor,
com números, o Fundo. O secretário do Tesouro, Arno Augustin, garantiu, no entanto,
que os eventos não tiveram relação.
Para sustentar que o FMI errou, Mantega desceu até a portaria do ministério para falar
com os jornalistas munido de papéis repletos de números. Ele apresentou a evolução de
uma série de indicadores, como a queda do déficit nominal e da dívida líquida do setor
público. Um exemplo de diferença de avaliação entre os dois é que o Fundo prevê déficit
nominal - que inclui gastos com pagamento de juros da dívida pública - de 3,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 ante perspectiva do governo de 1,8% do PIB.
O ministro ressaltou ainda que houve melhora fiscal de 2009 para 2010, afirmação que
posteriormente foi repetida pelo secretário do Tesouro.
"A nossa opinião é de que o FMI fez avaliações não aprofundadas, não corretas sobre
nossa área fiscal", disse Augustin. "Fico sem compreender como pode uma situação fiscal
que melhora ser criticada", continuou.
Sem desculpas. Apesar do alvoroço causado pelo ministro ontem ao convocar a imprensa
justamente na hora em que estava prevista a entrevista de Augustin, ele disse que não
pedirá desculpas formais do Fundo sobre o relatório. E tentou reduzir a relevância do
documento: "Acho que não é um relatório muito importante".
Ainda sobre a questão dos gastos, Mantega disse que o Banco Central não fez nenhuma
solicitação de aperto fiscal ao ministério. Esta, no entanto, foi a interpretação de
analistas ao ler a ata da última reunião do Copom, divulgada na quinta-feira.
Segundo o ministro, a autoridade monetária está afinada com as diretrizes que estão
sendo colocadas pelo governo e isso significa que o BC poderá fazer uma política
monetária menos dura. "Em conjunto, podemos fazer um trabalho complementar."
-----------------------------------O Estado de S.Paulo - 29/01/2011
Lula encerrou governo com gasto recorde
O governo Lula prometeu conter o avanço dos gastos como instrumento auxiliar de
combate à inflação, mas terminou o seu último ano com despesas no patamar recorde:
19,14% do PIB. No primeiro ano de Lula, as despesas representavam 15,14% do PIB,
nível semelhante ao do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. De 2009 para
2010, as despesas subiram R$ 128 bilhões e atingiram a marca de R$ 700,12 bilhões,
com alta de 22,4%.
Governo Lula bateu recorde de gastos
Despesas do Tesouro, INSS e Banco Central, que em 2003 representavam
15.14% do PIB, atingiram 19,14% oito anos depois
Adriana Fernandes e Célia Froufe
O governo Lula prometeu conter o avanço dos gastos como instrumento auxiliar de
combate à inflação, mas terminou seu último ano com despesas em nível recorde:
19,14% do Produto Interno Bruto (PIB). Em oito anos, os gastos do chamado Governo
Central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, INSS e Banco Central, engordaram 4
pontos porcentuais do PIB.
Boa parte dessa gordura ocorreu nos dois últimos anos, quando a equipe econômica
resolveu expandir as despesas para estimular a economia e também acelerar os
investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principal vitrine de Lula
nas eleições de 2010.
O ano eleitoral foi decisivo para a expansão dos gastos no ano passado, mas os dados
das despesas desde 2003 mostram um peso cada vez maior nas contas do governo. No
primeiro ano do governo Lula, as despesas representavam 15,14% do PIB, nível
semelhante aos dos quatro anos do segundo mandato do governo Fernando Henrique
Cardoso. De 2009 para 2010, subiram R$ 128 bilhões e atingiram R$ 700,12 bilhões,
com alta de 22,4%.
Com o uso de várias manobras contábeis, que abalaram a credibilidade da política fiscal
brasileira, as receitas subiram 24,4%. Não foram suficientes, no entanto, para garantir o
cumprimento da chamada meta cheia de 3,1% do PIB de superávit primário das contas
do setor público, que inclui também o resultado dos Estados e municípios. Como
antecipou o Estado, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu ontem que será
necessário abater despesas do PAC para cumprir a meta.
Receitas. Embora as contas do Governo Central tenham fechado o ano dentro da meta
de 2,15% do PIB, com superávit de R$ 78,96 bilhões em 2010, os Estados e municípios
não conseguiram cumprir a meta de 0,95% do PIB, segundo Mantega. "Então, vai faltar
alguma coisa para completar os 3,1% do PIB, e isso se dará por uma parte do PAC",
disse Mantega, que passou o ano validando a aposta de que a meta cheia seria
cumprida.
Apesar das promessas recorrentes de controle dos gastos, o governo sustentou a política
fiscal muito mais com base no aumento das receitas, em movimento puxado pelo
crescimento maior da economia. Além disso, desde 2008 passou a adotar uma política
mais agressiva de arrecadação, que incluiu uma intrincada engenharia financeira e
garantiu o ingresso de R$ 31,9 bilhões aos cofres do Tesouro com a capitalização da
Petrobrás.
No fim do ano, o governo pôs o pé no freio nas despesas, principalmente de
investimentos, para conseguir um resultado melhor nas contas do Governo Central em
dezembro, que fecharam o mês em R$ 14, 44 bilhões - o maior superávit da série para o
mês de dezembro. / COLABOROU EDUARDO RODRIGUES
------------------------------------O Estado de S.Paulo - 30/01/2011
Davos: o crescimento pegou
Ministros reunidos no Fórum Econômico Mundial avaliam que a recuperação global,
iniciada em 2010, vai se consolidar em 2011, embora o desemprego continue elevado e
haja arrumação por fazer nos países mais avançados. Na avaliação da ministra de
Economia da França Chirstine Lagarde, o crescimento pegou.
A recuperação pegou, dizem ministros em Davos
Empresas dos Estados Unidos e do Reino Unido têm US$ 8 trilhões aplicados em
fundos e US$ 3 trilhões em caixa para financiar o crescimento
Rolf Kuntz
A recuperação global, iniciada em 2010, vai ser consolidada em 2011, embora haja muita
arrumação por fazer nos países mais avançados e o desemprego continue elevado. O
crescimento pegou, disse a ministra de Economia e Finanças da França, Christine
Lagarde, resumindo as perspectivas da União Europeia.
Um dia antes, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, havia
mostrado otimismo sobre a reativação americana - ritmo anual de 3,2% no trimestre
passado - e as possibilidades de ajuste das contas públicas. Lagarde e seus colegas da
Alemanha, do Reino Unido e da Índia participaram ontem, junto com outros especialistas,
de um painel sobre as perspectivas de reativação promovido pelo Fórum Econômico
Mundial.
As empresas dos EUA e do Reino Unido têm muito dinheiro para investir: cerca de US$ 8
trilhões em fundos e uns US$ 3 trilhões em caixa, segundo o executivo principal do
Barclays Bank, Robert Diamond. As companhias americanas detêm dois terços do
dinheiro em caixa. Também o ministro do Tesouro do Reino Unido, George Osborne,
mencionou o grande volume de recursos à disposição das empresas. Falta a decisão de
investir e disso dependerá, em boa parte, a redução do desemprego.
Os preços das matérias-primas e a inundação de dólares desencadeada pelo banco
central americano são preocupações tanto para os avançados quanto para os
emergentes. Para a China, a maior ameaça é a inflação, disse o economista Yu Yongding,
membro sênior da Academia Chinesa de Ciências Sociais.
Bolha. Também a bolha imobiliária pode causar dificuldades, mas há, acrescentou, "uma
tremenda demanda de habitação". O crescimento econômico, 10,3% no ano passado,
deverá diminuir este ano (o FMI prevê 9,6%) e acomodar-se em 8% ou abaixo disso nos
próximos anos, acrescentou. Não há problemas fiscais a curto prazo, mas o país terá de
seguir um novo modelo de crescimento, mais dependente do mercado interno. Um
câmbio chinês mais flexível interessa não só aos EUA, mas também à China, segundo o
economista.
A França deve crescer entre 1,6% e 1,7% neste ano, segundo Lagarde. A expansão
alemã deve ficar em torno de 2,2%, de acordo com o ministro Wolfgang Schäuble. São
as mesmas estimativas divulgadas na semana anterior pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI). Na projeção do Fundo, a economia do mundo rico vai crescer 2,5%
neste ano e 2,5% em 2012. O crescimento do grupo foi maior no ano passado (3%),
mas a boa notícia é a continuação do movimento. A recessão ficou para trás.
Há uma enorme tarefa de ajuste pela frente. A dívida pública das economias mais
desenvolvidas continuará preocupando o mercado. A redução do déficit é uma
precondição do crescimento sustentável, disse Schäuble. O ajuste não impedirá a
manutenção do crescimento, concordou Lagarde. Na zona do euro, o déficit médio,
segundo ela, está em torno de 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Na média, a dívida
equivale a uns 85% da produção bruta e os problemas estão sendo enfrentados.
O governo conservador do Reino Unido, eleito no ano passado, tentará combinar o
crescimento com um amplo programa de reformas, disse o ministro do Tesouro, George
Osborne: redução do déficit fiscal, corte de impostos e renovação de setores importantes
para a competitividade, como a educação.
A Índia, como outros emergentes, continuará crescendo mais que os países
desenvolvidos. A expansão deve ficar em 8,5% neste ano fiscal (até março), segundo o
vice-presidente da Comissão de Planejamento, Montek Singh Ahluwalia. Mas a inflação
também está rodando em 8,5% e essa é a má notícia. Embora cresçam com maior
rapidez, as economias emergentes, observou o economista, não estão desconectadas do
mundo desenvolvido.
--------------------------------------