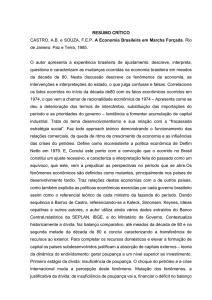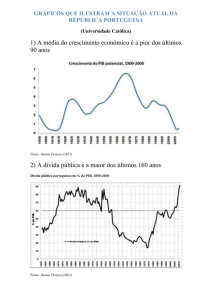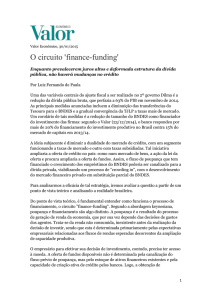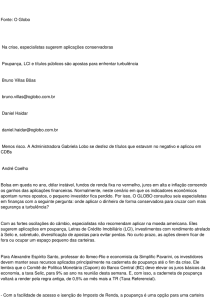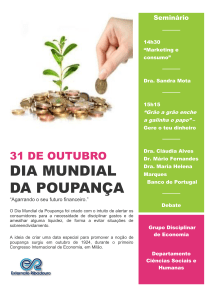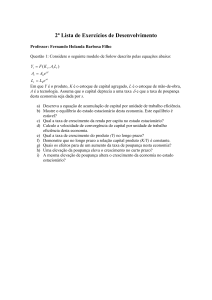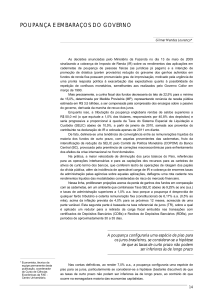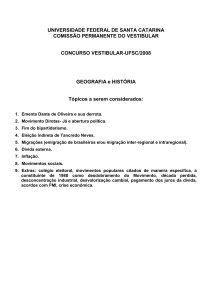Pensamento do Dia
Economistas analisam a Economia, o Brasil
e o mundo,
mundo, na mídia diária 20 05 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Valor Econômico 20 05 2009
Com as mudanças o governo desestimula o indivíduo a manter suas
aplicações
Poupança: uma janela de
oportunidades
Flávio A. C. Basílio e Gustavo J. G. Souza
A medida atual não resolve real problema, que é a vinculação da dívida
pública com a política monetária
A rentabilidade da poupança só apareceu na agenda de discussões do governo
em virtude da necessidade da autoridade monetária em reduzir a taxa básica
de juros (Selic), como forma de reação à crise financeira. No entanto, nas
condições atuais prevalecentes na economia brasileira, corre-se o risco de se
alcançar uma situação nas quais os instrumentos de política anticíclica, em
especial a política monetária, atinjam o seu limite. Essa restrição só existe
porque a regra de remuneração da caderneta de poupança faz com que a
queda da Selic possa ocasionar uma migração das aplicações dos fundos de
investimento para a própria poupança, desestabilizando a gestão da dívida
pública. No entanto, mudar a regra da poupança, não é a única solução.
Com efeito, o problema do limite inferior a queda da Selic pode ser resolvido de
duas formas não mutuamente excludentes: I) alterar a regra de remuneração
da caderneta de poupança; ou II) desindexar a dívida pública - e, dessa forma,
a rentabilidade dos fundos de investimento - da Selic, ou seja, acabar com a
instituição das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). A primeira alternativa
possui elevado custo político. O perfil histórico do chamado "poupador" é
formado, primordialmente, por pessoas que procuram a segurança e
simplicidade da caderneta de poupança; e que usam o instrumento como forma
de juntar dinheiro para financiar consumo futuro e/ou proteger-se
precariamente da inflação, em detrimento da decisão de alocação de portfólio.
Devemos lembrar ainda, que parte dos poupadores é constituída por indivíduos
que, para evitar as tarifas bancárias, veem na poupança uma forma barata de
ter acesso ao mercado bancário. Por essas razões, mudanças nas regras da
poupança que venham a prejudicar os seus depositantes são impopulares e
rejeitadas por grande parte da opinião pública.
Como os custos políticos decorrentes da primeira alternativa são elevados,
soluções alternativas devem ser discutidas. A melhor resposta seria o fim das
LFTs, antigo instrumento financeiro herdado dos tempos de alta inflação. Do
ponto de vista macroeconômico, o fim das LFTs, além de resolver o atual
dilema da poupança, geraria externalidades positivas à sociedade. Isso
representaria o fim do contágio da política monetária pela dívida pública. Esse
efeito deve-se a indexação das LFTs pela Selic. Dessa forma, variações na taxa
de juros não provocam perda de capital para os possuidores desses títulos, de
tal sorte que a duration dos mesmos é praticamente nula. A desindexação da
dívida com respeito à Selic permitiria ao Bacen conduzir mudanças na política
monetária sem impacto imediato sobre a gestão e os custos de carregamento
da dívida pública. Além disto, o fim das LFTs elevaria a eficácia da política
monetária, a qual poderia contar um efeito riqueza mais robusto.
Neste particular, uma pergunta parece relevante. Se o fim das LFTs traz tantos
benefícios, porque os governos ainda não a extinguiram? Parte da resposta
dessa pergunta passa pela constatação de que o custo fiscal de eliminação das
LFTs depende da conjuntura macroeconômica. Em um cenário de crise cambial
no qual o BC é obrigado a elevar a taxa básica de juros para conter o ataque
especulativo contra a moeda nacional - tal como ocorreu diversas vezes
durante os mandatos de FHC - os agentes econômicos só estarão dispostos a
abrir mão das LFTs se o governo oferecer um prêmio de risco ao demandante.
Este prêmio será expresso por uma taxa de juros pré-fixada mais elevada. Da
mesma forma, os agentes exigirão prêmios mais elevados se a dinâmica da
dívida mostrar deterioração dos indicadores de solvência.
No entanto, a conjuntura macroeconômica em que vivemos é diametralmente
oposta à observada durante o período FHC. Primeiro, o cenário é de redução da
taxa básica de juros. Segundo, a dívida pública apresentou uma nítida
tendência de queda nos últimos anos.
Assim, podemos aproveitar a crise e interpretá-la como uma janela de
oportunidades para efetuar as reformas macroeconômicas necessárias para o
crescimento de longo prazo. Este é o momento de acabar com as LFTs! A troca
das LFTs por outros títulos pré-fixados é facilitada pela atual conjuntura de
queda da taxa básica de juros. Num cenário onde a taxa básica pode cair para
9,25% ao ano (a.a.) já na próxima reunião do Copom, não é excesso de
otimismo pensar que o estoque remanescente de LFTs poderia ser trocado por
títulos pré-fixados a uma taxa de 12% a.a, por exemplo. Ou seja, um prêmio
de 2,75% a.a. sobre os títulos pós-fixados. Segundo dados do Tesouro, o
estoque de dívida pública federal na forma de LFTs era de R$ 467 bilhões em
março de 2009. Grosso modo, o custo de carregamento desse estoque, à taxa
de 9,25% a.a., será de R$ 44 bilhões. Em uma hipotética operação de
substituição de títulos pós-fixados por títulos pré-fixados, o custo de
carregamento desse estoque aumentará para R$ 56 bilhões, ou seja, o custo da
extinção definitiva das LFTs seria de R$ 12 bilhões.
Podemos pensar em outras soluções, de caráter paliativo, que poderiam de
toda forma amenizar o problema. Essa é a essência da proposta do governo: A)
tributar a poupança por faixa de aplicação; B) eliminar a tributação dos fundos
de investimento. A novidade trazida pela medida do governo diz respeito à
tributação dos rendimentos da poupança. Esses deverão ser somados às
demais rendas do poupador de modo a compor a "renda agregada" do
indivíduo. Isto é, do ponto de vista tributário, o governo está interpretando o
rendimento da poupança como oriundo do trabalho. Sendo assim, o que se
verifica é a isenção tributária do capital em detrimento do trabalho. Além disso,
devemos analisar as medidas do governo em termos dos impactos sobre os
prazos de maturidade das aplicações. Como se sabe, 65% dos recursos da
poupança é direcionado para o financiamento imobiliário, ou seja, para a
compra de ativos de longo prazo. No entanto, do ponto de vista da captação, o
governo desestimula o indivíduo a manter suas aplicações na poupança, seja
por incentivar sua saída no momento em que atinge o limite de rendimento
tributado, seja porque, em comparação com outras formas de aplicação, não
premia a aplicação de longo prazo, como alíquotas regressivas em função do
prazo. Desta forma, segue-se que mudanças no estado de confiança na
instituição da poupança podem acarretar problemas de descasamento de
ativos. Claramente, o governo substituiu um problema outrora denominado de
repressão financeira, decorrente da rigidez dos juros da poupança, por um
problema de fragilidade financeira, mais grave do ponto de vista do sistema
econômico.
Um problema adicional diz respeito ao aspecto temporal de tal medida.
Estamos em um momento de crise e o BC precisa dispor de todos os
instrumentos para estimular a economia. No entanto, a tributação da poupança
deve respeitar o princípio tributário da anterioridade, ou seja, as medidas
tributárias inseridas na poupança só trarão efeitos a partir de 2010, tarde
demais para uma economia em crise.
A segunda solução, todavia, pode ter um grau de eficácia maior. A redução de
impostos, como o de renda incidente nos títulos da dívida pode, sim, ter
aplicabilidade imediata. De toda sorte, a redução da alíquota de imposto para
zero possibilitaria, apenas, uma queda de 2% na Selic. Isto é, apostar apenas
nessa medida tributária como única forma de solucionar o problema é apostar
na rápida recuperação da economia brasileira, ou seja, no rápido fim da crise
financeira internacional. De qualquer maneira, essa medida possibilita uma
maior margem de manobra por parte do governo sem, contudo, resolver a
essência do problema: a vinculação da dívida pública com a política monetária.
Sendo assim, poderíamos aproveitar esse ganho temporal possibilitado pela
redução do imposto para extinguir de forma responsável a instituição das LFTs.
Flávio A. C. Basílio, economista, doutorando em Economia pela
Universidade de Brasília (UnB) e membro da Associação Keynesiana
Brasileira.
Gustavo J. G. Souza, economista, doutorando em Economia pela
Universidade de Brasília (UnB) e professor da Universidade Católica de
Brasília (UCB).
------------------------------------------------------------
Folha de S.Paulo 20 05 2009
TENDÊNCIAS/DEBATES
Estado para o século 21
MARCIO POCHMANN
A presença renovada do Estado
se faz necessária. Mas seria
equívoco tratar o Estado com as
mesmas premissas do século
passado
A VISÃO do Estado atuando em contraposição às forças de mercado se tornou
anacrônica diante dos desafios das nações neste começo do século 21.
Pela globalização, por exemplo, diversos países voltaram a se especializar no
uso intensivo dos recursos naturais e da produção de contido custo do trabalho,
comprometendo o avanço de projetos nacionais capazes de incluir a totalidade
de suas populações nos frutos da modernidade.
No Brasil da última década, a prevalência da premissa de que menos Estado
representaria mais mercado teve convergência com o modelo de sociedade
para poucos. E a contenção do Estado produziu o encolhimento do próprio setor
privado nacional (bancos e empresas não financeiras), cada vez mais dominado
por corporações estrangeiras.
Com a redução dos bancos públicos, acompanhada da brutal diminuição dos
bancos privados nacionais, e o esvaziamento das firmas nacionais entre as
maiores empresas no país, parcela crescente da riqueza deixou de ser
compartilhada com a nação.
Hoje, pelo menos dois quintos dos brasileiros são analfabetos funcionais, afora
um enorme déficit econômico e social. Obstáculos como esses enfraquecem o
estabelecimento de um novo padrão civilizatório contemporâneo dos avanços
do século 21.
As forças de mercado, embora imprescindíveis na geração de oportunidades,
mostram-se insuficientes para garantir o acesso a todos. Não há dúvidas de
que, neste contexto, a presença renovada do Estado se faz necessária. Mas que
Estado? Um equívoco seria tratar o Estado com as mesmas premissas do século
passado.
Neste século, cuja sociedade eleva sua expectativa média de vida para além
dos 80 anos, a parcela dos idosos deve superar o segmento infantil e as
ocupações geradas passam a depender fundamentalmente do setor terciário,
que já responde por três quartos do total dos postos de trabalho.
Sem a garantia do pleno e equivalente direito de oportunidades a todos, o
princípio da liberdade de iniciativa individual e coletiva permanece no plano da
retórica. Em síntese: a prevalência do reino da desigualdade e da exclusão
sediada no Brasil.
O Estado necessário do século 21 precisa incorporar novas premissas
fundamentais.
A primeira passa pela reinvenção do mercado, capaz de fazer valer a isonomia
nas condições de competição.
Em qualquer atividade econômica, predomina hoje um conjunto de práticas
oligopolistas de formação de preços e domínio do mercado, o que exclui parcela
significativa dos empreendimentos empresariais da livre competição.
A mudança na relação do Estado com o mercado é urgente e inadiável, com a
adoção de políticas que apoiem a igualdade de oportunidades por meio de
condições de competição e cooperação só oferecidas ao circuito superior da
economia, como o acesso ao crédito, tecnologia e assistência técnica, entre
outras.
Uma segunda premissa compreende a mudança na relação do Estado com a
sociedade, especialmente quando as políticas universais de saúde, educação,
trabalho e transporte não apresentam a eficácia global esperada. Isso porque a
complexidade dos problemas atuais requer ação totalizante, por isso matricial e
transdisciplinar no plano territorial.
Uma política de assentamento urbano, por exemplo, dificilmente terá êxito sem
superar a lógica das caixinhas contida no compartilhamento do Estado
brasileiro. Além da especificidade do assentamento, é necessária para a eficácia
global a adoção de políticas complementares e articuladas, como educação,
saúde, transporte e saneamento, entre outras.
Por fim, uma terceira premissa deve convergir para a mudança na relação do
Estado para com o fundo público. De um lado, o avanço na tributação
progressiva, capaz de deslocar a base tradicional de incidência (produção e
consumo) para o patrimônio e novas formas de riqueza. De outro, a renovação
do sistema de financiamento da agenda socioeconômica do século 21
(postergação no ingresso no mercado de trabalho, trajetória ocupacional
diversificada, educação para a vida toda). O uso do fundo público
comprometido com os novos desafios não precisa ser estatal, podendo ser
comunitário.
Tudo isso, contudo, dificilmente poderá ser desenvolvido sem a renovação do
Estado para o século 21.
MARCIO POCHMANN , 47, economista, é presidente do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) e professor licenciado do Instituto de Economia e
do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Foi
secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São
Paulo (gestão Marta Suplicy).
-------------------------------Folha de S.Paulo 20 05 2009
ANTONIO DELFIM NETTO
Blindagem do BC
É CADA VEZ mais evidente que o Brasil "importou" uma crise de crédito no dia
16 de setembro de 2008 em dimensão muito superior à necessária.
O nosso sistema bancário havia sido "saneado" com o Proer em 1997 (alguns
de seus autores ainda respondem por isso na Justiça!), e suas "ligações" com o
sistema financeiro mundial poderiam ter sido sustentadas (pelo menos no curto
prazo) por uma ação mais enérgica e mais expedita do nosso Banco Central.
Na falta dela, nossos banqueiros, infelizmente, mas compreensivelmente,
entraram em pânico naquele domingo à tarde, quando o Tesouro Americano e o
Fed comunicaram ao mundo a grande "barbeiragem" do século 21. Haviam
destruído um "nó" importante da grande rede de crédito mundial com o
abandono do Lehman Brothers à sua própria sorte. Isso levou ao colapso
instantâneo de toda a rede, antes mesmo de os mercados abrirem na segundafeira...
Entre 2002 e 2008, nossa situação mudou completamente, como resultado da
expansão mundial: 1) nossas exportações, que cresciam à taxa de 4% ao ano,
passaram a crescer a 22%; 2) nossa dívida externa, que representava quatro
anos de exportações, foi reduzida a um ano; 3) nossas reservas, que
representavam 10% da dívida externa, passaram a 100% dela, e nosso
crescimento econômico anual duplicou, sem risco para a taxa de inflação ou o
equilíbrio externo.
Durante esse período, o nosso Banco Central adquiriu musculatura suficiente
para dar conforto imediato aos bancos nacionais. Como explicar que, depois de
oito meses, ainda estamos fazendo o que deveríamos ter feito em setembro:
amenizar a redução do crédito interbancário e frustrar a busca pela liquidez que
a insegurança impôs a todos os agentes do mercado (banqueiros, empresários
e trabalhadores)?
Há muitas hipóteses. Talvez a mais plausível seja a de que a estrutura jurídica
existente não dava (e ainda não dá) "conforto" ao próprio Banco Central. Ele
não recebeu suporte jurídico necessário e criou uma perigosa filosofia: banco
grande é melhor do que banco pequeno, e banco público é melhor do que
banco privado, dificultando ainda mais o restabelecimento do crédito
interbancário.
A situação do credito está melhorando, mas ainda está muito longe da
normalidade e, na margem, o seu custo continua absurdo. O BC agiu na direção
correta, mas sem convicção, e estamos pagando um alto preço por isso.
Talvez seja hora de o "blindarmos", de fato, para que ele possa, com maior
desenvoltura e com sua musculatura, estimular a atividade neste meio ano de
2009 que nos falta viver...
[email protected]
ANTONIO DELFIM NETTO escreve às quartas-feiras nesta coluna.
--------------------------------------Folha de S.Paulo 20 05 2009
PAULO RABELLO DE CASTRO
A bolha chinesa: enredo para um
suspense
Com o real forte e a economia
doméstica nanica, o Brasil será
presa fácil de recessão pior se a
bolha chinesa estourar
O SUSPENSE , para existir, deve nos conduzir a algo que se revelará
inesperado. Estamos neste ponto do filme da bolha de Wall Street: a trama
está toda armada, com o sistema financeiro americano quebrado, a maior
fabricante de automóveis a minutos de pedir proteção falimentar, os dados de
consumo e investimento no chão e a marolinha que virou crise global. Mas, nas
sequências recentes do filme, o diretor nos leva a pensar que "o pior já
passou". E aparece a eufórica China para nos resgatar da matança de 2009.
A economia brasileira seria beneficiária direta da versão sobre o iminente fim
da crise mundial. Se o pior já estiver passando, as taxas de crescimento do
mercado brasileiro voltarão a patamares atraentes, que o ministro Mantega
estima por volta dos 4% em 2010. Nesse cenário otimista, os preços das ações
estariam baixos ante o lucro projetável, de 2010 em diante. Há outros indícios,
como numa instigante história de suspense, que apontam pistas de uma
recuperação à vista: começam a retornar, em grandes volumes, os dólares de
fora, que nos abandonaram em polvorosa ao final do ano passado. Vêm atrás
dos ganhos especulativos de Bolsa e apostam, sobretudo, numa nova onda de
valorização do real.
Meu colega colunista de ontem, Benjamin Steinbruch, apelida-os, com fino
humor, de "mercados de fé". A moeda brasileira se tornou novamente a
campeã de valorização relativa perante o cambaleante dólar americano. O real
retorna cheio de moral, embalado pelos altos preços das commodities agrícolas,
com destaque para a soja, que se comercializa em nível muito superior ao seu
patamar histórico, como se o mundo vivesse uma escassez alimentar, e não
uma aguda crise de renda. Parecemos esquecidos de uma regra fundamental:
recuperação para valer depende de preços de insumos baratos diante dos bens
industriais, nunca o inverso.
Para onde, afinal, esse filme da bolha nos está levando? Aposto que seja para
os lados da China. Os novos donos do mundo têm muito a ver com o resto
dessa trama. Desde o final de 2008, a China jorrou o equivalente a 15% do seu
PIB em empréstimos adicionais ao já enorme estoque de financiamentos. É só
comparar as proporções. O que a China, no primeiro quadrimestre deste ano,
apenas acrescentou à sua massa de crédito é igual a tudo o que, em proporção
do PIB, o Brasil tem alocado para o financiamento da indústria nacional.
Tal disparidade nos revela o quanto, no Brasil, ainda operamos com rodas
travadas diante da crise, enquanto a China responde com ímpeto monetário.
Talvez a virtude esteja no meio. Hoje a China corre até o risco de capotar, e, se
isso acontecer, a reviravolta no filme da bolha assumirá contornos dramáticos.
Lula foi à China para tentar atrair dinheiro, ao que se sabe, para os setores de
energia, inclusive pré-sal, e para o agronegócio. É uma pauta convencional,
pois esses são dois segmentos que menos necessitariam de suporte de capital
externo. Até aqui caminharam com as próprias pernas. O agronegócio precisa,
sim, ser destravado nos campos do crédito, logística e ambiente. Isso não é
pauta em que a China possa avançar antes de a política agrícola se modernizar.
Em compensação, brincamos de ser país de moeda forte e indústria fraca, tudo
ao contrário da China, que prega sua moeda ao dólar e faz dumping industrial.
Com o real anabolizado e a economia doméstica nanica, o Brasil será presa fácil
de uma recessão agravada, caso a bolha chinesa acabar estourando em algum
momento do filme.
PAULO RABELLO DE CASTRO , 59, doutor em economia pela Universidade de
Chicago (Estados Unidos), é vice-presidente do Instituto Atlântico e chairman
da SR Rating, classificadora de riscos. Preside também a RC Consultores,
consultoria econômica, e o Conselho de Planejamento Estratégico da
Fecomercio [email protected]
-------------------------------------------------Folha de S.Paulo 20 05 2009
Emprego recuará ao nível de 2007,
afirma Meirelles
PEDRO SOARES
SAMANTHA LIMA
DA SUCURSAL DO RIO
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que, com a crise, o
nível de emprego no país deverá retroceder aos patamares de 2007, o que
considerou "preocupante".
"A massa salarial comparada a 2008 está crescendo. Mas a previsão dos índices
de desemprego no segundo semestre vai levar a uma trajetória comparada a
2007. Estamos retrocedendo dois anos", disse Meirelles durante o 21º Fórum
Nacional, no BNDES, organizado anualmente pelo ex-ministro do Planejamento
João Paulo dos Reis Velloso.
De acordo com dados do IBGE, o desemprego atingiu 9% em março. Em 2008,
fechou em 7,9%, ante 9,3% em 2007. Segundo Meirelles, há países em
situação pior. "Não podemos esquecer que, em alguns países, o índice vai
voltar à década de 40."
O alívio que o governo deu recentemente ao próprio caixa ao afrouxar as metas
de economia para pagamento de juros da dívida interna não é visto por
Meirelles como algo que possa piorar as contas públicas.
Devido à crise e à queda na arrecadação, o governo reduziu essa meta chamada de superávit primário- de 3,8% para 2,5% do PIB neste ano, sob
alegação da necessidade de preservar investimentos.
Segundo Meirelles, a relação entre a dívida e o PIB estava acima de 40% no
ano passado. "Mesmo com a redução da meta de superávit, o mercado prevê
que essa relação não fique acima de 39% no fim do ano. Hoje, estamos em
37,8%", diz Meirelles.
A relação dívida/PIB é um importante indicador das contas de um país. Quando
está em alto patamar, indica, para investidores estrangeiros, um maior risco de
calote.
Superávit zero
O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, descartou a possibilidade de zerar
o superávit em 2010, como sugeriu o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), órgão ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos.
"O governo considera importante fazer superávit porque queremos continuar o
esforço para reduzir a dívida como proporção do PIB", disse Bernardo no
Fórum.
O ministro defendeu ainda os cortes de impostos a alguns setores e não
descartou a possibilidade de desonerar mais ramos prejudicados pela crise,
desde que essas deduções sejam acompanhadas de novos cortes de gastos.
Segundo Bernardo, a turbulência abalou a arrecadação do governo, que contará
com cerca de R$ 50 bilhões a menos no seu orçamento deste ano.
De um lado, diz, a crise forçou o governo a fazer "políticas anticíclicas" e cortar
impostos de determinados setores -entre eles, o automobilístico e o de
eletrodomésticos da linha branca. A desoneração até agora somou R$ 21
bilhões.
Do outro, a retração do consumo e dos investimentos com a crise foi
responsável pela queda na arrecadação e explica a redução restante de quase
R$ 30 bilhões.
Apesar do impacto da crise, Bernardo afirmou que já existem sinais de melhora
na arrecadação.
-------------------------O Estado de S.Paulo 20 05 2009
Desenvolvimento sem burocracia
Ruy M. Altenfelder Silva*
Custo Brasil é o conjunto de dificuldades burocráticas, estruturais e econômicas
que entravam o desenvolvimento, encarecendo o investimento e o custo dos
produtos fabricados, aumentando o desemprego, a economia informal, a
sonegação de impostos e a evasão de divisas.
A burocracia tem peso significativo na composição do custo Brasil: a criação
e/ou o fechamento de uma empresa, as exigências burocráticas excessivas
para exportação e importação, a elevada carga tributária - eivada de exigências
formais que aumentam o custo das empresas -, os altos custos e exigências
contidos na legislação trabalhista e previdenciária, o sistema tributário
complexo e ineficiente, acarretando uma das maiores cargas tributárias do
planeta, o elevado déficit público, o peso desmesurado das despesas de custeio
da máquina pública e a corrupção vergonhosa, combatida timidamente.
São alguns exemplos do custo Brasil, que diferenciam comparativamente os
produtos brasileiros dos produtos fabricados no exterior.
Combater os excessos burocráticos é imprescindível para o desenvolvimento.
O Conselho Superior de Estudos Avançados da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), por mim presidido, escolheu este tema para os
estudos que está realizando, focando-o nos seus diversos aspectos.
O presidente do Instituto Hélio Beltrão, Piquet Carneiro, sustenta que o excesso
de trâmites legais atravanca a vida dos cidadãos, afeta a competitividade do
País e abre as portas para a corrupção. No estudo que apresentou ao Conselho,
citou frase do saudoso Hélio Beltrão: "O brasileiro é simples e confiante. A
administração pública é que herdou do passado e entronizou em seus
regulamentos a centralização, a desconfiança e a complicação." O saudoso
ministro (1916-1977) encampou o Programa Nacional de Desburocratização. A
sua frase traduz o pântano burocrático que dia após dia os brasileiros precisam
transpor. Seja para adquirir um bem, iniciar um empreendimento, viabilizar
uma transação financeira ou tirar um simples documento, o cidadão tem de
lidar com uma infinidade de papéis, carimbos, filas de cartório e má vontade
dos burocratas de plantão.
A burocracia excessiva promove a exclusão social e econômica, na medida em
que a maioria dos brasileiros não conhece nem metade das formalidades que
deve cumprir. Ela está na raiz da negação de acesso aos direitos mais básicos.
No estudo, Piquet Carneiro apresentou uma relação que poderia servir de
parâmetro ao governo, sempre que alguém sugere a colocação de mais uma
fileira de tijolos no edifício da burocracia.
Entre as questões a serem previamente analisadas incluem-se:
O problema a ser regulado está claro?
justifica-se a intervenção do governo?
a regulação é a melhor medida neste caso?
há base legal para proceder à regulação?
há benefícios que justifiquem a ação?
e como os resultados serão atingidos?
Os Estados e municípios devem ser os grandes agentes de transformação para
eliminar a burocracia no País.
Em outro estudo, o professor Ives Gandra da Silva Martins analisou o sistema
tributário brasileiro, considerando inoportuna e inconveniente a atual proposta
de reforma apresentada pelo governo. Apontou a elevação da carga tributária e
as complexidades burocráticas que agravarão as já existentes.
O professor João Grandino Rodas e o advogado Humberto Macabelli Filho
apontaram aspectos burocráticos do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência que precisam ser removidos. O embaixador Carlos Henrique
Cardim, o professor Paulo Nassar, o desembargador José Renato Nalini, o
advogado Gabriel Jorge Ferreira e o secretário Guilherme Afif Domingos
focaram os diferentes aspectos da burocracia, que entrava o nosso
desenvolvimento nas diversas áreas de suas especialidades.
Os estudos prosseguirão com a análise do problema no âmbito dos governos
municipais, no sistema educativo e da saúde, além de aprofundamento dos
estudos que envolvem a burocracia no Poder Judiciário.
É preciso desatar o nó da burocracia se quisermos acelerar o nosso
desenvolvimento.
*Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do Conselho Superior de
Estudos Avançados da Fiesp, é presidente da Academia Paulista de
Letras
------------------------Valor Econômico 20 05 2009
A era do modelo hegemônico de
economia de mercado pertence ao
passadoPode não ser o momento
definidor
Martin Wolf
Podemos supor que a era do modelo hegemônico de economia de
mercado pertence ao passado
Será a crise atual um divisor de águas, com a globalização liderada pelo
mercado, o capitalismo financeiro e o predomínio ocidental de um lado e o
protecionismo, regulamentação e predomínio asiático do outro? Ou será que os
historiadores preferirão julgá-lo como um evento causado por tolos,
significando pouco? Meu palpite pessoal é que ele ficará no meio termo. Nem é
a Grande Depressão, uma vez que a resposta política tem sido tão
determinada, nem é o capitalismo de 1989.
Examinemos o que sabemos e o que não sabemos a respeito do seu impacto
sobre a economia, finanças, capitalismo, Estado, globalização e geopolítica.
Sobre a economia, já sabemos cinco coisas importantes. Primeiro, quando os
EUA contraem pneumonia, todos adoecem gravemente. Segundo, esta é a mais
grave crise econômica desde a década de 1930. Terceiro, a crise é global, com
um impacto particularmente grave sobre países que se especializam em
exportações de bens manufaturados ou que dependeram de importações
líquidas de capital.
Quarto, os formuladores de política promoveram os mais agressivos estímulos
fiscais e monetários e socorros financeiros já vistos. Por fim, este esforço
trouxe algum sucesso: a confiança está voltando e o ciclo de estoques deverá
gerar alívio. Como observou Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central
Europeu (BCE), a economia global está "próxima do ponto de inflexão", com o
que ele quis dizer que agora a economia está declinando a uma taxa
decrescente.
Podemos também conjeturar que os EUA liderarão a recuperação. Os EUA são
mais uma vez o mais importante país keynesiano do mundo. Podemos supor,
também, que a China, com seu gigantesco pacote de estímulo, será a economia
mais bem sucedida do mundo.
Infelizmente, há pelo menos três grandes coisas que não podemos saber. Até
que ponto os excepcionais níveis de endividamento e queda no patrimônio
líquido gerarão um aumento sustentado nas desejadas economias das famílias
de consumidores gastadores de outrora? Por quanto tempo poderão persistir os
atuais déficits fiscais até os mercados exigirem maior remuneração pelo risco?
Poderão os bancos centrais articular uma saída não inflacionária das políticas
não convencionais?
Nas finanças, a confiança está voltando, com os spreads entre ativos seguros e
de risco diminuindo para níveis menos anormais e uma (modesta) recuperação
nos mercados. A administração dos EUA conferiu ao seu sistema bancário um
razoável certificado de saúde. Os balanços patrimoniais do setor financeiro,
porém, explodiram nas décadas recentes e a solvência dos devedores está
deteriorada.
Podemos supor que as finanças terão uma recuperação nos próximos anos.
Podemos estimar, também, que seus dias de glória estão distantes delas por
décadas, pelo menos no Ocidente. O que não sabemos é até que ponto irá a
"desalavancagem" e a subsequente deflação de balanços patrimoniais na
economia. Tampouco sabemos em que medida o setor financeiro conseguirá se
desvincular das tentativas de impor um regime regulatório mais eficaz. Os
políticos deveriam ter aprendido com a necessidade de socorrer sistemas
financeiros abarrotados de instituições tidas como grandes e interconectadas
demais para falir. Temo que interesses concentrados subjuguem o interesse
geral.
O que dizer sobre o futuro do capitalismo, sobre o qual o "Financial Times"
publicou sua série fascinante? Ele sobreviverá. O comprometimento da China e
Índia com uma economia de mercado não mudou, a despeito desta crise,
apesar de que ambos ficarão mais nervosos em relação às finanças irrestritas.
Pessoas situadas do lado do livre mercado insistirão em afirmar que o malogro
deveria ser creditado mais na conta dos reguladores do que na dos mercados.
Existe uma grande verdade nisto: os bancos são, afinal, as instituições
financeiras mais regulamentadas. Este argumento, porém, fracassará
politicamente. A disposição de confiar na livre atuação das forças de mercado
nas finanças foi prejudicada.
Podemos supor, portanto, que a era do modelo hegemônico de economia de
mercado pertence ao passado. Os países adaptarão, como sempre fizeram, a
economia de mercado às suas próprias tradições. Eles agirão assim, porém,
com maior confiança. Como teria dito Mao Tsé-Tung, "que floresçam mil flores
capitalistas". Um mundo com muitos capitalismos será complicado, mas
divertido.
Menos claras são as implicações para a globalização. Sabemos que a enorme
injeção de recursos governamentais "desglobalizou" parcialmente as finanças, a
um grande custo para os países emergentes. Sabemos, também, que a
intervenção do governo na indústria tem um forte matiz nacionalista. Sabemos,
igualmente, que poucos líderes políticos estão preparados para se aventurar em
prol do livre comércio.
A maioria dos países emergentes concluirá que acumular vastas reservas
cambiais e limitar os déficits em conta corrente é uma estratégia sólida. Isto
possivelmente gerará outra rodada de "desequilíbrios" globais
desestabilizadores. Este parece ser um resultado inevitável de uma ordem
monetária internacional imperfeita. Não sabemos de que forma a globalização
sobreviverá a todos este estresse. Estou esperançoso, mas não tão confiante.
O Estado, enquanto isso, está de volta, mas também parece cada vez mais
falido. A dívida do setor público como porcentagem do PIB provavelmente
dobrará em muitos países avançados: o impacto fiscal de uma grande crise
financeira pode, fomos lembrados, ser tão oneroso como uma guerra em
grande escala. Isto, portanto, representa um desastre que governos de
economias avançadas com baixo crescimento não poderão permitir que se
repita em uma geração. O legado da crise também limitará a generosidade
fiscal. A tentativa de consolidar as finanças públicas dominará a política por
anos, talvez décadas. O Estado está de volta, portanto, mas ele será o Estado
na condição de invasor intruso, não de esbanjador.
Por último, mas não menos importante, o que esta crise significa para a ordem
política global? Neste caso, sabemos três coisas importantes. A primeira é que
a crença de que o Ocidente, por mais que seja amplamente malvisto pelos
demais países, pelo menos soube como gerenciar um sistema financeiro
sofisticado que sucumbiu. A crise causou dano extremamente grave ao
prestígio dos EUA, em particular, apesar de o tom do novo presidente
certamente ter ajudado. O segundo é que os países emergentes e, acima de
tudo, a China, agora são protagonistas centrais, como foi demonstrado na
decisão de realizar dois encontros estratégicos do Grupo de 20 países
importantes no nível de chefe de governo. Agora eles são elementos vitais na
formulação da política global. O terceiro é que estão sendo feitas tentativas de
modernizar a governança global, especialmente nos recursos crescentes que
estão sendo repassados ao Fundo Monetário Internacional e na discussão da
mudança dos pesos dos países que o compõem.
Só podemos conjeturar sobre quão radicais se tornarão as mudanças na ordem
política global. Os EUA provavelmente despontarão como o líder indispensável,
despojado das ilusões do "momento unipolar". O relacionamento entre EUA e
China será mais central, com a Índia esperando por sua oportunidade. O peso
econômico e o poder relativo dos gigantes asiáticos seguramente aumentarão.
A Europa, enquanto isso, não está tendo uma boa crise. Sua economia e
sistema financeiro comprovaram ser muito mais vulneráveis do que muitos
esperavam. Até que ponto um conjunto de instituições reequilibradas e
modernizadas refletirá as novas realidades, porém, é algo, por enquanto,
desconhecido.
Qual é, pois, a conclusão? Meu palpite é que esta crise acelerou algumas
tendências e confirmou que outras - particularmente em crédito e débito - são
insustentáveis. Ela danificou a reputação do ofício da economia. Ela deixará um
legado amargo para o mundo. Mesmo assim, porém, não indicará nenhum
divisor de águas histórico. Parafraseando o que as pessoas diziam por ocasião
da morte de reis: "O capitalismo está morto; vida longa ao capitalismo".
Martin Wolf é colunista do "Financial Times".
=================================================
OUTRAS NOTÍCIAS
O Estado de S.Paulo 20 05 2009
Fundos de pensão e BNDES querem até
44% do capital da Brasil Foods
Eles pretendem comprar um volume expressivo de ações na oferta pública que
a nova empresa vai fazer em julho
Irany Tereza, David Friedlander e Ricardo Grinbaum
Os fundos de pensão - que controlam a Perdigão - e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) planejam comprar pelo menos
50% - se possível até 65% - das ações a serem emitidas até o fim de julho pela
Brasil Foods, a companhia formada por Sadia e Perdigão. A oferta dos papéis
para reforçar a companhia deverá atingir R$ 4 bilhões. Com essa compra
agressiva, os fundos querem ampliar, de 26% para 35%, sua participação no
capital total da nova empresa. O BNDES ficaria com algo como 9%. Juntos,
passariam a ter 44% da Brasil Foods.
Os fundos contam com o BNDES para criar um grupo de acionistas afinado e
forte o suficiente para definir os rumos da Brasil Foods, sem depender de
outros sócios. Pertencentes a estatais, são liderados pela Previ, do Banco do
Brasil. Deverão investir de R$ 1,3 bilhão a R$ 2 bilhões.
O BNDES planeja investir de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão, segundo apurou o
Estado. A intenção é comprar um grande volume de ações mesmo que a
demanda pelos papéis seja forte, o que mostraria que o interesse do BNDES é
fazer uma composição estratégica com os fundos e não apenas garantir o
sucesso da operação. Outros fortes interessados são dois grandes acionistas da
Perdigão: a Weg e a família do chinês Shan Ban Chun, que vendeu a Eleva para
a Perdigão em outubro de 2007.
A composição acionária definitiva, no entanto, ainda vai depender de um ponto
da legislação chamado direito de prioridade: ele garante aos sócios da empresa
ofertante o direito de fazer a subscrição das ações antes dos outros. Hoje, os
acionistas da Perdigão têm esse direito. Os da Sadia, não.
É que a oferta de ações será feita pela Perdigão, portanto apenas seus sócios
podem exercer o direito de prioridade. As famílias Fontana e Furlan, da Sadia,
só passam a ter a mesma vantagem no momento em que a incorporação da
Sadia pela Perdigão for sacramentada, o que pode levar cerca de 60 dias. Como
os acionistas da Sadia querem ter preferência, criou-se uma corrida contra o
relógio.
"Se a incorporação for concluída antes da oferta pública não há problema,
porque os sócios da Sadia já terão o direito de prioridade", diz um executivo
envolvido na operação. "Se ocorrer antes de a incorporação ser completada,
vamos ter que ver". Se isso ocorrer, a decisão será arbitrada pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Executivos que participam da operação avaliavam ontem que a incorporação da
Sadia pela Perdigão ficará pronta depois da oferta de ações. Isso porque há
pressa em capitalizar a Brasil Foods, que estreia com dívida de mais de R$ 10
bilhões, herdada de Sadia e Perdigão.
O grupo que controla a Sadia é formado por sete famílias, com centenas de
pessoas, cada um com uma ideia diferente do que fazer agora. "Uns querem
continuar na nova empresa, outros querem abrir negócio próprio e há os que
querem pegar o dinheiro, mas ainda não sabem o que fazer", diz o membro de
uma dessas famílias.
Perdigão e Sadia já ensaiaram unir suas operações várias vezes. Em outubro do
ano passado, depois que a Sadia anunciou perdas que chegaram a R$ 2,6
bilhões com derivativos cambiais, seus representantes procuraram a Perdigão e
negociaram um acordo de preferência.
Esse acordo venceu em março e os acionistas da Sadia, então, passaram a
procurar fundos de investimentos dispostos a entrar na companhia.
Um desses fundos, o Tarpon, chegou a fazer uma oferta de R$ 2 bilhões. Os
acionistas da Sadia preferiram continuar a conversar com a Perdigão. Mas o
negócio só se concretizou por causa das dificuldades financeiras da Sadia.
Os acionistas culparam o ex-diretor financeiro Adriano Ferreira, que foi
demitido. Segundo os controladores da Sadia, ele teria feito operações de alto
risco com derivativos sem consultar o conselho de administração.
Os fundos de pensão mandaram incluir uma cláusula especial nos documentos
da nova empresa. Ela exige que as informações financeiras circulem
abertamente na Brasil Foods, para impedir que se repita o ocorrido na Sadia.
-----------------------------------------------O Estado de S.Paulo 20 05 2009
Legislação deve provocar alta de tarifas
Andrew Martin*, THE NEW YORK TIMES
Os cartões de crédito têm sido, desde há muito, um excelente negócio para
pessoas que pagam as contas em dia e por inteiro. Enquanto as
administradoras de cartões impunham multas e tarifas punitivas para os que
atrasavam os pagamentos, os melhores clientes colheram recompensas em
saques de dinheiro, milhagens aéreas e outros benefícios nos últimos anos.
Agora, o Congresso pretende limitar as multas a credores mais arriscados, que
se tornaram fonte importante de bilhões de dólares de receita com tarifas. Para
compensar a receita perdida, as administradoras de cartões vão atrás dos bons
credores.
Os bancos provavelmente recorrerão a tarifas anuais, reduzindo os saques em
dinheiro e outros programas de premiação, e cobrando juros imediatamente
após uma compra, em vez de conceder um período de graça de algumas
semanas, segundo funcionários de bancos e associações comerciais.
"Será um negócio diferente", disse Edward L. Yingling, o presidente executivo
da American Bankers Association (ABA), que vem pressionando o Congresso
por uma legislação mais leniente em favor dos maiores bancos. "Os que
gerenciam bem o crédito em certa medida subsidiarão os que têm problemas."
Enquanto esvaziam as fileiras de usuários de cartões arriscados para lidar com
a recessão econômica, grandes bancos, incluindo American Express, Citigroup,
Bank of America, já começaram a elevar taxas de juros, e alguns têm mirado
os consumidores que pagam as contas em dia.
A legislação aprovada ontem pelo Senado não impõe teto aos juros, por isso os
bancos podem continuar a aumentá-los, ainda que num ritmo mais lento e com
mais transparência. "Haverá uma precificação única e, por conseguinte,
veremos que o setor ficará mais igualitário em termos de base de receita",
disse David Robertson, publisher do Nilson Report, que acompanha o setor de
cartões.
As pessoas que pagam rotineiramente o saldo de seu cartão de crédito vêm
desfrutando do equivalente a uma corrida de graça, disse ele, porque muitas
não tiveram de pagar tarifa anual e somam pontos para viagens aéreas e
outros benefícios. "Apesar de todas as coisas terríveis que foram ditas, vocês
estão ganhando muito dinheiro", disse ele. "Um terço dos clientes de cartões de
crédito, 50 milhões de pessoas, conseguiu um grande negócio."
Robert Hammer, um consultor do setor, disse que a legislação poderá ter um
efeito geral de encorajar administradoras de cartões a se tornarem ainda mais
dependentes das tarifas tanto de clientes marginais como dos usuários de
cartões com bom registro de crédito, que são chamados de deadbeats
(malandros ou parasitas) no jargão do setor porque geram pouca receita com
tarifas.
"Eles não são organizações de caridade. Eles têm acionistas aos quais prestar
contas", disse ele, referindo-se aos bancos e administradoras de cartões. "A
brecha que sobrar no modelo será explorada por eles." Os bancos costumavam
dar cartões de crédito somente aos melhores clientes e cobrar deles uma taxa
de juros fixa de cerca de 20% e uma taxa anual. Mas, com o relaxamento das
leis de usura em alguns Estados e a pronta disponibilidade de crédito no fim
dos anos 1980, os bancos começaram a oferecer cartões com diferentes taxas
de juros e tarifas, associando a precificação ao risco de crédito do usuário do
cartão.
Isso ajudou a derrubar as taxas de juros para muitos consumidores, mas elas
subiram para os usuários de maior risco, que se tornaram uma fonte
significativa de receita para o setor. A recente recessão econômica questionou
essa fórmula e os bancos começaram a se desfazer dos clientes mais arriscados
e baixar seriamente seus limites de crédito, à medida que a recessão se
acelerava.
Agora, um coro crescente de consumidores que saldam as contas todo mês
está reclamando dos períodos gratuitos encurtados, das novas tarifas ocultas e
das taxas de juros mais altas.
O setor diz que as propostas obrigarão os bancos a emitir menos cartões a um
custo maior para os atuais usuários. Citigroup e Capital One remeteram os
comentários à ABA. Discover e American Express não quiseram comentar.
*Andrew Martin é jornalista