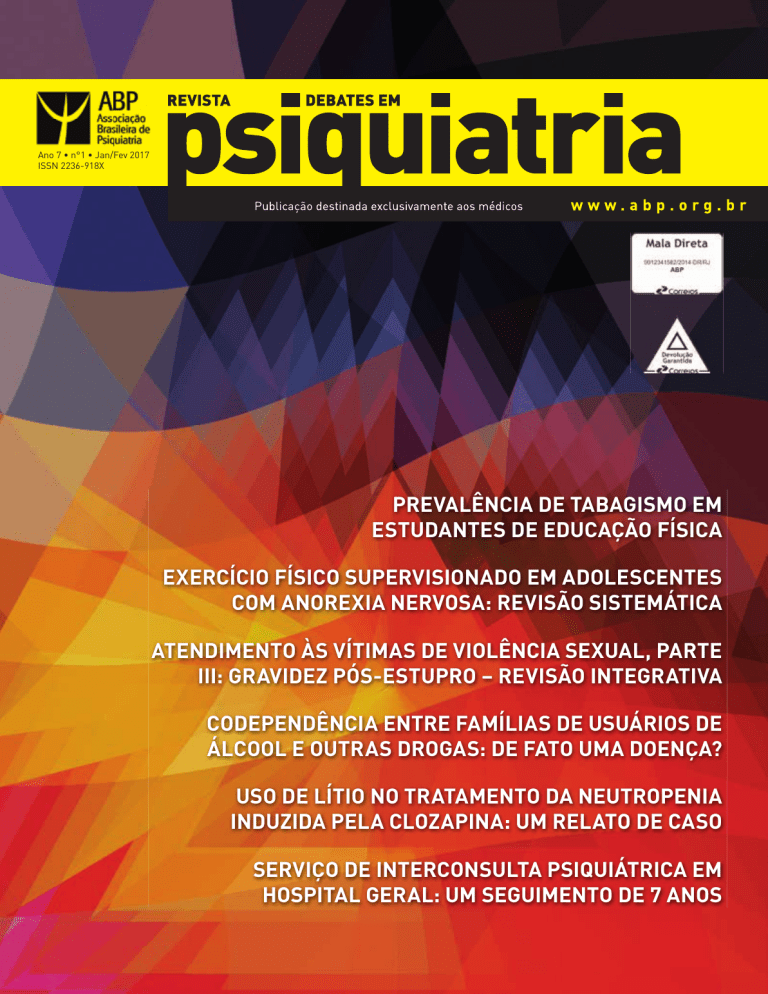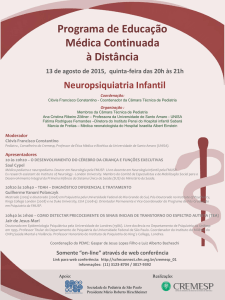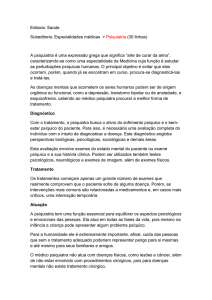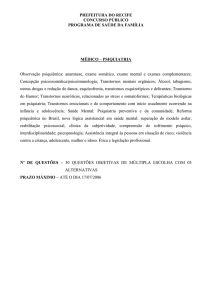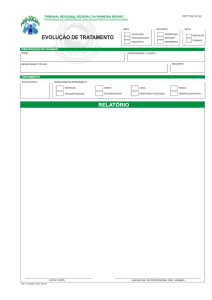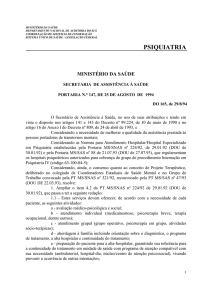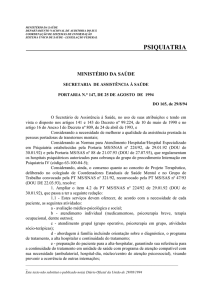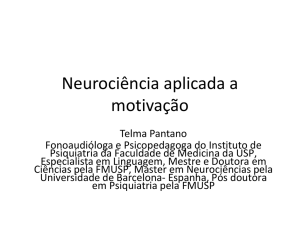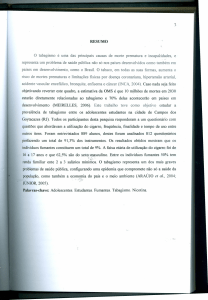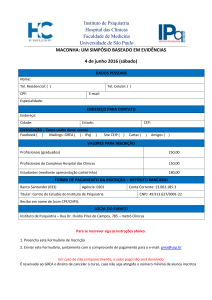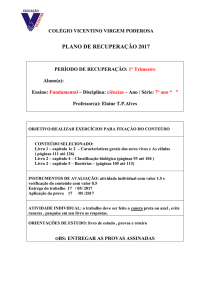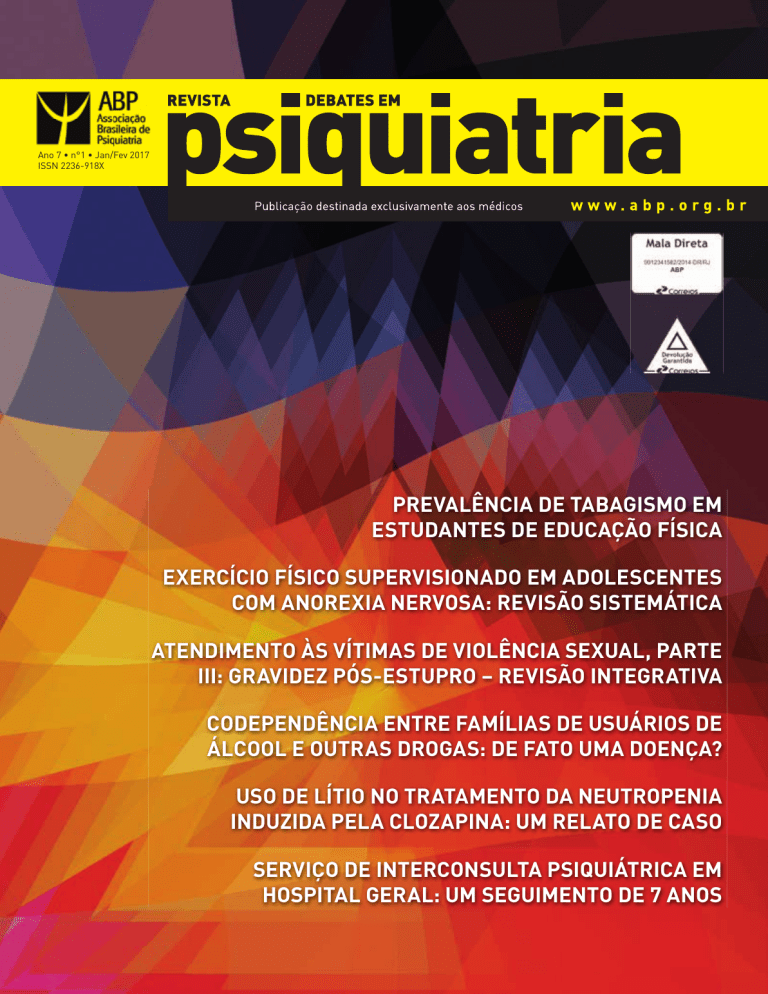
Ano 7 • n°1 • Jan/Fev 2017
ISSN 2236-918X
PREVALÊNCIA DE TABAGISMO EM
ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EXERCÍCIO FÍSICO SUPERVISIONADO EM ADOLESCENTES
COM ANOREXIA NERVOSA: REVISÃO SISTEMÁTICA
ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL, PARTE
III: GRAVIDEZ PÓS-ESTUPRO – REVISÃO INTEGRATIVA
CODEPENDÊNCIA ENTRE FAMÍLIAS DE USUÁRIOS DE
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: DE FATO UMA DOENÇA?
USO DE LÍTIO NO TRATAMENTO DA NEUTROPENIA
INDUZIDA PELA CLOZAPINA: UM RELATO DE CASO
SERVIÇO DE INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA EM
HOSPITAL GERAL: UM SEGUIMENTO DE 7 ANOS
ANÚNCIO
/////////// APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
Que comece 2017!
Aqui estamos novamente apresentando nossa primeira edição do ano. Este número está bem variado: temos um
artigo original, três revisões, um relato de caso e uma carta.
No artigo original, que abre a edição, Sandra Márcia Carvalho de Oliveira e colaboradores relatam sua investigação
sobre a prevalência de tabagismo em estudantes de Educação Física. Os autores encontraram uma baixa prevalência
de fumantes na população estudada, porém destacaram o aumento do uso de outros produtos de tabaco,
especialmente narguilé. Trata-se de um artigo com informações novas e muito interessantes sobre esse hábito tão
presente na história da humanidade.
Na sequência, três artigos de revisão. O primeiro é uma revisão sistemática sobre exercício físico supervisionado
em adolescentes com anorexia nervosa, por Michele Casser Csordas e Carolina Panceri. Os efeitos do exercício físico
supervisionado sobre o índice de massa corporal de adolescentes afetadas por esse transtorno são sistematicamente
revisados para avaliar os possíveis benefícios/prejuízos. Os autores constatam que não há prejuízos em relação ao
peso das pacientes, porém os ganhos não são tão evidentes.
Na área de saúde da mulher, Gislene Cristina Valadares e colaboradores fazem uma revisão integrativa sobre
o atendimento às vítimas de violência sexual que engravidam após estupro, com ênfase para o conhecimento e
treinamento que os profissionais de saúde devem ter ao atender essas pacientes. O trabalho se baseia tanto na
literatura como na experiência da primeira autora, revelando vulnerabilidades e oportunidades na área de prevenção
das ofensas sexuais.
No terceiro e último artigo de revisão, Alessandra Diehl e colaboradores discorrem sobre codependência
entre famílias de usuários de álcool e outras drogas. Os autores avaliam o estado da arte sobre o constructo de
codependência – conceito popular no meio clínico mas ainda controverso no meio científico – em familiares de
usuários de álcool e outras drogas quanto à etiologia e outros fatores relacionados. Os autores concluem que mais
estudos de campo são necessários para validar o conceito de codependência, a fim de corroborar sua real utilidade
clínica e ampliação de evidência da existência desse fenômeno.
O relato de caso de Luciana Valença Garcia e colaboradores descreve o uso (bem-sucedido) de lítio no tratamento
da neutropenia induzida pela clozapina em um paciente com diagnóstico de esquizofrenia refratária. Segundo os
autores, o caso sugere as possibilidades de usar novamente a clozapina em pacientes que tenham apresentado
granulocitopenia, caso a associação com o lítio seja possível, e do uso prévio de lítio em pacientes com níveis baixos
de leucócitos, mas que sejam candidatos a uso de clozapina.
Fechando a edição, a carta de Camila Tanabe Matsuzaka e colaboradores traz um relato conciso de dados de
seguimento de 7 anos para casos atendidos no serviço de interconsulta psiquiátrica do Hospital São Camilo.
Uma bela seleção de textos para começar bem o ano. Boa leitura!
Antônio Geraldo da Silva e João Romildo Bueno
Editores Seniores, Revista Debates em Psiquiatria
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
3
//////////// EXPEDIENTE
EDITORES SENIORES
Antônio Geraldo da Silva - DF
João Romildo Bueno - RJ
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Carmita Helena Najjar Abdo - SP
Vice-Presidente: Alfredo José Minervino - PB
Diretor secretário: Claudio Meneghello Martins - RS
Diretor secretário adjunto: Maria de Fátima Viana de
Vasconcellos - RJ
Diretor tesoureiro: Antônio Geraldo da Silva - DF
Diretor tesoureiro adjunto: Maurício Leão de Rezende - MG
DIRETORES REGIONAIS
Diretor Regional Norte: Cleber Naief Moreira - AM
Diretor Regional Adjunto Norte: Kleber Roberto da Silva
Gonçalves de Oliveira - PA
Diretor Regional Nordeste: André Luis Simões Brasil
Ribeiro - BA
Diretor Regional Adjunto Nordeste: Everton Botelho
Sougey - PE
Diretor Regional Centro-Oeste: Renée Elizabeth de
Figueiredo Freire - MT
Diretor Regional Sudeste: Érico de Castro e Costa - MG
Diretor Regional Adjunto Sudeste: Marcos Alexandre
Gebara Muraro - RJ
Diretor Regional Sul: Eduardo Mylius Pimentel - SC
Diretor Regional Adjunto Sul: Carla Hervê Moran Bicca - RS
CONSELHO FISCAL
Titulares:
Itiro Shirakawa – SP
Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiro – SP
Ronaldo Ramos Laranjeira – SP
Suplentes:
Francisco Baptista Assumpção Junior – SP
Marcelo Feijó de Mello – SP
Sérgio Tamai - SP
ABP - Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 48 – 3º Andar – Centro
CEP: 20070-022 – Rio de Janeiro - RJ
Telefax: (21) 2199.7500
Rio de Janeiro - RJ
E-mail: [email protected]
Publicidade: [email protected]
4
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
EDITORES-CHEFES
Marcelo Feijó de Mello - SP
Breno Satler Diniz - TX, USA
José Carlos Appolinário - RJ
Valeria Barreto Novais - CE
EDITORES ASSOCIADOS
Alexandre Paim Diaz - SC
Antonio Peregrino - PE
Carmita Helena Najjar Abdo - SP
Érico de Castro e Costa - MG
Itiro Shirakawa - SP
Marcelo Liborio Schwarzbold - SC
EDITORES JUNIORES
Alexandre Balestieri Balan - SC
Antonio Leandro Nascimento - RJ
Camila Tanabe Matsuzaka - SP
Emerson Arcoverde Numes - RN
Izabela Guimarães Barbosa - MG
Larissa Junkes - RJ
CONSELHO EDITORIAL
Almir Ribeiro Tavares Júnior - MG
Ana Gabriela Hounie - SP
Analice de Paula Gigliotti - RJ
Carlos Alberto Sampaio Martins de Barros - RS
Cássio Machado de Campos Bottino - SP
César de Moraes - SP
Elias Abdalla Filho - DF
Eugenio Horácio Grevet - RS
Fausto Amarante - ES
Flávio Roithmann - RS
Francisco Baptista Assumpção Junior - SP
Helena Maria Calil - SP
Humberto Corrêa da Silva Filho - MG
Irismar Reis de Oliveira - BA
Jair Segal - RS
João Luciano de Quevedo - SC
José Cássio do Nascimento Pitta - SP
Marco Antonio Marcolin - SP
Marco Aurélio Romano Silva - MG
Marcos Alexandre Gebara Muraro - RJ
Maria Alice de Vilhena Toledo - DF
Maria Dilma Alves Teodoro - DF
Maria Tavares Cavalcanti - RJ
Mário Francisco Pereira Juruena - SP
Paulo Belmonte de Abreu - RS
Paulo Cesar Geraldes - RJ
Ricardo Barcelos - MG
Sergio Tamai - SP
Valentim Gentil Filho - SP
Valéria Barreto Novais e Souza - CE
William Azevedo Dunningham - BA
CONSELHO EDITORIAL INTERNACIONAL
Antonio Pacheco Palha (Portugal), Marcos Teixeira (Portugal), José
Manuel Jara (Portugal), Pedro Varandas (Portugal), Pio de Abreu
(Portugal), Maria Luiza Figueira (Portugal), Julio Bobes Garcia
(Espanha), Jerónimo Sáiz Ruiz (Espanha), Celso Arango López
(Espanha), Manuel Martins (Espanha), Giorgio Racagni (Italia), Dinesh
Bhugra (Londres), Edgard Belfort (Venezuela)
Jornalista Responsável: Brenda Ali Leal
Revisão de Textos e Editoração Eletrônica: Scientific Linguagem
Projeto Gráfico e Ilustração: Daniel Adler e Renato Oliveira
Produção Editorial: Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP
Gerente Geral: Simone Paes
Impressão: Gráfica Editora Pallotti
//////////////// SUMÁRIO
SUMÁRIO
JAN/FEV 2017
6/original
Prevalência de tabagismo em
estudantes de Educação Física
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA,
ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA, MARIA
APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO
AFONSO VIANA MACEDO NEVES
16/revisão
Exercício físico supervisionado em adolescentes
com anorexia nervosa: revisão sistemática
MICHELE CASSER CSORDAS, CAROLINA PANCERI
24/revisão
Atendimento às vítimas de violência sexual, parte
III: gravidez pós-estupro – revisão integrativa
GISLENE CRISTINA VALADARES, ANTÔNIO
GERALDO DA SILVA, RENAN ROCHA, JOEL
RENNÓ JR., HEWDY LOBO RIBEIRO, JULIANA
PIRES CAVALSAN, AMAURY CANTILINO,
JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO
34/revisão
Codependência entre famílias de usuários de
álcool e outras drogas: de fato uma doença?
ALESSANDRA DIEHL, DALZIRA DA
SILVA, ALINE TAGLIATTI BOSSO
* As opiniões dos autores são de exclusiva
responsabilidade dos mesmos.
44/relato de caso
Uso de lítio no tratamento da neutropenia
induzida pela clozapina: um relato de caso
LUCIANA VALENÇA GARCIA, ANTÔNIO
PEREGRINO, MILENA FRANÇA
48/carta
Serviço de interconsulta psiquiátrica em
hospital geral: um seguimento de 7 anos
CAMILA TANABE MATSUZAKA, FABIO JOSÉ
PEREIRA DA SILVA, NADĖGE DADERIO
HERDY, YASKARA CRISTINA LUERSEN,
ANTONIO CARLOS SEIHITI YAMAUTI
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
5
ARTIGO ORIGINAL
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES
ARTIGO
PREVALÊNCIA DE TABAGISMO EM ESTUDANTES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PREVALENCE OF SMOKING IN PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS
Resumo
Introdução: Nos séculos XVII e XVIII, pintores
célebres de toda a Europa já retratavam em suas telas
personagens fumando, atestando como o tabagismo
rapidamente se difundiu, constituindo um dos maiores
fenômenos de transculturação do mundo.
Objetivo: Avaliar a prevalência do tabagismo entre os
estudantes de Educação Física da Universidade Federal
do Acre (UFAC).
Método: Trata-se de estudo transversal e analítico,
onde foram aplicados questionários com base no
Global Health Professions Student Survey e no teste de
Fagerström.
Resultados e discussão: Verificou-se que, dos 226
alunos, 58% eram do sexo masculino, 73,5% solteiros,
com idade média de 24,16 anos. Na amostra, 219
(96,9%) eram não fumantes, e apenas sete (3,1%) eram
fumantes (5,06 cigarros/dia), sendo uma prevalência
baixa. Conviver com amigos que fumam teve um efeito
significativo como um fator que leva ao hábito de fumar
(p < 0,005). Isso se deve ao uso social do tabaco e à
identificação com o grupo. Além disso, 31,5% da amostra
já havia experimentado outros produtos de tabaco
fumado, sendo que a prevalência de uso atual foi de
6,2%, superior ao cigarro.
Conclusões: O século XXI vem apresentando alta
prevalência para outros produtos do tabaco fumado,
especialmente narguilé. Isso ocorre, por um lado, devido
à transculturação e, por outro, ao êxito das ações
antitabágicas.
Palavras-chave: Tabagismo, prevalência, educação
física, produtos do tabaco.
6
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
Abstract
Introduction: As early as the 17th and 18th centuries,
famous painters from all over Europe already depicted
characters smoking – an indication of how quickly the
habit of smoking spread to become one of the greatest
acculturation phenomena in the world.
Objective: To assess the prevalence of smoking among
students of Physical Education at Universidade Federal
do Acre (UFAC).
Methods: This was a cross-sectional, analytical study.
Questionnaires were applied based on the Global Health
Professions Student Survey and the Fagerström test.
Results and discussion: Of the 226 respondents, 58%
were male and 73.5% were single; mean age was 24.16
years. In the sample, 219 (96.9%) were non-smokers,
and only seven (3.1%) were smokers (5.06 cigarettes/
day), i.e., prevalence was low. Interacting with friends
who smoke had a significant effect as a factor that leads
to the habit of smoking (p < 0.005). This is due to the
social use of tobacco and group identification. Also,
31.5% of the sample had already used other smoking
tobacco products, and the current prevalence was 6.2%
(higher than the prevalence of smoking).
Conclusions: The 21st century has been showing a
high prevalence of use of smoking tobacco products
other than cigarettes, especially smoking hookahs.
This occurs, on the other hand, due to acculturation,
and on the other, to the success of anti-tobacco
strategies.
Keywords: Smoking, prevalence, physical education,
tobacco products.
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA1, ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA2, MARIA
APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA3, SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES4
Médica, Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), Rio Branco, AC. Professora adjunta,
Curso de Graduação em Medicina, Centro de Ciências da Saúde e Desporto (CCSD), Universidade
Federal do Acre (UFAC), Rio Branco, AC. 2 Médico, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Estado
de Sergipe, Aracaju, SE. 3 Pesquisadora. 4 Professor adjunto, Curso de Graduação em Medicina,
CCSD, UFAC, Rio Branco, AC.
1
IntRodução
Segundo Rosemberg, ainda nos séculos XVII e XVIII,
pintores célebres de toda a Europa já retratavam
em suas telas personagens fumando ou aspirando
rapé. Isso atesta como o tabagismo rapidamente se
difundiu, constituindo um dos maiores fenômenos de
transculturação do mundo, sendo a América o berço no
qual se disseminou a nicotina conduzida pelo tabaco1.
No mundo, consome-se anualmente 3 mil toneladas
de nicotina contida em 7,3 trilhões de cigarros fumados
por cerca de 1,3 bilhão de tabagistas, dos quais 80%
vivem nos países em desenvolvimento2.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no
Brasil, a mortalidade anual atribuída ao tabagismo é de
200 mil3, sendo que 45% de todas as mortes são por
câncer de pulmão, 75% por doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) e 35% por doenças cardiovasculares4.
O Ministério da Saúde, em 1985, assumiu oficialmente
a luta contra o tabagismo, criando o grupo Assessor
do Ministério da Saúde para controle do tabagismo no
Brasil5,6.
O ingresso no ensino superior traz consigo sentimentos
positivos de conquista, mas também de vulnerabilidade
para o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Assim,
vários trabalhos sobre prevalência de tabagismo, com
diversos estudantes da área da saúde, foram realizados
em universidades nacionais e internacionais, pois
existe o entendimento de que a avaliação de atitudes e
comportamentos ligados ao uso do tabaco nesses grupos
de estudantes nos fornece informações valiosas7-12.
Este trabalho se justifica em função do impacto
social e econômico do tabagismo na sociedade atual e
no sistema público de saúde, bem como em função da
crescente preocupação em se tentar abolir ou reduzir
o consumo de tabaco, além da falta de estudos que
possibilitem conhecer a prevalência real do tabagismo,
o comportamento tabágico e as atitudes de controle
do tabagismo nos estudantes de Educação Física da
Universidade Federal do Acre (UFAC). Com este estudo,
pretende-se identificar grupos de maior risco para o
desenvolvimento desse vício, o que é importante para
a elaboração de estratégias de prevenção capazes de
reduzir o número de fumantes e atrair esses estudantes
para a luta antitabágica.
Método
Amostra
Trata-se de um estudo transversal, observacional,
quantitativo, descritivo e analítico. A amostra foi
constituída por 385 alunos do primeiro ao último ano
do curso de graduação em Educação Física da UFAC,
sendo 183 no bacharelado e 202 na licenciatura. Foram
incluídos no estudo aqueles acadêmicos que estavam
devidamente matriculados no ano de 2014, tinham
mais de 18 anos de idade, concordaram em participar
da pesquisa e estavam presentes no dia da aplicação
do questionário. Foram excluídos acadêmicos que não
estavam com a matrícula devidamente regularizada
(que incluem alunos que faziam parte dos programas
de mobilidade acadêmica nacional ou internacional),
alunos que se recusaram a participar do estudo, aqueles
que não assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido, com idade menor ou igual a 18 anos ou que
não se encontravam em sala de aula no momento da
aplicação dos questionários.
Foram observadas e obedecidas as diretrizes e normas
preconizadas pela resolução CNS nº 466 de 2012, que
regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da UFAC com parecer nº 816.913 e data
de relatoria de 02/10/2014.
Procedimento
Os participantes responderam dois questionários
autoaplicativos. O primeiro tem como base o questionário
Global Health Professions Student Survey (GHPSS),
validado para a realidade brasileira pelo INCA13 e
dividido em seis blocos: características socioeconômicas;
prevalência de tabagismo; caracterização à exposição ao
fumo passivo; atitudes e opiniões frente às políticas e
leis antitabágicas e ao papel dos profissionais de saúde
na cessação do tabagismo; conhecimento sobre o
tabagismo; iniciativa de cessão do tabagismo. O segundo
questionário é o teste de dependência à nicotina de
Fagerström abreviado. Este teste é composto por duas
perguntas, cada qual pontuado em uma escala de 0
a 3. Pontuações de 0-2 indicam baixa dependência
nicotínica; 3-4, moderada dependência nicotínica; e 5-6,
alta dependência nicotínica14.
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
7
ARTIGO ORIGINAL
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES
Segundo recomendações da OMS e do US Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)15,16, os estudantes
foram classificados em quatro categorias: os que nunca
fumaram, ex-fumantes, não fumantes e fumantes atuais.
Os que nunca fumaram são aqueles que nunca fizeram
uso de nenhum tipo de tabaco ou aqueles que fumaram
menos que 100 cigarros na vida toda; ex-fumantes são
aqueles que fumaram pelo menos 100 cigarros na vida
toda, mas deixaram de fumar pelo menos 1 mês antes do
preenchimento do questionário; não fumantes incluem
os ex-fumantes e os que nunca fumaram; e fumantes
atuais aqueles que fumaram pelo menos 100 cigarros na
vida toda e que fumam cigarros todos os dias (diário) ou
alguns dias (não diário) por no mínimo 1 mês antes do
preenchimento do questionário.
Análise estatística
Os dados coletados foram inseridos em banco de dados
no programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) para posterior análise. A análise estatística foi feita
no programa SPSS versão 20.0, utilizando-se o teste
qui-quadrado de Pearson, teste exato de Fisher e análise
de variância (ANOVA). Os valores foram considerados
estatisticamente significantes quando p < 0,05.
Resultados
No segundo semestre do ano de 2014, estavam
matriculados no curso de Educação Física da UFAC 385
alunos distribuídos nos quatro períodos de graduação.
Desse total, participaram da pesquisa 226 acadêmicos;
72 cursavam o segundo período, 64, o quarto, 46,
o sexto, e 44, o oitavo, totalizando 58,7% do total de
matriculados.
As características sociodemográficas dos estudantes
estudados estão dispostas na Tabela 1. Verificou-se
que 58,6% dos alunos são do sexo masculino, 72,1%
com idade entre 20 e 30 anos e com idade média de
24,16±5,10 anos. Com relação ao estado civil, 73,5%
não têm companheiro(a). Quanto à procedência ou
naturalidade, 68,0% é de Rio Branco, capital do estado
do Acre. O nível socioeconômico dos alunos foi aferido
indiretamente através do nível de escolaridade dos pais,
sendo observado que os pais apresentaram baixo nível
(< 8 anos) de escolaridade.
8
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
Tabela 1 - Características da população estudada:
estudantes de graduação do curso de Educação Física
da Universidade Federal do Acre, 2014
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
< 20
20-30
≥ 30
Período
2º período
4º período
6º período
8º período
Estado civil
Solteiro
Casado
União estável
Divorciado
Procedência
Rio Branco
Outros municípios do Acre
Outro estado
Mudou de residência para fazer faculdade
Sim
Não
Mora com quem
Sozinho(a)
Com os pais
Com colegas
Companheiro(a)
Escolaridade do pai (anos)
≤8
9-12
> 12
Escolaridade da mãe (anos)
≤8
9-12
> 12
n
%
87
123
41,4
58,6
35
163
28
15.5
72,1
12,4
72
64
46
44
31,8
28,3
20,4
19,5
166
37
21
2
73,5
16,4
9,2
0,9
153
48
24
68,0
21,3
10,7
71
155
31,4
68,6
25
105
7
77
11,7
49,1
3,2
36,0
124
64
18
60,2
31,1
8,7
112
69
42
50,3
30,9
18,8
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA1, ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA2, MARIA
APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA3, SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES4
Médica, Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), Rio Branco, AC. Professora adjunta,
Curso de Graduação em Medicina, Centro de Ciências da Saúde e Desporto (CCSD), Universidade
Federal do Acre (UFAC), Rio Branco, AC. 2 Médico, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Estado
de Sergipe, Aracaju, SE. 3 Pesquisadora. 4 Professor adjunto, Curso de Graduação em Medicina,
CCSD, UFAC, Rio Branco, AC.
1
A Tabela 2 mostra a frequência dos desfechos estudados.
Dos 226 alunos estudados, sete (3,1%) se declararam
fumantes atuais e 219 (97,0%) não fumantes. Dentro do
grupo dos fumantes, 28,6% são de fumantes regulares e
71,4% são de fumantes ocasionais. Entre os acadêmicos
não fumantes, 20 foram classificados como ex-fumantes,
o que corresponde a 8,8% do total da amostra. O uso de
outros produtos do tabaco fumado (rapé, charutos, narguilé)
esteve presente em 14 alunos (6,2%), e a prevalência de
exposição ao fumo passivo foi de 46,0%.
Tabela 2 - Prevalência dos desfechos estudados nos estudantes de Educação Física da Universidade Federal do
Acre, 2014
Nunca fumaram
Já experimentaram fumar
Ex-fumantes
Não fumantes
Fumantes atuais
Já experimentaram fumar outros
produtos de tabaco fumado
Fumantes atuais de outros
produtos de tabaco fumado
Exposição ao fumo passivo
n
199
121
20
219
7
72
Total (n = 226)
% (IC95%)
88,0 (83,2-91,6)
53,4 (47,0-59,9)
8,8 (5,8-13,3)
96,9 (93,7-98,5)
3,1 (1,5-6,2)
31,9 (26,1-38,2)
Masculino (n = 123)
n
% (IC95%)
106
86,1 (78,9-91,2)
69
56,1 (47,3-64,5)
12
9,7 (5,7-16,3)
118
95,9 (90,8-98,2)
5
4,0 (1,7-9,2)
52
42,3 (33,9-51,1)
Feminino (n = 87)
n
% (IC95%)
78
89,6 (81,5-94,5)
44
59,6 (40,3-60,8)
7
8,0 (3,9-15,6)
85
97,7 (92,0-99,4)
2
2,3 (0,6-8,0)
18
20,7 (13,5-30,3)
0,297
0,258
0,433
0,387
0,387
0,001
p*
14
6,2 (3,7-10,1)
13
10,5 (6,3-17,2)
1
1,1 (0,2-6,2)
0,005
104
46,0 (39,6-52,5)
52
42,3 (33,9-51,1)
43
49,4 (39,2-59,73)
0,188
* Teste qui-quadrado de Pearson. Fonte primária.
Com relação à iniciação do comportamento tabágico,
verificou-se que 121 alunos já tinham experimentado
fumar cigarros, sendo a média de idade da primeira
tentativa de fumar 14,58±3,01 anos. Setenta e dois
(31,5%) estudantes relatam já ter experimentado outros
produtos de tabaco fumado, sendo que o narguilé foi
o mais comum. Da amostra total de fumantes (n = 7), a
média de cigarros consumidos por dia foi de 5,06±2,12
cigarros. Com relação ao teste abreviado de Fagerström,
todos os fumantes apresentaram uma dependência
baixa à nicotina. Fumar porque o tabaco ajuda a aliviar o
stress, por prazer e quando se está aborrecido foram as
principais razões para o uso de tabaco. Mais da metade
(60,0%) dos fumantes atuais tentou deixar de fumar,
sendo que apenas 20,0% consideram não necessitar de
ajuda profissional para abandonar o tabaco. Em relação
aos ex-fumantes (n = 20), o tempo médio de abstinência
do cigarro foi de 5,48±3,96 anos. Apenas 10,0% pararam
de fumar por algum problema de saúde que foi causado
ou que piorou por causa do cigarro. Nenhum ex-fumante
precisou de algum tipo de tratamento com profissionais
de saúde ou usou algum tipo de medicamento para parar
de fumar.
Na análise dos fatores associados ao tabagismo,
verificou-se que, em estudantes que convivem com
amigos fumantes, a prevalência de fumantes foi maior
quando comparado com estudantes que não convivem
com amigos que fumam. Sexo, idade, exposição ao fumo
passivo, relato de fumantes na família, escolaridade
materna e relato de mudança de residência após
ingresso na faculdade não apresentaram associação com
a presença de tabagismo (Tabela 3).
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
9
ARTIGO ORIGINAL
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES
ARTIGO
Tabela 3 - Fatores associados ao habito de fumar nos estudantes de Educação Física da Universidade Federal do
Acre, 2014
Variáveis
Período
Primeiros períodos
Últimos períodos
Idade (anos)
< 25
≥ 25
Mudou de residência após entrar na faculdade
Não
Sim
Exposição ao fumo passivo
Sim
Não
Escolaridade mãe (anos)
<8
9-12
> 12
Amigos fumantes
Sim
Não
Fumantes na família
Sim
Não
Não fumante
n
%
Fumante
n
%
2
5
1,5
5,6
p*
0,091
134
85
98,5
94,4
0,267
135
84
97,8
95,5
3
4
2,2
4,5
150
69
96,8
97,2
5
2
3,2
2,8
101
118
97,1
96,7
3
4
3,3
2,9
0,615
0,588
0,068
111
68
39
99,1
98,6
92,9
1
1
3
0,9
1,4
7,1
0,005
43
176
89,6
98,9
5
2
10,4
1,1
60
159
93,8
98,1
4
3
6,3
1,9
0,102
* Teste exato de Fisher. Fonte primária.
Em relação à concordância com a proibição de
fumar em determinados locais públicos, a maioria dos
estudantes concorda com essa medida, com taxas de
respostas superiores a 80% para a proibição de fumar
em locais de trabalho, no interior das escolas, no interior
das universidades, restaurantes e cafés, no interior e
exterior circundante das instalações dos serviços de
saúde e transportes públicos. A proibição de fumar
10
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
em determinados locais, como em praças públicas, no
exterior circundante de escolas e universidades, assim
como em bares, discotecas e espaços comerciais e de
lazer apresentaram taxas de concordância inferiores a
80% (Figura 1). As atitudes de controle do tabagismo
foram significativamente mais positivas nos estudantes
não fumantes quando comparados com os fumantes (p
< 0,05, teste exato de Fisher).
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA1, ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA2, MARIA
APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA3, SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES4
Médica, Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), Rio Branco, AC. Professora adjunta,
Curso de Graduação em Medicina, Centro de Ciências da Saúde e Desporto (CCSD), Universidade
Federal do Acre (UFAC), Rio Branco, AC. 2 Médico, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Estado
de Sergipe, Aracaju, SE. 3 Pesquisadora. 4 Professor adjunto, Curso de Graduação em Medicina,
CCSD, UFAC, Rio Branco, AC.
1
Figura 1 - Concordância com a proibição de fumar em determinados locais públicos nos estudantes de Educação
Física da Universidade Federal do Acre, 2014. Fonte primária.
No que diz respeito ao reconhecimento do tabagismo
como doença, percebe-se que a maioria (99,5%)
respondeu positivamente. Em relação ao reconhecimento
da aproximadamente 90,0% dos estudantes consideram
o seu papel de exemplo de não fumador importante para
a sociedade. Quando questionados sobre a importância
do PS importância dos profissionais da saúde (PS) na
cessação do tabagismo, no nível da cessação tabágica,
94% dos estudantes concordam que os PS têm um papel
relevante e ativo. Em relação à opinião dos estudantes
sobre as políticas de controle do tabagismo, a grande
maioria (99,5%) concorda que a venda de cigarros a
crianças e adolescentes deve ser proibida e fiscalizada,
assim como 88,0% da amostra concorda que a publicidade
dos produtos do tabaco deve ser totalmente banida.
Com relação à exposição ao fumo do tabaco no ambiente
acadêmico, a maioria dos estudantes (87,1%) referiu que
a proibição de fumar não é devidamente implementada e
controlada nas instalações da faculdade. Mais da metade
(54,9%) diz que “às vezes”, nos ambientes da faculdade,
é incomodado pelo fumo do tabaco dos outros, e 30,0%
dos estudantes costumam manifestar o seu desagrado
por estarem expostos ao fumo do tabaco dos outros.
dIsCussão
Verificou-se, neste estudo, uma taxa baixa (3,1%) de
prevalência de tabagismo nos estudantes de Educação
Física da UFAC quando comparada aos resultados
obtidos em diversos estudos realizados na área da
saúde17-26.
Com relação à prevalência do uso atual de outras
formas do tabaco (rapé, cachimbos, cigarrilhas e narguilé),
a taxa encontrada (6,2%) foi maior quando comparada
ao uso de cigarros (3,1%). Setenta e dois (31,9%)
estudantes responderam já ter experimentado outras
formas de uso do tabaco. O narguilé é a mais frequente
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
11
ARTIGO ORIGINAL
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES
(57,1%). Uma revisão de literatura sobre a prevalência
de experimentação de narguilé entre estudantes da área
da saúde mostrou prevalências de 51,7% em escolas
médicas na Inglaterra27, 40,0% no Canadá28, 43,5% na
África do Sul29 e 28,9% em uma escola de medicina
na Turquia30, todas com taxas (19,0%) superiores às
encontradas neste estudo (6,2%).
O uso de narguilé é a primeira nova tendência de consumo
de tabaco do século XXI. Esse uso está se espalhando
ao redor do mundo e tornando-se tão elegante como
o fumo de charutos no século passado, especialmente
entre jovens profissionais e estudantes universitários31.
De acordo com Morton et al., a prevalência de uso de
narguilé por autorrelato é maior na população masculina
do Vietnã (13,02%) e na população feminina da Rússia
(3,19%), enquanto ainda permanece baixa no Brasil (0,18%
e 0,10% entre homens e mulheres, respectivamente)32.
Uma razão possível para a propagação do uso de narguilé
é o sucesso de programas para prevenir a iniciação do
fumo de cigarro e o incentivo na cessação do tabagismo
(por cigarros) no Brasil e no mundo. Como resultado
dessas campanhas antitabagismo, que têm como alvo
os fumantes de cigarros, indivíduos suscetíveis optaram
ou migraram para outras formas de uso de tabaco,
especialmente o narguilé33.
É comum as pessoas relatarem que não há mal em
fumar narguilé de vez em quando, que essa é uma
forma segura de consumo de tabaco e que o risco
de dependência é baixo. No entanto, há evidências
consideráveis do contrário34. Um estudo realizado no
Egito mostrou que usuários de narguilé preenchem os
mesmos critérios quanto à dependência da nicotina que
os fumantes de cigarros35. Outro estudo utilizou uma
versão de 10 itens da Lebanon Waterpipe Dependence
Scale para avaliar adultos do sexo masculino que eram
usuários de narguilé no Reino Unido23. Os autores
demonstraram que, entre esses fumantes, os fatores
de risco para a dependência de tabaco para narguilé
incluíam ser de etnia árabe, ter baixo nível educacional,
ter fumado sozinho a última vez que fumou, ter fumado
em casa, em um café ou com amigos a última vez
que fumou, ter sessões de fumo com maior duração
e fumar diariamente. Os critérios diagnósticos para a
dependência de nicotina foram preenchidos por 47%
da amostra estudada por esses autores36.
12
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
Neste trabalho, se evidenciou uma associação
significativa do convívio com amigos tabagistas com o
uso de tabaco regular; no entanto, não se confirmou a
associação com outras variáveis. Esse resultado sugere
que os amigos influenciam o comportamento de fumar
mais do que a família. Ivanovic et al.37 demonstraram
risco de 9,8 vezes para o tabagismo em adolescentes com
amigos fumantes. Já o estudo de Segat et al.38 encontrou
risco de 5,2 para o tabagismo entre adolescentes com
amigos ou irmãos fumantes.
A exposição ao fumo passivo em casa ou na
universidade foi de 46%. A maioria dos estudantes
(87,1%) respondeu que a proibição de fumar não é
devidamente controlada nas instalações da universidade.
Segundo relato da literatura, ambiente livre do fumo
pode ajudar a melhorar a qualidade do ar, reduzir os
problemas de saúde associados com a exposição
ao fumo do tabaco e apoiar e incentivar tentativas
de cessação entre os fumantes que tentam parar de
fumar. Além disso, a criação de áreas livres de fumo nas
instituições de ensino envia uma mensagem clara para
os educadores, estudantes, pacientes e médicos sobre
o impacto negativo do tabaco39,40.
Conclusão
Conclui-se que a prevalência de tabagismo entre
os estudantes de Educação Física da UFAC é baixa
(3,1%). Por outro lado, observou-se que a prevalência
do uso regular de outras formas do tabaco, como rapé,
cachimbos, cigarrilhas e narguilé, foi maior quando
comparada à do uso de cigarros. O tabagismo é
reconhecido como doença pela maioria dos acadêmicos.
O papel de exemplo de não fumador para a sociedade é
considerado de grande relevância para os acadêmicos.
Artigo submetido em 04/07/2016, aceito em 24/10/2016.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fonte de financiamento: Fundação de Amparo a Pesquisa
do Estado do Acre (FAPAC).
Correspondência: Sandra Márcia Carvalho de Oliveira,
Centro de Ciências da Saúde e do Desporto (CCSD),
Universidade Federal do Acre, Campus Universitário, BR
364, km 4, Distrito Industrial, CEP 69915-900, Rio Branco,
AC. Tel.: (68) 3901.2500. E-mail: [email protected]
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA1, ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA2, MARIA
APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA3, SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES4
Médica, Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), Rio Branco, AC. Professora adjunta,
Curso de Graduação em Medicina, Centro de Ciências da Saúde e Desporto (CCSD), Universidade
Federal do Acre (UFAC), Rio Branco, AC. 2 Médico, Secretaria de Estado da Saúde (SES), Estado
de Sergipe, Aracaju, SE. 3 Pesquisadora. 4 Professor adjunto, Curso de Graduação em Medicina,
CCSD, UFAC, Rio Branco, AC.
1
Referências
1.
Rosemberg J. Nicotina droga universal. São Paulo:
SES/CVE; 2003.
2.
Organización Panamericana de la Salud. La
epidemia de tabaquismo: los gobiernos y los
aspectos económicos del control del tabaco.
Washington: OPS; 2000.
3.
Araújo JA, Menezes AMB, Dórea AJPS, Torres
BS, Viegas CAA, da Silva CAR, et al. Diretrizes
para cessação do tabagismo. J Bras Pneumol.
2004;30:S1-S76.
4.
Brasil, Ministério da Saúde, Organização PanAmericana da Saúde. Tabaco e pobreza, um
círculo vicioso: a convenção quadro de controle
do tabaco: uma resposta. Brasília: Ministério da
Saúde; 2004.
5.
Mirra AP, Rosemberg J. A história da luta contra o
tabagismo no Brasil: trinta anos de ação [Internet].
2004 [cited 2016 Dec 22]. http://www.amb.org.
br/teste/comissoes/anti_tabagismo.htm
6.
World Health Organization (WHO). The millennium
development goals and tobacco control. Geneva:
WHO; 2005.
7.
Oliveira SMC, Leite WS. Tabagismo e sua relação
com a educação médica. Rev Debates Psiquiatr.
2015;5:6-15.
8.
Menezes A, Palma E, Holthausen R, Oliveira R,
Oliveira PS, Devéns E, et al. Evolução temporal
do tabagismo em estudantes de medicina, 1986,
1991, 1996. Rev Saude Publica. 2001;35:165-9.
9.
Andrade AG, Bassit AZ, Kerr-Corrêa F, Tonhon
AA, Boscovitz EP, Cabral M. Fatores de risco
associados ao uso de álcool e drogas na vida,
entre estudantes de medicina do estado de São
Paulo. Rev ABP-APAL. 1997;4:117-26.
10. Kerr-Corrêa F, Andrade AG de, Bassit AZ, Boccuto
NMVF. Uso de álcool e drogas por estudantes
de medicina da Unesp. Rev Bras Psiquiatr.
1999;21:95-100.
11. Stempliuk Vde A, Barroso LP, Andrade AG, Nicastri
S, Malbergier A. Comparative study of drug use
among undergraduate students at the University
of São Paulo – São Paulo campus in 1996 and
2001. Rev Bras Psiquiatr. 2005;27:185-93.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Boland M, Fitzpatrick P, Scallan E, Daly L, Herity
B, Horgan J, et al. Trends in medical student
use of tobacco, alcohol and drugs in an Irish
university, 1973-2002. Drug Alcohol Depend.
2006;85:123-8.
Serra de Carvalho L. Comportamento tabágico e
atitudes de controlo de tabagismo dos estudantes
de Medicina da Universidade da Beira Interior
[mestrado]. Covilhã: Universidade da Beira
Interior; 2012.
Halty LS, Hüttner MD, Oliveira Neto IC,
Santos VA, Martins G. Análise da utilização do
Questionário de Tolerância de Fagerström (FTQ)
como instrumento de medida da dependência
nicotínica. J Pneumologia. 2002;28:180-6.
World Health Organization (WHO). MPOWER: a
policy package to reverse the tobacco epidemic.
Geneva: WHO; 2008.
Schoenborn CA, Adams PE. Health behaviors of
adults: United States, 2005-2007. Vital Health
Stat. 2010;245:1-132.
Brasil, Ministério da Saúde, Instituto Nacional do
Câncer, Coordenação de Prevenção e Vigilância.
A situação do tabagismo no Brasil: dados dos
inquéritos do sistema internacional de vigilância
do tabagismo da Organização Mundial da Saúde
realizados no Brasil entre 2002 e 2009. Rio de
Janeiro: INCA; 2010.
Capello Filho L, Bizerra PL, Pinho SL, Paiva LA,
Souza RE, Silva CNCG, et al. Tabagismo entre
estudantes de um curso de graduação em
Educação Física. Rev Bras Fisioter. 2008;12:38.
Ramis TR, Mielke GI, Habeyche EC, Oliz MM,
Azevedo MR, Hallal PC. [Smoking and alcohol
consumption
among
university
students:
prevalence and associated factors]. Rev Bras
Epidemiol. 2012;15:376-85.
Silva Junior CT, Braga MU, Vieira HV, Bastos
LDP, Tebaldi TF, Ronchetti RM, et al. Prevalência
de tabagismo entre estudantes de graduação em
medicina da Universidade Federal Fluminense.
Pulmão RJ. 2006;15:11-5.
Magliari RT, Pagliusi AL, Previero BM, Menezes FR,
Feldman A, Novo NF. Prevalência de tabagismo
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
13
ARTIGO ORIGINAL
SANDRA MÁRCIA CARVALHO DE OLIVEIRA
ANDRÉ LUCAS LIMA DA SILVEIRA
MARIA APARECIDA BUZINARI DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
14
em estudantes de faculdade de medicina. Rev
Med (São Paulo). 2008;87:264-71.
Zetter EW, Nudelmann LM, da Cunha DP, Mattos
CH, Sacholl M, Verde FV, et al. Prevalência do
tabagismo entre estudantes de medicina e fatores
de risco associados. Rev AMIRGS. 2005;49:16-9.
Menezes AMB, Hallal PC, Silva F, Souza M, Paiva
L, D’ávila A, et al. Tabagismo em estudantes
de medicina: tendências temporais e fatores
associados. J Bras Pneumol. 2004;30:223-8.
Sawicki WC, Rolim MA. Graduandos de
enfermagem e sua relação com o tabagismo. Rev
Esc Enferm USP. 2004:38:181-9.
Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Política
nacional de promoção da saúde. Brasília: Ministério
da Saúde; 2006.
Menezes RS, Nunes MP, Silveira RO, Pizzato
LG, Cunha ALC, Grüdtner M, et al. Variação dos
sintomas depressivos entre o pré e o pós-operatório
de pacientes de cirurgia de revascularização
miocárdica. Rev ABP-APAL. 1995;17:1-6.
Jawad M, Abass J, Hariri A, Rajasooriar KG, Salmasi
H, Millett C, et al. Waterpipe smoking: prevalence
and attitudes among medical students in London.
Int J Tuberc Lung Dis. 2013;17:137-40.
Vanderhoek AJ, Hammal F, Chappell A, Wild TC,
Raupach T, Finegan BA. Future physicians and
tobacco: an online survey of the habits, beliefs
and knowledge base of medical students at a
Canadian university. Tob Induc Dis. 2013;11:9.
Senkubuge F, Ayo-Yusuf OA, Louwagie GM,
Okuyemi KS. Water pipe and smokeless tobacco
use among medical students in South Africa.
Nicotine Tob Res. 2012;14:755-60.
Poyrazoglu S, Sarli S, Gencer Z, Günay O.
Waterpipe (narghile) smoking among medical and
non-medical university students in Turkey. Ups J
Med Sci. 2010;115:210-6.
American Lung Association. Tobacco policy trend
alert. An emerging deadly trend: waterpipe tobacco
use. Washington: American Lung Association;
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
2007. docplayer.net/20870757-Tobacco-policytrend-alert.html
Morton J, Song Y, Fouad H, Awa FE, Abou El
Naga R, Zhao L, et al. Cross-country comparison
of waterpipe use: nationally representative data
from 13 low and middle-income countries from
the Global Adult Tobacco Survey (GATS). Tob
Control. 2014;23:419-27.
Szklo AS, Sampaio MM, Fernandes EM, Almeida
LM. [Smoking of non-cigarette tobacco products
by students in three Brazilian cities: should we be
worried?]. Cad Saude Publica. 2011;27:2271-5.
Smith-Simone S, Maziak W, Ward KD, Eissenberg
T. Waterpipe tobacco smoking: knowledge,
attitudes, beliefs, and behavior in two U.S.
samples. Nicotine Tob Res. 2008;10:393-8.
Auf RA, Radwan GN, Loffredo CA, El Setouhy M,
Israel E, Mohamed MK. Assessment of tobacco
dependence in waterpipe smokers in Egypt. Int J
Tuberc Lung Dis. 2012;16:132-7.
Kassim S, Al-Bakri A, Al’absi M, Croucher R.
Waterpipe tobacco dependence in U.K. male
adult residents: a cross-sectional study. Nicotine
Tob Res. 2014;16:316-25.
Daniza Ivanovic M, Carmen Castro G, Rodolfo
Ivanovic M. Factores que inciden en el habito de
fumar de escolares de educación basica y media
del Chile. Rev Saude Publica. 1997;31:30-43.
Segat FM, Santos RP, Guillande S, Pasqualotto
AC, Benvegnu LA. Fatores de risco associados
ao tabagismo em adolescentes. Adoles Latinoam.
1998;1:163-9.
Nakashima M, Miura K, Morikawa Y, Nishijo M,
Nakanishi Y, Sakurai M, et al. [Effect of smokefree medical school on smoking behavior of
medical students]. Nihon Koshu Eisei Zasshi.
2008;55:647-54.
US Department of Health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention,
Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity.
Implementing a tobacco-free campus initiative in
your workplace [Internet]. 2007 [cited 2016 Dec
22]. http://www.cdc.gov/tobacco/global/
ANÚNCIO
ARTIGO DE REVISÃO
MICHELE CASSER CSORDAS
CAROLINA PANCERI
ARTIGO
EXERCÍCIO FÍSICO SUPERVISIONADO EM
ADOLESCENTES COM ANOREXIA NERVOSA:
REVISÃO SISTEMÁTICA
SUPERVISED PHYSICAL EXERCISE IN ADOLESCENTS WITH
ANOREXIA NERVOSA: SYSTEMATIC REVIEW
Resumo
Diversos estudos abordam a prática da atividade física
supervisionada em tratamento de anorexia nervosa,
porém divergem em relação aos possíveis benefícios/
prejuízos. Nosso objetivo foi revisar sistematicamente
os efeitos do exercício físico supervisionado sobre o
índice de massa corporal (IMC) em adolescentes durante
o tratamento para anorexia nervosa. Foram consultadas
as bases de dados: PubMed, EMBASE, Cochrane
e SCOPUS. Os termos de busca utilizados foram:
exercise, anorexia e adolescente, sendo selecionados
artigos baseados nos desfechos de interesse de IMC.
Foi encontrado um total de 591 artigos. Destes, foram
selecionados três, que analisaram os efeitos do exercício
físico supervisionado sobre o IMC em adolescentes
durante o tratamento para anorexia nervosa. Não houve
prejuízos em relação ao peso das pacientes, porém os
ganhos não foram tão evidentes por marcadores clínicos
ou biológicos. Há uma carência de estudos que avaliem
a validade de atividade física durante o tratamento de
anorexia em adolescentes.
Palavras-chave: Atividade física, anorexia, adolescência.
Abstract
Several studies have investigated supervised
physical activity in the treatment of anorexia nervosa,
but there are disagreements in relation to the potential
benefits/harms of this practice. The objective of
this paper was to systematically review the effects
of supervised physical exercise on body mass index
(BMI) in adolescents receiving treatment for anorexia
nervosa. The following databases were searched:
16
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
PubMed, EMBASE, Cochrane Library, and SCOPUS.
The search terms used were exercise, anorexia, and
adolescent; articles were selected based on BMI
outcomes. A total of 591 articles were retrieved. Of
these, three were selected, which examined the effects
of supervised physical exercise on BMI in adolescents
receiving treatment for anorexia nervosa. There were
no negative effects in relation to the patients’ weight,
but the benefits were not very evident based on
clinical or biological markers. There is a lack of studies
assessing the validity of physical activity during
treatment for anorexia in adolescents.
Keywords: Physical activity, anorexia, adolescence.
Introdução
A forma, peso e aparência do corpo são motivos
constantes de insatisfação1, e o culto ao corpo se
tornou uma modalidade que vem chamando a atenção
por produzir uma obsessão pela forma e pela saúde2.
Essa preocupação exacerbada pode resultar no
desenvolvimento de transtornos alimentares (TA)3.
Adolescentes, em geral, têm uma grande preocupação
em relação a seu corpo4. Quando a insatisfação com
o físico ultrapassa o limite adequado, os adolescentes
iniciam uma dieta alimentar para perder peso e,
gradualmente, de­senvolvem uma intensa preocupação
em emagrecer1,3. Essa busca exagerada pode levá-los a
um quadro de anorexia nervosa (AN).
A AN é um transtorno alimentar onde os pacientes
utilizam métodos extremos para emagrecimento, como
jejum e excesso de atividade física1. Dessa forma,
o exercício físico muitas vezes não é prescrito no
MICHELE CASSER CSORDAS, CAROLINA PANCERI
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS.
tratamento clínico pela incerteza do efeito benéfico ou
deletério nesses indivíduos.
Por outro lado, a saúde e a qualidade de vida podem
ser preservadas e aprimoradas pela prática regular de
atividade física5. O exercício físico sistematizado acarreta
diversos benefícios, tanto na esfera física quanto na
esfera mental do ser humano, em todas as idades5,6, seja
através de uma ação preventiva em pessoas saudáveis
ou terapêutica em pessoas doentes6.
Vários
estudos
observacionais
prospecti vos
verificam uma relação inversa entre ati vidade física
regular e doenças cardiovasculares, acidente vascular
cerebral tromboembólico, hipertensão, diabetes
mellitus tipo 2, osteoporose, obesidade, cancro do
cólon e da mama, doenças psiquiátricas, entre outras7.
Devido à relação dose-resposta entre ati vidade física
e saúde, os indivíduos que desejam alcançar benefícios
adicionais na melhoria da sua aptidão física e redução
do risco de doenças crônicas podem se beneficiar
com a realização de uma dose excedente à mínima
recomendada 8 .
Entre os benefícios dos exercícios sobre a área
emocional, estudos evidenciam resultados que
possibilitam a redução da ansiedade e da depressão,
a melhora do autoconceito, da autoimagem e da
autoestima, aumento do vigor, melhora da sensação de
bem-estar, melhora no humor, aumento da capacidade
de lidar com estressores psicossociais e redução dos
estados de tensão6,9.
Durante a adolescência, especificamente, há evidências
de que a atividade física traz benefícios associados
também à saúde esquelética, como no conteúdo mineral
e na densidade óssea, e ao controle da pressão sanguínea
e da obesidade10.
O tratamento para a AN envolve intervenção
multidisciplinar, com a atuação de médicos, nutricionistas,
psicólogos, terapeutas de família, educadores físicos,
entre outros11. Alguns grupos recomendam a prática
de atividade física orientada como componente
de tratamento de recuperação de peso, reduzindo
a ansiedade, elevando o humor e auxiliando na
alimentação12.
Embora o exercício aeróbico intenso seja inadequado
devido ao alto gasto energético12, outras formas de
exercício destinadas a aumentar a massa muscular
podem ajudar a regular os comportamentos excessivos
típicos da AN10,13. Entretanto, é importante que o
paciente tenha uma supervisão direta de profissional
capacitado, controlando o peso corporal e o índice de
massa corporal (IMC).
Os estudos a respeito desse tema divergem em
relação aos possíveis benefícios/prejuízos, não havendo
um consenso dessa prática. Assim, a presente revisão
sistemática busca examinar os efeitos do exercício físico
supervisionado sobre o IMC em adolescentes durante o
tratamento para AN.
MetodoloGIa
Critérios de elegibilidade
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados ou não
randomizados com adolescentes que participaram de
programas de atividade física supervisionada durante o
tratamento de AN. O desfecho incluído foi em relação
ao IMC. Estudos com dados incompletos e estudos sem
dados do grupo controle foram excluídos.
Estratégia de busca
Foram pesquisados os seguintes bancos de dados
eletrônicos: MEDLINE (acessado via PubMed), Register
of Controlled Trials (Cochrane Central), EMBASE e Web
of Science. Ainda foi realizada uma busca manual nas
referências de estudos já publicados sobre o assunto. A
busca foi realizada em setembro de 2013 e compreendeu
os seguintes termos em inglês: adolescent, exercise e
anorexia. A estratégia de busca completa utilizada para
o PubMed pode ser observada na Tabela 1. Não houve
restrição de idioma na busca.
Seleção dos estudos e extração dos dados
Todos os artigos identificados pela estratégia
de busca foram avaliados por dois revisores de
forma independente. Os títulos e resumos foram
primeiramente examinados, selecionando para a
segunda fase os que preenchiam os critérios de inclusão
ou aqueles que não forneciam informações suficientes
sobre estes critérios. Nessa segunda fase, os artigos
completos foram avaliados pelos mesmos revisores de
forma independente. Discordância entre os revisores
foram resolvidas por consenso e, se a discordância
persistisse, por um terceiro revisor. Para evitar uma
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
17
ARTIGO DE REVISÃO
MICHELE CASSER CSORDAS
CAROLINA PANCERI
possível contagem dupla de participantes incluídos em
mais de um artigo dos mesmos autores, os períodos
de recrutamento e as características dos participantes
foram avaliadas. A extração dos dados foi conduzida
de forma independente por dois revisores no que diz
respeito às características metodológicas dos estudos,
intervenções e resultados através de formulários
padronizados; discordâncias foram resolvidas por
consenso ou por um terceiro revisor.
ARTIGO
Resultados
A busca inicial identificou 591 artigos, dos quais 15
estudos foram recuperados para análise detalhada.
Desses, 12 foram excluídos por não relatarem os
desfechos de interesse, por falta de dados, dados
incompletos ou por não terem grupo controle conforme
os critérios de inclusão, restando três artigos incluídos
na revisão sistemática, totalizando 78 pacientes. A
Figura 1 demonstra o fluxograma dos estudos incluídos,
e a Tabela 2 resume as características desses estudos.
Figura 1 - Fluxograma dos estudos incluídos.
18
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
MICHELE CASSER CSORDAS, CAROLINA PANCERI
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS.
Tabela 1 - Características dos estudos e IMC dos grupos nos períodos pré e pós-intervenção
Grupo experimental
Amostra Idade*
Del Valle
et al.13
11
14,7
(0,6)
Tokomura
et al.14
9
14
Touyz et
al.15
19
15,9
(2,4)
Grupo controle
Intervenção
Tempo
IMC
pré*
Exercícios
anaeróbicos
2x/semana por
60-70 min
12 semanas
18,7
(1,7)
Exercícios
aeróbicos e
anaeróbicos
Exercícios
anaeróbicos
5x/semana por
18,8
30 min
(0,5)
6-12 meses
3h por semana 14,82
6 semanas
(1,01)
IMC
pós*
18,2
(2,2)
21,7
(0,5)
Protocolo
IMC
pré*
IMC
pós*
11
14,2
(1,2)
Mantiveram
o nível de
atividade física
que já tinham
18,2
(1,5)
18,3
(1,6)
8
14
Não realizaram
atividade física
19,6
(0,7)
20,2
(0,5)
20
20
(5,2)
Amostra Idade*
Não realizaram 14,28
atividade física (1,32)
* Dados apresentados como média (desvio padrão).
DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corporal.
No estudo de Dell Valle et al.13, os autores selecionaram
35 pacientes adolescentes em atendimento com AN
numa mesma instituição para a participação em um
estudo com a orientação de atividade física. Um total de
22 pacientes aceitou participar do estudo, e estes foram
randomizados em dois grupos de mesmo tamanho, um
com atividade física orientada e outro sem atividade
orientada. A idade média (desvio padrão, intervalo) na
formação do grupo com atividades e no grupo controle
foi de 14,7 (0,6, 14-16) anos e 14,2 (1,2, 12-16) anos,
respectivamente. Aos participantes do grupo controle
sem exercício, foi orientado que mantivessem o seu nível
de atividade física usual durante o período do estudo.
Para assegurar que o nível de atividade física fosse
semelhante nos dois grupos, houve avaliação dos níveis
de atividade física em ambos os participantes durante
o período de intervenção, usando um acelerômetro
uniaxial.
Participantes do grupo de intervenção foram inscritos
em atividades duas vezes por semana. Cada sessão
de atividade tinha a duração de 60-70 minutos. Cada
subgrupo de três participantes contava com um
profissional responsável pela supervisão das atividades.
Dos 11 participantes do grupo de intervenção, nove
completaram todas as sessões planejadas. Não foi
observado nenhum efeito adverso ou problema cardíaco
em nenhum participante. O principal achado do estudo
foi que o programa de treinamento realizado em ambiente
hospitalar não induz ganhos significativos na capacidade
funcional, incluindo a capacidade aeróbica de jovens,
nem na sua capacidade de lidar com as atividades físicas
da vida diária. Embora não melhore significativamente
a qualidade de vida dos pacientes, a intervenção do
treinamento foi bem tolerada, e não houve quaisquer
efeitos deletérios sobre a saúde dos pacientes, além de
não induzir perdas significativas em seu peso ou IMC.
A diferença entre os grupos no tempo médio decorrido
desde o diagnóstico (42 e 72 meses para o grupo com
treinamento e o grupo controle, respectivamente) pode
ter influenciado, ao menos em parte, alguns resultados.
No entanto, deve-se manter em mente que as variáveis
dos principais resultados, incluindo o IMC, foram
semelhantes nos dois grupos.
No estudo de Tokomura et al.14, 17 adolescentes com
AN foram submetidas a uma prova de esforço para
avaliar sua capacidade de exercício depois de recuperado
seu peso para um valor clinicamente estável. Para nove
pacientes (com idades entre 12 e 17 anos, mediana de
14 anos), foi prescrito um treinamento (30 minutos de
bicicleta ergométrica, supervisionado, cinco vezes por
semana). Oito pacientes não participaram do programa
de treinamento físico e serviram como grupo controle.
Os dois grupos não eram significativamente diferentes
em suas características na admissão, como idade,
duração da AN, altura ou peso. Todos os nove pacientes
no grupo do exercício seguiram a prescrição completa
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
19
ARTIGO DE REVISÃO
MICHELE CASSER CSORDAS
CAROLINA PANCERI
de exercícios e concluíram o programa, cuja duração
variou de 6 a 12 meses, com média de 10 meses, sem
qualquer resposta inadequada ao exercício. Nenhum dos
pacientes, nos dois grupos, apresentou recaída durante
o período de observação, e não houve diferenças
significativas nos valores de parâmetros basais entre
o grupo com exercício e o grupo controle. Houve um
aumento no IMC após 1 ano de intervenção, comparado
ao inicial em ambos os grupos, e seu ganho foi maior no
grupo de intervenção.
O estudo de Touyz et al.15 apresentou uma amostra
composta por 39 pacientes com AN. Todos os pacientes
foram submetidos a um programa comportamental
brando e flexível, que permitiu que mantivessem
um maior grau de controle sobre o seu processo de
realimentação. O grupo total foi dividido em dois. Não
havia uma diferença significativa de média de peso entre
as participantes dos dois grupos.
O primeiro grupo (n = 19) utilizou o programa
comportamental brando e flexível, incluindo 3 horas
por semana de um programa estruturado de exercícios
anaeróbios que envolviam alongamento, aprimoramento
da postura, musculação, esporte social e atividade
aeróbica ocasional. O segundo grupo (n:20) recebeu o
mesmo programa comportamental brando e flexível,
sem os exercícios anaeróbicos. A quantidade de peso
ganho durante o período de 4 a 6 semanas foi calculada
a partir dos gráficos de peso dos pacientes, e não
houve diferença significativa no IMC dos grupos, com
ou sem prática. Não houve uma diferença significativa,
também, na taxa de ganho de peso entre os pacientes
que participaram do programa de exercícios e os que
não participaram.
Discussão
Os estudos selecionados corroboram o fato de que
não há prejuízo evidente na prática de atividade física
em adolescentes em tratamento para AN. Deixam
claro, entretanto, que o programa de treinamento a ser
proposto deve respeitar o grau de gravidade da doença.
Os adolescentes devem estar em uma fase do tratamento
onde o peso já foi recuperado e o IMC não ponha o
paciente em risco. Esses fatores reforçam a modalidade
do exercício, preferencialmente não aeróbico16.
20
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
Outros estudos recomendam que, para pacientes com
AN, a recuperação do peso corporal deve ser o principal
foco17,18. Por isso, praticar apenas atividades físicas
predominantemente aeróbicas não seria recomendado17,18.
Esses pacientes, geralmente, possuem histórico de
uso abusivo de exercícios físicos, sendo essencial o
aconselhamento e a supervisão direta de profissional
capacitado para a prática saudável, principalmente em
relação à quantidade e à intensidade19.
Belmont17 apresenta em seu estudo os objetivos
e cuidados que devem ser seguidos em um programa
de exercícios como coadjuvante no tratamento de
pacientes com TA hospitalizados. Alguns dos objetivos
do programa são: a promoção de saúde por meio da
educação e da prática regular de exercícios; a ênfase do
cuidado com a saúde, com a imagem corporal e com a
autoestima; a colaboração com a recuperação de peso,
promovendo, principalmente, ganho de massa magra e
diminuição do tecido adiposo; o incentivo da prática de
exercícios como uma alternativa de atividade social e a
desmistificação de crenças e mitos referentes à prática
excessiva e inadequada.
Existem, dessa forma, duas vertentes da relação das
atividades físicas com os transtornos alimentares: a
prática excessiva e compulsiva de pessoas com algum TA
como método para perder peso e a possível intervenção
com atividades supervisionadas em conjunto com o
atendimento clínico19.
Alguns autores se mostram contra a prática de exercícios
físicos para pacientes com AN em fase de recuperação de
peso. Embora utilizando termos diferentes, compulsivo e
excessivo, sustentam que se deve observar a qualidade
e a quantidade de exercício físico desses pacientes
contraindicando12. Ainda, não apenas o exercício precisa
ser avaliado, mas as atividades físicas não estruturadas,
como atividades domésticas, que podem ser usadas
como forma de gasto energético12.
Em contrapartida, em um estudo de revisão, os autores
recomendam sessões de exercícios como componente do
tratamento de recuperação do peso no intuito de reduzir
a ansiedade, elevar o humor e ajudar na alimentação17.
Apesar das evidências dos benefícios da atividade
física em níveis clínicos e orgânicos nos mais diversos
marcadores, os estudos selecionados nesta revisão
sistemática demonstram que os benefícios em relação
MICHELE CASSER CSORDAS, CAROLINA PANCERI
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS.
ao IMC se mantiveram similares em grupos controle que
continuaram com suas atividades usuais e nos que não
participaram da intervenção, mas eram assistidos pelos
estudos em questão, embora a qualidade metodológica
dos estudos encontrados, o pequeno tamanho amostral
e o pequeno número de estudos dificultem uma definição
sobre o tema abordado.
Importante evidência são os benefícios psicológicos
propiciados pela realização das atividades propostas6,9,20,21.
Esses benefícios são esperados pelos eventos biológicos
ocasionados através da atividade física, como no
aumento dos níveis de triptofano, conduzindo a uma
síntese aumentada de serotonina, bem como de seu
metabolismo22,23, e no aumento do fator neurotrófico
derivado do cérebro23,24, e também podem ser justificados
pelo fator neurotrófico estar envolvido em processos de
regeneração neuronal, nomeadamente dos neurônios
serotoninérgicos, e o seu aumento parece desencadear
um efeito antidepressivo25. No entanto, não foi relatado
um consenso sobre esse aspecto nos estudos.
Os resultados subjetivos dos exercícios nos grupos
de pacientes foram exclusivamente positivos, como
a melhora no humor26 e na sociabilização, podendo
complementar a fase do tratamento em que se trabalha
para a recuperação dos hábitos saudáveis do paciente.
O exercício físico como modalidade terapêutica é
acessível, tem poucos efeitos adversos, custo reduzido
e pode ser mantido por um longo período de tempo,
permitindo obter benefícios não só psicológicos, mas
também físicos27, no que diz respeito à melhoria dos
padrões de sono, aumento da força muscular e melhor
controle glicêmico, condições estas que frequentemente
estão presentes no quadro do paciente anoréxico.
ConClusão
Ainda que haja consenso a respeito dos inúmeros
benefícios da prática de atividade física para a população
em geral e em algumas doenças, a revisão sistemática
pode trazer novas considerações em se tratando de
pacientes com AN, no qual se questionam os riscos/
benefícios dessa prática.
O exercício orientado e supervisionado pode ser
um complemento ao tratamento realizado na AN; no
entanto, poucos estudos foram encontrados com o
desfecho de interesse, limitando qualquer conclusão
a respeito. Percebe-se, assim, que a literatura sobre o
tema ainda é escassa. Além disso, os referidos estudos
não contemplavam os comportamentos alimentares,
aspecto relevante na composição do IMC, assim como
tinham um pequeno tamanho amostral e intervenções
com metodologias diferentes.
A realização de mais estudos com maior número
amostral e metodologia mais rigorosa é necessária
para que seja possível prescrever exercícios físicos para
pacientes com AN com segurança, além de definir um
protocolo nesse sentido. Pesquisas com intervenção
de exercício físico abordando, além do IMC, os demais
índices antropométricos, adesão ao tratamento, aspectos
psicológicos e qualidade de vida seriam interessantes
para um olhar integral sobre a saúde do adolescente
com AN.
Artigo submetido em 17/08/2016, aceito em 12/09/2016.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Correspondência: Carolina Panceri, Rua Ramiro Barcelos,
2350/845, CEP 90035-903, Porto Alegre, RS. Tel.: (51)
3359. 8144. E-mail: [email protected]
Referências
1.
Herpertz-Dahlmann B. Adolescent eating
disorders: definitions, symptomatology and
comorbidity. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.
2009;18:31-47.
2.
Carvalho RS, Amaral ACS, Ferreira MEC.
Transtornos alimentares e imagem corporal na
adolescência: uma análise da produção científica
em psicologia. Psicol Teor Prat. 2009;11:200-23.
3,
Oliveira LL, Hutz CS. Transtornos alimentares:
o papel dos aspectos culturais no mundo
contemporâneo. Psicol Estud. 2010;15:575-82.
4.
Corseiul MW, Pelegrini A, Beck CC, Petrokski
EL. Prevalência de insatisfação com a imagem
corporal e sua associação com a inadequação
nutricional em adolescentes. Revista Educ Fis
(UEM). 2009;20:25-31.
5.
Mello MT, Boscolo RA, Esteves AM, Tufik S. O
exercício físico e os aspectos psicobiológicos. Rev
Bras Med Esporte. 2005;11:203-7.
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
21
ARTIGO DE REVISÃO
MICHELE CASSER CSORDAS
CAROLINA PANCERI
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
22
Godoy RF. Benefícios do exercício físico sobre a
área emocional. Movimento. 2002;8:7-16.
UK Department of Health. Exercise referral
systems: a national quality assurance framework.
London: Department of Health; 2001.
Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair
SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public
health: updated recommendation for adults from
the American College of Sports Medicine and
the American Heart Association. Med Sci Sports
Exerc. 2007;39:1423-34.
Silva PSB, Ferreira CES. Exercício físico e humor:
uma revisão acerca do tema. Educ Fis Rev.
2011;5:1-8.
Tassitano RM, Bezerra J, Tenório MCM, Colares
V, Barros MVG de, Hallal Pedro Curi. Atividade
Física em adolescentes brasileiros: uma revisão
sistemática. Rev Bras Ciantropom Desempenho
Hum. 2007;9:55-60.
Cartwright MM. Eating disorder emergencies:
understanding the medical complexities of the
hospitalized eating disordered patient. Crit Care
Nurs Clin North Am. 2004;16:515-30.
Teixeira PC, Costa RC da, Matsudo SMM, Cordás
TA. A prática de exercícios físicos em pacientes
com transtornos alimentares. Rev Psiq Clin
2009;36:145-52.
del Valle MF, Pérez M, Santana-Sosa E, FiuzaLuces C, Bustamante-Ara N, Gallardo C, et al.
Does resistance training improve the functional
capacity and well being of very young anorexic
patients: a randomized controlled trial. J Adolesc
Health. 2010;46:352-8.
Tokomura M, Yoshiba S, Tanaka T, Nanri S,
Watanabe H. Prescribed exercise training improves
exercise capacity of convalescent children and
adolescents with anorexia nervosa. Eur J Pediatr.
2003;162:430-1.
Touyz SW, Lennerts W, Brenden A, Beumont
PVJ. Anaerobic exercise as an adjunct to
refeeding patients with anorexia nervosa: does
it compromise weight gain? Eur Eat Disord Rev.
1993;1:177-82.
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
16. Bilanin JE, Blanchard MS, Russek-Cohen E. Lower
vertebral bone density in male long distance
runners. Med Sci Sports Exerc. 1989;21:66-70.
17. Beumont PJ, Arthur B, Russell JD, Touyz SW.
Excessive physical activity in dieting disorder
patients: Proposal for a supervised exercise
program. Int J Eat Disord. 1994;15:21-36.
18. Cook BJ, Hausenblas HA. The role of exercise
dependence for the relationship between exercise
behavior and eating pathology: mediator or
moderator? J Health Psychol. 2008;13:495-502.
19. Weis A. Transtorno alimentar e variáveis
comportamentais relacionadas ao exercício
físico em academia de ginástica [tese]. Curitiba:
Universidade Federal do Paraná; 2013.
20. Hausenbias HA, Cook BJ, Chittester NI. Can
exercise treat eating disorders? Exerc Sports Sci
Rev. 2008;36:43-7.
21. Peluso MA, Guerra de Andrade LH. Physical
activity and mental health: the association
between exercise and mood. Clinics (São Paulo).
2005;60:61-70.
22. Chaouloff F, Elghozi JL, Guezennec Y, Laude
D. Effects of conditioned running on plasma,
liver and brain tryptophan and on brain
5-hydroxytryptamine metabolism of the rat. Br J
Pharmacol. 1985;86:33-41.
23. Post RM, Kotin J, Goodwin FK, Gordon EK.
Psychomotor activity and cerebrospinal fluid
amine metabolites in affective illness. Am J
Psychiatry. 1973;130:67-72.
24. Meeusen R, De Meirleir K. Exercise and brain
neurotransmission. Sports Med. 1995;20:16088.
25. Altar CA. Neurotrophins and depression. Trends
Pharmacol Sci. 1999;20:59-61.
26. aan het Rot M, Collins KA, Fitterling HL. Physical
exercise and depression. Mt Sinai J Med.
2009;76:204-14.
27. Reis JSMS. Atividade Física: um complemento a
considerar no tratamento da depressão (tese).
Covilhã: Universidade da Beira Interior; 2012.
ANÚNCIO
ARTIGO DE REVISÃO
GISLENE CRISTINA VALADARES
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
RENAN ROCHA
JOEL RENNÓ JR.
HEWDY LOBO RIBEIRO
JULIANA PIRES CAVALSAN
AMAURY CANTILINO
JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO
ARTIGO
ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
SEXUAL, PARTE III: GRAVIDEZ PÓS-ESTUPRO –
REVISÃO INTEGRATIVA
CARING FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE, PART III:
PREGNANCY AFTER RAPE – INTEGRATIVE REVIEW
Resumo
O cuidado às vítimas de violência sexual exige
conhecimento das evidências e treinamento. Exame e
acompanhamento psiquiátrico da interrupção legal da
gestação e atendimento a grupos familiares incestuosos
revelam janelas de vulnerabilidades e oportunidades na
prevenção das graves consequências dessas ofensas.
O objetivo deste estudo foi reunir conhecimento
crítico sobre gravidez indesejada pós-estupro, suas
repercussões e abordagens, contribuindo para o
desenvolvimento de protocolos e boas práticas. Tratase de revisão integrativa, coleta de dados em fontes
secundárias (MEDLINE, EMBASE, PsycINFO), com
base na experiência vivenciada pela primeira autora. Os
seguintes descritores nas línguas portuguesa e inglesa
foram utilizados: transtorno mental, violência sexual,
estupro, gravidez e aborto. A amostra foi de 32 artigos
científicos e dois da mídia leiga. Com o adoecimento
mental e físico das vítimas de violência sexual, a
economia mundial perde mais de 8 trilhões de dólaresano (hospitalizações psiquiátricas, dependência de
álcool e drogas, suicídio, obesidade, enxaqueca, doenças
cardiovasculares, problemas obstétricos), havendo maior
peso estatístico para portadoras de déficit intelectual e
adolescentes. Existem 37 unidades de saúde no Brasil
que atendem gravidez pós-estupro – três possuem
assistência psiquiátrica. Milhares dessas gravidezes não
são reveladas, geram conflitos, riscos e desafios relativos
aos filhos gerados. O aborto legal envolve dificuldades
institucionais e emocionais dos profissionais e pacientes
frente a decisões complexas e dolorosas antes, durante
e após o procedimento. A prontidão cognitivo-afetiva
24
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
para receber cuidados, quando tardia, compromete a
vida de vítimas e seus filhos. Conclui-se que combater
e prevenir a transmissão transgeracional da violência de
gênero e gravidez pós-estupro deve ser prioridade de
saúde pública.
Palavras-chave: Violência sexual, gravidez indesejada
pós-estupro, aborto, transtorno mental.
Abstract
Caring for victims of sexual violence requires knowledge
of the evidence available and training. Screening and
psychiatric follow-up of legally terminated pregnancies
and assistance to incestuous families reveal windows
of vulnerabilities and opportunities in preventing the
serious consequences of these offenses. The objectives
of this study were to gather critical knowledge about
unwanted pregnancy after rape, its repercussions
and approaches, contributing to the development of
protocols and best practices. This was an integrative
review, with data collected from secondary sources
(MEDLINE, EMBASE, PsycINFO), based on the first
author’s experience. The following keywords were
used in Portuguese and English: mental disorder, sexual
violence, rape, pregnancy, and abortion. The sample
comprised 32 scientific articles and two from the lay
press. Mental and physical illnesses affecting victims of
sexual violence cost the world economy over 8 trillion
dollars a year (psychiatric hospitalizations, alcohol and
drug addiction, suicide, obesity, migraine, cardiovascular
diseases, obstetric problems), with a higher statistical
power among women with intellectual disabilities and
adolescents. Currently, 37 health units in Brazil offer
GISLENE CRISTINA VALADARES1, ANTÔNIO GERALDO DA SILVA2, RENAN ROCHA3, JOEL RENNÓ JR.4, HEWDY
LOBO RIBEIRO5, JULIANA PIRES CAVALSAN5, AMAURY CANTILINO6, JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO7
Membro fundadora, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG; Seção de Saúde Mental da Mulher, WPA; e International Association of Women’s Mental Health.
Diretor científico, PROPSIQ. Presidente, ABP. 3 Coordenador, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Clínicas Integradas da
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC. 4 Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher (Pro-Mulher),
Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 5 Psiquiatra, Pro-Mulher, Instituto
de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 6 Professor adjunto, Departamento de
Neuropsiquiatria, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE. Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher,
UFPE, Recife, PE. 7 Especialista em Psiquiatria pela ABP. Pesquisador, Grupo de Psiquiatria - Transtornos Relacionados ao
Puerpério, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS.
1
2
assistance to cases of pregnancy after rape – three offer
psychiatric assistance. Thousands of these pregnancies
are not revealed, generate conflicts, risks, and challenges
related to the children born after rape. Legal abortion
involves institutional and emotional difficulties for both
professionals and patients while facing complex and
painful decisions before, during, and after the procedure.
Cognitive-affective readiness to receive care, when
delayed, compromises the lives of victims and their
children. We conclude that combating and preventing
transgenerational transmission of gender violence and
pregnancy after rape should be a public health priority.
Keywords: Sexual violence, unwanted pregnancy after
rape, abortion, mental disorder.
IntRodução
O cuidado na atenção às vítimas de violência
sexual (VVS) exige dos profissionais de diversas áreas
envolvidos (saúde, justiça, assistência social, educação,
etc.) conhecimento sobre a gravidade do problema e
treinamento que sustente, com evidências, as avaliações,
o tratamento e a prevenção desse mal que assola de
forma prevalente as relações humanas. A insegurança dos
agentes públicos e privados e as dificuldades emocionais,
sociais, ideológicas e materiais para a abordagem das
VVS ganham notoriedade na mídia e nas publicações
científicas, com a participação e crescente protagonismo
de mulheres, adolescentes, crianças, homossexuais e
transgêneros como pesquisados e pesquisadores.
Observam-se, na prática psiquiátrica cotidiana,
evidências insuficientes para abordar a violência de
gênero (VG) e a violência sexual (VS), reduzindo seu foco
à listagem de sintomas, dificultando a ressignificação dos
traumas e a prevenção. A experiência em ambulatório
de saúde mental de mulheres examinando VVS que
engravidam e necessitam avaliação e acompanhamento
psiquiátrico para a interrupção legal da gestação (IG), bem
como o atendimento a grupos familiares incestuosos,
revelam janelas de vulnerabilidades e oportunidades
na prevenção das ofensas sexuais (OS). Estressores
diários e sociais somados agravam os sintomas da VVS.
O cotidiano de dificuldades materiais, de moradia,
desemprego e doenças aparecem associados à forma
mórbida como a VS é disseminada na comunidade,
nas escolas, nas redes sociais e nas famílias, gerando
julgamento, culpabilização e estigmatização das vítimas
e justificativas atenuantes ao estuprador1. Esse contexto
contribui para o adoecimento e deterioração psíquica
das VVS e também para a subnotificação, sendo que o
registro desse crime ocorre apenas em 35% dos casos
nos EUA, 15% na Austrália em 2010, e somente 7,5% no
Brasil, onde 10% são notificados apenas via sistema de
saúde, sem alcançar a esfera judicial. Estima-se que, no
mínimo, 527 mil pessoas sejam estupradas por ano no
país. Foram registrados judicialmente 47.646 estupros
no Brasil em 2014, e pelos dados da saúde, temos
uma vítima por minuto dessa barbárie2. Não é sem
fundamento que 67% da população das grandes cidades
brasileiras têm medo de ser VVS, e 90% das mulheres
temem ser violentadas sexualmente3.
oBJetIVos
O objetivo deste artigo foi reunir o conhecimento e
pensamento crítico sobre o tema da gravidez indesejada
pós-estupro (GIPE), suas repercussões e abordagens,
e contribuir para o desenvolvimento de protocolos
e procedimentos apoiados nas boas práticas e nas
evidências em OS e GIPE.
Método
Trata-se de uma revisão integrativa4, com coleta
de dados a partir de fontes secundárias, incluindo
levantamento bibliográfico (MEDLINE, EMBASE,
PsycINFO), e baseada na experiência vivenciada pela
primeira autora. Foram utilizados os seguintes descritores
e suas combinações na língua portuguesa e na língua
inglesa: transtorno mental, violência sexual, estupro,
gravidez e aborto.
Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos
foram: artigos publicados em português e inglês nos
últimos 10 anos; e artigos na íntegra referentes aos
cuidados com vítimas de OS que engravidam. A síntese
dos dados foi elaborada de forma descritiva, buscando
observar, relatar, descrever e classificar as informações.
Resultados
A amostra final desta revisão foi constituída por 32
artigos científicos e dois artigos da mídia leiga, seguindo
critérios de inclusão previamente estabelecidos.
Percebe-se um aumento no número de artigos científicos
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
25
ARTIGO DE REVISÃO
GISLENE CRISTINA VALADARES
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
RENAN ROCHA
JOEL RENNÓ JR.
HEWDY LOBO RIBEIRO
JULIANA PIRES CAVALSAN
AMAURY CANTILINO
JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO
publicados sobre o tema em foco nos últimos anos nas
disciplinas de saúde, justiça, sociologia e a perspectiva
de construção de uma metodologia de pesquisa e prática
baseada em evidências.
Violência sexual e transtornos mentais
A VS é bastante prevalente; 40% das mulheres
sofreram ou sofrerão uma OS ao longo de sua vida5. A
VS é questão de saúde pública em todo o mundo, e o
estupro, uma das mais perversas apresentações da VG,
com impacto no desenvolvimento de doenças físicas
e psíquicas graves e incapacitantes, elevando a maior
utilização dos serviços de saúde. A VG independe de
idade, cor, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual ou
condição social da vítima e do ofensor, e é responsável
por 1 em cada 5 anos potenciais de vida saudável
perdidos, afetando o bem-estar, segurança, possibilidades
de educação e desenvolvimento pessoal. Historicamente,
a VS acompanha outras formas de violação dos direitos
femininos: diferença de remuneração em relação aos
homens, agravando a injustiça na distribuição de renda;
tratamento desumano nos serviços de justiça e saúde;
assédio sexual e moral nas ruas, no trabalho, no convívio
social e virtual. Esses constrangimentos contra a mulher
e sua invisibilidade custam à economia mundial mais de
US$ 8 trilhões por ano6. A inter-relação entre OS precoce,
posterior risco de VG e transtornos mentais vem sendo
descrita, apesar de ser complexo o mapeamento de dados
retrospectivos, factíveis de equívocos no sequenciamento
dos fatos, e da dificuldade no reconhecimento pois
vários tipos de ofensa podem ocorrer ao mesmo tempo,
especialmente em ambiente familiar onde o ofensor pode
alienar a vítima ativa ou passivamente7. Em função da
transmissão transgeracional da violência, nota-se que
crianças expostas têm grande chance de ofenderem ou
serem ofendidas e violentadas sexualmente em sua vida
adulta. As mulheres que relataram qualquer trauma não
sexual na infância apresentaram maior prevalência de VG
ao longo da vida8.
Mulheres que sofreram OS com penetração
apresentam mais do dobro de probabilidade de
serem obesas (em média 11 kg a mais se vítimas de
OS e abuso físico), três vezes mais chances de sofrer
distúrbios mentais com necessidade de hospitalização,
quatro vezes mais chances de depender de álcool,
26
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
cinco vezes mais risco de depender de drogas e mais de
seis vezes a probabilidade de tentar suicídio9. As VVS
também tiveram aumento de 38% em chance de sofrer
enxaquecas, de forma quantitativamente dependente
ao número de abusos, se comparadas a controles10,11.
Demonstrou-se que as portadoras de déficit intelectual
estão mais expostas à violência de gênero, com
incapacitação mais severa e pior qualidade de vida7.
Os abusos físicos e sexuais precoces no gênero
feminino estão relacionados à comorbidade de
transtornos de ansiedade e depressivos com transtorno
de estresse pós-traumático (TEPT)12.
Já o início mais precoce de trauma infantil por abuso
emocional, sexual ou negligência estão vinculados a
tentativas de suicídio, ciclagem rápida e maior número de
episódios depressivos no transtorno bipolar13. Pacientes
psicóticos de início precoce e história de trauma sexual na
infância apresentaram níveis mais elevados de sintomas
depressivos, sintomas positivos, negativos e maniformes
versus pacientes com trauma em idade avançada que
mostraram apenas mais sintomas negativos. Esses
resultados sugerem que a idade no momento da
exposição ao trauma tem um efeito modulador sobre os
sintomas nesses pacientes14.
Há insuficiência de evidências associando OS
ao diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno
somatoforme15.
As mulheres portadoras de doenças psiquiátricas
graves e crônicas são parte do grupo de alta
vulnerabilidade para VS. Tais pacientes, por não se
conscientizarem da gestação, podem apresentar risco
de infanticídio logo após o parto, sem emoção ou culpa,
pois os fetos não são inscritos na psique materna, não
existindo para elas. Alguns desses casos podem ser
inimputáveis e aparecem na mídia provocando comoção
pública.
A gravidez indesejada pós-estupro (GIPE)
Mesmo na atualidade, existem crianças concebidas sem
a consciência das mães e não porque elas esqueceram
seu contraceptivo. A GIPE é um risco, junto a doenças
sexualmente transmissíveis (DST), caso a mulher não seja
adequadamente assistida nas 72 horas após esse flagelo.
Desde agosto de 2013, a lei nº 12.845, sancionada
pela então presidente Dilma Rousseff, garante direito
GISLENE CRISTINA VALADARES1, ANTÔNIO GERALDO DA SILVA2, RENAN ROCHA3, JOEL RENNÓ JR.4, HEWDY
LOBO RIBEIRO5, JULIANA PIRES CAVALSAN5, AMAURY CANTILINO6, JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO7
Membro fundadora, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG; Seção de Saúde Mental da Mulher, WPA; e International Association of Women’s Mental Health.
Diretor científico, PROPSIQ. Presidente, ABP. 3 Coordenador, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Clínicas Integradas da
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC. 4 Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher (Pro-Mulher),
Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 5 Psiquiatra, Pro-Mulher, Instituto
de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 6 Professor adjunto, Departamento de
Neuropsiquiatria, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE. Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher,
UFPE, Recife, PE. 7 Especialista em Psiquiatria pela ABP. Pesquisador, Grupo de Psiquiatria - Transtornos Relacionados ao
Puerpério, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS.
1
2
de atendimento emergencial, integral e multidisciplinar
nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) às
mulheres VVS, bem como àquelas em risco de morte por
complicações perinatais ou gerando fetos anencefálicos,
que desejam abortar16.
No Brasil, temos 68 hospitais que dispensam esse
procedimento, segundo o Ministério da Saúde, porém
apenas 37 estão em atividade e não contam com
nenhuma expansão ou atualização qualificada dos
profissionais envolvidos há 10 anos. Apenas três serviços
possuem assistência psiquiátrica às vítimas. Em sete
estados brasileiros, não há essa infraestrutura. Alguns
centros de atendimento fazem exigências ilegais, como
boletim de ocorrência, exame de corpo de delito médico
legal ou aprovação de cada caso em comitê de ética da
instituição16. O acesso também é dificultado por pouca
informação das mulheres e dos profissionais de saúde
(PS) sobre os direitos da VVS.
A GIPE deve ser tratada de forma diferenciada, de
acordo com a história pessoal, com as circunstâncias
do estupro e a capacidade de resiliência da vítima, pois
algumas mulheres encontrarão no filho gerado um
motivo para viver, enquanto outras enxergarão no bebê
a figura do estuprador, revivescência viva e contínua do
trauma. Estas últimas buscam a interrupção da gravidez
(IG) por vias legais ou ilegais e, quando não conseguem
abortar, são mais propensas a doar o bebê logo após o
nascimento, para serem criados em uma família onde o
fantasma do agressor não se revele através da criança.
Uma minoria de mulheres aceita que a criança não tem
responsabilidade e evoca um sentimento materno que
as desvia dos horrores vividos, permitindo um exorcismo
da culpa inconsciente, ligada às situações de VS.
A gravidez resultante de incesto e pedofilia pode
ocorrer até mesmo em meninas pubescentes, imaturas
para elaborar o significado emocional da GIPE. Nessa
circunstância, existe modificação nos padrões de
filiação, quando a figura do ofensor está superposta
à do pai ou irmão. Essas mulheres têm que enfrentar
a transgressão de uma lei fundamental e estruturante
da sociedade e são oprimidas pelo estigma e por um
discurso ambivalente, sustentado por sua mãe, que
se manteve em silêncio, impondo uma sensação de
abandono e culpa à grávida. Um dos motivos de poucas
denúncias do fato à justiça é “não poder trair os laços
familiares”, mesmo quando definições e limites foram
abandonados17,18. Há poucos dados sobre crianças
geradas de estupro, mas sabemos que houve mais de
10.000 durante o genocídio da guerra em Ruanda19.
Como nos conflitos entre grupos de traficantes no
Brasil, o estupro, coletivo ou não, se utiliza como
instrumento de dominação em áreas de disputa.
Existem milhares de GIPE não reveladas por ano,
devido aos sentimentos de vergonha e medo das
repercussões, permanecendo o desafio de conhecer
como estas mães criam seus filhos. As crianças são,
em sua maioria, mornamente recebidas, mesmo
com a imensa capacidade de sedução dos bebês
direcionada a obliterar a culpa por não terem sido
desejados. Uma postura reativa, superindependente
e autossuficiente dessas crianças pode levá-las a um
aprisionamento afetivo de difícil saída, e sua psique
pode ser irreversivelmente moldada após viver
diversas formas de violência precoce e intrafamiliar.
A adoção de mecanismos de defesa perversos pode
levá-las à marginalização e delinquência. Essas crianças
sobrevivem com a dificuldade ou a impossibilidade
de pensarem sobre si mesmas em seu real lugar na
sociedade.
Cada gravidez tem sua história e um desdobramento.
A criança confronta seu destino com deficiências de
variados portes, e seu desenvolvimento depende
principalmente da qualidade afetiva dos pais e do
suporte pelo meio social e familiar que acolhe e
acompanha o seu desenvolvimento17,18.
Com a decisão de manter a GIPE, por escolha
própria, medo, culpa ou falta de opção, algumas VVS
desenvolvem pensamentos e sentimentos de que os
bebês são sua força para uma vida melhor, mas durante o
parto podem reviver o trauma, reativando as lembranças
e a dissociação. Essas vítimas podem manter atitude de
distância e dificuldade na ligação emocional com o filho;
têm que cuidar de uma criança enquanto se refazem do
trauma de terem sido violentadas e podem sofrer de TEPT
com provável agravamento e cronificação. Há relatos de
contínua oscilação e ambivalência entre rejeitar e aceitar a
criança. A amamentação pode também ser traumática por
relembrar detalhes do estupro, porém outras mulheres,
ao amamentarem, podem desenvolver uma visão positiva
de seu corpo, auxiliando a ligação com o bebê. Certas
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
27
ARTIGO DE REVISÃO
GISLENE CRISTINA VALADARES
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
RENAN ROCHA
JOEL RENNÓ JR.
HEWDY LOBO RIBEIRO
JULIANA PIRES CAVALSAN
AMAURY CANTILINO
JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO
mães relatam desconforto ao dar banho ou trocar as
fraldas do neonato, ao limpar os genitais de meninas ou ao
perceber que seu filho tem uma ereção; não conseguem
olhar ou tocar o bebê, prejudicando inclusive a higiene.
A dificuldade em tocar amorosamente a criança é um
continuum com outras formas de demonstrar afeto19.
Medo e sentimentos de descontrole durante a
gravidez, parto e pós-parto podem também conectar
a VVS a experiências precoces de violência. Memórias
traumáticas reveladas e ressignificadas diminuem a
autoacusação e o senso de violação, abrindo perspectiva
para um reencontro interno e externo com figuras
amorosas, atenuando a ambivalência e permitindo
compartilhar a experiência com alguém de sua confiança.
A mãe necessita transpor a visão do bebê como parte
estragada de si e ver-se como mãe da criança que
ela optou por amar e proteger17,18. São frequentes os
problemas obstétricos relacionados ao estresse durante
o trabalho de parto e ao nascimento do bebê como o
prolongamento do primeiro estágio, sangramento no
pré-parto e uso emergencial de fórceps em mulheres
expostas a VS, com leve aumento deste risco nas
adolescentes20. A representação materna da criança
pode estar enormemente comprometida. Grande parte
dos efeitos psicológicos, sociais e culturais do estupro
repercute na díade mãe-bebê, incluindo raiva e vergonha,
alicerces para que a violência permaneça encoberta como
“proteção” para mãe e criança. A mãe pode se defender
reagindo à criança rejeitando-a, tentando descontar nela
sua dor e humilhação, tornando-se depressiva e hiperreativa, não suportando o choro, deixando de lado as
necessidades básicas do filho, sentidas como demandas
de um homem adulto.
As mulheres com convicções religiosas e suporte
familiar têm maior possibilidade de aceitar a gestação
e a criança, e algumas dizem não admitir revitimizála. Algumas poucas sentem que não interromper a
gestação é curar a sua ferida interna, recomeçar a vida,
e persistir com a gestação significa uma vitória sobre
o estupro, possibilidade de recuperação da autoestima
perdida, um ato de coragem e generosidade17,18.
Entretanto, algumas VVS desejam firmemente a IG ou
a doação do bebê e evitam qualquer laço emocional.
Essas vítimas não desejam ver o ultrassom, ouvir os
batimentos cardiofetais ou olhar o recém-nascido
28
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
logo após o parto17,19. Assim, com frequência, sentem
que nada de bom sairá de seus corpos, enfrentam
profundos conflitos, tendem ao uso de drogas, à
prostituição, e não buscam cuidados pré-natais. Diante
de tamanhas dificuldades e ambivalências, a opção da
mulher VVS deve ser respeitada e sua escolha apoiada,
de acordo com a ética e a legislação, sendo o suporte
e aconselhamento livres de julgamento, fundamentais
para esclarecer suas dúvidas e temores.
Interrupção da gravidez
Há elevada prevalência de abortos legais e ilegais em
culturas que convivem de forma naturalizada com a
violência contra mulheres. A VS é a principal causa de
IG, seguida, à distância, pelo risco de morte materna
e malformação fetal21. A indicação de IG, assim como
o seu contexto e as práticas clínicas relacionadas a ela
necessitam de mais estudos sistemáticos.
Muitas mulheres quando engravidam nessa
circunstância desejam a morte para si e para seu filho.
Pensar ou olhar a criança pode ser muito doloroso, pelas
lembranças do perpetrador e de si própria enquanto
vítima, o que constrói projeções negativas quanto
ao bebê, visto como quem a pune ou “emissário do
demônio”22.
Várias dificuldades da VVS e dos serviços podem
promover atrasos na busca e no atendimento, chegando
mesmo a inviabilizar a realização do procedimento.
A decisão sobre a IG é geralmente tomada antes ou
próxima ao teste de gravidez para a maioria das VVS,
que, numa corrida contra o tempo, sob tensão do
trauma, insegurança, vergonha, humilhação e indignação,
encontram-se num momento de fragilidade para decidir.
Algumas vítimas relacionam a decisão a outras razões,
como separação do parceiro agressor, dúvidas, etc., e
quando o suporte de familiares e amigos não é possível,
o acolhimento pelo profissional do serviço de saúde deve
ser respeitoso e sem julgamento moral.
É sempre difícil falar, e o desejo de “se livrar de tudo,
esquecer e seguir a vida” desponta às entrevistas: “Só
falo sobre isso porque preciso fazer a IG”, “Sempre
critiquei quem aborta e nunca me perguntei por que
uma mulher tomaria essa decisão”.
Apenas 20% dos serviços utilizam protocolos para
a provisão de cuidados e análise de dados. Países que
GISLENE CRISTINA VALADARES1, ANTÔNIO GERALDO DA SILVA2, RENAN ROCHA3, JOEL RENNÓ JR.4, HEWDY
LOBO RIBEIRO5, JULIANA PIRES CAVALSAN5, AMAURY CANTILINO6, JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO7
Membro fundadora, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG; Seção de Saúde Mental da Mulher, WPA; e International Association of Women’s Mental Health.
Diretor científico, PROPSIQ. Presidente, ABP. 3 Coordenador, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Clínicas Integradas da
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC. 4 Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher (Pro-Mulher),
Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 5 Psiquiatra, Pro-Mulher, Instituto
de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 6 Professor adjunto, Departamento de
Neuropsiquiatria, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE. Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher,
UFPE, Recife, PE. 7 Especialista em Psiquiatria pela ABP. Pesquisador, Grupo de Psiquiatria - Transtornos Relacionados ao
Puerpério, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS.
1
2
adotam protocolos incluem avaliação psicológica e
psiquiátrica das mulheres que demandam a IG. No
Brasil, apenas três serviços contam com a presença da
psiquiatria no fluxo de atendimentos das pacientes. Em
50% dos países onde o aborto não é criminalizado, existe
o rastreio de rotina de VS como causa de gestação não
desejada, devido à sua alta prevalência, e isso amplia o
foco dos cuidados após a IG21.
Serviços prestadores de IG legal devem oferecer
suporte multiprofissional, integrando as necessidades e
pontos de vista das mulheres atendidas, inclusive sobre
o melhor momento para o uso das fontes de apoio,
cuidados clínicos e psicossociais22-24.
Algumas mulheres que demandam IG apresentam
elevados níveis de angústia psíquica antes do
procedimento e níveis significativamente reduzidos
após o mesmo19,21. Ambas as experiências emocionais,
positivas e negativas, são ligadas ao aborto. Sentimentos
complexos de ser “solitariamente responsável pela
escolha e por sua fertilidade, por tirar uma vida”, de ser
“responsável por evitar vida de sofrimento para um ser
indesejado” e “por sua própria vida pós IG” são expressos
por mulheres jovens em situação de aborto, em etapas
iniciais da gravidez25-27. Elas têm preocupações sobre
o tempo de espera para o procedimento, aspectos
emocionais durante o processo, insegurança com o
ambiente hospitalar e cuidados e relatam pensamentos
e reflexões existenciais sobre a vida, a morte e a
moralidade22,24. Informações sobre o que esperar durante
o processo de aborto permite que as pacientes se sintam
partícipes valorizadas nas etapas da IG.
Andersson et al. desenvolveram um estudo
sistematizado, qualitativo e esclarecedor sobre as
experiências, sentimentos e pensamentos da mulher
que se submete à IG no segundo trimestre. Encontraram
mulheres que consideraram o feto como uma criança,
desde o início da gestação, necessitando auxílio
profissional com atitude empática para que estas VVS
se sentissem seguras durante a IG28. Algumas mulheres
buscam mais informação e apoio em quem já viveu
esse dilema do que junto aos profissionais dos serviços
de saúde. São recentes os websites que esclarecem
e fomentam discussão sobre os efeitos do estupro,
orientam o que fazer em caso de VS e GIPE, auxiliam a
pensar sobre manter ou não a gestação, sobre a IG legal
e também sobre como é cuidar e educar uma criança
concebida através de estupro.
Sentir e pensar: aspectos emocionais da interrupção da
GIPE
Quanto mais adiantada a gestação, mais fortes e
conflitantes são as emoções, independente do motivo
da IG. O pensamento racional costuma ofuscar os
sentimentos difíceis, e a participação dos profissionais
de saúde mental, sensíveis às necessidades das vítimas,
pode facilitar a elaboração e ampliação de perspectivas
para elas.
Antes e depois do aborto, são expressos sentimentos
positivos e negativos de tristeza, libertação, culpa, medo,
desrealização, alegria, dor, vergonha, nojo, ambivalência,
responsabilidade, pânico, vazio, respeito, angústia,
desespero, luto, raiva, abandono, alívio, desvalia,
maturidade, perplexidade. Por não ser frequente a
demonstração de indiferença, podemos constatar o nível
de ambivalência presente nesse momento e a importância
do apoio multiprofissional do serviço de saúde, somado
ao amparo de uma pessoa amiga ou parente para
transformar preocupações sobre algo desconhecido
em sentimentos de gestão de uma experiência nova e
extremamente difícil.
Poucos estudos têm abordado a opção por visualizar
ou não as imagens do ultrassom antes da IG inicial e
no segundo trimestre. Antes e depois do aborto, a
maioria das mulheres não quer ver o feto ou não sabe se
gostaria de vê-lo. Elas temem que a visualização cause
mais dor, problemas mentais futuros e evitam pensar
sobre o concepto. Em alguns estados americanos, há a
obrigatoriedade de mostrar as imagens ultrassonográficas
e os batimentos cardiofetais como estratégia para inibir a
opção das VVS pela IG. Nenhuma orientação específica
ou recomendação a respeito da visualização do feto
após um aborto induzido por GIPE existe, gerando
preocupação entre profissionais sobre como lidar com
mulheres que desejam ver o feto após a expulsão. As
equipes receiam aumentar o risco de TEPT e de suicídio
entre as VVS submetidas a aborto no segundo trimestre,
cuja procura tardia aumenta as complicações e instiga
apreensão21,28. Perguntas, raramente feitas, sobre os
pensamentos, sentimentos e desejo de visualização do
feto através de exames objetivam ampliar a participação
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
29
ARTIGO DE REVISÃO
GISLENE CRISTINA VALADARES
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
RENAN ROCHA
JOEL RENNÓ JR.
HEWDY LOBO RIBEIRO
JULIANA PIRES CAVALSAN
AMAURY CANTILINO
JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO
e compreensão das VVS durante o processo, desde a
decisão até o cuidado pós-aborto.
A razão subjacente real para o aborto nem sempre é
revelada à equipe, portanto, é importante ter a mente
aberta às necessidades e desejos das VVS27,29. Uma
atitude compreensiva e ausente de julgamento tem
grande impacto tranquilizador no enfrentamento pelas
mulheres da IG por GIPE.
Experiência de partos e abortos anteriores parece
influenciar a dor durante o aborto, mesmo quando
percebida como algo novo e diferente de qualquer
experiência prévia. Mulheres com GIPE são focadas na
dor física e têm medos antecipados de sangramento e
morte, enquanto as mulheres com anomalias fetais se
concentram mais na dor mental28. Após a IG, o alívio é a
impressão dominante e se expressa com maior frequência
do que a culpa. Gerenciar e superar algo emocional e
fisicamente desafiador contribui para deslocar o foco de
sentimentos como a mágoa e indica a importância de
proporcionar oportunidades de elaboração individual,
independentemente da causa do aborto, como o fim de
uma etapa e da gravidez em si.
Observa-se uma tendência das mulheres a se
preocuparem mais com o feto, parceiro, filhos e familiares
do que consigo mesmas; nem todas desejam incluir seu
parceiro ou familiar no processo, para não sobrecarregálos, e mesmo as bem jovens muitas vezes escolhem ficar
sozinhas durante o aborto.
A dor física e mental vivida é descrita como
especialmente difícil. Dores físicas de forte intensidade,
coincidindo com a expulsão do feto e que, comparadas
às dores menstruais, de trabalho de parto ou de
aborto espontâneo ou induzido anterior, são avaliadas
como “muito pior do que o esperado”, especialmente
para as nulíparas e mesmo com o uso de opioide para
reduzir e encurtar o pico doloroso. A dor emocional
foi considerada pior do que a física. Sobreviver a
complicações, sangramento e dor traz uma sensação
de fortaleza e segurança, denotando capacidade de
lidar com o medo da morte e com a IG. Para algumas
mulheres, é importante sentir que a decisão foi sua,
própria e independente da opinião de outros, mesmo
sendo emocionalmente difícil. O fato de focar em gerir
a situação, admitindo que as coisas difíceis não podem
ser evitadas, que têm que ser vividas, faz emergir um
30
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
poder, de dentro de si mesmas, que ajuda a atravessar
o período do aborto. A maioria das mulheres aprecia
ter um parente ou amigo presente durante o processo;
entretanto, outras escolhem ter tempo para reflexão e
reparar sua integridade sozinha.
Mulheres que recebem acompanhamento psíquico
e podem falar sobre o aborto apreciam esse cuidado.
Algumas VVS são surpreendidas pela memória global do
aborto ser positiva, sem sentimentos negativos e de culpa
consistentes, visto não ser o aborto em si um preditor
estatisticamente significativo de ansiedade posterior,
transtornos de humor, transtorno de controle de impulso,
transtornos alimentares ou ideação suicida30,31.
Os profissionais de saúde e o aborto
Os profissionais dos serviços de saúde habilitados à
atenção de VVS que fazem IG de forma legal têm sido
objeto de poucos estudos, em comparação à extensa
literatura sobre os aspectos médicos do aborto. A
investigação de seus pontos de vista, experiências
de trabalho e sua visão de futuro profissional
demonstra que ginecologistas, enfermeiros, parteiras,
psiquiatras e assistentes sociais não duvidam da
importância de sua participação nesse processo,
apesar de experimentarem situações complexas e
difíceis, como repetição e abortos tardios, conflitos
morais e éticos, ameaças e hostilidade por parte de
pacientes e colegas. Experimentam seu trabalho
como paradoxal e frustrante, mas também como
estimulante e gratificante, de forma similar às
mulheres quando necessitam submeter-se à IG.
Ressalta-se a rara oferta de orientação, supervisão
e educação continuada profissional. A interação
entre os profissionais dos serviços de saúde, quando
fundamentada em confiança recíproca, alivia a carga de
responsabilidades. Observamos necessidade de fóruns
de debate e reflexão, devido inclusive ao progressivo
número de abortos realizados medicamente e maior
probabilidade futura de abortos domiciliares com
parteiras e enfermeiras 32. A solidão declarada por
membros das equipes de policiais civis, militares, das
delegacias de infância e adolescência e delegacias
de mulheres repete a solidão dos ginecologistas
obstetras, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras
nos serviços de saúde e apontam a necessidade de
GISLENE CRISTINA VALADARES1, ANTÔNIO GERALDO DA SILVA2, RENAN ROCHA3, JOEL RENNÓ JR.4, HEWDY
LOBO RIBEIRO5, JULIANA PIRES CAVALSAN5, AMAURY CANTILINO6, JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO7
Membro fundadora, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG; Seção de Saúde Mental da Mulher, WPA; e International Association of Women’s Mental Health.
Diretor científico, PROPSIQ. Presidente, ABP. 3 Coordenador, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Clínicas Integradas da
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC. 4 Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher (Pro-Mulher),
Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 5 Psiquiatra, Pro-Mulher, Instituto
de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 6 Professor adjunto, Departamento de
Neuropsiquiatria, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE. Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher,
UFPE, Recife, PE. 7 Especialista em Psiquiatria pela ABP. Pesquisador, Grupo de Psiquiatria - Transtornos Relacionados ao
Puerpério, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS.
1
2
melhor integração, preparo e suporte psicoemocional
e legal para os que cuidam das mulheres nessa difícil
situação.
dIsCussão FInal
Quarenta por cento das mulheres do mundo vivem em
países com leis restritivas ao aborto, que o proíbem ou
só o permitem para proteger a vida da mulher ou sua
saúde física ou mental. Nesses países, as VVS têm de
recorrer a intervenções clandestinas a fim ter a gravidez
indesejada encerrada, emergindo as consequentes
taxas elevadas de abortos inseguros, com um número
estimado de mortalidade materna de 70.000 por ano em
2014, sem quantificação para as consequências nocivas
e complexas à saúde física, mental e sexual de curto e
longo prazo32-34.
A gravidade das sequelas da VS depende do tipo
de assistência recebido21, do contexto do estupro, da
GIPE, das condições psicossociais e culturais da VVS,
da experiência da mulher em lidar com essa situação
e seus desdobramentos, dos suportes internos e
externos com os quais pode contar e dos eventos de
vida subsequentes. Diversos contextos e condições
podem estar intrinsecamente relacionados à família
(como violência pelo parceiro íntimo ou incesto) e à
comunidade (date rape com ou sem uso de drogas e
álcool, estupro por pessoa conhecida ou namorado,
estupro de trabalhadoras do sexo por clientes, estupro
de moradoras de rua, estupro durante inconsciência
ou uso de drogas lícitas ou ilícitas, durante internação
psiquiátrica, em rituais ou cultos, durante guerras civis,
em prisões, como limpeza étnica, como tortura, por
integrantes de grupos pacificadores, em campos de
refugiados, exilados, pós-desastres naturais, etc.). Em
todas as situações, as mulheres carregam o isolamento,
o sentimento de perda e a culpa por sobreviverem além
do trauma do estupro.
O uso de serviços de aconselhamento e planejamento
familiar pós-aborto é encorajador, mas ainda inconclusivo
em relação à sua efetividade isolada, necessitando ser
melhor explorado30,31. A prevenção de outra GIPE e da
revitimização por exposição naturalizada às diversas
formas de violência nos faz questionar o alcance de
uma única abordagem ou sequência de intervenções
para atingir as necessidades dessa população. As
intervenções necessitam priorizar a atenção de acordo
com a necessidade individual de cada VVS, promovendo
seu empoderamento, auxiliando sua consciência crítica,
sua independência e liberdade, durante o cuidado de
suas feridas físicas e psíquicas.
Há pouco na literatura sobre tratamentos
psicoterápicos individuais ou de grupo para as VVS que
optaram por manter a GIPE, comparadas às que optaram
pela IG. Observamos que as pacientes abandonam
precocemente a psicoterapia, elegem outros aspectos
da vida como emergentes e mais desafiadores, porém
retornam sem elaboração adequada ao seu ambiente.
Apesar da função crucial do profissional de saúde mental
ser reduzir a intensa projeção sobre a relação dessas
vítimas consigo e com seus filhos e parceiros, muitas
mulheres irão procurar atendimento mais tarde e com
filhos portadores de variados problemas psiquiátricos,
dificultando a explicitação da origem desses transtornos
mentais em uma GIPE anterior. Deparamo-nos
extemporaneamente com padrões de ligação maternofilial infantilizados, com a representação confusa do pai e
com fraco desenvolvimento de uma autoestima positiva
na díade mãe-filho.
Focando na prática clínica e no desenvolvimento
de políticas de saúde, salientamos a importância de
serviços de suporte à mulher vítima de estupro, às
equipes hospitalares e ambulatoriais e serviços de saúde
mental interligados, de forma a facilitar à mulher, e
eventualmente aos seus filhos, segurança para buscar e
receber tratamento adequado e efetivo.
Salvaguardar o direito das mulheres de viver sem
violência assegura proteção à sua saúde mental e ao
seu bem-estar, assim como de seus filhos. Proteger as
crianças de testemunhar ou experimentar VG deve ser
uma prioridade de saúde pública, prevenindo VS e GIPE
no futuro.
Artigo submetido em 09/05/2016, aceito em 19/07/2016.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência: Dra. Gislene Cristina Valadares, Rua
do Ouro, 686, Serra, CEP 30220-000, Belo Horizonte,
MG. Tel.: (31) 3223.2389. E-mail :[email protected]
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
31
ARTIGO DE REVISÃO
GISLENE CRISTINA VALADARES
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
RENAN ROCHA
JOEL RENNÓ JR.
HEWDY LOBO RIBEIRO
JULIANA PIRES CAVALSAN
AMAURY CANTILINO
JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO
Referências
1. Verelst A, De Schryver M, De Haene L, Broekaert
E, Derluyn I. The mediating role of stigmatization
in the mental health of adolescent victims of
sexual violence in Eastern Congo. Child Abuse
Negl. 2014;38:1139-46.
2. Bueno S, Cerqueira DRC, Lima RS. Crimes contra
a liberdade sexual, estupro. In: Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. São Paulo: 9º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública; 2015. p. 6, 7,
36, 48.
3. Mariz R. Exigências fora da lei dificultam acesso
a aborto após estupro, diz pesquisa [Internet]. O
Globo. 2016 Jul 06 [cited 2016 Dec 29]. oglobo.
globo.com/sociedade/saude/exigencias-fora-dalei-dificultam-acesso-aborto-apos-estupro-dizpesquisa-16666374#ixzz47RxA2lQT © 1996 –
2016
4. de Souza MT, da Silva MD, de Carvalho R. Revisão
integrativa: o que é e como fazer. Einstein.
2010;8:102-6.
5. Diniz D. Aborto e saúde pública: 20 anos de
pesquisas no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ; 2008.
6. Doyle A. Violence at home costs $8 trillion a year,
worse than war – study [Internet]. Reuters. 2014
Sep 09 [cited 2016 Dec 29]. news.trust.org//
item/20140909124726-66gkk
7.
Rees S, Silove D, Chey T, Ivancic L, Steel Z,
Creamer M, et al. Lifetime prevalence of genderbased violence in women and the relationship
with mental disorders and psychosocial function.
JAMA. 2011;306:513-21.
8. van Rosmalen-Nooijens,Sylvie H, Wong SH, LagroJanssen AL. Gender-based violence in women and
mental disorders; JAMA. 2011;306:1862.
9.
McCarthy-Jones S, McCarthy-Jones R. Body mass
index and anxiety/depression as mediators of
the effects of child sexual and physical abuse on
physical health disorders in women; Child Abuse
Negl. 2014;38:2007-20.
10. Gelaye B, Do N, Avila S, Carlos Velez J, Zhong
QY, Sanchez SE, et al. Childhood abuse, intimate
partner violence and risk of migraine among
pregnant women: an epidemiologic study.
Headache. 2016;56:976-86.
32
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
11. Tripodi SJ, Pettus-Davis C. Histories of childhood
victimization and subsequent mental health
problems, substance use, and sexual victimization
for a sample of incarcerated women in the US. Int
J Law Psychiatry. 2013;36:30-40.
12. Spinhoven P, Penninx BW, van Hemert AM, de
Rooij M, Elzinga BM. Comorbidity of PTSD in
anxiety and depressive disorders: prevalence
and shared risk factors. Child Abuse Negl.
2014;38:1320-30.
13. Etain B, Aas M, Andreassen OA, Lorentzen S, Dieset
I, Gard S, et al. Childhood trauma is associated with
severe clinical characteristics of bipolar disorders.
J Clin Psychiatry. 2013;74:991-8.
14. Alameda L, Golay P, Baumann PS, Ferrari C, Do
KQ, Conus P. Age at the time of exposure to
trauma modulates the psychopathological profile
in patients with early psychosis. J Clin Psychiatry.
2016;77:e612-8.
15. Chen LP, Murad MH, Paras ML, Colbenson KM,
Sattler AL, Goranson EN, et al. Sexual abuse
and lifetime diagnosis of psychiatric disorders:
systematic review and meta-analysis. Mayo Clin
Proc. 2010;85:618-29.
16. Madeiro AP, Diniz D. Legal abortion services
in Brazil - a national study. Cien Saude Colet.
2016;21:563-72.
17. Szejer M. Rape, incest and denials of pregnancy:
unintended pregnancies. In: Tyrano S, Keren M,
Herrman H, Cox J. Parenthood and mental health
a bridge between infant and adult psychiatry.
Oxford: John Willey & Sons; 2010. p. 63-6.
18. Salo FT. Parenting an infant born of rape. In:
Tyrano S, Keren M, Herrman H, Cox J (editors).
Parenthood and mental health, a bridge between
infant and adult psychiatry. 2010. p. 289-99.
19. Scott J, Rouhani S, Greiner A, Albutt K, Kuwert
P, Hacker MR, et al. Respondent-driven sampling
to assess mental health outcomes, stigma and
acceptance among women raising children born
from sexual violence-related pregnancies in
eastern Democratic Republic of Congo. BMJ
Open. 2015;5:e007057.
20. Gisladottir A, Luque-Fernandez MA, Harlow BL,
Gudmundsdottir B, Jonsdottir E, Bjarnadottir
GISLENE CRISTINA VALADARES1, ANTÔNIO GERALDO DA SILVA2, RENAN ROCHA3, JOEL RENNÓ JR.4, HEWDY
LOBO RIBEIRO5, JULIANA PIRES CAVALSAN5, AMAURY CANTILINO6, JERÔNIMO DE ALMEIDA MENDES RIBEIRO7
Membro fundadora, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG; Seção de Saúde Mental da Mulher, WPA; e International Association of Women’s Mental Health.
Diretor científico, PROPSIQ. Presidente, ABP. 3 Coordenador, Serviço de Saúde Mental da Mulher, Clínicas Integradas da
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC. 4 Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher (Pro-Mulher),
Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 5 Psiquiatra, Pro-Mulher, Instituto
de Psiquiatria, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 6 Professor adjunto, Departamento de
Neuropsiquiatria, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE. Diretor, Programa de Saúde Mental da Mulher,
UFPE, Recife, PE. 7 Especialista em Psiquiatria pela ABP. Pesquisador, Grupo de Psiquiatria - Transtornos Relacionados ao
Puerpério, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS.
1
2
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
RI, et al. Obstetric outcomes of mothers
previously exposed to sexual violence. PLoS One.
2016;11:e0150726.
Perry R, Murphyk M, Rankin K, Cowett A, Haider
S, Harwood B. “One problem became another”:
a mixed –methods study of identification of and
care for patients seeking abortion after sexual
assault. Contraception. 2014;90:309.
Rouhani SA, Scott J, Burkhardt G, Onyango
MA, Haider S, Greiner A, et al. A quantitative
assessment of sexual violence related pregnancy
termination in eastern Democratic Republic of
Congo. Confl Health. 2016;10:9.
Vandamme J, Wyverkens E, Buysse A, Vrancken
C, Brondeel R. Pre-abortion counseling from
women’s point of view. Eur J Contracept Reprod
Health Care. 2013;18:309-18.
Brown S. Is counseling necessary? Making the
decision to have an abortion. A qualitative
interview study. Eur J Contracept Reprod Health
Care. 2013;18:44-8.
Ludermir AB, Valongueiro S, Araújo TV. Common
mental disorders and intimate partner violence in
pregnancy. Rev Saude Publica. 2014;48:29-35.
Beja V, Leal I. Abortion counselling according
to health care providers: a qualitative study in
the Lisbon metropolitan area, Portugal; Eur J
Contracept Reprod Health Care. 2010;15:326-35.
Steinberg JR, McCulloch CE, Adler NE. Abortion
and mental health: findings from the national
comorbidity survey-replication. Obstet Gynecol.
2014;123:263-70.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Andersson IM, Christensson K, GemzellDanielsson K. Experiences, feelings and thoughts
of women undergoing second trimester medical
termination of pregnancy. PLoS One. 2014;9:
e115957.
Lindström M, Wulff M, Dahlgren L, Lalos A.
Experiences of working with induced abortion:
focus group discussions with gynaecologists
and midwives/nurses; Scand J Caring Sci.
2011;25:542-8.
Rasch V. Unsafe abortion and postabortion
care - an overview. Acta Obstet Gynecol Scand.
2011;90:692-700.
Tripney J, Kwan I, Bird KS. Post abortion family
planning counseling and services for women
in low-income countries: a systematic review.
Contraception. 2013;87:17-25.
Dundar B, Dilbaz B, Karadag B. Comparison of the
effects of voluntary termination of pregnancy and
uterine evacuation for medical reasons on female
sexual function. Eur J Obstet Gynecol Reprod
Biol. 2016;199:11-5.
Borsari CMG, Nomura RMY, Benute GG,
Nonnenmacher D, Lucia MCS, Francisco RPV. O
aborto inseguro é um problema de saúde pública.
Femina. 2012;40:67.
Shah I, Ahman E. Unsafe abortion: global and
regional incidence, trends, consequences, and
challenges. J Obstet Gynaecol Can. 2009;31:114958.
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
33
ARTIGO DE REVISÃO
ALESSANDRA DIEHL
DALZIRA DA SILVA
ALINE TAGLIATTI BOSSO
ARTIGO
CODEPENDÊNCIA ENTRE FAMÍLIAS DE
USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: DE
FATO UMA DOENÇA?
CODEPENDENCY IN FAMILIES OF ALCOHOL AND OTHER
DRUG USERS: IS IT IN FACT A DISEASE?
Resumo
O conceito de codependência, embora muito popular
no meio clínico do campo das dependências químicas,
segue sendo considerado um constructo muito criticado
e controverso no meio científico. Nosso objetivo foi avaliar
o estado da arte sobre o constructo de codependência
de familiares de usuários de álcool e outras drogas quanto
à etiologia e outros possíveis fatores relacionados. Tratase de uma revisão da literatura através da busca de
artigos indexados em bases de dados, publicados nos
idiomas inglês, português e espanhol, utilizando-se os
descritores codependência, transtornos relacionados
ao uso de substâncias e família. Foram incluídos 16
artigos nesta revisão, os quais retratam que o conceito
de codependência segue teorizado e pouco explorado
de forma empírica. Tentativas de escalas de rastreio
foram realizadas sem replicações de estudos de campo.
De uma forma geral, aqueles que se autoidentificam
como pessoas codependentes, uma vez que recebem
suporte, relatam alguns benefícios positivos. O termo,
mais do que um conceito psicológico de fato validado,
parece representar um movimento social que deu
empoderamento aos membros das famílias de usuários
de álcool e outras drogas. Mais estudos de campo sobre a
validação conceitual da codependência e os fatores a ela
relacionados devem ser conduzidos, a fim de corroborar
sua real utilidade clínica e ampliação de evidência da
existência desse fenômeno.
Palavras-chave:
Codependência,
transtornos
relacionados ao uso de substâncias, família.
34
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
Abstract
The concept of codependency is very popular in the
clinical setting in the field of addiction but continues
to be a highly criticized and controversial construct
in the scientific literature. The objective of this paper
was to evaluate state-of-the-art information on the
construct of codependency of family members of users
of alcohol and other drugs with regard to etiology and
other possible related factors. In this literature review,
databases were searched for indexed articles published
in English, Portuguese, and Spanish, using the keywords
codependency, substance-related disorders, and family.
A total of 16 articles were included in the review;
according to these articles, the concept of codependency
continues to be essentially theoretical and little explored
empirically. Attempts have been made to use screening
scales, but replication in field studies are lacking.
Overall, individuals who self-identify as codependent
report positive benefits – probably because they
receive support. The term codependency, more than a
validated psychological concept, seems to represent a
social movement that has empowered family members
of users of alcohol and other drugs. More field studies
are necessary to achieve the conceptual validation of
codependency, as well as to investigate factors related
to it. Only then will the real clinical usefulness of this
phenomenon be confirmed, and the body of evidence of
its existence expanded.
Keywords:
Codependency,
substance-related
disorders, family.
ALESSANDRA DIEHL1, DALZIRA DA SILVA2, ALINE TAGLIATTI BOSSO2
Psiquiatra e educadora sexual. Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de Psiquiatria, Itapira, SP. 2 Assistente social.
Especialista em Dependência Química pela UNIFESP, São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de
Psiquiatria, Itapira, SP.
1
IntRodução
Vários estudos têm demonstrado que a dependência
de substâncias psicoativas e suas consequências são um
grave problema de saúde pública em vários locais do
mundo, com grande impacto social e econômico para os
países1, os quais afetam não somente o indivíduo que
usa álcool e drogas, mas também todo o seu núcleo
familiar2-4.
Em termos da proporção dessa interferência familiar do
consumo de álcool e drogas, chama a atenção o fato de
que mais de 25 milhões de indivíduos brasileiros habitam
com um membro usuário de substâncias psicoativas,
segundo informações do Levantamento Nacional de
Famílias de Dependentes Químicos (amostra com 3.153
famílias), cujas informações foram divulgadas em 2013
pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Os dados dessa pesquisa confirmam a interferência da
vulnerabilidade social presente nos lares, tanto para
um indivíduo como para todo o núcleo familiar, visto
que, para cada dependente, há outras quatro pessoas
convivendo com o problema dentro de casa5.
Assim sendo, a família exerce um papel crucial tanto
para o campo preventivo como para o domínio das
intervenções terapêuticas associadas aos transtornos
decorrentes do consumo de álcool e outras substâncias
psicoativas. Isso porque ora a família pode induzir riscos,
ora pode servir como um sistema encorajador e protetor,
tanto na iniciação e experimentação de substâncias
psicoativas como no processo de recuperação para
aqueles que já adoeceram devido ao consumo6,7.
A busca pelo entendimento do impacto das relações
entre familiares de dependentes químicos, de como elas
se constroem e, a partir delas, quais são os resultados
gerados deu origem, em meados dos anos 70, a uma
tentativa de definir um fenômeno comportamental
caracterizado por uma extrema dedicação em cuidar,
bem como de “salvar” o membro da família envolvido
no consumo de substâncias psicoativas, os quais
chegam a adquirir características e comportamentos tão
disfuncionais quanto aqueles observados pelo membro
da família dependente de álcool e outras drogas8.
Tal fenômeno foi denominado de codependência9. O
constructo inicialmente foi utilizado para descrever a
pessoa, parente ou amigo, que tem uma relação direta
e íntima com um dependente de álcool e o torna mais
propenso à manutenção da dependência química8. A
partir de uma perspectiva de intercâmbio social e da
teoria da aprendizagem, argumenta-se que os tipos de
estratégias de controle que os codependentes utilizam
não são apenas ineficazes, mas eles realmente funcionam
para reforçar a probabilidade do abuso de substâncias
ser repetido no futuro, principalmente através dos
tipos de comunicação negativa entre os envolvidos8,10.
Argumenta-se que a natureza paradoxal da estrutura
de poder dentro do relacionamento do codependente
e seus familiares usuários de álcool e/ou drogas coloca
limites sobre os tipos de estratégias de controle que
codependentes podem utilizar em suas tentativas de
extinguir o comportamento do consumo de substâncias
do seu parceiro ou de sua parceira10.
Apesar de a terminologia codependência ter
adquirido muito rapidamente um espaço no campo das
dependências químicas11, ser amplamente utilizada e
extremamente popular, observa-se, ainda nos dias atuais,
que a mesma segue sendo considerada um constructo
muito criticado e controverso no meio científico.
Isso porque parece existir uma carência de pesquisas
destinadas a promover a validação da codependência
enquanto conceito ou constructo psicológico, existindo
mais no campo teórico do que no empírico, que possa
corroborar de fato sua utilidade clínica e a ampliação de
evidência da existência desse comportamento, o qual foi
primeiramente descrito em esposas de dependentes de
álcool12-14.
Muitas outras definições de codependência vêm
sendo realizadas, como por exemplo: a codependência
como um sistema de vida que emerge em famílias
disfuncionais de origem, produzindo uma estagnação
no desenvolvimento e nos resultados dos processos
de interação dessa família; como uma pessoa que
tem uma reação exagerada ao exterior e com baixa
sensibilidade interna para solucionar problemas8; como
um comportamento de uma pessoa essencialmente
“normal” que faz um esforço para se ajustar a um
cônjuge e a um evento de vida estressante; ou, ainda,
como um padrão de dependência dolorosa sobre os
outros, comportamentos compulsivos na busca de
aprovação, para tentar encontrar segurança, autoestima
e identidade. Também tem sido definida como um padrão
de comportamento atrelado a traços de personalidade
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
35
ARTIGO DE REVISÃO
ALESSANDRA DIEHL
DALZIRA DA SILVA
ALINE TAGLIATTI BOSSO
claramente identificáveis de um membro da família
que tem um dos entes afetado por dependência de
substâncias psicoativas15. Outra definição encontrada na
literatura e bastante utilizada por profissionais da área é
que se trata de uma doença primária presente em todos
os membros da família que têm um dependente químico
em seu seio, com manifestações psicossomáticas, o
que pode muitas vezes ter um prognóstico pior do
que a própria dependência química. Codependência
também se define como uma característica emocional
e psicológica do comportamento que ocorre como
consequência de um conjunto opressivo de regras que
impedem a manifestação aberta de sentimentos e o
diálogo sobre problemas pessoais e interpessoais14.
Também o termo codependência foi definido como uma
condição para o vínculo que se manifesta pela tendência
excessiva em “carregar” ou cuidar de outros. Trata-se
de um padrão na realização de autonomia e identidade.
O conceito de codependência tem sido usado também
para descrever um padrão exagerado de dependência
que faz com que o indivíduo, em detrimento de si
mesmo, acabe desequilibrando sua própria vida pessoal,
familiar, de trabalho e áreas sociais, com prejuízo de sua
própria identidade16. O codependente, em geral, tende a
perder o controle de sua própria vida e de seus limites,
investindo toda a sua energia em ser útil e pertencer à
vida do outro8.
Ao mesmo tempo em que muitas tentativas de
definições foram formuladas, resultados empíricos
adquiridos através da investigação científica têm
levantado dúvidas sobre a validade do conceito e do
constructo17. O psicólogo Dr. Robert Westermeyer,
em texto de publicação não indexada, fez uma crítica
bastante severa ao conceito de codependência em artigo
que intitulou “The codependency idea: when caring
becomes a disease”, o qual, na tradução literal quer dizer
“A ideia da codependência: quando cuidar tornou-se uma
doença”. Ele afirma que o termo codependência para ele
é uma das “mais confusas e iatrogênicas ideias no reino
da psicologia clínica”. O autor justifica reforçando o que
outros autores já haviam mencionado com relação ao
fato de não haver estudos empíricos suficientes sobre
a temática e a carência de cientificidade avaliando essa
condição e a terminologia. Ele critica dizendo que a ideia
da codependência tende a patologizar uma tendência
36
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
natural de cuidar dos outros. Também critica o fato de
que cuidar da parceria é de algum modo responsável pela
manutenção do “comportamento adicto” do outro18.
Outros críticos argumentam que o modo como este
fenômeno vem sendo conceituado e, sobretudo, utilizado
pelos conselheiros em dependência química e grupos
de mútua ajuda tende a colocar um holofote sobre a
questão, de forma a patologizar um comportamento
interpessoal ou de “medicalizar” um comportamento
dito “desviante”, principalmente de mulheres (esposas de
dependentes de álcool), diminuindo a identidade feminina
e reforçando uma cultura sexista e de vitimização, o
que, em geral, tende a aumentar a estigmatização da
condição, sobretudo das mulheres esposas de usuários
de álcool e outras drogas19,20.
Por outro lado, o modelo de codependência praticado
e amplamente difundido pelos grupos de mútua
ajuda destinados a acolher familiares de dependentes
químicos, como, por exemplo, o Al-Anon, Nar-Anon e o
Alateen, tem se mostrado uma ferramenta importante2124
, que promove segurança, estabilidade e esperança
às famílias cujos membros são portadores da síndrome
de dependência ao álcool. Além disso, tende a fornecer
suporte social e eficácia no potencial para mudar o
comportamento do bebedor e do uso de drogas25-29.
Portanto, justifica-se a importância de conduzir uma
revisão da literatura na tentativa de verificar qual é o
estado da arte tanto do conceito quanto da etiologia
e de outros fatores relacionados ao constructo
codependência entre familiares de usuários de álcool e
outras drogas, sendo este o objetivo deste estudo.
Métodos
Trata-se de uma revisão da literatura realizada através
da busca de artigos científicos nas bases de dados
LILACS, MEDLINE, PubMed e SCIELO utilizando os
seguintes descritores combinados: no idioma português,
codependência, família, transtornos relacionados ao
uso de substâncias; no idioma inglês, codependency,
substance-related disorders, family; e em espanhol,
combinados e separados com codependencia, trastornos
relacionados con sustancias, familia. Foram selecionados
artigos publicados na década de 1980, quando o conceito
de codependência começou a ser difundido, até 2016,
nos idiomas português, inglês e espanhol, indexados nas
ALESSANDRA DIEHL1, DALZIRA DA SILVA2, ALINE TAGLIATTI BOSSO2
Psiquiatra e educadora sexual. Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de Psiquiatria, Itapira, SP. 2 Assistente social.
Especialista em Dependência Química pela UNIFESP, São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de
Psiquiatria, Itapira, SP.
1
bases de dados mencionadas. Foram utilizados como
critérios de inclusão: artigos que retrataram aspectos
relacionados ao termo codependência em usuários de
substâncias psicoativas e algum envolvimento de análise
de famílias. Foram utilizados como critérios de exclusão:
artigos que versavam sobre outras morbidades que não
a dependência de substâncias, como, por exemplo, jogo
patológico ou dependência de sexo; artigos que não
tivessem o abstract nos idiomas mencionados; e artigos
que avaliaram codependência em profissionais da saúde.
A busca de artigos foi realizada no período de agosto de
2015 a julho de 2016.
Resultados
Foram rastreados potenciais 55 artigos, sendo
incluídos nesta revisão 16 artigos que preencheram os
critérios de inclusão e exclusão mencionados para esta
revisão8,9,14,17,30-41. A Tabela 1 mostra os artigos incluídos,
suas respectivas metodologias e os principais achados e
comentários dos estudos avaliados.
Tabela 1 - Metodologia e principais achados dos estudos selecionados sobre codependência entre familiares de
usuários de álcool e outras drogas (2016)
Autores
Knapek &
Kuritárné
Szabó14
Ano Metodologia
2014 Revisão da literatura
Noriega et al.30
2008 Estudo de corte
transversal com 845
mulheres
Dear &
Roberts31
2005 Revisão de quatro
estudos da aplicação
da escala Holyoake
Codependency Index
Principais achados
- A codependência varia num espectro
de gravidade entre psicopatologia
da personalidade, dependência
comportamental ou “comportamento
feminino excessivo”.
- Etiologia ligada a hipóteses de insuficiência
do córtex pré-frontal para inibir respostas
empáticas, multiplicidade de experiências
aversivas em uma família disfuncional,
alterações na percepção do papel de
mulher.
- 25% da amostra foi positiva para
codependência.
- As mulheres com um roteiro cultural
de submissão foram oito vezes mais
propensas a desenvolver codependência
do que aqueles sem essa programação.
Fatores associados a mais chance de
codependência: parceiro com dependência
de álcool, pai com problemas de álcool,
maus tratos físicos e sexuais pelo parceiro e
história de maus tratos emocionais.
A validade do constructo foi encontrada nos
subitens da escala e demostraram associações
significativas com outras variáveis psicológicas
e demográficas.
Comentários
- Homens também podem
se tornar codependentes.
- Condição subreconhecida.
- Pode cursar com
sintomas depressivos e
mascarar a necessidade
de receber atenção
também para a
codependência.
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
37
ARTIGO DE REVISÃO
ALESSANDRA DIEHL
DALZIRA DA SILVA
ALINE TAGLIATTI BOSSO
Autores
Ano Metodologia
Rotunda et al.32 2003 Estudo de corte
transversal com 42
indivíduos dependentes
de álcool e seus
familiares utilizando um
instrumento chamado
The Behavioral Enabling
Scale
33
2003 Estudo piloto com
Harkness
amostra heterogênea
de homens e mulheres
2001 Estudo piloto de
Harkness34
corte transversal com
pequena amostra de
famílias que convivem
com dependência de
substâncias
1999 Estudo de corte
Nisikawa et
longitudinal com 1
al.35
ano de seguimento
com 105 esposas de
dependentes de álcool;
87 responderam ao
seguimento
Teichman &
Basha36
Hinkin &
Kahn37
Miller17
38
1996 Estudo de corte
transversal em
três comunidades
terapêuticas de Israel
1995 Estudo de corte
transversal com
97 mulheres que
conviviam com algum
dependente de álcool
1994 Artigo de comentários
críticos e discussão
do autor sobre alguns
dos problemas do
modelo de doença de
codependência
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
Principais achados
A maioria dos pacientes e parceiros relataram
que o parceiro assumiu tarefas ou deveres do
dependente de álcool em algum momento
durante a relação, bebeu ou usou outras
drogas com o paciente e mentiu ou deu
desculpas para os outros para encobrir o
bebedor.
Comentários
O comportamento codependente tende a
amplificar a relação entre a família de origem e
os problemas médicos crônicos.
Não houve associação significativa que
suporte presença de dependência de
substância na estrutura intrafamiliar ou o
desenvolvimento de codependência entre
seus membros.
Equilíbrio entre coesão familiar e capacidade
de adaptação familiar esteve relacionado com
maiores taxas de abstinência do parceiro.
Houve mudanças no nível de codependência
e nas percepções de suas relações familiares
entre o início e as fases iniciais e tardias do
tratamento dos residentes.
Os resultados revelaram níveis
significativamente maiores de sintomatologia
psicológica entre os indivíduos que convivem
com algum dependente de álcool e têm uma
história familiar de alcoolismo, os quais foram,
em parte, consistentes com a sintomatologia
hipotética de codependência.
O entendimento do campo da codependência
e sua capacidade de ajudar o cônjuge são
limitadas, a menos que outras conceituações
possam ser consideradas.
O envolvimento excessivo
das esposas com os
problemas de álcool dos
maridos não levou à
abstinência dos mesmos.
Não houve diferença
entre a frequência de
participação em grupos de
apoio de familiares para a
manutenção da abstinência
do membro da família
afetado pelo alcoolismo.
As associações não foram
significativas.
ALESSANDRA DIEHL1, DALZIRA DA SILVA2, ALINE TAGLIATTI BOSSO2
Psiquiatra e educadora sexual. Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de Psiquiatria, Itapira, SP. 2 Assistente social.
Especialista em Dependência Química pela UNIFESP, São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de
Psiquiatria, Itapira, SP.
1
Autores
Hawks et al.38
Ano Metodologia
1994 Estudo de corte
transversal com 293
adolescentes e seus
pais
Principais achados
O número de problemas de comportamento
de adolescentes esteve associado com atitude
perseguidora dos pais e com sofrimento.
O’Gorman9
1993 Revisão narrativa
exploratória da
literatura
Izquierdo8
2002 Revisão da literatura
com descrição de
uma metodologia de
tratamento baseado
na psicoterapia
interpessoal
2008 Revisão narrativa da
literatura
- Codependência como um aprendizado no
desamparo.
- Empoderamento necessário para aqueles
que crescem em famílias disfuncionais.
Conceituada como uma doença primária, ou
Etiologia multifatorial.
uma característica de personalidade, ou uma
resposta a uma situação de stress como forma
de cuidar.
Hernández
Castañón &
Villar Luis39
Blanco40
Bortolon et
al.41
dIsCussão
2013 Estudos de casos
de mulheres
codependentes que
frequentam grupos de
autoajuda e sofreram
violência
2016 Estudo de corte
transversal avaliando
550 famílias de
usuários de álcool e
outras drogas
Comentários
As associações de
uso de substâncias
e comportamentos
problemáticos com
codependência não foram
moderadas por preferência
religiosa ou por ser um
membro de uma religião que
prega a abstinência.
A codependência está fundamentada na
divisão de gêneros.
Resultados dialogam com a questão da
resiliência e responsabilidade pela sua busca
de autonomia.
Mães e esposas com menos de 8 anos
de educação têm mais sintomas de
codependência. Quanto maior o nível de
codependência imposta ao familiar, maior
a carga significativa sobre o bem-estar
físico e emocional dos afetados, resultando
em problemas de saúde, reatividade,
autonegligência e responsabilidades
adicionais.
Através da análise dos estudos incluídos nesta revisão,
pode-se observar uma heterogeneidade de estudos
com diferentes métodos e medidas de desfechos,
onde o conceito de codependência segue um modelo
teorizado. Isso significa dizer que apesar de amplamente
utilizado na prática clínica de muitos serviços de atenção
aos usuários de substâncias psicoativas e popularizado
entre os grupos de mútua ajuda23,24 para familiares
cujo algum dos membros tem problemas com álcool e
drogas, segue sendo um constructo pouco explorado
de forma empírica e não pode ainda ser considerado de
fato uma doença14,18.
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
39
ARTIGO DE REVISÃO
ALESSANDRA DIEHL
DALZIRA DA SILVA
ALINE TAGLIATTI BOSSO
Apenas os estudos de Dear & Roberts31 demonstraram
validade do constructo, mesmo com amostras pequenas
de sujeitos avaliados. Hinkin & Kahn37 e Bortolon et
al.41 mostraram níveis significativamente maiores de
sintomatologia psicológica entre os indivíduos que
convivem com algum dependente de álcool e têm
uma história familiar positiva de alcoolismo, os quais
sugerem que os achados são parcialmente consistentes
com a sintomatologia hipotética descrita para a
codependência31,41.
Além disso, percebe-se que os conceitos existentes
de codependência dentro de um modelo de doença
parecem sugerir que uma vez codependente, para sempre
codependente em recuperação, não havendo uma clara
noção de cura. Outras abordagens psicológicas de
famílias de dependentes químicos podem compreender
que existe uma diferença entre ser codependente e
estar codependente, havendo uma compreensão de
que tal condição faz parte de um sistema familiar e que
é possível transitar para uma condição de melhora e
remissão de sintomatologia6,7.
Tentativas de escalas de rastreio para a codependência
utilizaram a Holyoake Codependency Index, como no
estudo conduzido por Dear & Roberts31, que mostraram
validade do construto encontrada nos subitens da escala
e demostraram associações significativas com outras
variáveis psicológicas e demográficas. No entanto, a
replicação da utilização dessa escala em estudos de
campo com amostras maiores não foram observadas em
outras pesquisas31.
O’Gorman sugere que o termo “codependência”,
mais do que um conceito psicológico de fato validado,
parece representar uma necessidade de identidade do
movimento social iniciado na década de 1970 e que
serviu para empoderar os membros das famílias de
usuários de álcool e outras drogas9.
Knapek et al. sugerem que a origem da chamada
codependência é multifatorial e especulam algumas
hipóteses, tais como: a insuficiência do córtex préfrontal para inibir respostas empáticas, multiplicidade
de experiências aversivas em uma família disfuncional,
abuso emocional e negligência e alterações na percepção
do papel da mulher do dependente químico14. Entre
outras causas aventadas para o desenvolvimento da
40
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
codependência, estariam questões psicodinâmicas
relacionadas principalmente aos tipos de vinculações
afetivas durante a infância e a manifestação de uma
forma sutil de direito narcisista8.
Miller questiona a capacidade de o conceito de fato
ajudar os cônjuges identificados como codependentes e
a necessidade de ampliação de outras conceituações17.
No entanto, de uma forma geral, aqueles que se
autoidentificam como codependentes, uma vez que
recebem suporte, relatam alguns benefícios com relação
à mudança de comportamento8,36,40. Estes achados já
foram observados em outros estudos que avaliaram
desfechos semelhantes e positivos nos grupos AlAnon22-25.
Entre as principais limitações metodológicas desta
revisão, está o fato de que a grande maioria dos
estudos não utilizou pesquisa de campo com amostras
representativas que possam de fato ser generalizadas.
Os estudos de revisão, por sua vez, apoiaram-se também
em bibliografia e referências de construções teóricas
oriundas de livros (incluindo livros desenvolvidos com a
característica de serem de autoajuda), capítulos de livro
e textos não indexados.
Assim sendo, o estado da arte atual quanto ao conceito,
origem e fatores relacionados à codependência entre
os usuários de álcool e outras drogas e seus familiares
permanece sujeito a críticas e ceticismo.
Conclusão
Mais estudos de campo sobre a validação conceitual da
codependência e os fatores a ela relacionados devem ser
conduzidos, a fim de corroborar sua real utilidade clínica
e ampliação de evidência da existência desse fenômeno
e, por conseguinte, a inserção do conceito dentro de uma
ótica de apoio e suporte aos indivíduos dependentes de
substâncias psicoativas e seus familiares.
Artigo submetido em 11/07/2016, aceito em 25/07/2016.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência: Alessandra Diehl, Rua Borges Lagoa,
570, Vila Clementino, CEP 04038-020, São Paulo, SP.
Tel./Fax: (11) 5571.7254. E-mail: [email protected]
ALESSANDRA DIEHL1, DALZIRA DA SILVA2, ALINE TAGLIATTI BOSSO2
Psiquiatra e educadora sexual. Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de Psiquiatria, Itapira, SP. 2 Assistente social.
Especialista em Dependência Química pela UNIFESP, São Paulo, SP. Instituto Américo Bairral de
Psiquiatria, Itapira, SP.
1
Referências
1.
Krupski A, West II, Graves MC, Atkins DC,
Maynard C, Bumgardner K, et al. Clinical needs of
patients with problem drug use. J Am Board Fam
Med. 2015;28:605-16.
2.
Greenfield TK, Karriker-Jaffe KJ, Kerr WC, Ye Y,
Kaplan LM. Those harmed by others’ drinking
in the US population are more depressed and
distressed. Drug Alcohol Rev. 2015 Sep 1. doi:
10.1111/dar.12324. [Epub ahead of print]
3.
Huhtanen P, Tigerstedt C. Women and young
adults suffer most from other people’s drinking.
Drug Alcohol Rev. 2012;31:841-6.
4.
O’Farrell TJ, Fals-Stewart W. Family-involved
alcoholism treatment. An update. Recent Dev
Alcohol. 2001;15:329-56.
5.
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para
Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas
(IMPAD), Levantamento Nacional de Álcool e
Drogas (LENAD). Levantamento Nacional de
Famílias dos Dependentes Químicos [Internet].
2013 [cited 2016 Jul 08]. inpad.org.br/divulgacaodos-dados-do-levantamento-nacional-comfamiliares-dos-dependentes-quimicos/
6.
Payá R. A dependência química na visão sistêmica.
In: Payá R. Intercambio das psicoterapias:
abordagens e transtornos. São Paulo: Roca; 2010.
p. 513-22.
7.
Payá R. Prevenção e famílias: realidades
antagônicas ou complementares? In: Diehl A,
Figlie NB. Prevenção ao uso de álcool e drogas.
O que cada um de nós pode e deve fazer. Porto
Alegre: Artmed; 2014. p. 270-88.
8.
Izquierdo FM. Codependencia y psicoterapia
interpersonal. Rev Asoc Esp Neuropsiq.
2002;81:9-19.
9.
O’Gorman P. Codependency explored: a social
movement in search of definition and treatment.
Psychiatr Q. 1993;64:199-212.
10. Le Poire BA. Does the codependent encourage
substance-dependent behavior? Paradoxical
injunctions in the codependent relationship. Int J
Addict. 1992;27:1465-74.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Harkness D, Cotrell G. The social construction
of co-dependency in the treatment of substance
abuse. J Subst Abuse Treat. 1997;14:473-9.
Kozma N. [Co-dependency and addictions in
close relationships. Theoretical review]. Psychiatr
Hung. 2009;24:388-413.
Stafford LL. Is codependency a meaningful
concept? Issues Ment Health Nurs. 2001;22:27386.
Knapek E, Kuritárné Szabó I. [The concept,
the symptoms and the etiological factors of
codependency]. Psychiatr Hung. 2014;29:56-64.
Gierymki T, Williams T. Codependency. J
Psychoactive Drugs. 1986;18:7-13.
Reagan LL. La codependencia: un problema
familiar [Internet]. 2001 [cited 2015 Oct 24].
christianrecovery.com/v/dox/coda.htm
Miller KJ. The co-dependency concept: does it
offer a solution for the spouses of alcoholics? J
Subst Abuse Treat. 1994;11:339-45.
Westermeyer R. The codependency idea: when
caring becomes a disease [Internet]. 2003 [cited
2015 Oct 24]. orange-papers.org/When_Caring_
Becomes_a_Disease.pdf
Asher R, Brissett D. Codependency: a view
from women married to alcoholics. Int J Addict.
1988;23:331-50.
Cleary MJ. Reassessing the codependency
movement: a response to Sorrentino. Health Care
Manage Rev. 1994;19:7-10.
Young LB, Timko C. Benefits and costs of alcoholic
relationships and recovery through Al-Anon.
Subst Use Misuse. 2015;50:62-71.
Short NA, Cronkite R, Moos R, Timko C. Men and
women who attend Al-Anon: gender differences
in reasons for attendance, health status and
personal functioning, and drinker characteristics.
Subst Use Misuse. 2015;50:53-61.
Timko C, Cronkite R, Kaskutas LA, Laudet A, Roth
J, Moos RH. Al-Anon family groups: newcomers
and members. J Stud Alcohol Drugs. 2013;74:96576.
Timko C, Cronkite R, Laudet A, Kaskutas LA, Roth
J, Moos RH. Al-Anon family groups’ newcomers
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
41
ARTIGO DE REVISÃO
ALESSANDRA DIEHL
DALZIRA DA SILVA
ALINE TAGLIATTI BOSSO
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
42
and members: concerns about the drinkers in
their lives. Am J Addict. 2014;23:329-36.
Timko C, Laudet A, Moos RH. Al-Anon newcomers:
benefits of continuing attendance for six months.
Am J Drug Alcohol Abuse. 2016;42:441-9.
Timko C, Halvorson M, Kong C, Moos RH. Social
processes explaining the benefits of Al-Anon
participation. Psychol Addict Behav 2015;29:85663.
Etemadi A, Zarebahramabadi M, Mirkazemi R.
Effect of Al-Anon attendance on family function
and quality of life in women in Mashhad, Iran. Am
J Drug Alcohol Abuse. 2015;41:442-8.
Oles J. Alcoholics Anonymous, Al-Anon and
Alateen. J Mich Dent Assoc. 2012;94:20.
Cermak TL. Al-Anon and recovery. Recent Dev
Alcohol. 1989;7:91-104.
Noriega G, Ramos L, Medina-Mora ME, Villa AR.
Prevalence of codependence in young women
seeking primary health care and associated risk
factors. Am J Orthopsychiatry. 2008;78:199210.
Dear GE, Roberts CM. Validation of the Holyoake
codependency index. J Psychol. 2005;139:293313.
Rotunda RJ, West L, O’Farrell TJ. Enabling
behavior in a clinical sample of alcohol-dependent
clients and their partners. J Subst Abuse Treat.
2004;26:269-76.
Harkness D. To have and to hold: codependency
as a mediator or moderator of the relationship
between substance abuse in the family of
origin and adult-offspring medical problems. J
Psychoactive Drugs. 2003;35:261-70.
Harkness D. Testing Cermak’s hypothesis: is
dissociation the mediating variable that links
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
ARTIGO
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
substance abuse in the family of origin with
offspring codependency? J Psychoactive Drugs.
2001;33:75-82.
Nisikawa K, Tatuki S, Hashimoto N, Yokoyama
T, Yasukawa Y.[Relationship between identified
patient (IP) with alcoholic problems and familial
factors: in reference to family function, codependence, family group and self-help group
participation]. Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai
Zasshi. 1999;34:63-73.
Teichman M, Basha U. Codependency and
family cohesion and adaptability: changes during
treatment in a therapeutic community. Subst Use
Misuse. 1996;31:599-615.
Hinkin
CH,
Kahn
MW.
Psychological
symptomatology in spouses and adult children of
alcoholics: an examination of the hypothesized
personality characteristics of codependency. Int
J Addict. 1995;30:843-61.
Hawks RD, Bahr SJ, Wang G. Adolescent
substance use and codependence. J Stud Alcohol.
1994;55:261-8.
Hernández Castañón MA, Villar Luis MAV. Relación
afectiva de mujeres con un esposo alcohólico: un
comportamiento social aprendido que repercute
en su salud. Esc Anna Nery. 2008;12:807-12.
Blanco AER. Resilient women: from victimhood
to autotomy case study in the self-help groups
codependents anonymous. Act Colom Psicol.
2003;16:71-9.
Bortolon CB, Signor L, Moreira Tde C, Figueiró
LR, Benchaya MC, Machado CA, et al. Family
functioning and health issues associated with
codependency in families of drug users. Cien
Saude Colet. 2016;21:101-7.
RELATO DE CASO
LUCIANA VALENÇA GARCIA
ANTÔNIO PEREGRINO
MILENA FRANÇA
RELATO
USO DE LÍTIO NO TRATAMENTO DA
NEUTROPENIA INDUZIDA PELA CLOZAPINA: UM
RELATO DE CASO
USE OF LITHIUM IN THE TREATMENT OF CLOZAPINEINDUCED NEUTROPENIA: A CASE REPORT
Resumo
A clozapina é o antipsicótico de escolha para o
tratamento da esquizofrenia refratária. A agranulocitose,
porém, é um efeito colateral grave que pode limitar o
seu uso. O caso relatado é de um paciente de 25 anos,
internado, com diagnóstico de esquizofrenia refratária.
Iniciada a clozapina, observou-se excelente resposta,
porém houve o achado de neutropenia significativa na
11ª semana de uso do medicamento, quando, então,
foi decidida sua suspensão. Face à gravidade do caso e
boa resposta à clozapina, o carbonato de lítio foi usado
como agente estimulador de granulopoiese e, após
normalização e estabilização da contagem de neutrófilos,
a clozapina foi reinserida ao esquema terapêutico. O
paciente obteve boa melhora clínica, alta hospitalar e
vem mantendo-se estável desde então. O caso sugere
as possibilidades de usar novamente a clozapina em
pacientes que tenham apresentado granulocitopenia,
caso a associação com o lítio seja possível, e do uso prévio
de lítio em pacientes com níveis baixos de leucócitos,
mas que sejam candidatos a uso de clozapina.
Palavras-chave: Clozapina, lítio, neutropenia.
Abstract
Clozapine is the antipsychotic of choice for the
treatment of refractory schizophrenia. Agranulocytosis,
however, is a serious side effect that may limit its
use. We describe the case of a 25-year old patient,
hospitalized, diagnosed with refractory schizophrenia.
Clozapine was initiated, with excellent response, but
significant neutropenia was observed at 11 weeks of
drug use, and clozapine was then discontinued. Given
44
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
the seriousness of the case and the good response
obtained with clozapine, lithium carbonate was used
as a granulopoiesis stimulating agent. After neutrophil
count normalization and stabilization, clozapine was
reintroduced to the therapeutic scheme. The patient
showed a good clinical response, was discharged, and
has been stable since then. The case suggests the
possibilities of using clozapine again in patients who
have presented granulocytopenia when the associated
use of lithium is possible, and of using lithium previously
in patients with low leucocyte levels who are candidates
for clozapine use.
Keywords: Clozapine, lithium, neutropenia.
Introdução
A clozapina é o antipsicótico de escolha para o
tratamento da esquizofrenia refratária. Um efeito
colateral temido e que limita seu uso é a neutropenia1-12.
O caso relatado é de um paciente com diagnóstico de
esquizofrenia grave e refratária que obteve excelente
resposta clínica à clozapina acompanhada, porém, de
neutropenia progressiva, o que levou à interrupção do
tratamento. Após a retirada da clozapina, o paciente
apresentou piora significativa do quadro clínico. Por
questões operacionais, não foi possível a realização
de eletroconvulsoterapia (ECT), então decidiu-se por
tratamento com o lítio visando ação hemopoiética e
futura tentativa de associação de lítio e clozapina. Após
restituição dos leucócitos, a associação foi iniciada, e o
paciente voltou a melhorar clinicamente. Após 9 meses
de reinício da clozapina, a leucometria do paciente se
mantém dentro da normalidade. Diante de tal relato, a
LUCIANA VALENÇA GARCIA1,2, ANTÔNIO PEREGRINO2, MILENA FRANÇA1
1
Hospital Ulysses Pernambucano, Recife, PE. 2 Faculdade de Ciências Médicas, Hospital
Universitário Oswaldo Cruz, Universidade de Pernambuco, Recife, PE.
associação do lítio com a clozapina é posta como uma
possibilidade terapêutica para pacientes neutropênicos.
Relato de Caso
Paciente do sexo masculino, pardo, 26 anos, solteiro,
desempregado, sem religião definida, teve o diagnóstico
de esquizofrenia aos 20 anos. Como traços pré-mórbidos,
genitora do paciente relata que ele sempre fora diferente
de seus irmãos: era mais isolado e agressivo. Estudou
até a 5ª série do ensino fundamental, tendo trabalhado
como auxiliar de pedreiro em estaleiro e como auxiliar de
serviços gerais em um centro comercial.
A família relata que o paciente não fazia uso de
bebidas alcoólicas, porém era sabido que já havia feito
uso de maconha (a família não sabe precisar quanto
e por quanto tempo) e que fumava cigarros comuns
(seis maços/ano). Não há relato de que o paciente seja
portador de doenças crônicas ou que tenha tido passado
de traumatismo cranioencefálico ou convulsões. Na
família, é dito que o pai do paciente, já falecido, tinha
comportamento similar ao dele, porém nunca teria sido
internado ou feito acompanhamento psiquiátrico.
O primeiro episódio psicótico do paciente se deu aos 19
anos, após término do primeiro e único relacionamento
afetivo que teve. Passou a assumir comportamento de
andarilho, ora trajava vestes rasgadas e sujas, ora estava
desnudo. Seu discurso era desconexo, perseverante,
de pobreza conceitual, místico, autorreferente e
bizarro. Apresentava alucinações auditivas, solilóquios,
agressividade, com desorganização crescente, chegando
a passar dias desaparecido, o que culminou em seu
primeiro internamento, aos 20 anos.
Ao longo de 4 anos, foi internado 12 vezes, fez uso
de haloperidol, risperidona, clorpromazina e olanzapina,
todos em doses terapêuticas e por mais de 8 semanas,
sem que apresentasse melhora que o sustentasse em
tratamento ambulatorial ou em Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS).
No último internamento, já aos 24 anos, o paciente
foi admitido emagrecido, agressivo, delirante e
desorganizado: havia sofrido recentes agressões nas ruas
enquanto desaparecido, trajava vestes em farrapos que
amarrava em si mesmo, alimentava-se de lixo, não estava
em uso de medicações. Foi estabilizado clinicamente e foi
feita ressonância magnética de encéfalo com contraste.
O exame mostrou apenas alterações inespecíficas, como
atrofia cortical leve, embora não compatível com a idade
cronológica do paciente, o que foi atribuído à própria
esquizofrenia.
Reiniciou-se olanzapina, chegando à dose de 30 mg/
dia, sem melhora, quando foi decidida troca do esquema
terapêutico. Com 2.600 neutrófilos/µL no leucograma
da semana em questão, foi iniciado tratamento com
clozapina na dose de 25 mg/dia. Com 2 semanas de
tratamento e dose ainda de 75 mg/dia de clozapina, foi
detectado o início da queda da leucometria, quando
atingiu-se a contagem de 1.100 neutrófilos/µL. Optou-se
em dar seguimento ao tratamento, retirando os fármacos
associados que também poderiam causar agranulocitose,
como ácido valproico1 e fenotiazinas13. A lamotrigina,
então, foi introduzida lentamente, com a progressão da
dose da clozapina, com o objetivo de servir tanto como
potencializadora do tratamento da esquizofrenia2 (que,
neste paciente, tratava-se de um caso grave e refratário)2,
quanto para protegê-lo de convulsões: risco inerente ao
tratamento com clozapina, podendo aumentar quando
da associação desta com lítio1.
A leucometria continuou decrescendo, tendo o
paciente apresentado neutropenia de 800/µL na quinta
semana. A suspensão da clozapina ocorreu na 11ª
semana de tratamento com a medicação, com contagem
de neutrófilos de 1.100/µL (Figura 1), quando a dose de
clozapina era de 400 mg/dia. Considera-se, em geral,
interromper o uso da clozapina quando se conclui que
a neutropenia é causa direta do uso da medicação e
a contagem de neutrófilos está < 1.000/µL, havendo
variações entre diretrizes estadunidenses, que apenas
consideram grave a neutropenia < 500/µL, e inglesas,
que já preconizam interrupção do uso da clozapina com
1.500 leucócitos/µL ou menos, por exemplo.
Na Figura 1, o gráfico mostra os efeitos da clozapina,
com ou sem o lítio, na contagem absoluta de neutrófilos,
durante as semanas de tratamento, a partir da primeira
tentativa de uso da clozapina. Nas primeiras 11 semanas
de tratamento com clozapina, sem a associação do lítio,
vê-se contagem de neutrófilos com tendência de queda.
A primeira seta representa a interrupção da clozapina,
na 11ª semana após o início do uso da medicação. A
segunda seta aponta o início da prescrição de lítio, na
13ª semana, e a terceira seta mostra quando a litemia
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
45
RELATO DE CASO
LUCIANA VALENÇA GARCIA
ANTÔNIO PEREGRINO
MILENA FRANÇA
RELATO
Figura 1 - Efeitos da clozapina e da associação de lítio com clozapina na contagem absoluta de neutrófilos ao
longo das semanas de tratamento.
de 0,8 mEq/L foi atingida, e a clozapina reiniciada, na
19ª semana. A contagem de neutrófilos, desde então,
manteve-se dentro da normalidade.
Com o uso da clozapina, o paciente havia apresentado
a primeira melhora significativa do quadro psiquiátrico e,
por agravamento do quadro de desorganização mental e
agressividade após sua suspensão, não pôde ser admitido
no serviço público que dispunha de eletroconvulsoterapia
na cidade. A neutropenia ainda se manteve por 2 semanas
após a retirada da clozapina, quando, então, foi iniciado
tratamento com lítio. A contagem de neutrófilos voltou
a aumentar, e optou-se por aguardar até que a litemia
de 0,8 mEq/L fosse atingida (faixa entre 0,6 e 1,2 mEq/
L)1,14 para que, então, o tratamento com a clozapina em
associação fosse recomeçado. A contagem de neutrófilos
passou de 1.200/µL, quando do início do lítio, para 2.700
neutrófilos/µL, quando reiniciada a clozapina.
O paciente teve alta cerca de 3 meses após o reinício
da clozapina, com dose de 800 mg/dia, associada a lítio
com dose de 1.500 mg/dia e lamotrigina com dose de
46
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
200 mg/dia, atingindo-se, posteriormente, dose de 300
mg/dia para prevenção de convulsões e otimização
terapêutica. Cerca de 9 meses após a alta hospitalar, o
paciente encontra-se estável, em acompanhamento
ambulatorial, calmo e colaborativo, globalmente orientado,
discurso organizado e espontâneo, sem alterações na
sensopercepção ou sinais de agressividade; modula o
afeto e está em uso regular das medicações. Mantém
certo grau de autonomia, joga futebol com colegas do
bairro onde mora, conhece suas medicações e horários,
faz planos de ter novos relacionamento e emprego.
Discussão
O caso mostra uma possibilidade de tratamento para o
paciente neutropênico e candidato ao uso da clozapina: a
associação com o lítio. O relato também sugere que tratar
novamente o paciente com neutropenia induzida por
clozapina seja possível após a introdução do lítio no esquema
terapêutico. Outros casos também bem-sucedidos já foram
relatados em diversos centros de tratamento5-9.
LUCIANA VALENÇA GARCIA1,2, ANTÔNIO PEREGRINO2, MILENA FRANÇA1
1
Hospital Ulysses Pernambucano, Recife, PE. 2 Faculdade de Ciências Médicas, Hospital
Universitário Oswaldo Cruz, Universidade de Pernambuco, Recife, PE.
Os mecanismos pelos quais a clozapina induz a
neutropenia ainda não são completamente entendidos,
porém há evidências de que haja redução de fatores
estimuladores de colônia granulócitos e macrófagos5,15.
Sabe-se que o lítio age liberando tais fatores, o que
acarretaria a proliferação de neutrófilos viáveis,
funcionantes1,14,15. Essa ação do lítio justifica seu uso
na tentativa de aumentar a contagem de neutrófilos do
paciente grave com indicação de uso da clozapina.
A associação do lítio com a clozapina, embora
benéfica no caso em questão, não é isenta de riscos,
como o risco aumentado de convulsões e de síndrome
neuroléptica maligna1,12. A adição de anticonvulsivantes
ao esquema terapêutico, feita rotineiramente por
diversos centros quando do uso de clozapina 4, pode
ser uma opção ao utilizar-se do lítio em conjunto, além
da maior vigilância clínica.
Estudos futuros, prospectivos, de caso-controle,
tanto com o lítio em associação com a clozapina
quanto com outros fármacos indutores de neutropenia,
são necessários para validar o lítio no tratamento da
neutropenia. Uma melhor elucidação da farmacodinâmica
do lítio e da clozapina também é de grande valia para
melhor esclarecer alguns dos questionamentos que o
caso em questão traz.
4.
Artigo submetido em 22/07/2016, aceito em 17/08/2016.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência: Luciana Valença Garcia, Hospital
Ulysses Pernambucano, Av. Conselheiro Rosa e Silva,
2130, Tamarineira, CEP 52050-020, Recife, PE. Tel.:
(81) 98877.7425. E-mail: [email protected]
11.
Referências
1.
Esposito D, Rouillon F, Limosin F. Continuing
clozapine treatment despite neutropenia. Eur J
Clin Pharmacol. 2005;60:759-64.
2.
Elkis H. Treatment-resistant schizophrenia.
Psychiatr Clin North Am. 2007;30:511-33.
3.
Dunk LR, Annan LJ, Andrews CD. Rechallenge with
clozapine following leucopenia or neutropenia
during previous therapy. Br J Psychiatry.
2006;188:255-63.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14
15.
Williams AM, Park SH. Seizure associated with
clozapine: incidence, etiology, and management.
CNS Drugs. 2015;29:101-11.
Silverstone PH. Prevention of clozapine-induced
neutropenia by pretreatment with lithium. J Clin
Psychopharmacol. 1998;18:86-8.
Suraweera C, Hanwella R, de Silva V. Use of
lithium in clozapine-induced neutropenia: a case
report. BMC Res Notes. 2014;7:635.
Hodgson RE, Mendis S. Lithium enabling use of
clozapine in a patient with pre-existing neutropenia.
Br J Hosp Med (Lond). 2010;71:535.
Brunoni AR, Kobuti Ferreira LR, Gallucci-Neto J,
Elkis H, Velloso ED, Vinicius Zanetti M. Lithium
as a treatment of clozapine-induced neutropenia:
a case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry. 2008;32:2006-7.
Kutscher EC, Robbins GP, Kennedy WK, Zebb
K, Stanley M, Carnahan RM. Clozapine-induced
leukopenia successfully treated with lithium. Am J
Health Syst Pharm. 2007;64:2027-31.
Pinninti NR, Houdart MP, Strouse EM. Case
report of long-term lithium for treatment and
prevention of clozapine-induced neutropenia in an
African American male. J Clin Psychopharmacol.
2010;30:219-21.
Clozapine REMS Program, 2015 [Internet]. [cited
2016 Aug 11]. clozapinerems.com
NHS Foundation Trust. Procedure and guidance
for the use of Clozapine [Internet]. [cited 2016 Aug
11]. sussexpartnership.nhs.uk/sites/default/files/
documents/clozapine_guidance_-_combined_-_
dec_15_-_other_medicines_warning_added.pdf
Means RT Jr, Sandidge DR, Rankin KM, Robichaux
MR Jr. Treatment of phenothiazine-induced
agranulocytosis with recombinant granulocyte
colony-stimulating factor. Am J Hematol.
1992;41:296.
Focosi D, Azzarà A, Kast RE, Carulli G, Petrini
M. Lithium and hematology: established and
proposed uses. J Leukoc Biol. 2009;85:20-8.
Kramlinger KG, Post RM. Addition of lithium
carbonate to carbamazepine: hematological and
thyroid effects. Am J Psychiatry. 1990;147:61520.
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
47
CARTA AOS EDITORES
CAMILA TANABE MATSUZAKA
FABIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
NADĖGE DADERIO HERDY
YASKARA CRISTINA LUERSEN
ANTONIO CARLOS SEIHITI YAMAUTI
CARTA
SERVIÇO DE INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA EM
HOSPITAL GERAL: UM SEGUIMENTO DE 7 ANOS
CONSULTATION-LIAISON PSYCHIATRY IN A GENERAL
HOSPITAL SETTING: A 7-YEAR FOLLOW-UP
De acordo com Lipowski1, o artigo publicado por
George Henry no American Journal of Psychiatry em
1929 marca o início da interconsulta psiquiátrica como
disciplina científica. No Brasil, o serviço de interconsulta
psiquiátrica vem ganhando destaque desde 19802.
A atividade da interconsulta psiquiátrica é complexa,
abrange ampla diversidade de encaminhamentos e exige
adequado conhecimento dos profissionais: manejo das
comorbidades médicas, dos aspectos legais e éticos,
expertise e experiência farmacológica, além de habilidades
de comunicação para lidar com demais profissionais, não
psiquiatras, equipes multidisciplinares e membros da
família de pacientes3.
Com o objetivo de ressaltar o papel da interconsulta
psiquiátrica e discutir aspectos desse serviço no
contexto brasileiro, avaliamos o número de atendimentos
realizados pela equipe de interconsulta psiquiátrica do
Hospital São Camilo (Unidade Pompeia), em São Paulo
(SP), de janeiro de 2009 a dezembro de 2015, durante
o período de 7 anos completos. Nessa contagem, levouse em consideração o número total de atendimentos,
mesmo que fosse uma reavaliação do mesmo paciente.
Os atendimentos foram divididos entre: casos
atendidos na urgência (serviço de pronto-socorro) ou
casos internados. Esses dados foram coletados pela
própria equipe de interconsulta. A equipe é formada por
cinco a seis psiquiatras. Os casos atendidos na urgência
têm prioridade no atendimento e são assistidos no
prazo de 2 horas da solicitação. Os casos internados são
solicitados na rotina do serviço e contam com prazo de
24 horas para o atendimento. De acordo com a avaliação
da equipe, o caso é acompanhado com reavaliações
durante a internação, conforme necessidade. O número
de atendimentos realizados está descrito na Figura 1.
48
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
O número de atendimentos do serviço de interconsulta
psiquiátrica do Hospital Geral São Camilo (Unidade
Pompeia) vem aumentando exponencialmente entre os
casos internados. Observa-se que, em 2009, o número
de atendimentos total foi de 266 e, em 2015, de 2.194.
O número de casos vistos na urgência segue com pouca
variação ao longo dos anos. Em abril de 2015, houve
inauguração de novo prédio com acréscimo de 86 leitos
(30% do número de leitos anterior), resultando no total
de 370 leitos desde então. No ano de 2015, observouse aumento no atendimento dos casos internados; no
entanto, esse aumento progressivo nos atendimentos
já vinha ocorrendo previamente ao aumento de leitos,
possivelmente por reconhecimento da demanda e maior
solicitação dos demais profissionais. Os benefícios dos
atendimentos são observados em relatos não somente
do paciente (cliente direto), como da família e das
diversas equipes multidisciplinares. Pela experiência da
equipe, houve maior entrosamento entre outras diversas
especialidades médicas e demais equipes de diferentes
disciplinas, tais como psicologia, serviço social, terapia
ocupacional, fisioterapia, nutrição, entre outras.
O serviço de interconsulta psiquiátrica no Brasil está
comumente associado aos programas de residência dos
centros universitários. Vale salientar que, com portaria
do Ministério da Saúde nº 224 de 19924 e instituição da
Lei Federal nº 10.2165 em 2001, houve redirecionamento
do modelo assistencial em saúde mental. A partir daí, a
criação de unidades psiquiátricas em hospitais gerais passa
a ser recomendada, tornando norma a aproximação da
psiquiatria às demais especialidades. Consequentemente,
o serviço de interconsulta psiquiátrica passa a ser
incorporado nestes hospitais gerais públicos6. Nesse
mesmo período, o serviço de interconsulta psiquiátrica
CAMILA TANABE MATSUZAKA1, FABIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA2, NADĖGE DADERIO
HERDY3, YASKARA CRISTINA LUERSEN4, ANTONIO CARLOS SEIHITI YAMAUTI5
1
Psiquiatra e psicogeriatra pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo,
SP. Pesquisadora, Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência (PROVE), UNIFESP, São Paulo, SP. 2 Psiquiatra pela
UNIFESP, São Paulo, SP. Chefe, Setor de Saúde Mental, Serviço de Saúde do Corpo Discente da PRAE, UNIFESP, São Paulo,
SP. 3 Psiquiatra pela UNIFESP, São Paulo, SP. Colaboradora e Supervisora de Psiquiatria Psicodinâmica, Ambulatório de
Personalidade (AMBORDER), UNIFESP, São Paulo, SP. 4 Psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
Supervisora de Residência Médica da UNIFESP, São Paulo, SP. 5 Psiquiatra pela UNIFESP, São Paulo, SP. Coordenador,
Serviço de Interconsulta, Hospital São Camilo – Unidade Pompeia, São Paulo, SP.
Figura 1 - Número de atendimentos realizados pela equipe de interconsulta psiquiátrica do Hospital São Camilo
(Unidade Pompeia), São Paulo (SP), de 2009 a 2015.
também vem sendo introduzido em hospitais privados,
como é o caso do Hospital São Camilo. Muitos destes
serviços do setor privado estão sendo incentivados
para obtenção de certificação de programas de
acreditação/ qualificação, como é o caso da Acreditação
Internacional Joint Commission e Acreditação Canadense
(Accreditation Canada). Portanto, esse estímulo também
está vinculado ao investimento em práticas médicas
baseadas em evidencias.
Lipowski et al.7 sugeriram as seguintes medidas para
avaliação de serviço de interconsulta em psiquiatria:
redução de custos, opinião de pacientes e profissionais,
Jan/Fev 2017 - revista debates em psiquiatria
49
CARTA AOS EDITORES
CAMILA TANABE MATSUZAKA
FABIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
NADĖGE DADERIO HERDY
YASKARA CRISTINA LUERSEN
ANTONIO CARLOS SEIHITI YAMAUTI
efeito na duração da internação, concordância das
recomendações pela equipe titular e seguimento pósalta (funcionamento social posterior, taxa de recaída).
Baseando-se nessas medidas, uma atual revisão
sistemática pesquisou a efetividade da interconsulta
psiquiátrica8. Foram encontradas evidências de que
esses serviços apresentam custo-benefício favorável,
redução de tempo de internação quando casos são
prontamente encaminhados e alta concordância com
as recomendações propostas na interconsulta. Porém,
outros aspectos sobre a interconsulta de psiquiatria
precisam ser considerados, tais como: dificuldade em
padronizar desfechos dos casos e subjetividade das
opiniões de pacientes, familiares e demais profissionais.
Portanto, as medidas que evidenciam a efetividade da
interconsulta psiquiátrica não devem ser levadas em
conta isoladamente, tendo em vista a dificuldade de
realizar estudos metodologicamente consistentes.
Há, globalmente, nítida escassez de estudos recentes
sobre interconsulta psiquiátrica8. No Brasil, Botega et al.
salientavam a desconsideração do trabalho do interconsultor
psiquiátrico, tanto pelo Sistema Único de Saúde como
nos hospitais privados9. Com os dados apresentados,
demonstramos um maior investimento no setor, ainda que
incipiente, e apesar de nossas limitações metodológicas, pois
não apresentamos desfechos qualitativos ou quantitativos
que avaliem a efetividade do atendimento.
A inclusão da psiquiatria em hospitais gerais é
notoriamente necessária, dada a comum comorbidade
de transtornos físicos e mentais e a importância do
suporte biopsicossocial ao indivíduo preconizado pela
Organização Mundial de Saúde. Em nosso estudo,
observamos aumento progressivo no número de
atendimento dos casos internados de 2009 a 2015.
Avanços nas metodologias de pesquisa são necessários.
Integração e colaboração entre diferentes equipes de
diferentes hospitais também devem ser estimuladas
para futuras pesquisas.
50
revista debates em psiquiatria - Jan/Fev 2017
CARTA
Artigo submetido em 07/07/2016, aceito em 19/09/2016.
Os autores informam não haver conflitos de interesse
associados à publicação deste artigo.
Fontes de financiamento inexistentes.
Correspondência:
Camila
Tanabe
Matsuzaka,
Departamento de Psiquiatria, UNIFESP, Rua Borges
Lagoa 570, 10º andar, CEP 04038-000, São Paulo, SP.
E-mail: [email protected]
Referências
1.
Lipowski ZJ. Consultation-liaison psychiatry at
century’s end. Psychosomatics. 1992;33:128-33.
2.
Nogueira-Martins LA. A interconsulta como
instrumento da psiquiatria de hospital geral. Cad
IPUB. 1997:6;33-44.
3.
Botega NJ. Prática psiquiátrica no hospital geral:
interconsulta e emergência Porto Alegre: Artmed;
2002.
4.
Brasil, Ministério da Saúde (MS), Secretaria
Nacional de Assistência à Saúde. Portaria n.224
[Internet]. Diário Oficial da União, 30 janeiro
1992. [cited 2016 Dec 21]. http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/legislacao/
index.php?p=6453
5.
Brasil, Casa Civil. Lei Federal 10216 [Internet]. 6
de abril de 2001. [cited 2016 Dec 21]. planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
6.
Machado AL, Colvero LA. Unidades de internação
psiquiátrica em hospital geral: espaços de cuidados
e a atuação da equipe de enfermagem. Rev LatinoAm Enfermagem. 2003;11:672-7.
7.
Lipowski ZJ. Psychiatric consultation: concepts and
controversies. Am J Psychiatry. 1977;134:523-8.
8.
Wood R, Wand AP. The effectiveness of
consultation-liaison psychiatry in the general
hospital setting: a systematic review. J Psychosom
Res. 2014;76:175-92.
9.
Meleiro AMAdaS. Prática psiquiátrica no hospital
geral: interconsulta e emergência. Rev Bras
Psiquiatr. 2002;24:105.
ANÚNCIO