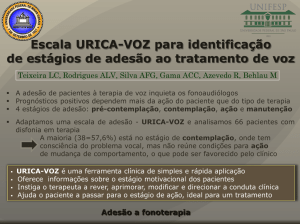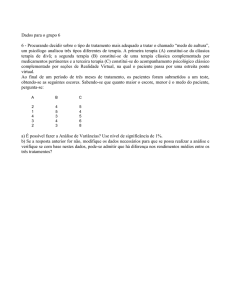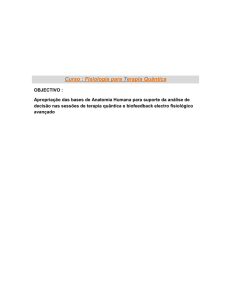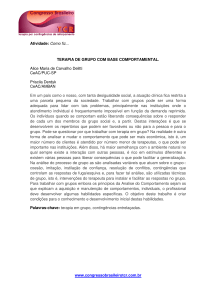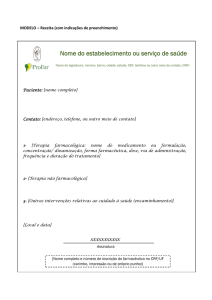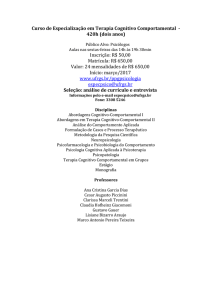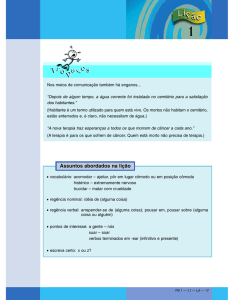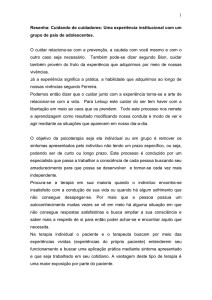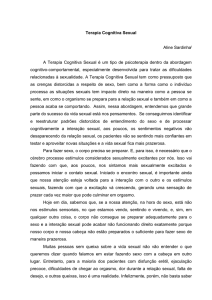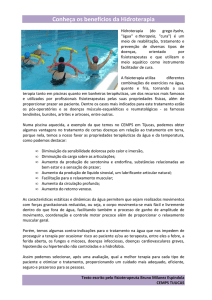PSICOTERAPIA COM FAMÍLIAS: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NA
ATUAÇÃO EM PSICANÁLISE:
UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO
Luana T. M. Costa; Celina Cabral Laurindo; Ruiara C. Duarte
RESUMO: O presente artigo buscou caracterizar no âmbito teórico as práticas
psicanalíticas em terapia com famílias. Retomando inicialmente o histórico desta
prática, passando pelas características do atendimento e revisitando os conceitos de
enquadre e setting terapêutico. Buscamos rever algumas das especificidades, métodos
empregados e técnicas existentes nesta modalidade de atendimento. Ressaltamos a
escassez teórica na área, porém podemos considerar a efetividade neste modelo de
terapia.
Palavras-chave: Terapia Familiar; Psicanálise; Família.
INTRODUÇÃO
A terapia familiar originou-se de focos e orientações muito diferentes, o que
confere a mesma uma considerável heterogeneidade em suas concepções teóricas e
técnicas. Neste trabalho buscamos através de uma revisão bibliográfica retomar
questões referentes à terapia familiar na abordagem psicanalítica. A história, os
atendimentos e o setting para esta modalidade de terapia são revisitados aqui.
Este trabalho fundamenta-se acerca do desenvolvimento de terapia familiar sob
o prisma da psicanálise. Diante disto, buscou-se fazer um breve vislumbre do processo
histórico que culminou nas práticas atuais desta área.
O primeiro indício de estudos publicado na área foi publicado por Flugel em
1921, sob o título “O estudo psicanalítico da família”. No entanto, o trabalho só se
iniciaria anos depois (BOX, 1994).
A terapia familiar tem suas origens em situações práticas. Partindo da terapia
com crianças, evidenciou-se a necessidade de inserção dos pais nos atendimentos. Esta
especificidade propiciou aos terapeutas, reflexões acerca da necessidade de um trabalho
mais amplo, abrangendo não só o indivíduo, mas também o meio familiar em que este
está inserido. Isto se deve a concepções da própria psicanálise, na qual a relação familiar
é tida como fator inerente à constituição do sujeito (BOX, 1994).
Sendo Ackerman, psiquiatra infantil e analista, um dos primeiros profissionais a
trazer a família toda para observações e entrevistas, em função de um tratamento de um
paciente. Segundo o autor “precisamos ver a família como uma unidade social e
emocional” (BOX, 1994).
Nesse contexto, foi realizado em 1936 o IX Congresso psicanalítico, onde se
discutiu “Neurose Familiar”, no qual se destacaram as produções de Gratjhan (1929
apud BOX, 1994) e Laforgue (1936 apud BOX, 1994). Estes, incentivaram
substancialmente os interesses e produções na área. No entanto, com o início da
Segunda Guerra, esse processo foi interrompido, retornando após esta, com ainda mais
força. Seguindo um movimento de resgate na ênfase na família, principalmente com
relação à importância da família nuclear.
As mudanças e evoluções na terapia familiar acompanham transformações da
própria psicanálise, que com o passar do tempo viu-se diante da necessidade de
reconfiguração de suas práticas, mais adaptadas ao contexto da sociedade. Atentando
para o fato de que a família poderia interferir no tratamento e na própria patologia, nas
dificuldades do trabalho com pacientes de condições econômicas desfavoráveis à prática
convencional (BOX, 1994). Ou seja, a abordagem como um todo se viu convocada a
fornecer possibilidades de tratamento que fossem além da transposição do paciente de
seu contexto para o setting analítico e esperar que a partir dos conteúdos ali trabalhados
este teria suporte para atuar na realidade que o circunda, além de questões econômicas e
novas configurações do uso e percepção do tempo (BOX, 1994).
Conceituando família
Inicialmente devemos esclarecer o que pode ser compreendido como família a
partir dos referenciais estudados:
“A família pode ser vista como um tipo específico de instituição
com sua própria cultura e formas específicas de lidar com a
vida. Consiste de indivíduos cujo comportamento e experiências
nós sabemos que estão afetados por um sistema de relações
interligadas, do qual eles são uma parte. Ao mesmo tempo, os
indivíduos também contém características embutidas – ou
relações internas – que nós acreditamos que não se prestam a
mudar simplesmente através de uma alteração na estrutura do
sistema familiar, mas requerem ser compreendidas em
funcionamento e ter seu significado inconsciente interpretado”
(BOX, 1994. p 20).
Ou ainda como complementa Waddell (1994) família deve ser entendida de
maneira geral a um grupo de indivíduos que estabelecem formas de relacionamentos
determinados por laços de parentesco. E nesse conjunto que surgem as variadas
questões que funcionam como papéis decisivos para que a família possa ter alguma
capacidade de se manter em equilíbrio, sendo elas, assuntos familiares gerais, questões
financeiras, amigos, escola, saúde, moradia etc.
Mas em determinados grupos, acontecimentos podem vir a desequilibrar o
sistema familiar, e para a resolução e retorno do equilíbrio em alguns casos a terapia
familiar é indicada.
A terapia familiar em si: apontamentos
De acordo com Box (1994) a terapia de família busca dar oportunidade aos
membros da família de entrarem em contato com os seus sentimentos e reações,
principalmente os sentimentos que de algum modo se tornam desconhecidos ou ainda
mascarados por diferentes comportamentos, para que os sujeitos possam ser capazes de
pensar sobre eles.
Neste sentido os terapeutas sugerem que através do compromisso com todos os
aspectos da família e de seus indivíduos sejam trabalhados, na medida em que consigam
emergir na terapia. Para que deste modo, a aceitação e integração possa ocorrer através
de uma modificação considerada “de dentro” e não apenas como respostas as pressões
exteriores (BOX, 1994).
Ou ainda como citado por Meyer (2002)
“A
terapia
familiar
visa
o
desenvolvimento
psíquico,
descristalizando os arranjos defensivos, gerando a possibilidade
de uma circulação de diferentes experiências emocionais entre
os membros, a diminuição da estereotipia e a abertura para um
processo de reflexão sobre o próprio modo de ser e funcionar
familiar” (p. 21).
Uma das questões a serem pensadas no atendimento de famílias é sobre a
adequação do tratamento familiar e individual. Box (1994) cita que esta situação tem
diversas variáveis, quando seu atendimento não pode ser realizado em um lugar que
ofereça as duas opções aos pacientes, mas não há uma declaração definitiva de como se
trabalhar nestas circunstâncias.
Sugere-se que em algumas famílias é perceptível a não aceitação destes em
atendimentos individuais, pois devido a configuração familiar os membros não
aceitariam serem vistos como peças isoladas, não havendo o desejo de ajuda de forma
individual (BOX, 1994). O mesmo autor também assinala a forma como a família
experiência o terapeuta e a forma como os terapeutas experienciam a família concebem
a evidência categórica e material elaborada na sessão e a atenção do começo ao fim do
processo terapêutico.
Waddell (1994) assevera que este relacionamento entre terapeuta e família irá
iniciar habitualmente no momento em que os problemas forem admitidos, mas o
reconhecimento destes normalmente é focado em um ou dois sujeitos, ao invés de ser
vivenciado como uma dificuldade do grupo familiar. Como supracitado, portanto, a
tarefa estará no descobrir o que está sobreposto nas manifestações mais evidentes das
tensões deste conjunto.
O mesmo autor faz referência ainda ao fato de que a tarefa de descobrir não deve
estar restrita ao mero ato de expor os aspectos da vida familiar que antes eram ocultos,
mas também permitir a compreensão dos acontecimentos, tomando consciência do
funcionamento dos fenômenos do grupo pelo olhar do outro, o terapeuta. O ponto
importante desse processo é o que está no presente, ou seja, o aqui e o agora.
(WADDELL, 1994).
A maneira como os membros da família representam determinados papéis ou
desenvolvem certas características de caráter que foram de alguma forma
inconscientemente, cognominadas, instituídas e tecidas desde muito cedo, demonstram
as interações familiares (WADDELL, 1994). Lamanno (1987) define ainda o sistema
inconsciente do grupo familiar como o aspecto em comum das fantasias inconscientes
dos membros do conjunto, o que concede que cada um dos sujeitos se torne parte ativa
do grupo ou aceite passivamente um papel manipulando ou sendo manipulado pelos
demais.
Nas famílias que normalmente aparecem em terapia, esses papéis costumam de
algum modo constituir, os sintomas apresentados, pois a família pode vivenciar este
como um problema, o qual foi trazido à terapia para ser resolvido ou ainda curado
(WADDELL, 1994).
É possível afirmar também que não somente os problemas do grupo afetam os
sujeitos, mas o contrário pode vir a acontecer os conflitos intrapessoais podem afetar os
membros da família com preocupações. A dificuldade, portanto se encontra em
determinar o que está por trás do distúrbio, e o que os comportamentos e características
psicológicas decorrentes do distúrbio, significam para o grupo, pois para cada sujeito o
funcionamento do conjunto é compreendido de uma determinada forma (WADDELL,
1994).
Necessitando
assim
a
ponderação
de
que
o
as
funções
exercidas
individualmente, e em conjunto familiar não são separáveis, em qualquer sentido
simples. Consoante ao supracitado Waddell (1994) menciona que os mecanismos da
mente do indivíduo em particular encontram expressão em termos do grupo familiar, e
como, ao abordar família como um exemplar de entidade ou unidade psíquica, os
processos inconscientes podem ser revelados.
Na situação terapêutica enquanto os membros interagem entre si e com o
terapeuta, há a possibilidade de observar e compreender como estes sujeitos funcionam.
De acordo com Meyer (2002) essa observação ocorre em dois diferentes momentos,
primeiramente é focalizado o modo como os familiares se tratam uns aos outros e
posteriormente em como os familiares reagem a situação terapêutica individualmente,
ou seja, a transferência.
Mas para que a dinâmica familiar possa ser compreendida adequadamente
Lamanno (1987) aponta a importância de entender os conceitos psicanalíticos sobre
personalidade como pré-requisito. Pois, segundo a autora relacionamentos ocorridos
entre a criança e seus pais estabelecem padrões para relacionamentos futuros, podendo
haver conflitos também, os quais quando não resolvidos na infância ou adolescência
reduzem a habilidade do sujeito de construir futuramente relacionamentos
reciprocamente satisfatórios.
Um exemplo em que essa relação passada afeta na relação presente são as
famílias onde a violência, física, verbal e sexual são presentes individualmente ou em
conjunto. Devido a isto Mariz (2010) recorre a uma breve reflexão sobre o tema,
apontando sobre questões referentes ao atendimento em que as vítimas de violência
demonstram um embotamento na habilidade de pensar. O qual gera um distanciamento
da consciência empregado como defesa contra a dor do aniquilamento do eu diante da
violência. Em alguns casos a impossibilidade de mudança demonstrada pelos pacientes,
acaba tornando a violência solidificada e como uma forma de comunicação entre a
família, em que as agressões mútuas predominam (MARIZ, 2010).
A mesma autora atenta para o fato de que muitas relações familiares se nutrem
por valores morais como a manutenção da família ou por questões econômicas, deste
modo os aspectos inconscientes que colaboram para esta preservação não devem ser
minimizados, cabendo ao terapeuta a reflexão sobre o manejo mais adequado para a
situação, em que o estar junto se baseia na violência, construindo assim uma
possibilidade de outra história para esses sujeitos, para que este modelo de relação não
seja repetida pelas demais gerações.
Outra demanda recorrente na terapia familiar são os transtornos alimentares
(NICOLETTI et al, 2010) abordam este tema a partir do tratamento de sujeitos que
possuem estes transtornos, apontando que a doença seria uma reação a padrões da
interação familiar. Palazzoli (1974 apud NICOLETTI et al, 2010) cita que famílias onde
aparecem esses transtornos costumam funcionar de forma idealizada em que a
comunicação paradoxal que apresentam seria uma tentativa de encobrir as diferenças
particulares de seus indivíduos, corroborando a ideia supracitada sobre a interação
familiar.
Portanto a inserção da família no tratamento de pacientes com esses transtornos
se explica não só por distinguirmos sua importância como um dos fatores que
predispõem à doença, mas, sobretudo por serem os que sustentam o transtorno.
Conforme Nicoletti et al. (1998), a família deixa de ser considerada como fonte
etiológica da doença para ser vista como continente do sofrimento vivido por um grupo
que tem um dos seus integrantes doente.
Lamanno (1987) assevera que durante o ciclo vital do grupo, a família se
movimenta alternadamente entre a posição esquizo-paranóide e depressiva, sendo que
esse movimento varia em intensidade, dependendo da estrutura psicológica de seus
membros, principalmente dos pais. A autora cita ainda que quando as famílias buscam
terapia devido ao sintoma de um dos elementos do grupo, as defesas presentes no
conjunto aumentam, “jogando” estas em volta do membro sintomático.
Deste modo o terapeuta deve buscar exercer diante da complexidade familiar
uma posição enquanto continente para os conteúdos psíquicos, ao qual não foi possível
entrar em contato direto na família e/ou no casal, promovendo assim um suporte para a
dor psíquica e o contato com a realidade, para que lentamente estratégias rígidas e
impermeáveis possam ser alteradas por outras mais plásticas e realísticas (PRADO,
1999 apud MARTINS & AZEVEDO, 2008).
Perante o sobredito Prado (1999 apud MARTINS & AZEVEDO, 2008) faz
ainda menção ao enquadre na terapia analítica descrevendo este como um espaço em
que o terapeuta aplica o seu aparelho de pensar a disposição do aparelho psíquico
familiar, de modo que, ao acolher seus elementos psíquicos por meio de comunicações
verbais, possa reenviá-los em forma de pensamentos pensados, consentindo, portanto
que a família além de ter acesso as suas experiências vividas como pensamentos
pensados como significação afetiva, possa desenvolver o seu aparelho de repensar seus
pensamentos.
Considerações sobre o setting
Para que possamos adentrar a temática dos atendimentos, devemos fazer
algumas ressalvas no que se refere ao enquadre psicanalítico na terapia de famílias. Esta
modalidade de psicoterapia, na maioria das vezes se vale de outras abordagens, tendo
em vista as características do setting analítico, que aos moldes ortodoxos,
impossibilitariam um atendimento desta natureza.
Não cabe a este artigo desenvolver a discussão acerca de se o que se faz nesta
modalidade de atuação é ou não psicanálise, portanto, retomaremos a seguir as
definições de enquadre e setting e suas implicações no manejo das demandas, relevantes
no entendimento da terapia familiar.
O enquadre delimita uma classe de ações significativas (BATESON 1954, apud
GILLIÉRON, 1996), ou seja, determina as ações dentro de determinado contexto e lhes
dá significado. Existem diferentes enquadres, tendo traços comuns e diversos,
adequados a cada contexto no qual se aplicam. No que diz respeito à psicoterapia, o
enquadre regula a temporalidade, o lugar da atividade, os papéis do terapeuta e paciente,
os permitidos e não permitidos dentro do setting analítico, qualificando assim, a relação
terapêutica (GILLIÉRON, 1996).
Portanto o enquadre fornece elementos concretos e regras para que se dê o
trabalho terapêutico psicanalítico, mantém os interlocutores em suas funções,
significando e qualificando esta relação como única e diferenciada das demais relações.
De acordo com Arzeno (1995), as características e o grau da patologia do (ou
dos) consultante (s) devem determinar o tipo de enquadre a ser aplicado. Cada paciente
ou grupo de pacientes possui uma dinâmica, o que implica diferentes graus de
plasticidade. A condição atual, a idade, a estrutura da personalidade do paciente influem
nessa escolha. “O enquadre pode ser mais estrito, mais amplo, mais permeável ou mais
plástico conforme as diferentes modalidades” (ARZENO, pg.17, 1995) que se
apresentam, variando ainda pelo enfoque teórico, a formação profissional do terapeuta.
De encontro a esta última proposição Gilliéron (1996) nos aponta outro fator
relevante no entendimento do enquadre: quanto mais clareza teórica e domínio técnico
possui o terapeuta, tanto mais conseguirá atuar de forma eficaz e ética. Sendo assim,
pode-se supor a importância do modelo teórico adotado para o atendimento. O mesmo
autor nos faz uma ressalva, a qual diz respeito às tentativas por parte do paciente, de se
quebrar
o
enquadre
se
relacionam
com
as
questões
transferenciais
e
contratransferenciais (GILLIÉRON, 1996). Especialmente na terapia de famílias, devese atentar a este fato, visto a especificidade de uma relação envolvendo não apenas a
díade terapeuta-paciente.
Tomando por base as definições de setting psicanalítico, podemos tecer algumas
considerações sobre suas especificidades na terapia com famílias.
Devemos enfocar, na terapia de família, a dinâmica psíquica relacional,
intrafamiliar e sociocultural, que estão intrinsecamente relacionadas. A dinâmica
encoberta dos conflitos, a estruturação e organização latente na personalidade dos
membros. Questões referentes à transferência e contratransferência necessitam de
atenção, tendo em vista o número de participantes na sessão, e as alianças que estes
formam, seja entre si, seja tentando “aliar-se” ao terapeuta. (ARZENO, 1995; TRINCA,
1984.)
Mitos familiares e segredos permeiam as sessões, devendo o psicólogo atentar à
essas questões que podem não aparecer na etapa das primeiras entrevistas, mas apenas
no decorrer do processo, evidenciado nas repetições com caráter de elaboração, nos
modos de relação transferenciais e projetivas, de identificação, etc. (PINCUS & DARE,
1981). Durante as entrevistas iniciais, segundo Trinca (1984), entrevistas semi
estruturadas e estruturadas são bons demonstrativos do modo de funcionamento daquela
família.
Para o referido autor, já no processo diagnóstico percebe-se quais membros
falam, de que lugar falam, o papel que cada um ocupa na família, bem como a história
da queixa e o material latente que lhe acompanha. As observações do material não
verbal também são relevantes, dizendo respeito à escuta analítica que envolve a
linguagem não verbal na análise. Trinca (1984) cita ainda os encaminhamentos e a
utilização de outras técnicas, caso necessário, para a elaboração de hipóteses e
planejamento de ação por parte do terapeuta.
Considerações finais
Diante do exposto podemos perceber algumas possibilidades e limitações dentro
da prática de terapia familiar dentro da abordagem psicanalítica. A iniciar pela
heterogeneidade da teoria e técnica deste campo, tornando difícil estabelecer uma
linearidade e configuração da prática. Essa proposição se confirma ao considerar, as
questões cruciais do atendimento, como a impossibilidade de aplicação determinado
elementos constitutivos do setting analítico.
Apesar da existência de alguns impasses, como os supracitados, existe a
possibilidade de realizar um atendimento familiar em terapia psicanalítica. As teorias
base dão suporte e fundamentam praticas e técnicas empregadas, do mesmo modo que
os casos clínicos justificam a efetividade do tratamento. Deste modo, ressaltamos a
necessidade de se realizarem mais pesquisas na área, de modo a delimitar de forma mais
sistematizada e clara os elementos componentes do setting nesta modalidade de
atendimento.
A bibliografia escassa dificulta o desenvolvimento de estudos na área, deixando
assim, de contribuir na formação acadêmica no que se refere ao atendimento.
Referências:
ARZENO, M. E. G. Psicodiagnóstico clínico: novas contribuições. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1995.
BOX, S. Psicoterapia com famílias: uma abordagem psicanalítica. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1994.
GILLIÉRON,
E.
A
primeira
entrevista
em
psicoterapia.
São
Paulo:
Unimarco/Loyola, 1996.
LAMANNO, V. L. C. Terapia familiar e de casal: introdução as abordagens sistêmica
e psicanalítica. São Paulo: Summus Editorial, 1987.
MARIZ, N. N. Conjugalidade e violência: uma escuta em terapia familiar
psicanalítica.
Disponível
em:
http://www.fundamentalpsychopathology.org/8_cong_anais/MR_375a.pdf Acesso em:
20 novembro 2010.
MARTINS, M.S.; AZEVEDO, V. C. C. Estados de entranhamento e processos de
diferenciação em terapia familiar analítica. Práxis e Formação: Rio de Janeiro, 2008;
p. 113-120.
NICOLETTI M, GONZAGA AP, MODESTO SEF, COBELO AW. Grupo
psicoeducativo multifamiliar no tratamento dos transtornos alimentares na adolescência.
Psicologia
em
estudo:
Maringá
2010,
15
(1).
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141373722010000100023&lng=en&nrm=iso
PINCUS L, DARE C. Psicodinâmica da Família. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981.
TRINCA, W. Processo diagnóstico de tipo compreensivo. In: TRINCA W. et al.
Diagnóstico psicológico. A prática clínica. São Paulo: EPU, 1984.