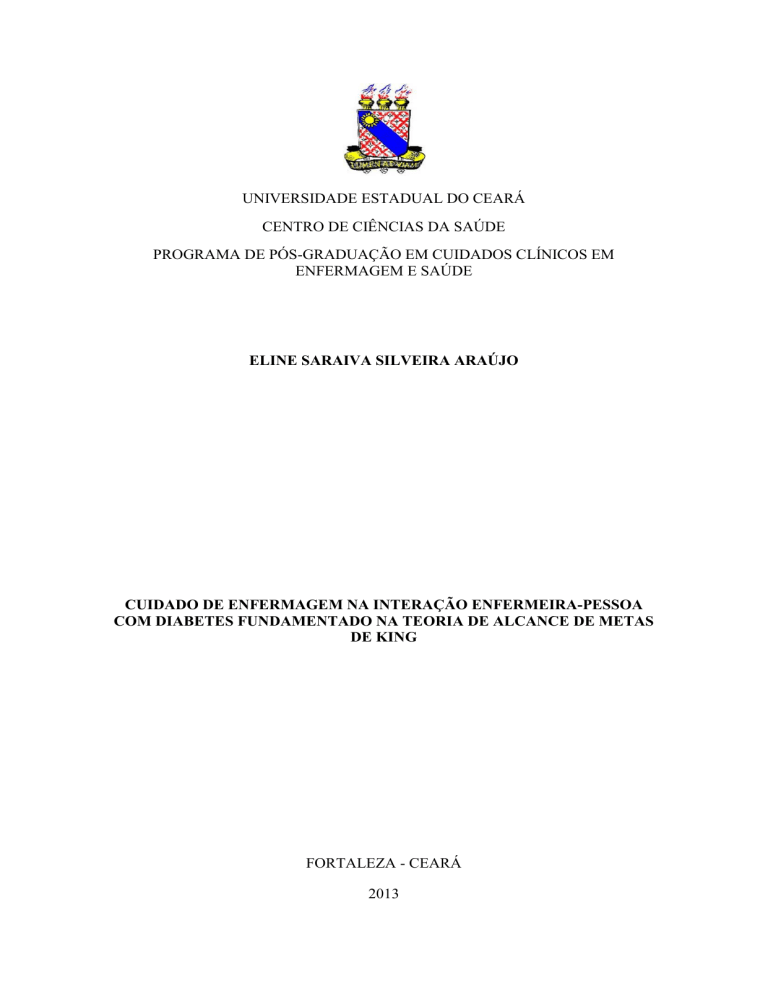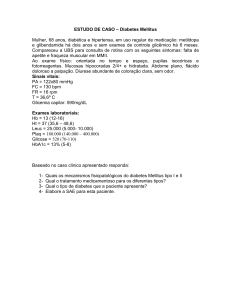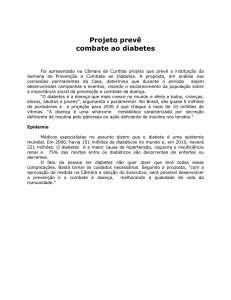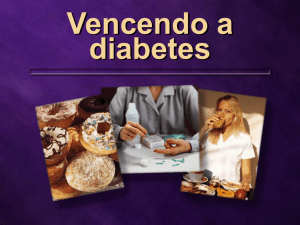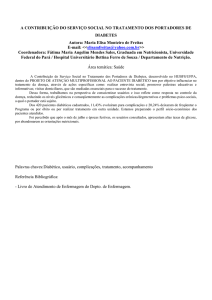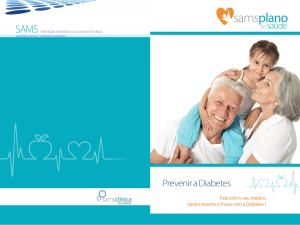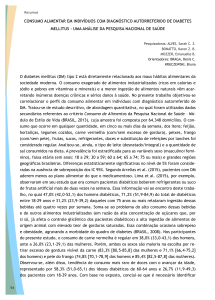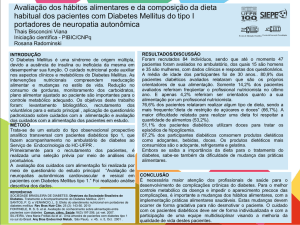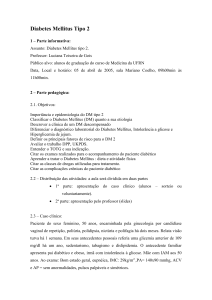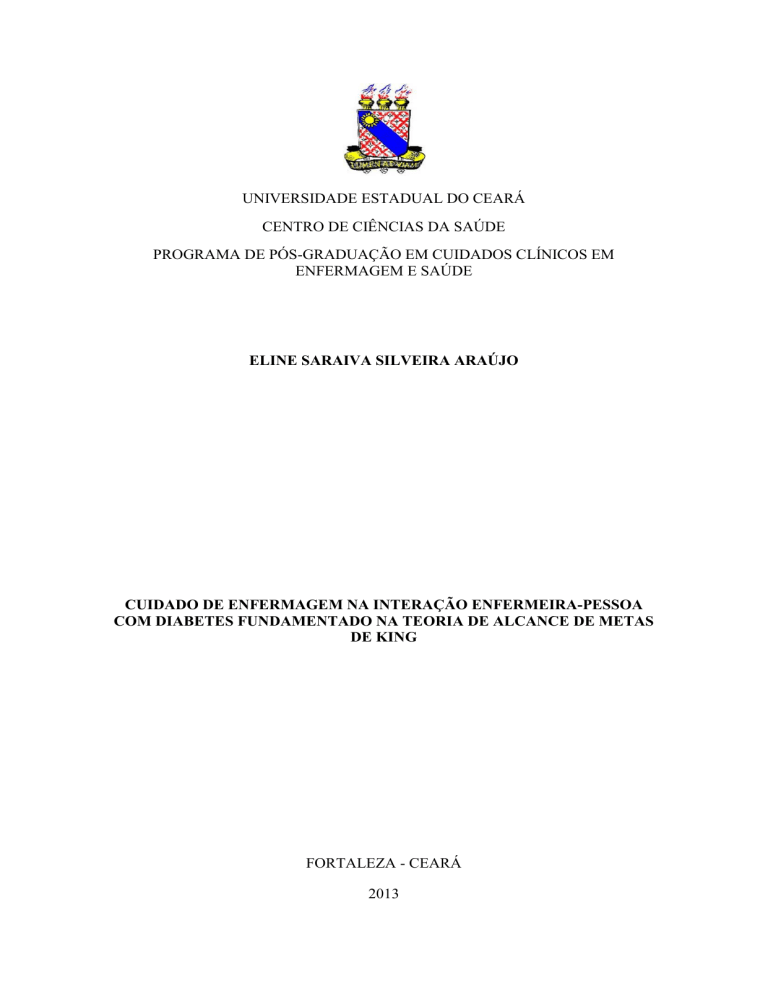
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CUIDADOS CLÍNICOS EM
ENFERMAGEM E SAÚDE
ELINE SARAIVA SILVEIRA ARAÚJO
CUIDADO DE ENFERMAGEM NA INTERAÇÃO ENFERMEIRA-PESSOA
COM DIABETES FUNDAMENTADO NA TEORIA DE ALCANCE DE METAS
DE KING
FORTALEZA - CEARÁ
2013
ELINE SARAIVA SILVEIRA ARAÚJO
CUIDADO DE ENFERMAGEM NA INTERAÇÃO ENFERMEIRA-PESSOA
COM DIABETES FUNDAMENTADO NA TEORIA DE ALCANCE DE METAS
DE KING
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação
Cuidados
Clínicos
em
Enfermagem e Saúde, do Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Estadual do Ceará,
como requisito parcial para a obtenção do
Grau de Mestre.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos
em Enfermagem e Saúde.
Linha de Pesquisa: Fundamentos e Práticas
do Cuidado Clínico em Enfermagem e
Saúde.
Orientadora: Profa Dra Maria Vilani
Cavalcante Guedes
FORTALEZA - CEARÁ
2013
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Estadual do Ceará
Biblioteca Central Prof. Antônio Martins Filho
Bibliotecário Responsável – Francisco Welton Silva Rios – CRB-3/919
A663c
Araújo, Eline Saraiva Silveira
Cuidado de enfermagem na interação enfermeira-pessoa com diabetes
fundamentado na teoria do alcance de metas de King / Eline Saraiva Silveira Araújo .
-- 2013.
CD-ROM. 86 f. : il. (algumas color.) ; 4 ¾ pol.
“CD-ROM contendo o arquivo no formato PDF do trabalho acadêmico,
acondicionado em caixa de DVD Slim (19 x 14 cm x 7 mm)”.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde,
Fortaleza, 2013.
Área de Concentração: Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde.
Orientação: Prof.ª Dr.ª Maria Vilani Cavalcante Guedes.
1. Teoria de enfermagem. 2. Atenção primária à saúde. 3. Diabetes mellitus. I.
Título.
CDD: 610.73
ELINE SARAIVA SILVEIRA ARAÚJO
CUIDADO DE ENFERMAGEM NA INTERAÇÃO ENFERMEIRA-PESSOA
COM DIABETES FUNDAMENTADO NA TEORIA DE ALCANCE DE METAS
DE KING
BANCA EXAMINADORA
Dedico este trabalho a Deus, à minha
família, em especial à minha mãe
pelo
apoio,
incentivo
e
companheirismo.
AGRADECIMENTOS
A Deus e a Nossa Senhora por sempre iluminarem e guiarem meus passos,
dando-me coragem para superar os obstáculos desta caminhada.
À minha mãe, pelo apoio incondicional, por sempre acreditar no meu potencial.
Ao meu companheiro Emmanuel e minhas filhas Kalyne e Karoline, fontes de
alegria e amor na minha vida. Obrigada por compreenderem meus momentos de
ausências.
A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Clínicos
em Saúde que contribuíram, direta ou indiretamente, para o alcance desta conquista. Em
especial, à minha orientadora Maria Vilani Cavalcante Guedes, por me encorajar a
superar meus limites, e me propiciar oportunidades de conhecimentos.
Às professoras Márcia Barroso Camilo de Ataíde, Lúcia de Fátima da Silva e
Thereza Maria Magalhães Moreira, pelas valiosas contribuições para o aprimoramento
deste trabalho.
A toda a equipe de Saúde da Família II do Mucuripe, e aos pacientes
participantes, que colaboraram para a realização deste estudo.
RESUMO
Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, associada a várias complicações, sendo
uma das principais causas de morbi-mortalidade na população. Neste contexto, os
profissionais objetivam o controle desta doença por meio da adesão dos pacientes com
diabetes aos cuidados de promoção e manutenção da saúde, favorecendo as pessoas a
assumirem comportamentos saudáveis, modificarem o estilo de vida e seguirem o
tratamento. A enfermeira, em especial, tem o desafio de dispensar assistência aos
indivíduos, família e comunidade, mediante cuidado direto ou indireto, buscando
desenvolver interação com estes pacientes. Cabe-lhe ajudar na compreensão da
necessidade de assumir modificações no estilo de vida, contribuindo para sua adesão ao
controle glicêmico. Por sua vez, as Teorias de Enfermagem fundamentam o cuidado, com
conhecimentos próprios, a fim de melhorar a qualidade da assistência prestada a pessoas,
em diferentes campos de conhecimento. Desta forma, a pesquisa aqui elaborada
objetivou, sobretudo, verificar a eficácia de intervenções em enfermagem, fundamentada
na Teoria de Alcance de Metas, na melhoria do cuidado à pessoa com diabetes e na sua
adesão ao tratamento. Procedeu-se a um estudo de intervenção, do tipo longitudinal,
randomizado simples, na Unidade de Atenção Primária à Saúde Flávio Marcílio, no
município de Fortaleza – CE. A população foi composta por diabéticos cadastrados em
uma equipe de saúde da família desta unidade e a amostra contou com sessenta
diabéticos, divididos igualmente no grupo de intervenção e no grupo comparativo. Como
instrumento de coleta de dados, utilizaram-se formulário de identificação para todos os
pacientes, formulário de identificação de problemas para o grupo comparativo e o
formulário de metas estabelecidas para o grupo de intervenção. A coleta ocorreu de
fevereiro a agosto de 2013, com consultas a cada 45 dias. Com o grupo de intervenção,
realizou-se a consulta de enfermagem, a partir da interação enfermeira-paciente
utilizando a Teoria de Alcance de Metas com base nos problemas de saúde identificados,
estabeleciam-se metas mútuas, discutiam-se meios de obtenção das metas e, nos meses
seguintes, avaliava-se se as metas tinham sido atingidas. Para o grupo comparativo, foram
feitas consultas de enfermagem, sem fundamentação teórica específica. Ao final de seis
meses, todos os participantes foram reavaliados. Respeitaram-se os aspectos ético-legais
da pesquisa envolvendo seres humanos de acordo com a Resolução 466, de 2012, do
Conselho Nacional de Saúde, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Estadual do Ceará, sob protocolo n0 201.296. Como resultados obtidos
constaram: a maior parte dos pacientes são mulheres, 46 (76,7%); a predominância de
idade foi acima de 60 anos; a metade eram casados (50,0%); com baixa escolaridade, 26
(43,3%), de um a cinco anos de estudo; a maioria, 52 (86,7%), não trabalhavam ou eram
aposentados. Alguns, 7 (11,7%), faziam uso de cigarro, e 6 (10,0%) faziam uso de álcool;
quanto à prática de atividade física era exercitada por 18 (30,0%). Elevado número de
pacientes já eram hipertensos, 46 (76,7%). No grupo de intervenção encontrou-se
melhora significativa estatisticamente nos valores de PAD(p=0,0156) e glicemia
(p<0,0001), e a maior parte dos pacientes aderiram às metas definidas no estudo. No
grupo comparativo, houve uma elevação significativa no valor glicêmico, e melhora em
alguns aspectos do tratamento, como perda de peso, prática de atividade física e redução
da glicemia. Desses resultados, pôde-se concluir pela viabilidade do emprego da Teoria
de Alcance de Metas na Estratégia Saúde da Família pela enfermeira, de forma a
colaborar para o controle, apesar de lento, mas contínuo para os pacientes diabéticos, pois
evidenciaram-se resultados positivos para a adesão ao tratamento do diabetes e melhoria
da qualidade de vida.
Descritores: Teoria de Enfermagem; Atenção Primária à Saúde; Diabetes Mellitus.
ABSTRACT
Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease associated with various complications,
being one of the leading causes of morbidity and mortality in the population. In this
context, health professionals aim to control this disease through the adherence of
diabetic patients to health promotion and maintenance care, encouraging people to adopt
healthy behaviors, change their lifestyle, and adhere to treatment. Nursing, in particular,
has the challenge of delivering assistance to individuals, families and communities
through direct or indirect care, seeking to establish interaction with these patients.
Nurses must help them understand the need to adopt changes in lifestyle, contributing to
their adherence to glycemic control. In turn, the care is based on Nursing Theories, with
own knowledge in different fields of knowledge, in order to improve the quality of
assistance provided to people. Therefore, this research aimed primarily at verifying the
effectiveness of nursing interventions based on the Theory of Goal Attainment, on
improving the care for diabetic patients, and on their adherence to treatment. We
conducted an intervention study of longitudinal, simple random type in the Primary
Healthcare Unit Flávio Marcílio, in Fortaleza-CE, Brazil. The population consisted of
diabetic patients registered in a family health team of this unit, and the sample consisted
of sixty diabetic patients, divided equally in the intervention and the comparison group.
As data collection instrument, we used an identification form for all patients, a problem
identification form in the comparison group and a form for established targets in the
intervention group. Data collection happened from February to August 2013 with
consultations every 45 days. With the intervention group, we performed the nursing
consultation from the nurse-patient interaction using the Theory of Goal Attainment
based on identified health problems, we established mutual goals, discussed means of
achieving the goals and, in the following months, we evaluated whether they had
accomplished it. For the comparison group, we performed nurse consultations without
specific theoretical foundation. At the end of six months, we reassessed all the
participants. We respected the ethical and legal aspects of research involving human
subjects in accordance with Resolution 466/2012 of the National Health Council. The
Research Ethics Committee of the Universidade Estadual do Ceará approved the project
under protocol No. 201.296. In the results, we found that most patients were women, 46
(76.7%); mostly aged above 60 years; half were married (50.0%); with low education,
26 (43.3%), one to five years of study; the majority, 52 (86.7%), did not work or were
retired. Some, 7 (11.7%), were using tobacco, and 6 (10.0%) were using alcohol; and 18
(30.0%) performed physical activities. A high number of patients were already
hypertensive, 46 (76.7%). In the intervention group, we found statistically significant
improvement in DBP (p=0.0156) and glucose (p<0.0001), and most patients adhered to
the goals established in the study. In the comparison group, there was a significant
elevation in the glycemic value and improvement in some aspects of treatment, such as
weight loss, physical activity and reduction in blood glucose. From these results, we
verified the feasibility of implementing the Theory of Goal Attainment in the Family
Health Strategy by nursing, in order to contribute to the control, although slow, but
steady for diabetic patients, since it presented positive results for adherence to diabetes
treatment and improved quality of life.
Descriptors: Nursing Theory; Primary Health Care; Diabetes Mellitus.
SUMÁRIO
1
INTRODUÇÃO.................................................................................
10
2
OBJETIVOS.....................................................................................
14
3
REFERENCIAL TEÓRICO............................................................
15
3.1 Imogene King: estrutura conceitual, sistemas e conceitos.................
15
3.2 A Teoria de Imogene King.................................................................
15
3.2.1 Uma estrutura conceitual para enfermagem..................................
16
3.2.2 Sistema pessoal................................................................................
16
3.2.3 Sistema interpessoal........................................................................
17
3.2.4 Sistema social..................................................................................
19
3.3 Teoria de Alcance de Metas...............................................................
21
4 METODOLOGIA...................................................................................
25
4.1 Tipo de estudo....................................................................................
25
4.2 Local do estudo..................................................................................
25
4.3 População e amostra..........................................................................
27
4.4 Instrumento de coleta de dados.........................................................
27
4.5 Protocolo de coleta de dados.............................................................
28
4.6 Organização e análise dos dados.......................................................
29
4.7 Aspectos ético-legais.........................................................................
30
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO...........................................................
33
6 CONCLUSÃO.........................................................................................
72
REFERÊNCIAS........................................................................................
74
APÊNDICES.............................................................................................
80
ANEXO......................................................................................................
86
1 INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é considerado um problema de saúde pública, com
evolução crônica, acometendo as pessoas em qualquer idade, condição socioeconômica
e localização geográfica. Associado a várias complicações, é uma das principais causas
de morbi-mortalidade no mundo.
Conforme estudo internacional, o diabetes encontra-se presente em 382
milhões de pessoas no mundo, com projeção de ampliar este número para 592 milhões
em 2035. Em todos os países, o diabetes mellitus tipo 2 está aumentando (IDF, 2013).
No Brasil, a grande magnitude das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
corresponde a 72% das causas de mortes, sendo crescente o número de óbitos por
diabetes (BRASIL, 2011).
Por diabetes compreende-se um grupo de doenças metabólicas caracterizadas
por hiperglicemia, associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários
órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos
(BRASIL, 2006). Segundo se percebe, o paciente diabético requer cuidado clínico e
educação continuada para melhor qualidade de vida e prevenção das complicações
agudas e crônicas. As complicações decorrentes do DM comprometem a produtividade,
a qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos, acarretando altos custos para seu
controle metabólico e tratamento das suas complicações. Em consequência do não
tratamento ou do tratamento irregular da doença, há aumento de consultas, de
dispensação
de
medicação,
exames,
internações,
cirurgias
e
procedimentos
especializados. Somando a isso, a incapacidade laborativa provisória, ou permanente, da
pessoa com diabetes desencadeia enorme impacto econômico e social em nosso meio.
Neste contexto, os profissionais objetivam o controle da doença, mediante
adesão dos pacientes com diabetes aos cuidados de promoção e manutenção da saúde.
Desse modo, propiciam às pessoas assumirem comportamentos saudáveis, modificarem
o estilo de vida e seguirem o tratamento.
A enfermeira, em especial, tem o desafio de dispensar assistência aos
indivíduos, família e comunidade, via cuidado direto ou indireto, buscando desenvolver
o cuidado em interação com estes pacientes. Ela ajuda na compreensão da necessidade
de assumir modificações no estilo de vida, e contribui para sua adesão ao controle
glicêmico.
Segundo Guedes e Araújo (2005, p.242), “os enfermeiros, na sua prática
profissional, devem fundamentar-se em princípios científicos fazendo uso das teorias de
enfermagem e do respectivo método que permite nas suas fases a operacionalização
destas teorias”.
Por sua vez, as Teorias de Enfermagem fundamentam o cuidado, com
conhecimentos próprios, com vistas a melhorar a qualidade da assistência prestada a
pessoas, em diferentes campos de conhecimento.
Uma destas teorias, a de Alcance de Metas de Imogene King, descreve a
natureza da relação enfermeira-paciente para o alcance de metas, as quais são
desenvolvidas num processo de interação, por meio da comunicação. Neste caso,
utiliza-se a avaliação da enfermeira com este paciente, ao identificar problemas,
distúrbios na saúde, suas percepções dos problemas e compartilhar informações para
planejar estratégias no intuito de atingir as metas propostas em comum acordo (KING,
1981; LEOPARDI, 2006).
Para King (1981), o indivíduo está inserido em três sistemas interativos:
pessoal, interpessoal e social. A partir destes sistemas, se houver interação enfermeirapaciente estabelecem juntos objetivos reais e alcançáveis pelo paciente. Trata-se de um
método participativo, em que a enfermeira emprega esses elementos preconizados para
a obtenção de metas definidas pelo paciente e por ela, por meio dos seus principais
elementos, isto é: percepção, comunicação e transação.
Na valorização do indivíduo no seu contexto social e familiar, buscando suas
potencialidades no empoderamento e autonomia do sujeito, a Teoria de King torna-se
um instrumento relevante no desenvolvimento do cuidado clínico de enfermagem.
Assim, questiona-se: o estabelecimento de metas de saúde mediante práticas
clínicas na interação enfermeira-pessoa com diabetes, na Estratégia Saúde da Família
(ESF), fundamentada na Teoria de Alcance de Metas de King, contribui para melhor
adesão ao tratamento?
A hipótese apresentada é a de que o estabelecimento de metas, pela interação
enfermeira-pessoa com diabetes, colabora no cuidado e na adesão à terapêutica do
diabetes mellitus.
Inserida na Estratégia Saúde da Família, a enfermeira, ao desenvolver suas
atividades, magnificou seu espaço de trabalho e ampliou sua inserção, seja nas
atividades assistenciais, seja nas administrativas e educativas fundamentais para
consolidação da ESF e também do Sistema Único de Saúde (SUS), por compartilhar dos
seus princípios e diretrizes e buscar um atendimento humanizado em saúde, resolutivo e
capaz de responder às necessidades sociais e de saúde da população.
Uma das ações desenvolvidas pelas equipes, com base nas sete áreas da Norma
Operacional Básica de Assistência à Saúde (BRASIL, 2002), é o acompanhamento dos
pacientes com DM, com ações tanto no âmbito individual por meio de consultas de
rotina e visitas domiciliárias, quanto nas ações de cunho coletivo em grupos de
educação em saúde. Essas estratégias visam o controle e redução das complicações
decorrentes desta doença.
As equipes da ESF têm, ainda, como instrumento importante para melhorar a
prevenção, diagnóstico, tratamento e controle do diabetes, o Plano de Reorganização da
Atenção à Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus (BRASIL, 2001) e dentre diversas
ações estipuladas está o Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes
Mellitus da Atenção Básica (SISHIPERDIA).
O SISHIPERDIA permite cadastrar, acompanhar e garantir os insumos aos
pacientes com hipertensão e diabetes de todas as unidades básicas de saúde. É uma
excelente fonte de informação tanto para a equipe quanto para os gestores, pois com
esta ferramenta é possível traçar em médio prazo o perfil epidemiológico desta
população e adotar estratégias de intervenção voltadas à melhoria da qualidade de vida
dessas pessoas, bem como a redução de custo social (BRASIL, 2001).
Esse programa contribui para orientar o gestor na aquisição dos medicamentos
essenciais, considerando que o SUS os fornece gratuitamente, para o controle do
diabetes, na rede básica de saúde, cujo financiamento é pactuado nas três esferas de
governo (BRASIL, 2012).
Com o trabalho desenvolvido pelas equipes de Saúde da Família ocorrem
vários avanços. Contudo, os pacientes ainda enfrentam várias barreiras no acesso às
consultas e exames, além da irregularidade na distribuição de insumos e medicamentos,
que dificultam a adesão ao tratamento do paciente com diabetes.
Nas últimas décadas, a prevalência do DM tem crescido significativamente.
Este crescimento decorre, sobretudo, do envelhecimento populacional, da maior
urbanização e do aumento de obesos e sedentários. Segundo Bezerra et al. (2010), com
a modernidade, ocorre também a evolução científica e tecnológica, a qual, por um lado,
amplia as possibilidades das pessoas se divertirem e trabalharem sem sair de casa, e por
outro, contribui para o sedentarismo.
Justifica-se o estudo pela alta prevalência de diabetes mellitus, o qual atinge
5,6% da população das capitais brasileiras (BRASIL, 2011). Como enfermeira da
Estratégia Saúde da Família, percebem-se a complexidade do tratamento, as barreiras
encontradas pelos pacientes com diabetes na adesão e na manutenção dos níveis
normoglicêmicos. A relevância do controle glicêmico fundamenta-se no fato de que
muitos pacientes com diabetes enfrentam obstáculos por diversos fatores, como:
dificuldade de acesso ao serviço de saúde, distância entre o local de moradia e os
serviços que prestam atendimento, custos financeiros, irregularidade na dispensação de
medicações e insumos. Conforme se sabe, o descontrole leva a consequências. Entre
estas, amputações, cegueira, nefropatia, neuropatias, doenças cardiocerebrovasculares,
além de outras sequelas.
Diante dos resultados obtidos com este trabalho, o conhecimento produzido
poderá fortalecer as consultas de enfermagem, nas quais o profissional tem a
oportunidade de utilizar o mencionado conhecimento, transformar-se num ser crítico,
questionar suas próprias atitudes e participar de forma mais ativa nos cuidados
prestados, promovendo estratégias na adesão do tratamento.
2 OBJETIVOS
Verificar a eficácia de intervenções em enfermagem, fundamentada na Teoria de
Alcance de Metas, na melhoria do cuidado à pessoa com diabetes e na sua adesão ao
tratamento;
Comparar os resultados desta interação com o cuidado cotidiano de enfermagem
desenvolvido na Estratégia Saúde da Família.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Imogene King: estrutura conceitual, sistemas e conceitos
Imogene King nasceu em 30 de janeiro de 1923, em West Point, Iowa, nos
Estados Unidos. Em 1948, recebeu o grau de bacharel em ciências da educação em
enfermagem e em 1957 conquistou o título de mestre em enfermagem pela St. Louis
University. Em 1961, titulou-se doutora pelo Teacher’s College, da Universidade de
Columbia, Nova York. King também foi agraciada com um Doutoramento honorário
pela Southern Illinois University em 1980.
Ademais, trabalhou na enfermagem como administradora, educadora e
assistencial. Mesmo aposentada, viajou por todos os Estados Unidos, Canadá, Japão,
Alemanha e Suécia, onde proferiu conferências para enfermeiras, estudantes, e
participou de congressos. A estudiosa recebeu prêmios de muitas organizações em
honra dos seus contributos para a enfermagem. Em 1997, recebeu uma medalha de ouro
do governador da Flórida por contribuir para o avanço da enfermagem naquele estado. E
em 2005, foi nomeada “lenda viva” pela Academia Americana de Enfermagem.
No dia 24 de dezembro de 2007, faleceu em Pasadena, Flórida, EUA, sendo
homenageada com a seguinte frase "Que todos nós hoje queimemos uma vela para a luz
que a ilustre Imogene deixou sobre nós com seu sorriso, conhecimento e paixão em
todos os dias” (MESSMER; PALMER, 2008).
Segundo Messmer e Palmer (2008), King foi pioneira no campo da
enfermagem teórica, principalmente por aliar teoria e prática clínica. Da sua biografia,
infere-se que ela possui vasto conhecimento nas áreas de domínio cognitivo e
experimental.
3.2 A Teoria de Imogene King
Nesta teoria, King (1981) começa a discorrer explicando o que é a
enfermagem. Descreve as ações de enfermagem como atividades realizadas nas quais a
enfermeira pensa, percebe, julga e age nas situações a ela relacionadas. Estas ações
ocorrem em ambientes onde são desenvolvidas relações entre enfermeiras e pacientes.
As enfermeiras coletam informações, analisam as percepções, trocam informações,
estabelecem metas em comum, tomam decisões e resolvem problemas, usando
conhecimentos e habilidades para ajudar estes indivíduos a manter a saúde.
É a partir destes conceitos e delimitações que King constrói uma estrutura
conceitual para a enfermagem, sua teoria sobre a dinâmica do sistema de interações
baseada na teoria dos sistemas.
3.2.1 Uma estrutura conceitual para a enfermagem
A meta da enfermagem é a melhoria da saúde de indivíduos e o cuidado de
saúde de grupos. Cabe-lhe aceitar a seguinte premissa: seres humanos são sistemas
abertos interagindo com o ambiente; então uma estrutura conceitual para a enfermagem
deve ser organizada para incorporar estas ideias (KING, 1981).
Neste âmbito, a teorista (1981) propõe uma estrutura onde ela faz inferência
segundo a qual seres humanos são sistemas que juntos formam um sistema interpessoal
e este sistema interage formando um sistema social. Tal estrutura foi organizada para
incorporar a ideia de que seres humanos são sistemas abertos interagindo com o
ambiente.
3.2.2 Sistema pessoal
Por sistema pessoal entende-se o próprio indivíduo, caracterizado como ser
racional e emocional, portanto, ser complexo. Consoante King (1981, p.20) no
“processo de interação, indivíduos reagem com pessoas, eventos e objetos de acordo
com suas percepções, expectativas e necessidades”. Por isso, para compreensão da
interação, é necessário uma compreensão desse sistema pessoal. A autora aponta seis
conceitos relacionados a esse sistema que auxiliam neste entendimento. São eles:
A percepção - definida como “um processo de organização, interpretação e
transformação de informações dos dados sensoriais e da memória” (KING, 1981, p.24).
“É a representação da realidade do ser humano” (KING, 1981, p.20). Como afirma, a
percepção é o maior conceito da sua teoria e um marcante ponto para a interação. É um
processo cognitivo no qual o indivíduo busca em seu inconsciente fatos e valores que
interferem na interação. A percepção é parte do crescimento e desenvolvimento da
pessoa e influencia em sua definição de metas e necessidades (KLEIN, 1970 apud
KING, 1981).
O self - é o que eu penso de mim e o que eu sou capaz de ser ou fazer (KING,
1981, p.26). “É uma interação pessoal com o ambiente que é influenciado pela troca de
interações com outros e que dá alguma consciência do modelo de relacionamento do eu
com o meu” (ROGERS, 1961 apud KING, 1981, p.27). O conhecimento de self é o
modo como eu me defino para mim mesmo e para os outros, é o entendimento do
comportamento humano. Caracteriza-se por: (1) dinâmica individual, valores e crenças;
(2) sistema aberto e limites artificiais; e (3) meta orientada (a orientação das metas
direciona atividades para a realização do self).
O crescimento e desenvolvimento - para Freud (1966) apud King (1981),
existem quatro estágios do desenvolvimento. São eles: (1) estágio oral na primeira
infância; (2) estágio anal entre 2-3 anos; (3) estágio de fala na idade pré-escolar; e (4)
estágio genital na adolescência. Segundo refere, a origem do comportamento vem de
energias biológicas que podem ser direcionadas a diferentes meios. Quanto às
características do crescimento e desenvolvimento citadas por King (1981), mencionamse: (1) trocas celulares, moleculares e comportamentais em seres humanos; e (2)
funções da herança genética, experiências significativas e satisfatórias e um ambiente
que conduz à ajuda de indivíduos com vistas a adquirirem maturidade.
A percepção da pessoa sobre seu corpo, reações adversas da sua aparência e o
resultado de reações adversas do self são referidas como imagem corporal. Esta é
definida como a maneira pela qual o indivíduo consegue se ver. Suas atitudes podem ser
diferentes, dependendo da sua relação com a própria imagem.
O espaço – este é um conceito universal, pessoal, percebido por cada pessoa
como único e subjetivo. É situacional, pois a distância espacial pode ser estendida ou
contraída conforme a natureza do relacionamento em cada situação. É dimensional, em
função da área, do volume, da distância e do tempo. Tais dimensões são influenciadas
pelas diferenças culturais (KING, 1981).
O tempo - para King (1981, p.42), “é percepção subjetiva de uma sucessão de
eventos do passado para o presente e para o futuro”. É definido como a duração entre a
ocorrência de um evento e a ocorrência de outro, sendo o tempo irreversível. Contudo,
a percepção humana de tempo varia de uma pessoa para outra e é determinada pela
idade, educação, posição de vida, funções sociais, valores e atitudes.
3.2.3 Sistema interpessoal
Na ótica de King (1981), o mundo é composto de seres humanos e objetos que
interagem no ambiente, e estes seres humanos agem em vários sistemas interpessoais.
Existem determinados conceitos na compreensão dos sistemas interpessoais.
Entre estes:
As interações humanas – entendidas como atos de duas ou mais pessoas em
presença mútua, podem revelar o que uma pessoa pensa ou sente pela outra, como um
percebe o outro, o que o outro faz por ele, quais suas expectativas do outro e como cada
um reage à ação do outro (KING, 1981). Como King relata, a ação é uma sequência de
comportamentos de interações de pessoas, que incluem: (1) ação mental –
reconhecimento das condições presentes; (2) ação física – início de operações ou
atividades relacionadas às condições ou situações; e (3) ação mental - para exercer
controle sobre os eventos e as ações físicas na busca pelo alcance de metas. Em
situações concretas nas quais seres humanos estão participando ativamente nos eventos,
e esta participação ativa em busca do alcance de metas provoca troca nos indivíduos,
verifica-se transação.
Na Figura 1 mostra-se como o processo de interações humanas ocorre.
Figura 1: Processo de interações humanas (adaptado de KING, 1981)
Conforme a Figura 1, as percepções, julgamentos, ações e reações dos seres
humanos irão determinar as transações que eles realizarão. King (1981, p.1) define
transações como “interações resolutas que conduzem ao alcance de metas”.
Ainda como afirma King (1981, p.61), “os maiores conceitos na interação
humana são: percepção, comunicação e transação”. Contudo, o componente
informacional da interação pode ser observado como comunicação e o componente
avaliativo como transação.
Transações são elementos possíveis de aparecer nas mensagens, porquanto se
dão quando os indivíduos estão interagindo para o alcance das suas metas, porém é
preciso, primeiramente, investigá-las nas conversações.
Quanto à comunicação - definida por King (1981) como o intercâmbio de
pensamentos e opiniões entre indivíduos, é o meio pelo qual a interação social e a
aprendizagem acontecem, sendo influenciada pelos inter-relacionamentos de metas,
necessidades e expectativas de uma pessoa; e é o meio de troca de informações entre
indivíduos e ambiente, em sistemas abertos, onde há a ocorrência contínua e dinâmica
da comunicação. Esta é dividida em duas categorias: (1) comunicação intrapessoal –
comunicação não verbal, que envolve trocas nervosas, de informação genética, entre
várias outras trocas verificadas no nosso organismo; e (2) comunicação interpessoal – a
qual é classificada como verbal e não verbal e se dá entre indivíduos. Segundo King
(1981), as enfermeiras usam habilidades e conhecimentos para obter informações
acuradas sobre os comportamentos dos pacientes, e são percebidas por estes como
cuidadoras, ocupadas demais, frias e eficientes. Enfermeiras usam conhecimentos e
habilidades de comunicação para ajudar indivíduos que atravessam interferências no seu
estilo de vida.
Na ótica de King (1981, p.81) ao citar Kuhn (1975), o processo de transação, é
“a transferência de valores entre dois ou mais indivíduos”. Acontece como um processo
de interação entre pessoas, pessoa com objeto, envolvendo o ambiente, com o objetivo
de alcançar metas. Por meio da comunicação, observação e interpretação da informação,
as interações são focalizadas nas metas e um relacionamento interpessoal positivo
começa a se estabelecer.
Inclui-se, ainda, o papel - quando, “o desenvolvimento do conceito de interação
requer conhecimento do papel desde que o papel de uma pessoa seja definido em
relação ao papel de outra pessoa, como o papel da enfermeira e do paciente” (KING,
1981, p.89). Ou seja, para que a interação aconteça é necessário haver uma definição
dos papéis; este é visto como uma relação com outra pessoa, uma posição e uma
situação. Consoante o conceito de papel, um indivíduo precisa se comunicar com o
outro e interagir em caminhos que auxiliem no alcance de metas. Nos papéis, as funções
são dinâmicas e mudam de situação para situação.
Outro componente é o estresse – considerado um fator energia em sistemas
abertos que aumenta ou diminui de acordo com os estressores em interações homemambiente. É um estado dinâmico pelo qual o ser humano interage com o ambiente para
manter equilíbrio voltado ao crescimento, desenvolvimento e desempenho que envolve
uma troca de energia e informação entre a pessoa e o ambiente para regulação e controle
do estressor (KING, 1981).
3.2.4 Sistema social
Este é um sistema de limite organizado de papéis sociais, comportamentos e
práticas desenvolvidas para manter valores e mecanismos de regulação dessas reações
(KING, 1981). Um construto de sistema social é essencial para a estrutura conceitual de
enfermagem.
Segundo King (1981), é um sistema que tem sua origem na reunião de grupos
com interesses e necessidades especiais, formando organizações e compondo
sociedades. Os conceitos relacionados neste sistema são os seguintes:
A organização - é a forma pela qual as atividades contínuas são administradas
para alcançar metas. O entendimento da estrutura organizacional ajuda as enfermeiras
na identificação e no enfrentamento dos conflitos entre a organização e seus papéis e
funções profissionais. Está associada ao conhecimento de autoridade e poder (KING,
1981). Para as organizações responsáveis pelos cuidados de saúde, a meta é ajudar
indivíduos a manter sua saúde, se possível, e aprender a enfrentar as doenças.
A autoridade - é um processo ativo e recíproco de transação no qual
conhecimento, experiência, percepções e valores dos sujeitos influenciam a definição,
confirmação e aceitação dos que se encontram em posições organizacionais, associados
a esse poder. É essencial à realização de metas e às organizações, sobretudo as
formalmente constituídas. Nos diversos sistemas de cuidado à saúde onde as
enfermeiras trabalham, há a necessidade de entender a autoridade organizacional
vigente, assim como a autoridade legítima da enfermeira. Sua apropriada utilização em
uma organização promove satisfação ao trabalhador, eficiência, elevação moral e
facilita o alcance de metas (KING, 1981).
O poder - é uma característica da autoridade, sendo o processo por meio do qual
uma ou mais pessoas influenciam as demais numa determinada situação. O poder existe
dentro das relações sociais e os que o exercem podem controlar grupos e organizações.
É universal, situacional, dinâmico e meta-dirigido (KING, 1981).
O status - é como a posição de um indivíduo em um grupo é percebida por
outros indivíduos. É o prestígio adquirido ao desempenhar um papel (KING, 1981).
A tomada de decisão - é um conceito-chave em qualquer organização. Decisões
são julgamentos feitos, e afetam o curso da ação a ser desenvolvida em situações
específicas. Tornou-se um conceito essencial para as pessoas em todos os aspectos da
vida. A própria ação ou resposta humana é decorrente de um processo de tomada de
decisão. As decisões são situacionais e dirigidas a metas, compondo um processo
contínuo, que envolve uma situação, estado ou problema. Constantemente, enfermeira e
paciente tomam decisões sobre metas a serem alcançadas. Faz-se, então, necessária a
informação compartilhada entre eles, respeitando os aspectos éticos (KING, 1981).
3.3 Teoria de Alcance de Metas
Consoante estabelece a Teoria de Alcance de Metas, a enfermagem é um
processo de interação, reação e transação, e tem como foco central da estrutura de King
o ser humano dinâmico, cujas percepções dos objetos, das pessoas e dos eventos
influenciam seus comportamentos, sua interação social e sua saúde. Como mencionado,
a estrutura conceitual inclui três sistemas: pessoal, interpessoal e social (LEOPARDI,
2006).
King utiliza os conceitos dos três sistemas dinâmicos interacionais para
formular uma Teoria de Enfermagem que preconiza a obtenção de metas definidas pelo
paciente e pela enfermeira por meio da transação na situação de enfermagem. É um
método participativo, dinâmico, que torna o paciente um ser atuante no seu processo de
saúde-doença-saúde.
A teorista resume a estrutura conceitual da seguinte forma: indivíduos
compreendem o sistema pessoal relacionando-se com o meio ambiente, chamado
sistema pessoal; ao interagir com outras pessoas, forma díades, tríades, pequenos e
grandes grupos, constituindo o sistema interpessoal; os grupos com interesses e
necessidades comuns formam as organizações, evoluem para comunidades e
sociedades, configurando o sistema social. “A tese principal da estrutura é a de que
cada ser humano percebe o mundo como uma pessoa total, fazendo transações com
indivíduos e coisas no ambiente” (KING, 1981, p.141). Portanto, a percepção toma
lugar em cada mundo concreto da pessoa e é uma parte essencial da vida.
Considerando como conceitos abstratos seres humanos, ambiente, saúde e
sociedade, de acordo com King, o conhecimento desses conceitos colabora na interação
da enfermeira com o paciente, no entendimento de como os seres desenvolvem suas
atividades de vida diária nos vários papéis que assumem nos sistemas onde estão
inseridos.
Ainda conforme King (1981), a Teoria de Alcance de Metas descreve a
natureza das interações enfermeira-paciente, propositais, para mutuamente estabelecer
metas, explorar e acordar meios que conduzem ao alcance das metas. Sua estrutura
conceitual e teorias são baseadas no princípio segundo o qual seres humanos interagem
com o meio ambiente com a finalidade de atingir o estado de saúde que lhes permita
desenvolver seus papéis sociais.
Como pressupostos específicos, a teorista ressalta:
As percepções, metas, necessidades e valores da enfermeira e do paciente
influenciam o processo de interação;
As pessoas têm o direito de conhecer sobre si mesmas e de participar das
decisões que influenciam suas vidas, saúde e os serviços da comunidade, podendo
aceitar ou rejeitar o cuidado de saúde;
Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de obter informações que
ajudem os indivíduos a tomar decisões sobre seu cuidado de saúde;
As metas dos profissionais de saúde e as dos receptores do cuidado podem ser
incongruentes, logo, pode ocorrer conflitos.
Cabe enfatizar: a teoria deriva da estrutura conceitual dos sistemas pessoal e
interpessoal, mediante os conceitos de interação, percepção, comunicação verbal e não
verbal, transação, papel, estresse, crescimento e desenvolvimento.
As interações são permeadas pela comunicação verbal e não verbal, havendo
troca e interpretação de informações, pelo compartilhamento de valores, necessidades e
desejos de cada membro, levando a transações, pelas percepções de cada participante e
pelos estressores que influenciam cada pessoa na situação (KING, 1981). Por ser a
enfermagem um processo de interação, mediante a comunicação, a enfermeira explora
meios e acordos para obtenção de metas estabelecidas.
Nessa interação, os comportamentos observáveis são esses:
1. Reconhecimento das condições apresentadas, como um problema de saúde,
social ou relacionado ao homem;
2. Operações ou atividades relacionadas à situação ou condições, como
decisões sobre metas; e
3. Motivação para exercer algum controle sobre os eventos na situação para
atingir objetivos, como acordos quanto aos meios para alcançá-los.
Nas interações enfermeira-paciente, há coleta de informações, observação e
medição de parâmetros do paciente, interpretação e nova troca de informações, na qual
a enfermeira agora partilha informações pertinentes com o paciente; este observa a
enfermeira, questiona, participa do estabelecimento de metas. Desse modo, a interação é
percebida como eventos que alguém valoriza, quer ou deseja, levando o atendimento a
trazer resultados mensuráveis das situações de enfermagem. Como enfatiza King (1981,
p.144), “esta teoria deveria servir como um modelo de prática relacionado às interações
enfermeira-paciente e, neste sentido, uma teoria normativa”.
As atividades da enfermagem são um processo de interação entre enfermeira e
paciente em que cada um percebe o outro e a situação, e por meio da comunicação,
estabelecem-se metas, exploram-se meios e acordam-se para atingir metas. Nelas os
comportamentos observáveis na enfermeira e paciente são: reconhecimento das
condições apresentadas, como problema de saúde; decisões sobre metas; motivação e
meios para alcance das metas.
Neste âmbito, as proposições da Teoria de Alcance das Metas são as seguintes:
1. Se a acurácia perceptual está presente nas interações enfermeira-paciente,
ocorrerão transações;
2. Se enfermeira e paciente fazem transações, metas serão alcançadas;
3. Se metas são alcançadas, haverá satisfação;
4. Se metas são alcançadas, ocorrerá cuidado efetivo de enfermagem;
5. Se as transações são feitas nas interações enfermeira-paciente, aumentarão o
crescimento e desenvolvimento;
6. Se as expectativas e as performances de papel são percebidas pela
enfermeira e paciente como congruentes, ocorrerão transações;
7. Se conflito de papel é experimentado pela enfermeira, paciente ou ambos, se
dará estresse nas interações enfermeira-paciente;
8. Se enfermeiras com conhecimentos e habilidades especiais transmitem
informações apropriadas aos pacientes, acontecerá estabelecimento e alcance de metas
mútuas.
Quanto aos limites internos da teoria, mencionam-se: o fato de a enfermeira e o
paciente não se conhecerem; a habilitação para o exercício da profissão pela enfermeira;
as necessidades de cuidado por parte do paciente; então, ao se encontrarem, este
colabora para o estabelecimento mútuo de metas; e ambos interagem para o alcance
dessas metas. Já os limites externos são: a interação entre duas pessoas; a habilitação do
profissional de enfermagem e pacientes com necessidades de cuidados de enfermagem;
essas interações devem acontecer em ambientes naturais (KING, 1981).
Para a teorista, tais limites não restringem a teoria a tempo e espaço, porquanto
as interações enfermeira-paciente podem acontecer em qualquer situação de
enfermagem.
Segundo George (2000) ao citar King (1981), a teorista desenvolveu
proposições previsivas: ambos devem ter exatidão perceptiva, saberem os seus papéis na
interação e comunicação que levem à transação; esta leva à obtenção de metas,
implementando o crescimento e desenvolvimento mútuo, efetivando a assistência de
enfermagem.
Como se percebe, a Teoria de Imogene King torna-se de relevante utilidade para
os profissionais de enfermagem, pois é um instrumento de investigação, orientação e
educação. Logo, auxilia na visão dos fatores que influenciam o ambiente e qualidade de
vida das pessoas, e pode facilitar uma avaliação da própria assistência.
4 METODOLOGIA
4.1 Tipo de estudo
Trata-se de estudo de intervenção para pacientes com diabetes mellitus,
desenvolvido com uma proposta de cuidado de enfermagem fundamentada teoricamente
para observar se esta promovia um melhor cuidado e adesão da pessoa com diabetes ao
tratamento, levando ao alcance da meta geral de bem-estar destes pacientes.
Foi um estudo do tipo longitudinal, no qual, para Polit e Beck (2011), são
efetuadas coletas de dados às mesmas pessoas, e que fornecem dados em dois ou mais
pontos temporais durante certo período. Nele analisaram-se mudanças ao longo do
tempo, determinando a sequência temporal dos fenômenos.
Por ser interventivo, caracterizou-se como do tipo randomizado simples em
que há a seleção de números iguais de participantes para cada grupo, seguindo a
amostragem aleatória simples. Segundo Polit e Beck (2011), neste tipo de estudo, não
há pareamento das características ou variáveis específicas. Assim, após a formação dos
grupos, realizou-se avaliação estatística com vistas a analisar se as diferentes
frequências para as variáveis pesquisadas eram estatisticamente significantes.
Para tanto, formaram-se dois grupos de pacientes com diabetes, de igual
tamanho, denominados de grupo comparativo e grupo de intervenção. Como
estabelecido, o grupo de intervenção passou pela consulta de enfermagem, com
propostas de intervenções. Negociadas as metas e avaliação do alcance das metas
propostas com base na Teoria de Imogene King, comparou-se melhoria nas variáveis
físicas e nas mudanças no estilo de vida de pacientes com diabetes. O grupo
comparativo passou pela consulta de enfermagem, no tocante à assistência de
enfermagem recebida no cotidiano da unidade de saúde, sem explícita fundamentação
teórica específica.
Então, ao final do processo, pôde-se comparar os resultados entre os dois
grupos, no relacionado ao desfecho das variáveis iniciais dos pacientes com diabetes.
4.2 Local do estudo
Consoante mencionado, o estudo foi realizado na Unidade de Atenção Primária
à Saúde Flávio Marcílio (UAPSFM) do Sistema Único de Saúde, em Fortaleza-CearáBrasil. Referida unidade tem como objetivo atender pacientes residentes na área adscrita
dos bairros Mucuripe, Varjota e Meireles.
Quanto à escolha da unidade para desenvolvimento da pesquisa, deu-se por ser
campo de trabalho da pesquisadora. Esta condição pode facilitar a interação enfermeirapaciente, pois segundo a Teoria de Alcance de Metas, quando ocorre esta interação
conduz-se ao alcance de metas.
No referente à estrutura física do serviço, há dois pavimentos, com consultórios
médicos, odontológicos, de enfermagem, recepção, farmácia, sala de espera,
imunização, coleta de exames laboratoriais, sala de procedimentos, expurgo,
esterilização e copa.
A equipe de saúde é multidisciplinar e com diversas especialidades, a saber:
enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social,
farmácia, terapia ocupacional, além de especialidades médicas.
Como observado, a equipe de enfermagem é composta por onze enfermeiras e
oito técnicas de enfermagem, as quais desenvolvem suas atividades nos diversos setores
ambulatoriais e nas visitas domiciliares. Quanto às consultas de enfermagem, os
atendimentos são variáveis, de acordo com a agenda e escala de serviço destes
profissionais.
No período da coleta, a UAPSFM contava com três equipes da Estratégia Saúde
da Família e uma equipe da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. A pesquisa
foi realizada com pacientes da área de abrangência da equipe 2 de Saúde da Família,
composta por uma enfermeira, uma odontóloga, uma auxiliar de enfermagem, uma
auxiliar de saúde bucal e seis agentes comunitários de saúde. Existem 989 famílias
cadastradas e, destas, 147 pessoas com diagnóstico de DM, com uma média de 35
consultas de enfermagem mensal ao diabético.
As consultas ao diabético, na equipe escolhida para a coleta de dados, são feitas
a cada dois meses, intercalando a consulta de enfermagem com a consulta médica,
quando recebem o medicamento para controle de diabetes, orientações sobre dieta,
atividade física, entre outras. Enquanto as consultas de enfermagem ocorrem nas quartas
e quintas-feiras pela manhã, as consultas médicas não têm dia específico para paciente
diabético e são realizadas por um profissional vinculado à Secretaria Estadual de Saúde,
lotado na referida unidade, não vinculado à equipe de Saúde da Família. Assim, os
pacientes retornam para a consulta de enfermagem a cada quatro meses.
A instituição é campo de prática e de estágio para alunos de enfermagem,
nutrição, gestão hospitalar, entre outros, estando conveniada com universidades
particulares situadas no município de Fortaleza.
4.3 População e amostra
Consoante ressaltado, a população foi constituída de pacientes com diabetes
cadastrados em uma equipe de Saúde da Família. Conforme cadastro realizado pela
equipe, existiam 147 pacientes diabéticos.
Como critérios de inclusão constaram: estar regularmente cadastrados no
SISHIPERDIA da equipe de Saúde da Família; ter idade superior ou igual a 18 anos; ter
diagnóstico de diabetes referido há pelo menos seis meses; ter ou estar em condições de
dialogar sobre sua condição de saúde e tratamento.
Excluíram-se aqueles desprovidos de capacidade cognitiva para interação e
comunicação adequada, que são limites apontados na Teoria de Alcance de Metas
(KING, 1981).
Da amostra fizeram parte sessenta pacientes selecionados aleatoriamente, na
medida em que chegaram para a consulta de enfermagem de rotina, nos meses de
fevereiro e março de 2013. Dessa forma, não se fez pareamento, de acordo com as
variáveis a serem estudadas. Após convite para participar no estudo, os pacientes foram
inseridos randomizadamente no grupo comparativo ou no grupo de intervenção. Houve
perda de quatro participantes do estudo pois, no decorrer da pesquisa, dois foram a óbito
e dois mudaram de endereço.
Segundo Creswell (2010), como forma de controle, neste tipo de investigação
cada participante do estudo tem igual probabilidade de ser selecionado. Desta forma,
elimina-se a possibilidade de diferenças sistemáticas entre as características dos
participantes passíveis de afetar os resultados, de modo que quaisquer diferenças nos
resultados podem ser atribuídas ao tratamento.
4.4 Instrumento de coleta de dados
Para os dois grupos efetuou-se, na primeira consulta de enfermagem, coleta de
dados baseline, para futuras comparações. As informações foram coletadas e registradas
em formulário contendo os dados sociodemográficos, familiares, clínicos, estilo de vida,
comorbidades, percepção/acompanhamento geral da saúde, self/imagem corporal,
tempo, interações humana, papel e relacionamento, nutrição e metabolismo,
eliminações, sono e repouso, sexualidade e reprodução. Quanto ao grupo de
intervenção, além dos dados baseline, utilizou-se a consulta de enfermagem
fundamentada na Teoria de Alcance de Metas. O formulário continha as decisões
tomadas
no
processo
de
interação
enfermeira-paciente,
metas
estabelecidas
conjuntamente, avaliações subsequentes e avaliação final. No grupo comparativo era
realizada a consulta de enfermagem sem fundamentação teórica, e registravam-se em
um formulário os problemas detectados e a evolução destes.
4.5 Protocolo de coleta de dados
A investigação ocorreu no período de fevereiro a agosto de 2013, com vistas ao
acompanhamento contínuo dos dois grupos participantes do estudo por seis meses,
comparando a consulta de enfermagem (grupo comparativo), com a consulta de
enfermagem fundamentada na Teoria de Alcance de Metas de King (grupo de
intervenção), analisando seus benefícios, dificuldades e exequibilidade.
Iniciou-se a coleta de dados após a aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, aceitação do convite por cada participante, independente do grupo de estudo
onde seria alocado. Esta ocorreu durante a consulta de enfermagem. Todas as variáveis
dos dois grupos, de intervenção e comparativo, foram coletadas pela própria
pesquisadora.
Na primeira consulta da coleta de dados da pesquisa, coletaram-se os dados
baseline dos dois grupos, contidos no formulário. As consultas subsequentes foram
agendadas para 45 dias.
Com o grupo comparativo, procedeu-se à consulta de enfermagem, e os
pacientes foram agendados para novas consultas. Tentava-se não modificar a dinâmica
de consultas, embora tenha se alterado a rotina de atendimento recebida pela equipe da
ESF. Portanto, cada paciente foi acompanhado pela pesquisadora durante seis meses, no
total de quatro consultas de enfermagem. Avaliaram-se as variáveis escolhidas para
comparação com o grupo de intervenção.
Neste grupo, os pacientes foram consultados, avaliados e estabeleceram-se
metas com eles. Em cada consulta do paciente com diabetes do grupo de intervenção,
elaborou-se Lista de Problemas detectados e compartilhados na interação enfermeirapaciente. Após discussão preencheu-se a Lista de Metas em comum acordo, procurando
solucionar ou minimizar o problema. Ademais, discutiam-se meios que viabilizassem o
alcance destas metas, as quais foram avaliadas nas consultas posteriores. Nas consultas
subsequentes, avaliaram-se as condições gerais dos pacientes, com vistas a detectar suas
conquistas no tocante à adesão ao tratamento e para definir novas metas.
Em todas as consultas foram mensuradas as seguintes variáveis:
A glicemia capilar, medida pelo aparelho digital Accu-Chek®. Após orientação
ao paciente do procedimento, colocou-se a fita no aparelho, escolheu-se um dos
quirodáctilos com boa perfusão periférica, e deu-se uma picada superficial com lanceta
própria para este procedimento: ao sair uma gota de sangue se colocava na fita teste e o
local perfurado era pressionado com algodão seco.
Mediram-se valores tensionais utilizando a técnica padrão-ouro para aferição
da pressão arterial de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de
Hipertensão. O esfignomanômetro aneroide empregado foi previamente calibrado,
regulado e atestado pelo Inmetro, observando-se o tamanho do manguito adequado à
circunferência do braço do paciente e estetoscópio biauricular de uso pessoal da
pesquisadora. Os indivíduos eram orientados a esvaziar a bexiga urinária, ficar na
posição sentada e descruzar os membros. Após cinco minutos de repouso, fez-se a
verificação, no braço direito do paciente.
Mensurou-se o peso corporal em balança digital portátil com capacidade de
130 kg e com precisão de 100g, colocada em superfície plana. Os pacientes eram
pesados descalços, com o mínimo de roupa possível, corpo ereto no centro da balança,
braços estendidos ao longo do corpo e sem movimento.
Para a medição da estatura, o instrumento foi um antropômetro, com
subdivisão 0,5 cm, com a utilização de um esquadro sobre a cabeça dos pacientes,
descalços, pés unidos e paralelos, em posição ereta e olhando para a frente.
A circunferência abdominal foi mensurada com fita métrica flexível e
inextensível, no ponto médio entre a crista ilíaca anterior superior e a última costela.
Essas variáveis foram avaliadas em cada paciente dos dois grupos nas quatro
consultas. Tais dados foram compilados e organizados, constituindo um banco de dados
de comparação, cujo objetivo era avaliar a mudança ou não nos dois grupos
participantes. Assim, após cada ciclo de consultas e ao final do processo, os dois grupos
foram comparados, no respeitante às variáveis colocadas anteriormente, que configuram
a melhoria do estado de saúde deles.
Infelizmente, um paciente do grupo comparativo foi a óbito antes do retorno da
segunda consulta e outro mudou de endereço. Quanto ao grupo intervenção, uma
paciente também veio a óbito antes da quarta consulta e uma mudou de endereço. Todos
foram excluídos do estudo.
4.6 Organização e análise dos dados
Segundo definido, os dados foram organizados em um banco de dados no
programa Excel for Windows e posteriormente transportados para o software SPSS
versão 20.0(Statistical Package for the Social Sciences), onde foram processados para
avaliação estatística analítica, relação e entrecruzamento das diversas variáveis, com
utilização de testes estatísticos.
Ilustrativamente, os dados estão apresentados em tabelas onde foram dispostas
as variáveis. Calcularam-se as frequências simples, percentual, percentual acumulado,
média, desvio padrão, mínimo e máximo das variáveis. Analisaram-se a associação das
variáveis categóricas por meio dos testes não paramétricos do Qui-quadrado, a razão de
verossimilhança e o teste de Friedman, adotando-se um nível de significância estatística
de 5% (p<0,05), quando da associação de algumas variáveis em estudo.
De posse dos resultados, passou-se a discuti-los à luz da literatura nacional e
internacional atualizada sobre diabetes mellitus e da Teoria de Alcance de Metas de
Imogene King.
4.7 Aspectos ético-legais
Neste estudo, cumpriram-se os preceitos éticos e legais a serem respeitados nas
investigações envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Em princípio, encaminhou-se uma cópia do
projeto de pesquisa ao Sistema Municipal Saúde-Escola de Fortaleza solicitando
autorização para realizar o estudo na referida Unidade de Atenção Primária à Saúde.
Posteriormente o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação
e autorização para coletar dados. O projeto foi aprovado pelo CEP da Universidade
Estadual do Ceará (UECE), com parecer favorável, sob protocolo n0 201.296.
Todos os sujeitos foram convidados e previamente informados acerca dos
objetivos, da justificativa e procedimentos desta pesquisa. Foram-lhes garantidos o
sigilo de identidade, o livre consentimento e a opção de participar ou não da pesquisa,
podendo desistir a qualquer momento, sem que isso lhes trouxesse qualquer prejuízo.
Os riscos foram mínimos porque a coleta de dados ocorreu por meio da
consulta de enfermagem. Durante as mensurações não houve nenhum desconforto ou
constrangimento, mas a pesquisadora estava preparada para algum imprevisto,
sobretudo porque a glicemia capilar já é rotina para o paciente em tratamento do
diabetes.
Foram respeitados os princípios da beneficiência ao grupo de intervenção, o
qual se deu pelo acompanhamento com um cuidado fundamentado teoricamente,
durante os meses de estudo; e da não maleficência ao grupo controle, já que continuou
recebendo a assistência de enfermagem desenvolvida institucionalmente.
Por se conhecer as dificuldades do paciente na adesão ao tratamento do
diabetes mellitus, os benefícios deste tornam-se indispensáveis para melhorar a adesão
às medidas usadas no controle do diabetes. Com as intervenções observou-se a melhora
na conduta desta doença.
Assegurou-se a privacidade, de forma a proteger a imagem e a identidade dos
participantes, evitando-lhes todo e qualquer prejuízo. Os valores sociais, culturais,
morais e religiosos também foram respeitados.
Estabeleceu-se como meta a divulgação dos resultados do estudo em espaços
científicos, como congressos, simpósios, encontros, além da comunidade onde este foi
realizado de acordo com a Resolução 466 (BRASIL, 2012), com objetivo de dar retorno
por meio de benefícios para as pessoas e a comunidade onde a pesquisa se desenvolveu.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicia-se a apresentação dos resultados da consulta baseline dos pacientes
diabéticos do estudo, tanto do grupo de intervenção quanto do grupo comparativo.
Consoante proposto na Teoria de Alcance de Metas, as enfermeiras interagem com os
pacientes, colhem informações, observam e medem parâmetros destes, interpretam
informações (KING, 1981). Na Tabela 1, consta o perfil socioeconômico dos pacientes
diabéticos participantes do estudo.
Tabela 1: Perfil socioeconômico de pacientes com diabetes mellitus participantes do
estudo. Fortaleza-CE, 2013
Variável
Grupo de Intervenção
Grupo Comparativo
No
SEXO
Feminino
Masculino
IDADE
35 a 59 anos
60 a 79 anos
80 a 87 anos
ESTADO CIVIL
Casado
Viúvo
Solteiro/separado
ANOS DE ESTUDO
Analfabeto
1 a 5 anos
6 a 11 anos
TRABALHA
Sim
Não
n=60
1
%
No
%
p
0,542(1)
24
6
52,2
42,9
22
8
47,8
57,1
0,347(1)
10
15
5
55,6
46,9
50
8
17
5
44,4
53,1
50
0,118(1)
19
5
6
63,3
35,7
37,5
11
9
10
36,7
64,3
62,5
0,239(1)
7
11
12
43,8
42,3
66,7
9
15
6
56,2
57,7
33,3
0,448(1)
5
25
62,5
48,1
3
27
37,5
51,9
teste do qui-quadrado.
Como se pode evidenciar na Tabela 1, para as variáveis expostas, houve
diferença quanto à sua frequência nos grupos estudados, porém não foi estatisticamente
significante, pois p ≥ 0,05. Com base nos dados apresentados, pode-se observar o
seguinte:
Em relação à característica sexo, 46 (76,7%) dos participantes do estudo são do
sexo feminino; destes, 24 (52,2%) foram integrantes do grupo de intervenção e 22
(47,8%) participaram no grupo comparativo. Não houve diferença estatística
significante entre os dois grupos.
Resultado semelhante a esta investigação foi observado em outros estudos com
pacientes com diabetes mellitus nos quais a amostra foi predominantemente feminina.
No estudo de Marinho et al. (2012), encontraram-se 88,1% da amostra do sexo
feminino; em Torres et al. (2011), 77,8% da amostra obtida também eram do sexo
feminino; no de Torres, Roque e Nunes (2011), o sexo feminino foi identificado em
69,8%, além de 58% no estudo de Boas et al. (2012).
Em contraposição aos dados encontrados nesta pesquisa, a maior frequência de
diabetes segundo dados do Ministério da Saúde, na população adulta das 26 capitais e
do Distrito Federal, verificou-se no sexo masculino, com 8,3% em Fortaleza. Quanto ao
sexo feminino nesta cidade, referiram ser portadoras de diabetes 6,5% da população
acima de 18 anos. Sobre a frequência dos que referiram diagnóstico prévio de diabetes,
foi de 5,6%, variando entre 2,3% em Palmas e 7,3% em Fortaleza (BRASIL, 2012).
Cabe enfatizar: desenvolve-se uma política de saúde mais voltada para a
população feminina, em que se assiste a mulher na sua etapa reprodutiva. Acrescida a
estes aspectos está a realidade populacional do Estado do Ceará onde 51,3% da
população é feminina (BRASIL, 2010).
A faixa etária variou de 35 a 87 anos, com média de 67,2 ± 11,9 anos. Como se
percebeu, 42 (70,0%) dos pesquisados possuíam idade superior a 60 anos. Destes, 20
(33,3%) participaram no grupo de intervenção e 22 (36,7%) no grupo comparativo, mas
não houve significância estatística entre os dois grupos analisados. Embora o diabetes
possa ocorrer em qualquer fase, sua prevalência tende a aumentar com a idade.
Inegavelmente, o diabetes é um sério problema, capaz de atingir todas as faixas
etárias, e quando atinge faixas etárias menores, a pessoa conviverá durante muitos anos
com as comorbidades decorrentes da doença, a qual interfere na qualidade e na
expectativa de vida.
Em estudo multicêntrico sobre a prevalência do diabetes no Brasil, a influência
da idade foi evidenciada pelo incremento de 2,7% na faixa etária de 30 a 59 anos para
17,4% na de 60 a 69 anos, ou seja, um aumento de 6,4 vezes (DIRETRIZES, 2013).
Conforme dados do Ministério da Saúde, em ambos os sexos, o diagnóstico de
diabetes se tornou mais comum com o avançar da idade, para homens a partir de 45
anos e para mulheres a partir de 35 anos (BRASIL, 2012). Como consta em Torres,
Roque e Nunes (2011), segundo estudos nacionais e internacionais, o diabetes tem um
pico de incidência ao redor dos 50 anos de idade.
Ainda de acordo com estes autores, a predominância de diabetes ocorreu em
pacientes com mais de 60 anos de idade. Esta predominância também esteve presente no
estudo de Torres et al. (2011) onde a idade média dos pacientes foi de 60,9 ± 8,4 anos.
Tal resultado corrobora outro estudo com populações de diabéticos, a exemplo do
descrito por Rocha, Zanetti e Santos (2009) que apresentaram 56,4% da amostra com
idade superior a 60 anos.
O número de indivíduos diabéticos está em ascensão em virtude do crescimento
e envelhecimento populacional, da maior urbanização, da crescente prevalência de
obesos e sedentários, bem como da maior sobrevida dos pacientes diabéticos
(DIRETRIZES, 2013).
Nas palavras de Torres, Roque e Nunes (2011, p.92), “deve-se levar em
consideração a relação entre este envelhecimento e associação com a presença de
doenças crônicas não transmissíveis, em especial o diabetes, mais prevalente entre as
mulheres e as pessoas de maior idade”.
Diante desta problemática da população idosa acometida por diabetes, podem-se
ressaltar ainda as dificuldades e limitações inerentes à idade, quando o processo de
envelhecimento acarreta alterações físicas, psíquicas e sociais, com diminuição gradual
e progressiva da capacidade funcional, podendo comprometer o seguimento e o
tratamento do diabetes.
No referente ao estado civil, 30 (50,0%) eram casados. Como em outras
investigações sobre diabetes, a maioria é casada. No estudo de Marinho et al. (2012),
60,4% eram casados ou mantinham união estável; no de Boas et al. (2012), 70,4% eram
casados. Pode-se enfatizar também os viúvos do presente estudo, 14 (23,3%) da
amostra, o que condiz com Otero, Zanetti e Teixeira (2007), segundo os quais 18,5%
dos pacientes estudados eram viúvos. Ainda como enfatizam, isso pode constituir um
fator que interfere no tratamento de diabetes, porquanto, em alguns casos, a perda do
companheiro pode se associar a outras alterações, a exemplo de depressão, desânimo e
perda da vontade de viver.
Otero, Zanetti e Teixeira (2007) ressaltam que famílias estruturadas possibilitam
ambiente mais apropriado, como apoio ao paciente com diabetes, influenciando-lhe
fortemente o comportamento diante da doença, levando-o a colaborar para melhor
obtenção do controle metabólico.
Na pesquisa em foco, observou-se baixa escolaridade nos participantes. Nela a
escolaridade variou de analfabetos a onze anos de estudo, com média de 4,1 ± 3,2. A
predominância foi de 26 (43,3%), que tinham de um a cinco anos de estudo. Consoante
se percebe, esta realidade é semelhante à macrorrealidade brasileira e aos outros países
em desenvolvimento e aos subdesenvolvidos onde há uma precária educação. Existe,
portanto, uma parte considerável da população desprovida de acesso a esta ou, quando
têm acesso, a qualidade fica a desejar.
Esse cenário da realidade educacional do Brasil é explicitado no Censo de 2010
sobre a educação segundo o qual 9,6% da população brasileira de 15 anos ou mais de
idade era analfabeta. Na região Nordeste identificou-se a maior taxa de analfabetismo
nesta população, e no Estado do Ceará este indicador é de 17,2% (BRASIL, 2010).
No estudo de Torres, Roque e Nunes (2011), a escolaridade de ensino
fundamental incompleto foi encontrada em 49,2% dos pacientes; no de Marinho et
al.(2012), realizado em uma cidade no interior do Ceará, 39,4% cursaram o ensino
fundamental incompleto; no de Boas et al. (2012), a média de escolaridade foi de 5,4 ±
3,9 anos de estudo; para Miyar-Otero et al. (2010) prevaleceu o baixo nível de
escolaridade, pois 35,5% tinham ensino fundamental incompleto e 9,7% eram
analfabetos.
A baixa escolaridade é preocupante, em especial porque a formação escolar
básica é o fundamento para uma melhor compreensão do processo saúde-doença de
modo geral, e sobretudo para diabéticos, que requerem uma compreensão específica do
desenvolvimento da doença e como fator de risco para complicações agudas e crônicas.
Exigem-se, pois, mudanças nos comportamentos, atitudes e hábitos de vida da
população.
Quanto ao trabalho, a maioria, 52 (86,7%), não exerciam nenhuma atividade ou
eram aposentados. Esses dados estão congruentes com a idade dos sujeitos investigados.
Contudo, 8 (13,3%) ainda estão inseridos no mercado de trabalho. No estudo de Otero,
Zanetti e Teixeira (2007), 24,1% da sua população ainda desenvolvia atividades
laborais.
No presente estudo defende-se a ideia segundo a qual a orientação e o
conhecimento necessários para adesão ao tratamento do diabético dependem da
comunicação estabelecida na interação enfermeiro-paciente, utilizando-se uma
linguagem apropriada à realidade local da clientela.
Cabe enfatizar: para a randomização dos participantes do estudo, que ocorreu
aleatoriamente, as variáveis apresentam diferentes frequências, porém não são
estatisticamente significantes. Quanto aos fatores de risco, podem-se observar na Tabela
2 os que contribuem para complicações.
Tabela 2: Distribuição da frequência dos fatores de risco de pacientes com diabetes
mellitus participantes do estudo. Fortaleza-CE, 2013
Grupo de Intervenção
Grupo Comparativo
p
Variável
NO
%
NO
%
FUMA
Sim
1
14,3
6
85,7
0,44(1)
Não
29
54,7
24
45,3
BEBE
Sim
Não
3
27
50,0
50,0
3
27
50,0
50,0
1,00(1)
ATIVIDADE FÍSICA
Não
Sim
20
10
47,6
55,6
22
8
52,4
44,4
0,573(1)
PARTICIPA DE
GRUPOS
Não
Sim
23
7
53,5
41,2
20
10
46,5
58,8
0,390(1)
n=60 1teste do Qui-quadrado
Como se pode perceber, para as variáveis analisadas, há aspectos positivos do
estilo de vida dos diabéticos, tanto no grupo de intervenção quanto no grupo
comparativo. Consoante já comentado, essas diferenças entre os dois grupos não
denotaram significância estatística. Portanto, espera-se que não interfiram no
acompanhamento dos pacientes com base na Teoria de Alcance de Metas.
Em relação ao tabagismo, sete pacientes declararam-se fumantes, constituindo
11,7% da amostra da pesquisa. Destes, 1 (14,3%) participou no grupo de intervenção e 6
(85,7%) no grupo comparativo.
Sobre este aspecto, no grupo de intervenção, o paciente que referiu ser tabagista
fumava há mais de quarenta anos, e vinte cigarros/dia. No grupo comparativo, dois
pacientes fumavam cinco cigarros/dia; um, oito cigarros/dia; outro, quinze cigarros/dia;
e dois disseram fumar vinte cigarros/dia. Referente ao tempo, um relatou ser tabagista
há quatro anos, um há vinte anos e os outros quatro há mais de quarenta anos.
Conforme o estudo de Boas et al. (2012), o tabagismo foi encontrado em 6,2%
dos pacientes atendidos no serviço de ambulatório da atenção terciária. Urge, pois, a
cessação do fumo, tanto na prevenção primária como na secundária. Ainda como
afirmam, o fumo é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento e a
progressão da doença arterial obstrutiva periférica no paciente diabético (DIRETRIZES,
2013).
No presente estudo identificaram-se 8 (13,3%) pacientes que haviam parado de
fumar, cinco no grupo de intervenção e três no grupo comparativo. Já no estudo de
Otero, Zanetti e Teixeira (2007), 35,2% dos pacientes eram ex-fumantes.
Ademais, a prática de etilismo esteve presente em 6 (10,0%) dos pacientes,
sendo igualmente distribuídos nos dois grupos, 3 (50,0%) em cada um. No grupo de
intervenção, encontraram-se dois pacientes que faziam uso há mais de quarenta anos,
uma vez por semana, e um há mais de vinte anos, também uma vez por semana. No
grupo comparativo, um referiu beber há dez anos, duas vezes por semana; outro faz uso
de álcool há vinte anos, duas vezes por semana; e um tem o hábito há mais de quarenta
anos, e faz uso duas vezes por semana.
No estudo de Boas et al. (2012), realizado em um ambulatório de nível terciário,
o consumo de bebida alcoólica foi mencionado por 19,8% dos participantes. Na
pesquisa de Otero, Zanetti e Teixeira (2007), desenvolvida no interior de São Paulo, no
tocante ao álcool, 50% dos pacientes ingeriam bebidas alcoólicas, e a maioria (88,8%)
referiu fazer uso socialmente.
De acordo com as Diretrizes (2013), a ingestão excessiva de etanol (>30g/dia) é
associada com alteração da homeostase glicêmica, elevação da resistência insulínica e
pressão arterial, podendo também ser fator de risco para acidente vascular cerebral.
Ainda como refere, deve ser feita restrição total de bebidas alcoólicas a diabéticos
adolescentes, gestantes, lactantes, entre outros.
Quanto à atividade física, no início da pesquisa, 18 (30,0%) dos participantes já
a praticavam. Destes, 2 (3,4%) o faziam duas vezes por semana, 6 (10,0%) três vezes
por semana, 5 (8,5%) quatro vezes por semana e também 5 (8,5%) praticavam cinco
dias por semana. Dentre os praticantes de atividade física, 2 (3,4%) faziam há menos de
um ano, 8 (13,4%) entre um e quatro anos, 4 (6,6%) já a adotavam de cinco a oito anos,
e 4 (6,6%) há mais de dez anos. Entre os que praticavam alguma atividade física, 10
(55,6%) participaram no grupo de intervenção e 8 (44,4%) no grupo comparativo.
Ao tratar de hábitos de vida, como afirmam Otero, Zanetti e Teixeira (2007),
57,4% dos pacientes diabéticos usuários da atenção primária à saúde executavam algum
tipo de atividade física. No estudo de Boas et al. (2012), 55,5% dos participantes
mencionaram a prática de atividade física (regular ou esporadicamente).
Para Faria et al. (2013), é inquestionável o papel do exercício físico regular e do
seguimento do plano alimentar no controle do diabetes, bem como na prevenção de
complicações micro e macrovasculares. Como as Diretrizes (2013) reafirmam, existem
evidências consistentes dos efeitos benéficos da prática de atividade física na prevenção
e no tratamento do diabetes mellitus, principalmente nos grupos de maiores riscos, como
os obesos e os familiares de diabéticos. Também segundo a mesma fonte, a prática de
atividade física atua sobre o controle glicêmico e sobre outros fatores de comorbidades,
como a hipertensão e a dislipidemia, reduzindo o risco cardiovascular.
Ressalta-se, ainda: a prevenção da doença cardiovascular no diabetes está
associada ao tratamento de fatores de risco como: hipertensão, dislipidemia, obesidade,
tabagismo e sedentarismo (DIRETRIZES, 2013)
No tocante à religião, a mais prevalente foi a católica, 53 (88,3%) dos pacientes,
seguida por 7 (11,7%) evangélicos. Dos pacientes em estudo 17 (28,3%) disseram
participar de atividades de grupo. Destes, 7 (41,2%) estavam no grupo de intervenção, 1
(14,3%) participava de associação de moradores e 6 (85,7%) de grupos religiosos; no
grupo comparativo, 4(40,0%) participavam de atividades desenvolvidas pelos
bombeiros, 2(20,0%) de associação de moradores e 4 (40,0%) de grupos religiosos. Na
Tabela 3, expõe-se a distribuição da frequência dos pacientes segundo doenças e
complicações.
Tabela 3: Distribuição da frequência dos pacientes segundo doenças e/ou complicações
referidas pelos participantes do estudo. Fortaleza-CE, 2013
VARIÁVEL
Grupo de Intervenção
No
Grupo Comparativo
%
No
%
p
HAS
Sim
Não
24
6
52,2
42,9
22
8
47,8
57,1
0,542(1)
DISLIPIDEMIA
Sim
Não
13
17
50,0
50,0
13
17
50,0
50,0
1,000(2)
PÉ DIABÉTICO
Sim
Não
3
27
42,9
50,9
4
26
57,1
49,1
0,688(1)
AMPUTAÇÃO
Sim
Não
0
30
0,0
50,8
1
29
100,0
49,2
0,236(2)
RETINOPATIA
Sim
Não
9
21
42,9
53,8
12
18
57,1
46,2
0,417(1)
INSUFICIÊNCIA
RENAL
Sim
Não
0
30
0,0
50,8
1
29
100
49,2
0,236(2)
AVC
Sim
Não
1
29
50,0
50,0
1
29
50,0
50,0
1,000(2)
15
15
51,7
48,4
14
16
48,3
51,6
0,796(1)
ESTRESSE REFERIDO
Sim
Não
n=60
1
teste do qui-quadrado; 2 razão de verossimilhança.
Como observado, um dado negativo levantado na clientela estudada é que 46
(76,7%) são hipertensos. Destes, 1 (1,7%) referiu ter hipertensão há menos de um ano,
14 (23,3%) referiram tê-la entre um e cinco anos, 17 (28,3%) de seis a quinze anos e 14
(23,3%) há mais de dezesseis anos. Dos que apresentavam hipertensão, 24 (52,2%)
participaram no grupo de intervenção e 22 (47,8%) no grupo comparativo. Não houve
significância estatística entre os dois grupos.
Hipertensão arterial e diabetes mellitus são condições clínicas frequentemente
associadas. Cerca de 40,0% já se encontram hipertensos por ocasião do diagnóstico de
diabetes. Ressalta-se, pois, a importância do tratamento da hipertensão arterial nos
diabéticos, tanto para prevenção da doença cardiovascular quanto para minimizar a
progressão da doença renal e da retinopatia diabética (DIRETRIZES, 2013).
Na investigação de Sampaio et al. (2008), a hipertensão arterial foi a
comorbidade mais presente entre os indivíduos com diabetes 70,9% em comparação
com outras doenças associadas. Na de Otero, Zanetti e Teixeira (2007), 61,1% dos
pacientes apresentavam hipertensão arterial associada. Este achado é equivalente ao
encontrado no estudo de Faustino et al. (2011), onde 59,4% eram hipertensos.
Em Faria et al. (2009), a hipertensão arterial aparece como a principal
comorbidade em 56,5% dos pacientes diabéticos, seguida pela dislipidemia, 43,5%, e a
obesidade 41,3% dos pacientes.
Quanto às dislipidemias, foi relatada no presente estudo por 26 (43,3%)
pacientes, divididos igualmente nos dois grupos. Nas Diretrizes (2013), a dislipidemia é
um preditor expressivo de doença cardiovascular e deve ser rigorosamente tratada.
Ainda como expõe, o tratamento da hipertensão arterial e dislipidemia reduz
substancialmente o risco de complicações do diabetes mellitus.
De acordo com a pesquisa de Boas et al. (2012), entre as comorbidades de maior
frequência constaram as dislipidemias e a hipertensão arterial sistêmica. Consoante
Faria et al. (2013), as principais comorbidades identificadas foram a hipertensão arterial
em 81,3% dos pacientes usuários da atenção primária e dislipidemia em 32,4% destes
pacientes. Diferentemente destes dados, tem-se o estudo de Faustino et al. (2011), no
qual 2,0% dos participantes referiram dislipidemias.
Conforme divulgado, é evidente o impacto social e financeiro do diabetes
mellitus e se relaciona essencialmente com suas complicações, sobretudo aquelas que
acometem os membros inferiores. Nesta perspectiva, a pessoa com diabetes requer um
cuidado especial com os pés.
Segundo identificado no presente estudo, 7 (11,7%) dos pacientes referiram ter
ou já ter tido pé diabético. No Consenso Internacional de Pé Diabético, este é
conceituado como infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles associados a
alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica nos membros
inferiores. Como consta em Audi et al. (2011), na avaliação dos membros inferiores,
16% dos pacientes apresentavam úlceras ou amputações.
Nos países em desenvolvimento, a infecção é, ainda, a complicação mais
comum das úlceras, e grande parte destas pode ser tratada ambulatorialmente. As
pesquisas recentes expressam uma incidência entre 1,0% e 4,1%, e a incidência de
ulceração ao longo da vida nas pessoas com diabetes tem sido estimada em 25%, e 85%
das úlceras precedem as amputações (AUDI et al., 2011). Este binômio úlcera e
infecção constitui a causa mais comum de internações prolongadas, e concorre para
25% das admissões hospitalares nos Estados Unidos (DIRETRIZES, 2013).
Nos pacientes em estudo, 1 (1,7%) havia sofrido amputação, há três anos. Em
Laurindo et al. (2005), as amputações estavam presentes em 5,0% dos pacientes
atendidos no ambulatório do hospital da base de São José do Rio Preto (SP).
Quando se trata de diabetes, um problema de grande relevância é o aspecto
mutilador da amputação, pelo impacto socioeconômico global. A cada minuto, ocorrem
duas amputações em todo o mundo decorrentes do diabetes (DIRETRIZES, 2013).
Ressalta-se também a retinopatia diabética como uma das mais graves
complicações relacionadas ao diabetes mellitus. Como constatado, estava presente em
21 (35,0%) dos sessenta participantes do estudo. Esta complicação constitui a principal
causa de cegueira em pessoas com idade entre 20 e 74 anos. No Brasil, ainda não se tem
com exatidão a prevalência de retinopatia, mas sabe-se que, após vinte anos de doença,
mais de 90,0% dos diabéticos tipo 1 e 60% daqueles com tipo 2 apresentarão algum
grau de retinopatia. De acordo com estudos realizados em diferentes regiões do país, a
prevalência é de 24,0% a 39,0% (DIRETRIZES, 2013).
No estudo de Faria et al. (2013), quanto às complicações crônicas, a retinopatia
esteve presente em 37,8% e a cardiopatia em 20,3% dos diabéticos.
Já a nefropatia diabética foi identificada em 1 (1,7%) paciente, que há três anos
realizava hemodiálise, três vezes por semana. Esta complicação crônica do diabetes está
associada ao importante aumento de mortalidade, em especial relacionado com a doença
cardiovascular (DIRETRIZES, 2013).
Para Fráguas, Soares e Silva (2008), a doença renal crônica e o início do
tratamento de diálise englobam situações que comprometem os aspectos físicos e
psicológicos, com repercussões pessoais, familiares e sociais. Assim, é necessário
reaprender a viver num mundo permeado por procedimentos técnicos, consultas e
exames.
Para Zagury e Zagury (2009), quando o diabetes ocorre de forma isolada
predispõe o paciente a um alto risco para eventos cardiovasculares, entretanto, quando
esta comorbidade coexiste com a hipertensão, o risco de acidente vascular cerebral e
doença coronariana duplica e a ocorrência de estágios avançados da doença renal
aumenta 5 a 6 vezes.
No presente estudo, acidente vascular cerebral já acometeu 2 (3,3%) pacientes;
um em cada grupo de estudo. Segundo Zagury e Zagury (2009), a hipertensão, quando
está associada a diabetes, aumenta substancialmente o risco de acidente vascular
cerebral, retinopatia, nefropatia e doença coronariana.
Nos EUA, a doença arterial coronariana é uma causa importante de óbitos, e sua
primeira manifestação é o infarto do miocárdio ou a morte súbita, em cerca de 25,0%
dos pacientes diabéticos (DIRETRIZES, 2013). Na pesquisa ora exposta, nenhum
paciente tinha sofrido infarto agudo do miocárdio.
Ademais, 29 (48,0%) pacientes referiram enfrentar fatores estressantes, seja no
cotidiano familiar, seja nas situações de trabalho, seja no enfrentamento da doença.
Destes, 15 (51,7%) participaram no grupo de intervenção e 14 (48,3%) no grupo
comparativo.
As complicações crônicas do DM estão cada vez mais frequentes. Entre estas,
aumento do risco de doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos, úlceras,
amputações, retinopatia e nefropatia, em virtude de alterações nos níveis de glicose
(MASCARENHAS et al., 2011; RAO et al., 2010; MOREIRA et al., 2008;
BAINBRIDGE, 2008). No entanto, o diagnóstico precoce e um plano de prevenção
rigoroso podem ser eficazes para reduzir a quantidade de complicações nesta população.
Na Tabela 4, expõe-se a distribuição de doenças familiares dos participantes do estudo.
Tabela 4: Distribuição de doenças familiares dos pacientes participantes do estudo.
Fortaleza-CE, 2013
VARIÁVEL
Grupo de Intervenção
No
Grupo Comparativo
p
%
No
%
16
14
44,4
58,3
20
10
55,6
41,7
0,292(1)
11
5
50,0
35,7
11
9
50,0
64,3
0,693(1)
20
10
55,6
41,7
16
14
44,4
58,3
0,292(1)
10
9
1
58,8
52,9
50,0
7
8
1
41,2
47,1
50,0
FAMILIAR DIABÉTICO
Sim
Não
QUAL FAMILIAR DIABÉTICO
Pai/mãe
Irmãos
FAMILIAR HIPERTENSO
Sim
Não
QUAL FAMILIAR HIPERTENSO
Pai/mãe
Irmãos
Outros
n=60
1
0,930(2)
teste do qui-quadrado; 2razão de verossimilhança.
Consoante evidenciado, a história familiar e a obesidade parecem ter efeito
aditivo no risco de desenvolvimento de diabetes. Para diabetes gestacional e para
diabetes pós-transplante, a história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau é
considerada um fator de risco (DIRETRIZES, 2013).
Como observado, o diabetes mellitus referido como comorbidade em familiares
foi relatado por 36 (60,0%) dos pacientes do estudo. Destes, 16 (44,4%) estavam no
grupo de intervenção, e conforme relataram, 11 (50,0%) são pai/mãe, 5 (35,7%) irmãos;
no grupo comparativo foram 20 (55,6%). Destes, 11 (50,0%) são acometidos pai/mãe, 9
(64,3%) irmãos.
Em Otero, Zanetti e Teixeira (2007), 79,6% dos pacientes mencionaram diabetes
mellitus em familiares. No estudo de Faustino et al. (2011), foram identificados 54,5%
de casos de familiares com diabetes.
Cabe ressaltar: na infância, o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 deverá ser
feito considerando critérios clínicos como idade e sexo do paciente, presença de
obesidade e história familiar positiva para diabetes tipo 2. Segundo o Consenso da
Associação Americana de Diabetes (ADA), deverá submeter-se à triagem para diabetes
mellitus tipo 2 na infância toda criança obesa, que apresente dois ou mais dos fatores de
risco: história familiar com diabetes em parentes de primeiro e segundo grau; grupos
étnicos
de
risco,
como
índios
americanos,
afro-americanos,
hispânicos,
asiáticos/habitantes de ilhas do Pacífico; sinais de hipertensão arterial, dislipidemia,
síndrome dos ovários policísticos.
Na maioria dos pacientes, o diagnóstico de diabetes mellitus 2 poderá ser
baseado na clínica e no curso da doença. No entanto, este deve ser suspeito, sobretudo
nos pacientes adolescentes, negros, obesos, muitas vezes sem queixas clínicas, mas com
história familiar da doença presente (DIRETRIZES, 2013).
No estudo em foco, 36 (60,0%) pacientes afirmaram familiares terem
hipertensão arterial sistêmica. Destes, 20 (55,6%) participaram no grupo de intervenção
e, como relataram, 10 (50,0%) são pai/mãe, 9 (45,0%) irmãos e 1 (5,0%) outro familiar;
e no grupo comparativo foram 16 (55,6%). Destes, 7 (43,7%) são acometidos pai/mãe, 8
(50,0%) irmãos e 1 (6,3%) outro familiar.
Em Otero, Zanetti e Teixeira (2007), nos antecedentes familiares, a hipertensão
arterial foi referida em 72,2% dos pacientes. No estudo de Faustino et al. (2011), com
usuários da unidade básica de saúde da família na Paraíba, realizado com pacientes
obesos, foram citados no histórico familiar de morbidades, mencionadas por 81,6%
hipertensão arterial, por 73,8% obesidade, por 38,9% cardiopatas e por 2,0%
dislipidemias.
Ao investigar os antecedentes familiares, os dados encontrados estão em
concordância com a literatura que aponta como fatores de risco a hereditariedade e as
comorbidades para o surgimento de diabetes (BRASIL, 2004). Na Tabela 5, relacionamse o conhecimento e percepções dos pacientes diabéticos.
Tabela 5: Conhecimento e percepções dos participantes do estudo sobre o diabetes.
Fortaleza-CE, 2013
VARIÁVEL
Grupo de Intervenção
No
Grupo Comparativo
%
No
%
p
CONHECIMENTO
SOBRE A DOENÇA
Não
Sim
13
17
48,1
51,5
14
16
51,9
48,5
0,795(1)
DIFERENÇA POR
SER DIABÉTICO
Sim
Não
18
12
58,1
41,4
13
17
41,9
58,6
0,196(1)
RELACIONAMENTO
FAMILIAR
Ótimo
Estável
Difícil
7
22
1
43,8
55,0
25,0
9
18
3
56,2
45,0
75,0
0,438 (1)
n=60 1teste do qui-quadrado.
Consoante referido no processo de interação enfermeiro-paciente, da Teoria de
Imogene King, cada indivíduo traz seus conhecimentos, necessidades, percepções e
experiências pessoais que influenciam no processo para o alcance de metas (KING,
1981).
No tocante aos conhecimentos sobre diabetes mellitus, 27 (45,0%) dos pacientes
disseram saber o que é diabetes, suas complicações e forma de prevenção. Destes, 13
(48,1%) estavam no grupo de intervenção e 14 (51,9%) no grupo comparativo. Não
houve significância estatística entre os dois grupos.
Conforme Faria et al. (2013), quanto maior o tempo de diagnóstico do diabetes
mellitus, espera-se maior conhecimento sobre a doença, melhor entendimento e manejo
do esquema terapêutico e, consequentemente, maior adesão ao tratamento indicado. No
entanto, os profissionais de saúde devem ponderar com os pacientes idosos, pois pode
ocorrer declínio da capacidade cognitiva e motora, maior grau de dependência para as
ações de autocuidado, como tomada de medicamento e seguimento do plano alimentar e
de exercício físico.
De modo geral, o conhecimento é usado quando enfermeiras interagem com
pacientes numa variedade de sistemas de saúde. Neste processo de interação, trocam
ideias por meio da comunicação, seja verbal ou não verbal. Mas quando as metas são
incongruentes, os conflitos podem ocorrer e aumentar o estresse em ambas (KING,
1981).
Na investigação de Faria et al. (2009), o conhecimento do paciente em relação
ao medicamento do qual faz uso apresenta ligação direta com a compreensão da
importância e necessidade do tratamento.
Vários fatores influenciam no dia a dia das pessoas com diabetes, desde a
alimentação diferenciada, uso contínuo de medicação, dor em face de glicemia e/ou uso
de insulina, complicações agudas e crônicas, entre outros. Isto foi encontrado no estudo
quando mais da metade dos pacientes, 31 (51,7%), afirmaram sentir diferença no
cotidiano por serem diabéticos. Assim, prestar assistência a um paciente que luta contra
um problema de saúde ou se defronta com imprevistos no respeitante à saúde é o
primeiro propósito da enfermagem (KING, 1981).
A Teoria de Alcance de Metas embasa-se no pressuposto segundo o qual o foco
da enfermagem está nos seres humanos interagindo com seu ambiente (KING, 1981).
Logo, para se acompanhar os diabéticos é importante conhecer o ambiente onde estão
inseridos e sua estrutura familiar.
No tangente ao relacionamento familiar, 40 (66,7%) dos pacientes do estudo
referiram ter um relacionamento estável com os familiares, 16 (26,6%) mencionaram
um relacionamento ótimo e 4 (6,7%) uma convivência difícil com eles.
Um bom relacionamento com a família é sempre um fator positivo em qualquer
situação. Para Boas et al. (2012), as orientações recebidas por pessoas diabéticas podem
ser influenciadas pela família ou por outras pessoas significativas. Isto poderia levar a
maior adesão, tanto nas recomendações de dieta e exercício físico quanto no tratamento
medicamentoso. Ao mesmo tempo, há também a possibilidade de que essa influência
possa conflitar com as recomendações dos profissionais de saúde, dificultando a adesão.
Em King (1981), a comunicação é definida como um processo por meio do qual
a informação é dada de uma pessoa para outra, seja diretamente nos encontros face a
face, ou indiretamente, pelo telefone, televisão ou palavra escrita. A informação pode
ser transmitida entre enfermeira e paciente, enfermeira e famílias e enfermeira e outros
profissionais. Neste âmbito, a comunicação estabelece uma mutualidade entre
cuidadores e sujeitos do cuidado.
As pessoas com diabetes e seus familiares devem ser inseridas em programas de
educação nutricional, mediante conscientização da importância do autocuidado e da
independência quanto às decisões e atitudes referentes à sua alimentação para o controle
do diabetes (DIRETRIZES, 2013). Na Tabela 6, consta a distribuição das variáveis
relacionadas ao tratamento dos participantes do estudo.
Tabela 6 :Distribuição das varáveis relacionadas ao tratamento dos participantes do
estudo. Fortaleza-CE, 2013
VARIÁVEL
Grupo de Intervenção
No
%
Grupo Comparativo
No
p
%
CONFIA NO TRATAMENTO
Sim
Não
25
5
52,1
41,7
23
7
47,9
58,3
0,519(1)
13
17
43,3
56,7
17
13
56,7
43,3
0,302(1)
22
8
50,0
50,0
22
8
50,0
50,0
1,000(1)
8
12
3
0
3
0
0
4
50,0
50,0
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
80,0
8
12
1
3
1
1
3
1
50,0
50,0
25,0
100,0
25,0
100,0
100,0
20,0
22
8
44,9
72,7
27
3
55,1
27,3
0,095(1)
9
21
75,0
43,8
3
27
25,0
56,2
0,053(1)
18
12
52,9
46,2
16
14
47,1
53,8
0,602(1)
3
9
12
1
4
1
60,0
42,9
54,5
100,0
40
100,0
2
12
10
0
6
0
40,0
57,1
45,5
0,0
60
0,0
ADESÃO AO TRATAMENTO
Adere
Não adere
DIFICULDADE NO
TRATAMENTO
Sim
Não
QUAIS DIFICULDADES
Nega
Dieta
Dieta + medicamento
Dieta + medic+ ativ física
Dieta + atividade física
Dieta + outros
Atividade física
Outros
0,089(2)
FAZ USO CORRETO DA
MEDICAÇÃO
Sim
Não
MUDA DOSAGEM DO
MEDICAMENTO
Sim
Não
JÁ FICOU SEM TOMAR
MEDICAMENTO
Sim
Não
TRATAMENTO DEPENDE
DE
Dieta
Dieta + medicamento
Dieta + medic+ ativ física
Dieta + atividade física
Medicamento
Outros
n=60 1qui-quadrado; 2razão de verossimilhança.
0,551(1)
A percepção é a representação da realidade para cada ser humano; varia de
pessoa para pessoa. Busca sentido para as experiências de cada indivíduo, representa
sua imagem da realidade, e o comportamento do indivíduo é influenciado (KING,
1981).
No presente estudo, segundo observado, 48 (80,0%) dos pacientes referiram
confiar no tratamento. Destes, 25 (52,1%) no grupo de intervenção e 23 (47,9%) no
grupo comparativo.
Em Boas et al. (2012), a adesão ao tratamento não medicamentoso (dieta e
exercício físico) foi de 69,1% dos participantes e ao tratamento medicamentoso foi de
95,7% dos pesquisados.
Determinados fatores são enumerados na Teoria de Alcance de Metas como
comportamentos observáveis. Por exemplo, quando se pode ressaltar a motivação para
exercer algum controle sobre os eventos na situação para alcançar os objetivos, como
acordar meios para alcançá-los (KING, 1981).
Em relação à adesão ao tratamento, 30 (50,0%) afirmaram aderirem. Destes, 13
(43,3%) estavam no grupo de intervenção. Sabe-se que as dificuldades encontradas
pelos pacientes diabéticos envolvem a adesão à dieta prescrita ou sugerida, a
disponibilidade e uso de fármacos, a disponibilidade, interesse e condição clínica de
executar atividade física. Este é um item que requer mais atenção na teoria em estudo,
pois, na interação enfermeira-paciente, poderá se reverter este quadro e melhorar os
índices de adesão.
Quando se realizou a consulta baseline deste estudo, 44 (73,3%) dos pacientes
referiram dificuldades na realização do tratamento. E quando reveladas suas
dificuldades, destes, 24 (54,5%) confirmaram adesão à dieta, 4 (9,1%) adesão à dieta e
uso correto da medicação, 4 (9,1%) cumprimento da dieta e exercício físico, 3 (6,8%) só
à prática de atividade física e 3 (6,8%) tanto no uso da medicação quanto na dieta e
atividade física. E, ainda: 1 (2,3%) citou dieta e outros, e 5 (11,4%) outras dificuldades.
Ainda como observado neste estudo, dos que referiram dificuldades, a dieta só
ou associada a outros fatores foi citada por 36 (81,8%) dos pacientes. A segunda maior
queixa é quanto à prática de atividade física, mencionada por 10 (22,7%) pacientes, em
virtude de falta de tempo, falta de companhia, dificuldades de deambulação, falta de
locais adequados e de segurança na área.
Ao discutir percepção, King (1981) a define como cada representação da
realidade. Já a interação é um processo de percepção e comunicação entre pessoas e
entre pessoa e ambiente, por comportamentos verbais e não verbais, que são metadirigidos. Quando dois indivíduos estão juntos por um propósito, como uma situação de
enfermagem, eles se percebem, e percebem a situação. Fazem julgamentos, agem
mentalmente ou tomam uma decisão para agir. Nem todos os comportamentos são
diretamente observáveis, mas fazem-se inferências sobre o que cada um percebe e
pensa.
De acordo com a Tabela 6, há uma alta incidência de pacientes que na consulta
de enfermagem baseline referiram fazer uso correto da medicação prescrita, 49 (81,7%).
Este achado corrobora o estudo de Faria et al. (2013), no qual 84,4% dos pacientes
aderiram ao tratamento medicamentoso.
Ao comparar os dados do presente estudo com os obtidos na investigação de
Faria et al. (2009), observa-se que a falta de conhecimento acerca da terapia
medicamentosa tem causado forte impacto na saúde e na qualidade de vida,
principalmente naquelas pessoas com um ou mais agravos na saúde. Ademais, a
utilização incorreta do medicamento pode decorrer da falta de conhecimento. Portanto,
o paciente que conhece e compreende seu tratamento medicamentoso pode utilizá-lo
devidamente, embora isso não assegure necessariamente o uso correto, pois envolve
outros fatores.
No presente estudo, 12 (20,0%) dos pacientes disseram mudar a dosagem do
medicamento quando sentiam algum efeito diferente. Assim, referiram reduzir a
medicação ou até mesmo nem usá-la.
Na investigação de Faria et al. (2009), 39,1% dos participantes afirmaram usar
corretamente a dose dos medicamentos, 30,4% de forma parcialmente correta e 26,1%
de forma incorreta. Boas et al. (2012), em estudo desenvolvido em uma unidade
ambulatorial de nível terciário de Ribeirão Preto, quanto à adesão medicamentosa,
identificaram correlação inversa, porém de fraca magnitude, entre essa variável e
valores médios de pressão arterial diastólica.
Na consulta com os pacientes diabéticos participantes deste estudo, 34 (56,7%)
disseram não fazer uso contínuo da medicação por falta do produto. E a queixa mais
citada foi a falta de medicação nas unidades de atenção primária à saúde, por 82,4% dos
pacientes.
Diferentemente, consoante indicou o estudo de Araújo et al. (2012), 62,0% dos
entrevistados nas unidades básicas de saúde de Fortaleza nunca haviam interrompido o
tratamento farmacológico por falta de medicamentos.
Entre os fatores alegados dos quais depende o tratamento, 22 (36,7%) citaram a
dieta, com o uso da medicação e associada à atividade física, 21 (35,0%) a dieta
associada à medicação, seguidos de 10 (16,7%) que referiram apenas o uso da
medicação e 5 (8,4%) somente dieta.
Portanto, o medicamento foi mencionado por 53 (88,3%) dos pacientes seja só
ou associado a outro componente do tratamento, seguido pela dieta, por 49 (81,7%)
pacientes. Logo, eles sabem os fatores que influenciam no seu tratamento, no entanto,
isto não significa que aderem ao tratamento.
Esses dados convergem com outros das Diretrizes (2013). Segundo estas, a
educação para adultos mostra-se efetiva para melhorar os resultados clínicos e a
qualidade de vida a curto prazo.
No estudo de Faria et al. (2013), 84,4% dos pacientes aderiram ao tratamento
medicamentoso, 58,6% ao exercício físico e 3,1% ao plano alimentar. Apenas 1,4%
aderiu aos três componentes do tratamento. Para 47,7% dos pacientes observou-se a
adesão ao tratamento medicamentoso e exercício físico. Também se constatou que
43,0% aderiram a um único componente do tratamento e 6,2% a nenhum. Sobre a
distribuição das variáveis relacionadas aos hábitos alimentares dos participantes do
estudo, ve-se a Tabela 7.
Tabela 7: Distribuição das varáveis relacionadas aos hábitos alimentares dos
participantes do estudo. Fortaleza-CE, 2013
VARIÁVEL
DIETA EQUILIBRADA
Segue
Não segue
COME MAIS QUE AS
NECESSIDADES
Sim
Não
QUANTIDADE DE
AÇÚCAR
Normal
Pouco
Não usa
Grupo de Intervenção
No
%
Grupo Comparativo
No
%
p
22
8
46,8
61,5
25
5
53,2
38,5
0,347(1)
7
23
58,3
47,9
5
25
41,7
52,1
0,519(1)
17
9
4
77,3
32,1
40,0
5
19
6
22,7
67,9
60,0
USO DE ADOÇANTE
Sim
Não
25
5
46,3
83,3
29
1
53,7
16,7
0,085(1)
DOCES
Controla
Não controla
17
13
40,5
72,2
25
5
59,5
27,8
0,024(1)
COMIDAS PREPARADAS
COM AÇÚCAR
Café
Café e suco
Suco
Não
4
8
2
16
44,4
88,9
100,0
40,0
5
1
0
24
55,6
11,1
0,0
60,0
SAL
Normal
Pouco
Às vezes
9
19
2
52,9
46,3
100
8
22
0
47,1
53,7
0,0
23
7
50,0
50,0
23
7
50,0
50,0
1,00(1)
2
28
33,3
51,9
4
26
66,7
48,1
0,389(1)
8
9
5
2
4
2
40,0
47,4
62,5
28,6
100,0
100,0
12
10
3
5
0
0
60,0
52,6
37,5
71,4
0,0
0,0
USO DE SALEIRO À
MESA
Não
Sim
CONSUMO EXCESSIVO
DE GORDURA
Sim
Não
REFRIGERANTE POR
SEMANA
Nenhuma
1 vez
2 vezes
3 vezes
4 vezes
7 vezes
n=60
1
teste do qui-quadrado; 2razão de verossimilhança.
0,005(1)
0,014(2)
0,217(2)
0,051(2)
Inegavelmente, pacientes com diabetes sentem dificuldades de seguir as
orientações alimentares. Diante desta situação, deve-se considerar a percepção da
pessoa acerca da doença e como esta pode influenciar na melhoria do seu estado de
saúde e na adesão ao tratamento. Conforme mencionado, o papel pode ser definido
como uma série de comportamentos esperados das pessoas. Como profissional, o papel
da enfermeira é baseado em seus conhecimentos, habilidades e valores da profissão
(KING, 1981). Buscou-se, pois, incentivar a melhora dos comportamentos alimentares
dos pacientes em estudo
Destes pacientes, 47 (78,3%) afirmaram seguir uma dieta equilibrada. Eram 25
(53,2%) no grupo comparativo e 22 (46,8%) no grupo de intervenção.
No estudo de Otero, Zanetti e Teixeira (2007), 61,1% dos pacientes avaliados na
atenção básica disseram seguir o plano alimentar.
Quanto ao consumo maior que as necessidades, foi referido por 12 (20,0%) dos
participantes. O consumo frequente e excessivo de gorduras, açúcar e sal aumenta o
risco de doenças como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e doenças do coração
(BRASIL, 2008).
No quesito referente ao consumo de açúcar, 22 (36,7%) consumiam
normalmente o produto, 28 (46,7%) faziam pouco uso e 10 (16,6%) não usavam.
Quanto ao uso de adoçante, 54 (90,0%) dos pacientes responderam
afirmativamente e 6 (10,0%) negativamente, logo, não o consumiam em nenhuma
alimentação. No tocante ao consumo de doces, 42 (70,0%) disseram controlar a ingestão
de doces e 18 (30,0%) não conseguem controlá-la.
Sobre o preparo de alimentos com açúcar no cotidiano familiar, sobressaiu o uso
de açúcar no café por 9 (15,0%) dos pacientes, no café e suco, também por 9 (15,0%)
deles e somente no suco por 2 (3,3%). Contudo, 40 (66,7%) disseram não utilizar açúcar
no cotidiano familiar.
No tangente ao uso de sal, 17 (28,3%) o referiram como normal, 41 (68,4%)
usam em quantidade reduzida e 2 (3,3%) esporadicamente. Um ponto positivo
encontrado foi que 46 (76,7%) não têm a prática de colocar o saleiro à mesa, pois isto
induz ainda mais ao uso excessivo de sal. Como divulgado, “o povo brasileiro consome
mais de duas vezes o recomendado” (DIRETRIZES, 2013).
Sobre o consumo de gorduras, 54 (90,0%) disseram não fazê-lo excessivamente,
pois os níveis elevados de colesterol e triglicérides aumentam o risco de complicações
aos pacientes diabéticos.
Neste âmbito, a terapia nutricional tem sua importância reconhecida por
entidades científicas como um componente essencial para a adesão de estilo de vida
saudável. Nas estratégias nutricionais incluem-se a redução energética e de gorduras e o
limite da ingestão de bebidas alcoólicas. Ademais, a ingestão de gorduras saturada e
trans está positivamente associada a marcadores inflamatórios e inversamente à
sensibilidade à insulina (DIRETRIZES, 2013).
Sabe-se dos malefícios advindos dos refrigerantes, principalmente nos valores de
açúcar e sódio presentes. Quanto ao consumo de refrigerante, apenas 20 (33,3%)
responderam negativamente, 19 (31,7%) faziam uso uma vez por semana, 8 (13,3%)
duas vezes por semana, 7 (11,7%) três vezes por semana, 4 (6,7%) pacientes quatro
vezes por semana e 2 (3,3%) fazem uso diariamente. Dos que consomem tal bebida, 8
(20,0%) preferem refrigerante do tipo normal e 32 (80,0%) o tipo diet/light. Contudo,
produtos diet ou light também podem conter teores elevados de sódio Assim, é essencial
consultar as informações nutricionais nos rótulos (DIRETRIZES, 2013).
Esta prática deve ser sempre adotada, e somada à educação alimentar gera
afeitos positivos. Segundo Torres, Roque e Nunes (2011), o processo educativo é
fundamental para o autogerenciamento dos cuidados da doença, e auxilia na redução de
complicações crônicas do diabetes. Ainda como identificaram, a educação voltada para
a prevenção e o controle do diabetes é um desafio para os pacientes e para os
profissionais de saúde.
Para discussão dos problemas detectados na consulta baseline do presente
estudo, pode-se inferir que os pacientes diabéticos têm desafios quanto à adesão ao
tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso. Isto envolve a
necessidade de modificações positivas no estilo de vida adotado, ou seja, é preciso
ocorrer transações no processo interativo.
Vale ressaltar: na rotina da unidade de saúde em investigação, a consulta de
enfermagem é realizada a cada quatro meses. Entretanto, com o desenvolvimento deste
estudo, como os pacientes retornavam a cada 45 dias, contribuiu-se para uma maior
aproximação e avaliação das metas acordadas na interação. Defende-se a ideia segundo
a qual o encontro contínuo facilita a retomada das metas de saúde estabelecidas ao
longo das interações, como se mostra na Tabela 8.
Tabela 8: Resultados dos exames clínicos dos participantes do estudo. Fortaleza-CE,
2013
1a consulta
2a consulta
3a consulta
4a consulta
Mínima
100
100
90
110
Máxima
180
180
200
180
139,6 ± 20,3
138,2 ± 20,0
137,9 ± 22,8
137,1 ± 20,0
Mínima
70
70
60
70
Máxima
110
110
100
90
82,9 ± 9,8
84,6 ± 10,4
81,8 ± 11,9
77,5 ± 7,0
Mínima
66
74
98
72
Máxima
453
376
415
377
229,5 ± 110,3
217,6 ± 93,4
197,7 ± 79,2
167,0 ± 62,1
Mínima
80
80
90
90
Máxima
180
180
180
160
128,9 ± 21,8
127,9 ± 20,2
128,6 ± 19,6
130,0 ± 17,2
Mínima
60
50
50
50
Máxima
100
100
90
90
78,2 ± 11,2
76,1 ± 10,3
75,4 ± 10,0
78,9 ± 8,7
Mínima
78
106
80
78
Máxima
431
414
444
409
190,3 ± 88,4
199,9 ± 78,5
201,0 ± 89,7
211,4 ± 96,1
p
GRUPO DE
INTERVENÇÃO
n=28
PAS
Média(DP)
0,9471(1)
PAD
Média(DP)
0,0156(1)
GLICEMIA
Média(DP)
<0,0001(1)
GRUPO
COMPARATIVO
n=28
PAS
Média(DP)
0,8864(1)
PAD
Média(DP)
0,2342(1)
GLICEMIA
Média(DP)
1
teste de Friedman
0,0124(1)
Como se pode evidenciar na Tabela 8, ambos os grupos foram avaliados em
quatro consultas, quando foram acompanhados quanto aos valores pressóricos e
glicêmicos. Conforme mencionado, neste estudo empregou-se a Teoria de Alcance de
Metas, e para isso os pacientes foram divididos em dois grupos: grupo de intervenção e
grupo controle. Na teoria utilizam-se conceitos abstratos que podem ser divididos em
seres humanos, ambiente, saúde e sociedade, e quando são de conhecimento da
enfermeira, ajudam-na a entender que por meio das interações humanas, baseadas em
percepções, seres humanos desenvolvem atividades da vida diária em vários papéis.
Com a intenção de que cada paciente assuma seu papel no tratamento,
abordaram-se as transações, as quais, para a teoria em estudo, representam uma situação
da vida onde cada pessoa entra na situação como um participante ativo, e pode ser
modificada no processo dessa experiência. É um fluxo contínuo de eventos que, em
ordem sucessiva implica mudanças (KING,1981).
Quanto aos valores da pressão arterial sistólica (PAS), no grupo de intervenção,
a redução destes valores não foi estatisticamente significante. Caiu apenas 2,5 mmHg na
média das PAS, do início até o término do estudo, sempre ultrapassando o valor
recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para pacientes com DM. Ou seja,
apesar dessa diminuição, os valores da média não se mantiveram dentro dos padrões de
normalidade. Em relação ao valor mínimo, houve um leve aumento, comparando-se a
primeira com a última consulta, conforme mostra a Tabela 8.
De acordo com as Diretrizes (2013), a pressão arterial sistólica no paciente com
diabetes deve ficar abaixo de 130 mmHg, idealmente, abaixo de 120 mmHg. Ademais, a
associação de mais de um agente anti-hipertensivo pode ser necessária e recomendada
para se manter dentro dos valores desejáveis.
Nos valores da pressão arterial diastólica (PAD), houve diminuição
estatisticamente significativa, (p=0,0156), ao se comparar a primeira com a última
consulta, e a segunda consulta em relação à quarta (p=0,0047) também foi significante.
A redução verificada na média das PAD foi de 5,4 mmHg do início ao término do
estudo, mas ao final a média destes pacientes do grupo de intervenção apontava valores
de PAD dentro dos padrões recomendados pelas Diretrizes (2013) para pacientes com
DM. Nos valores da máxima da PAD, porém, houve uma redução de 20 mmHg, logo,
próximo ao recomendado. Em relação ao valor mínimo, manteve-se o mesmo, conforme
mostra a Tabela 8.
Os valores glicêmicos tiveram diminuição de 62,5 na média das glicemias, do
início ao término do estudo. Mas apesar dessa diminuição, os valores da média não se
mantiveram dentro dos padrões de normalidade. Quanto aos valores glicêmicos, houve
uma redução estatisticamente significativa. E quando comparada cada consulta com a
última, encontrou-se significância estatística em todas. No referente ao valor máximo,
houve redução de forma expressiva, como exposto na Tabela 8.
Observou-se, porém, que quantidade significativa da amostra manteve níveis
glicêmicos bem acima de 140 mg/dl nas quatro consultas efetivadas. Além disto,
segundo se constatou, a glicemia capilar média manteve-se elevada nesta amostra em
todos estes registros. No entanto, há de se considerar a redução gradativa nos valores da
glicemia capilar média e na máxima verificada nas consultas, que não foi capaz de
assegurar um adequado controle glicêmico dos pesquisados. Como este estudo foi
realizado em um curto espaço de tempo, esperava-se que nos meses seguintes se
atingiriam os valores idealizados. Consoante proposto, o controle glicêmico é melhor
avaliado e mais clinicamente fundamentado pela combinação dos resultados da
automonitorização domiciliar da glicemia e dos níveis de hemoglobina glicada
(DIRETRIZES, 2013).
Em relação ao grupo comparativo, encontrou-se o seguinte:
Nos valores da pressão arterial sistólica houve aumento nos valores mínimos e
médios da PAS, mas não foi significante estatisticamente. No valor mínimo encontrado
houve um acréscimo, passando de 80 para 90 mmHg, porém no valor máximo,
verificou-se uma redução de 180 para 160 na última consulta. Quanto à média
encontrada, sofreu um acréscimo de 1,1 mmHg da primeira para a última consulta.
Sobre os valores da pressão arterial diastólica, ocorreu diminuição não
estatisticamente significante entre os valores da PAD; nos valores da mínima da PAD,
houve uma redução de 10 mmHg, ficando nos padrões de ideal recomendados pelas
Diretrizes (2013). Para os valores da máxima da PAD, verificou-se também uma
redução de 10 mmHg, portanto, próximo ao recomendado. Quanto às PAD médias,
houve redução na segunda e na terceira consulta, mas na última esta média superou a
média do início do estudo.
Nos valores de glicemia no grupo comparativo da pesquisa observou-se um
aumento no valor mínimo da glicemia ao se comparar a primeira com a segunda
consulta, e um decréscimo em relação à terceira, finalizando o estudo com a glicemia
mínima igual à do começo deste. Em relação à glicemia máxima encontrada,
identificou-se um declínio na segunda consulta, mas na terceira houve um aumento,
ficando acima do valor do início do estudo. Na última, porém, este valor ficou abaixo do
máximo inicial, com redução de 22,0 mg/dl. Quanto à glicemia média, verificou-se uma
ascensão entre os valores de 21,1 mg/dl, e este acréscimo foi significante
estatisticamente.
No estudo de Boas et al. (2012), as médias da pressão arterial sistólica foram
140 mmHg (dp=22,4) e da diastólica 78 mmHg (dp=11,8). Em Sampaio et al. (2008), a
pressão arterial diastólica média obtida foi de 87 mmHg. Ou seja, pelo menos, metade
da amostra dos pacientes em estudo apresentavam PAD acima dos valores normais, e os
valores de média e mediana da glicemia foram considerados altos, 167mg/dl e 193
mg/dl.
No estudo de Miyar-Otero et al. (2010), com pacientes usuários de unidade
básica de saúde, onde foram acompanhados três meses, ao se comparar a PAS obtida no
início e no término do estudo houve uma redução na mediana em 2 mmHg, bem como
um decréscimo do valor máximo. No referente aos valores da PAD, observou-se uma
redução da média de 89 mmHg para 79,6 mmHg, bem como a redução do valor máximo
de 112 mmHg para 100 mmHg.
As variáveis foram analisadas no início e no final dos seis meses de coleta com
cada participante nos dois grupos a fim de subsidiar a comparação das mudanças no
estilo de vida dos diabéticos inseridos neste estudo de intervenção.
Consoante proposto, um programa de intervenções desenvolvido com pacientes
com diagnóstico de diabetes pode ser estruturado para propiciar ao indivíduo
conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias, objetivando capacitá-lo a entender e
a motivar-se a participar efetivamente do regime terapêutico no dia a dia (TORRES;
PEREIRA; ALEXANDRE, 2011).
Santos e Torres (2012) ressaltam a necessidade de reordenar as práticas
educativas em DM, e o desenvolvimento de metas de atuação nas ações educativas,
buscando estabelecer estratégias de promoção, prevenção e controle da doença.
A prática educativa constitui a melhor forma de conscientizar a pessoa com
diabetes sobre a relevância do autocuidado, na qual paciente e enfermeiro analisam a
melhor forma de controle do diabetes mellitus. Na Tabela 9 consta a análise das metas
propostas para o grupo de intervenção.
Tabela 9: Análise das metas propostas para o grupo de intervenção. Fortaleza-CE, 2013
METAS
10 retorno
20 retorno
30 retorno
ALC
NÃO
ALC
NÃO
ALC
NÃO
%
%
%
%
%
%
Iniciar uso de adoçante/
Retirar açúcar da dieta
10
90,9
01
9,1
11
84,6
02
15,4
12
85,7
02
14,3
Iniciar/reiniciar atividade
física
04
30,8
09
69,2
05
33,3
10
66,7
14
66,7
07
33,3
Fazer uso regular da
medicação/ insulina
02
66,7
01
33,3
04
100
00
07
100
00
Fazer controle alimentar
01
25,0
02
75,0
03
60,0
02
40,0
05
100
00
Reduzir consumo de
massas/ carboidratos
04
80,0
01
20,0
07
87,5
01
12,5
08
88,9
01
11,1
Aumentar ingesta de
frutas
02
66,7
01
33,3
04
100
00
05
100
00
Ingerir refrigerante
diet/light ou parar
04
80,0
01
20,0
06
85,7
01
14,3
06
85,7
01
14,3
Perder peso
01
50,0
01
50,0
03
75,0
01
25,0
03
75,0
01
25,0
Seguir consulta com
nutricionista
01
50,0
01
50,0
01
33,3
02
66,7
02
50,0
02
50,0
Reduzir valor glicêmico
02
66,7
01
33,3
04
100
00
03
100
00
Controlar fatores
estressores
01
33,3
02
66,7
00
04
100
03
60,0
02
40,0
ALC = meta alcançada; NÃO = meta não alcançada.
A Teoria de Alcance de Metas descreve a natureza das interações enfermeirapaciente que conduzem ao alcance de metas, na qual enfermeiras propositadamente
interagem com pacientes para mutuamente estabelecer metas, explorar e concordar com
meios para alcançá-las. Metas mútuas estão baseadas na avaliação da enfermeira no
respeitante aos problemas, distúrbios na saúde, suas percepções dos problemas.
Enfermeiras e pacientes compartilham informações para buscar o alcance das metas
(KING, 1981).
Ainda segundo a mesma fonte, uma teoria de alcance de metas é derivada de
sistemas abertos; nesta teoria, os principais elementos são manifestados no sistema
interpessoal no qual duas pessoas, que normalmente são estranhas, juntam-se na
organização do cuidado de saúde para ajudarem e serem ajudadas a manter um estado
de saúde que permite desenvolver os papéis. Um importante fator nas interações
enfermeiro-paciente é a percepção acurada, a qual representa o primeiro passo a
direcionar as metas mútuas, e examina meios para buscar o alcance de metas.
Nesta pesquisa, analisaram-se os pacientes do grupo de intervenção a partir das
metas traçadas em comum acordo nas consultas de enfermagem baseadas na Teoria de
Imogene King.
Como observado na consulta de enfermagem baseline, um paciente praticava
atividade física, fazia controle rigoroso da dieta e mantinha níveis glicêmicos
controlados. Traçou-se, então, como meta manter estas práticas, as quais foram
cumpridas pelo paciente nos três retornos.
Quanto à meta de iniciar o uso de adoçante/retirar o açúcar da dieta, foi
estabelecida em comum acordo com onze pacientes do grupo de intervenção. Destes, 10
(90,9%) mostraram resultado no primeiro retorno. A mesma meta foi determinada para
treze pacientes na segunda consulta. Destes, 11 (84,6%) referiram conseguir atingir a
meta traçada. Dos quatorzes para os quais foi traçada esta meta na terceira consulta, ao
retornarem, 12 (85,7%) conseguiram atingir. Isto é positivo, pois sabe-se das
dificuldades dos pacientes de retirar o açúcar da alimentação, mudar hábitos diários
pessoais e familiares e aderir a uma dieta mais restrita.
De acordo com Faria et al. (2013), mudanças comportamentais e adesão ao
tratamento medicamentoso são fundamentais para prevenção das complicações agudas e
crônicas. O profissional deve negociar prioridades, monitorar a adesão, motivar a
participação e reforçar o esforço do paciente no manejo do seu tratamento. Mesmo
quando há mudanças comportamentais e adesão ao tratamento medicamentoso, manter
o controle metabólico por longo tempo é difícil porque depende de vários componentes
envolvidos no tratamento do diabetes.
É inegável a importância da prática da atividade física no controle do diabetes,
mas sua adesão ainda está sendo lentamente alcançada pelos pacientes diabéticos. Neste
estudo, na primeira consulta traçou-se em comum acordo com os pacientes, como meta
a ser atingida, o início/reinício da prática de atividade física, com treze pacientes.
Destes, apenas 4 (30,8%) conseguiram cumprir a meta. Na segunda consulta foi
estabelecida com quinze pacientes. Já houve uma melhora na adesão, pois 5 (33,3%)
iniciaram/reiniciaram esta prática. Na última consulta, dos 21 participantes, 14 (66,7%)
cumpriram o proposto. São visíveis as dificuldades dos pacientes em adotar esta prática,
por não ser prioridade, por falta de incentivo ou até mesmo acomodação.
Para ampliar as atividades de promoção à saúde na atenção primária, criaram-se
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Na unidade onde foi realizada a
pesquisa esses núcleos tinham grupos de doenças crônicas com prática de caminhada,
mas com as mudanças de gestão ocorreu troca de profissionais, com consequente
suspensão dos trabalhos desenvolvidos.
Quanto aos que já praticavam atividade física, para dois pacientes traçou-se
como meta manter esta prática, a qual foi alcançada nos dois retornos seguintes; na
terceira consulta traçou-se a mesma meta para três pacientes, e estes conseguiram
atingi-la.
Na ótica de Faria et al. (2013), o profissional de saúde deve sistematizar sua
intervenção para o empoderamento dos pacientes. O acompanhamento de pacientes por
especialistas em diabetes, com orientações e metas exequíveis, é decisivo na redução da
glicemia, da hemoglobina glicada e tabagismo.
Evidentemente, o uso regular da medicação ainda é um desafio para a saúde,
principalmente nos pacientes diabéticos, e quando se refere ao uso de insulina isto se
acentua ainda mais. Dificuldades foram percebidas no decorrer deste estudo, sobretudo
na restrita dispensação de medicamentos na atenção primária. Em virtude da pouca
importância dada à medicação pelos pacientes, por seus sinais e sintomas não aparentes
e da baixa renda da população, muitos não priorizam a compra da medicação e ficam
sem usá-la. Neste estudo, uma das metas foi o uso regular da medicação oral ou insulina
pelos pacientes na atenção primária à saúde. Na primeira consulta este foi estabelecido
como meta para três pacientes. Destes, dois atingiram. Na segunda consulta estabeleceuse para quatro pacientes, e todos conseguiram cumpri-la. Na terceira consulta acordouse com sete pacientes, e todos também conseguiram cumpri-la. Portanto, quando o
paciente se sente corresponsável pelo tratamento, e no seu poder de empoderamento, os
índices de adesão melhoram.
Nos casos de uso irregular da medicação é fundamental se traçar estratégias de
intervenções individuais, com identificação das principais queixas referidas pelos
pacientes e apoio da equipe de saúde multiprofissional, para conseguir adesão ao
tratamento medicamentoso.
Para Faria et al. (2009), a informação clara e precisa quanto à utilização dos
medicamentos, advinda de profissionais de saúde qualificados, pode incentivar o
paciente de forma a motivá-lo para o autocuidado e para a adesão à terapêutica
medicamentosa. Diferentemente, a falta de conhecimento induz o paciente a utilizar o
medicamento de maneira incorreta. Contudo, uma abordagem compartilhada entre
paciente e profissional de saúde pode suprir essas lacunas de conhecimento.
No tratamento de diabetes, uma dieta equilibrada é o ponto mais questionado e
quase a totalidade dos pacientes do estudo referiram as dificuldades de adesão, em face,
sobretudo, dos custos da alimentação para este público. Neste estudo, traçou-se como
uma das metas o controle de alimentos hipercalóricos. Dos três pacientes atendidos na
primeira consulta, apenas um conseguiu atingir. Já na segunda consulta houve uma
significativa melhora, pois dos cinco pacientes com esta meta, três conseguiram cumprila, e com êxito, e no retorno da terceira consulta, os cinco referiram adesão à dieta
hipocalórica.
Cabe ressaltar: o emprego apropriado da linguagem na comunicação
profissional-paciente é um fator decisivo.No estudo de Torres, Roque e Nunes (2011), a
utilização de linguagem adequada ajuda os pacientes a planejar suas refeições, cumprir
os horários e o plano alimentar, além do incentivo à prática de atividades físicas. A
construção de novos conhecimentos pode levar à aquisição de comportamentos
preventivos e estímulo ao gerenciamento da sua doença. Portanto, o profissional
enfermeiro deve estar intimamente ligado aos recursos educativos, uma vez que o
processo de cuidar está atrelado à educação.
Ainda sobre os dados do estudo, os carboidratos, quando consumidos em
excesso, provocam ganho de peso, hiperglicemia, acúmulo de gordura. Com isso, na
primeira consulta traçou-se a redução do consumo como meta para cinco pacientes.
Destes, quatro conseguiram cumpri-la. Na segunda consulta, quando foi traçada para
oito pacientes, sete reduziram este consumo; já na terceira, para os nove pacientes aos
quais se propôs esta meta, oito a cumpriram.
Programas estruturados que enfatizam mudanças no estilo de vida, incluindo
educação nutricional, restrição de gorduras e energética, associadas à prática de
atividade física e monitoramento pelos profissionais de saúde, podem conduzir à perda
de peso a longo prazo (DIRETRIZES, 2013).
Sabe-se que a dieta da maioria dos brasileiros inclui muitos carboidratos, por
serem de baixo custo e maior facilidade de acesso, diferentemente da alimentação com
frutas e verduras, ainda consumidas de modo restrito.
O consumo de frutas ainda não é uma prática comum, principalmente nas
populações de baixa escolaridade. Na primeira consulta estabeleceu-se o aumento do
consumo como meta para três pacientes, e dois conseguiram atingi-la. Na segunda e
terceira consulta, esta foi cumprida por quatro e cinco pacientes, respectivamente.
Para o Ministério da Saúde, em nível nacional, recomenda-se o consumo de
maiores quantidades de frutas, legumes e verduras e menor quantidade de gorduras,
açúcares e sal, os quais têm implicações profundas na saúde e na qualidade de vida das
pessoas. O ideal são três porções de frutas por dia (BRASIL, 2008).
Nas Diretrizes (2013) recomenda-se fracionar o plano alimentar em seis
refeições, sendo três principais e três lanches. Quanto à forma de preparo dos alimentos,
deve-se dar preferência aos grelhados, assados, cozidos no vapor ou até mesmo crus.
Mas neste estudo, conforme percebido, alguns pacientes não seguiam esta indicação.
Diante disto, definiu-se como meta para dois pacientes aumentar os números de
refeições. Na primeira consulta, a meta foi atingida e mantida nos três retornos
seguintes.
Ressalta-se, ainda: o consumo de refrigerante é uma prática comum nos dias
atuais, pela sua facilidade de acesso, baixo custo e não divulgação dos riscos deste para
a saúde, por sua quantidade de açúcar, sódio, corantes, entre outros. Estabeleceu-se,
então, como meta o abandono total deste consumo ou pelo menos usar refrigerante
diet/light. Na primeira consulta esta foi traçada como meta para cinco pacientes. Destes,
quatro conseguiram atingi-la. Na segunda e terceira consulta foi em comum acordo
estabelecida para sete pacientes, e destes, seis a cumpriram nos retornos seguintes.
No presente estudo, também se enfocou a obesidade. Esta é uma realidade
mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde, no conjunto da população adulta das
27 cidades brasileiras, a frequência do excesso de peso foi de 48,5% e de obesos, 15,8%
(BRASIL, 2013). Na primeira consulta propôs-se a perda de peso como meta para dois
pacientes. Um alcançou. Na segunda e terceira consulta, propôs-se para quatro. Destes,
três conseguiram reduzir o peso nas consultas subsequentes.
Sabe-se da importância da equipe multidisciplinar e do papel do nutricionista no
apoio às equipes de Saúde da Família para acompanhamento dos pacientes diabéticos.
Apesar da implantação destas equipes, nem todas dispõem deste profissional. Por não
ser uma rotina o acompanhamento por este profissional, traçou-se como meta para dois
pacientes a consulta com o nutriconista, mas apenas um realizou. Na segunda consulta
de enfermagem, propôs-se a meta para três, e também apenas um realizou. Na terceira
consulta foi traçada para quatro pacientes, e dois conseguiram atingi-la.
Alcançar as metas propostas no tratamento de diabetes requer esforço da equipe
de saúde composta por educadores em diabetes mellitus, nutricionista especializado e a
pessoa com diabetes (DIRETRIZES, 2013).
Na atualidade, o atendimento do paciente com diabetes desenvolvido por uma
equipe multiprofissional tem como finalidade levá-lo a compreender a importância da
modificação do estilo de vida com vistas ao bom controle metabólico.
Em virtude de inúmeras fatores já mencionados, a hiperglicemia ou o mal
controle glicêmico ainda está presente em vários pacientes. No entanto, para melhorar
isto, por suas repercussões no futuro, estabeleceu-se como meta para pacientes com
hiperglicemia a redução desta. Na primeira consulta foi traçada para três pacientes, e
dois conseguiram reduzir; na segunda foi traçada para quatro pacientes, os quais a
cumpriram, e na terceira para três, que também a cumpriram.
Fatores estressores influenciam indiretamente no descontrole glicêmico,
referidos como problemas diários familiares ou de trabalho. Diante disto foi sugerido
sair do confronto com estes agentes agressores, mas somente um referiu melhoras no
primeiro retorno. No seguinte a meta não foi atingida por nenhum paciente, e no terceiro
retorno foi atingida por três.
Para King (1981), quando o estresse aumenta nos indivíduos interagindo numa
situação, seu campo perceptual é limitado e suas decisões diminuem em racionalidade.
Estes fatores podem levar à redução de interações e de estabelecimento de metas e
tornar inefetivo o cuidado de enfermagem.
Ainda como parte da reeducação dos hábitos das pessoas diabéticas, ressalta-se a
importância da água para nosso corpo. Como observado, um paciente referiu fazer uso
muito restrito de líquido. Propôs-se, então, como meta o aumento do consumo de
líquidos. Ele afirmou ter aumentado a ingesta e a manteve nos retornos seguintes.
O acompanhamento do diabético pelo profissional de saúde é uma das etapas do
tratamento de diabetes. No histórico de dois pacientes, estes sempre faltavam às
consultas. Traçou-se como meta o comparecimento de ambos no dia agendado da
consulta, e nos três retornos eles compareceram.
A hipertensão tem forte associação com o diabetes. Para dois pacientes que já
eram hipertensos e faziam uso normal de sal, estabeleceu-se como meta reduzir o
consumo de sal, objetivo atingido por eles nos três retornos.
No estudo de Faria et al. (2013), 84,4% dos participantes apresentaram adesão
ao tratamento medicamentoso, 58,6% ao exercício físico e 3,1% ao plano alimentar.
Apenas 1,4% aderiu aos três componentes do tratamento. Para 47,7% dos pacientes
observou-se a adesão ao tratamento medicamentoso e ao exercício físico. Também se
constatou que 43% aderiram a um único componente do tratamento e 6,2% a nenhum.
Conforme a pesquisa mostrou, os pacientes diabéticos para as quais foram
traçadas metas, e que cumpriram medidas terapêuticas e de autocuidado, obtiveram
resultados. É, pois, importante esta interação paciente-enfermeiro para os que não
aderem ao tratamento. Para King (1981), quando uma meta é alcançada em interações
enfermeira-paciente, significa que as transações foram valorizadas pela enfermeira e
paciente.
Para aumentar a adesão dos pacientes com DM, uma estratégia adotada é o
desenvolvimento pela equipe de saúde, em especial, por enfermeiras, de atividades
educativas no intuito de ampliar os conhecimentos do paciente sobre o controle da
doença, além da implementação de atividades de promoção da saúde. O paciente, a
família e a comunidade têm papel fundamental no controle do DM, já que as
complicações se relacionam com déficit de autocuidado e não adoção de medidas de
hábitos saudáveis de vida (MASCARENHAS et al., 2011).
Ao incluir a família no processo de cuidar nas necessidades do cotidiano, a
enfermeira colabora de forma ímpar na otimização dos recursos disponíveis para que a
pessoa adoecida gradativamente assuma a execução destes cuidados (MOREIRA et al.,
2008). A família, em particular, tem sua importância na formação de valores que
contribuem como um sistema de apoio relevante para o paciente. Para o seguimento do
tratamento dos pacientes com DM, os familiares ajudam com o apoio emocional, nos
momentos de impotência e diante dos desafios a enfrentar. Sobre os problemas
detectados no grupo comparativo, estão expostos na Tabela 10.
Tabela 10: Análise dos problemas detectados para o grupo comparativo. Fortaleza-CE,
2013
PROBLEMA
10 retorno
20 retorno
30 retorno
MELH
MANT
MELH
MANT
MELH
%
%
%
%
Sem problemas
01
25,0
03
75,0
00
04
100
00
04
100
Sedentarismo
02
14,3
12
85,7
03
18,8
13
81,3
06
37,5
10
62,5
Controle/perda de
peso
03
75,0
01
25,0
03
75,0
01
25,0
03
60,0
02
40,0
Sobrepeso/ obesidade
00
08
100
00
09
100
00
09
100
Hiperglicemia
00
04
100
01
16,7
05
83,3
01
14,3
06
85,7
Uso irregular da
medicação
00
02
100
04
100
00
04
100
00
Dieta excessiva
00
01
100
02
66,7
01
33,3
02
66,7
01
33,3
Uso de açúcar e doces
02
33,3
04
66,7
03
50,0
03
50,0
04
57,1
03
42,9
Uso habitual de fumo
(masca)
00
03
100
01
33,3
02
66,7
00
03
100
MANT
%
%
MELH = melhorou; MANT= manteve o problema.
Como observado, os participantes do grupo comparativo apresentaram melhora
nos problemas detectados. Acredita-se que com a interação e o acompanhamento mais
próximos ao paciente adotados na pesquisa e a maior frequência às consultas, mesmo
sem terem sido estabelecidas metas, ao saberem que estavam participando da pesquisa,
estes participantes mostraram maior adesão aos hábitos de vida saudáveis.
Em quatro pacientes do grupo comparativo não foram identificados
problemas/alterações no seu tratamento para diabetes, e estes se mantiveram estáveis no
decorrer das três consultas de enfermagem subsequentes. Mesmo no caso de pacientes
que já têm hábitos de vida saudável, é preciso incentivá-los a mantê-los.
Quanto ao sedentarismo, foi acompanhado como problema na primeira consulta
em quatorze pacientes. Destes, doze mantiveram o problema no primeiro retorno; já na
segunda consulta foi identificado em dezesseis, quando o problema permaneceu em
treze, e houve uma redução quando dos dezesseis identificados na terceira consulta, dez
continuaram sedentários.
Como descrito, sobrepeso e obesidade são uma epidemia mundial. Esta
comorbidade foi observada em oito pacientes na primeira consulta, que mantiveram na
consulta subsequente, e em nove, que na segunda e terceira consulta também a
mantiveram.
Nos pacientes identificados com altos valores glicêmicos, segundo se percebeu
nas consultas subsequentes, quatro mantiveram no primeiro retorno. Na segunda
consulta, dos seis presentes, cinco permaneceram acima dos padrões recomendados pelo
Ministério da Saúde no retorno seguinte. Em sete pacientes da terceira consulta, seis
ainda apresentaram hiperglicemia. Este resultado evidencia as dificuldades encontradas
pelos pacientes nas mudanças das práticas de atividades diárias. Mesmo com a
proximidade das consultas de enfermagem, quando seriam avaliados com mais
frequência, ainda não conseguiam reduzir os valores glicêmicos.
Em face dos seguintes motivos, a prática de uso irregular da medicação é
comum entre os pacientes diabéticos: o longo período de tratamento, as múltiplas
dosagens diárias, o custo para a população, pois a dispensação pelas unidades de
atenção primária à saúde estava cada vez mais precária. Neste grupo de estudo,
identificou-se, inicialmente, em dois pacientes, que continuaram a prática irregular na
consulta seguinte; já na segunda e terceira consulta, foi identificada em quatro
pacientes, mas ao retorno todos haviam melhorado.
Dieta excessiva foi percebida logo de início em um paciente deste grupo, que
manteve a prática; em três, na segunda consulta, e um continuou com esta prática. Na
terceira consulta foi observada também em três pacientes, e um manteve esta prática.
Sabe-se que o controle alimentar é uma dificuldade referida pela população em geral,
em virtude da grande oferta de alimentos industrializados com conservantes e de
alimentos gordurosos e calóricos. Ademais, o custo da alimentação para o paciente
diabético é mais elevado.
No tocante ao uso de açúcar, foi identificado na primeira consulta em seis
pacientes. Destes, quatro mantiveram esta prática; na segunda consulta foi identificado
nos mesmos pacientes, e três referiram ainda continuar fazendo uso. Na terceira
consulta foi observado em sete pacientes, dos quais três persistiram nela. Para a retirada
do açúcar da dieta, deve-se buscar a família como rede de apoio. Cabe-lhe incentivar o
paciente para esta prática.
Como parte do tratamento da pessoa diabética, incluem-se os hábitos
alimentares, os quais exigem maior esforço e motivação dos pacientes. O baixo
consumo de frutas é uma realidade da nossa população e foi constatado em um paciente,
e este o manteve durante os três retornos. Uma das recomendações do Ministério da
Saúde é o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras. Como mencionado, o
consumo de frutas deve ser de três porções por dia (BRASIL, 2008).
Ainda como observado, na segunda consulta constatou-se início de lesões nos
pés de um paciente, o qual, embora orientado sobre os cuidados com os pés, não aderiu
a estes. Na terceira consulta, também foi percebido em dois pacientes, e apesar de
reforçado o cuidado com os pés, nenhum deles seguiu o recomendado.
Quanto ao uso habitual de fumo, três pacientes referiram esta prática. No
primeiro retorno todos mantinham a prática; no segundo, apenas dois, mas ao
regressarem no terceiro retorno, os três estavam fumando. Sabe-se tratar-se de um vício,
e que muitos já o praticam há anos. Urge serem desenvolvidas políticas públicas
efetivas de apoio a estes pacientes para o abandono deste vício.
O uso de álcool foi mencinado por um paciente, e permaneceu em todos os seus
retornos. São evidentes os malefícios do álcool aos diabéticos, mas esta ainda é uma
prática comum na nossa clientela.
Segundo Torres, Roque e Nunes (2011), para o profissional de saúde trabalhar
educação em saúde de forma mais compreensiva e interventiva é importante seu
envolvimento com os pacientes, seus problemas, suas alegrias, o conhecimento do seu
cotidiano e da sua realidade social.
Para Faria et al. (2013), no cenário nacional e internacional, a não adesão ao
tratamento do diabetes mellitus é um problema conhecido pois prejudica a resposta
fisiológica à doença, a relação profissional-paciente, além de aumentar o custo direto e
indireto do tratamento.
Neste âmbito, a educação voltada para a prevenção e o controle em DM
apresenta um desafio, quer para os indivíduos, quer para profissionais de saúde, por
estar associada aos hábitos alimentares saudáveis, à adesão à prática de atividades
físicas e à promoção da saúde (TORRES; PEREIRA; ALEXANDRE, 2011).
Para as pessoas com DM, a educação em saúde deve ser implementada,
continuamente, integrando as ações de acolhimento, formação de vínculos, buscando
desenvolver a autonomia nas pessoas diabéticas, incluindo maneiras de compreender e
de lidar com a doença (PARKIN; DAVIDSON, 2009; MOREIRA et al., 2008).
Como parte das suas atividades, a enfermeira exerce papel essencial no cuidado
às pessoas, principalmente no estímulo ao autocuidado à saúde, no enfrentamento às
mudanças ocorridas no decorrer da doença. Cabe-lhe incentivar a melhoria do bem-estar
dos pacientes e aumentar a adesão ao processo terapêutico.
6 CONCLUSÃO
No presente estudo teve-se como um dos objetivos verificar a eficácia de
intervenções em enfermagem, fundamentada na Teoria de Alcance de Metas, na
melhoria do cuidado à pessoa com diabetes e na sua adesão ao tratamento. E ao final do
estudo, com base nesta teoria, pode-se afirmar que este objetivo foi alcançado, pois a
proposta da teoria promoveu melhor adesão dos pacientes diabéticos ao tratamento
sugerido em comum acordo com estes.
As variáveis de saúde acompanhadas e avaliadas durante o estudo permitem
afirmar a validade da Teoria de Alcance de Metas como meio que fundamenta o
cuidado de enfermagem ao paciente diabético no contexto da atenção primária à saúde.
Portanto, o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família pode utilizá-la como instrumento
de cuidado, com vistas a munir os profissionais com meios eficazes para a assistência ao
paciente diabético. Quando o paciente sente-se corresponsável por seu tratamento, atua
ativamente com poder decisivo nas possíveis mudanças para melhor adesão ao cuidado
proposto.
Ao comparar os resultados desta interação fundamentada na teoria empregada,
considera-se que a adesão dos pacientes ao tratamento proposto foi atingida, porquanto
os mesmos parâmetros foram gradativamente comparados entre os dois grupos (de
intervenção e comparativo), chegando-se à conclusão de que a fundamentação teórica
trouxe mais resultados positivos nos dados clínicos do paciente diabético.
A PAD e os valores glicêmicos das consultas do grupo de intervenção
mostraram redução destes, com significância estatística, p=0,0156 e p<0,0001,
respectivamente, comparados nas quatro consultas. E também, ao se observar a adesão
ao uso de adoçante, à prática de atividade física, ao controle alimentar e ao uso de
refrigerante light.
Perceberam-se algumas limitações relativas ao tempo de desenvolvimento da
pesquisa; à falta de estrutura na rede de apoio às equipes de Saúde da Família, quanto a
espaços sociais para desenvolver atividades físicas e de grupo; ao suporte da equipe
multiprofissional, na pessoa do nutricionista, para melhor adequação da dieta dos
pacientes; às questões culturais dos hábitos alimentares. Pode-se admitir também como
limitação a avaliação dos dois grupos ter sido realizada pela própria pesquisadora, a
qual empregou todos os esforços para evitar viés na avaliação dos grupos. Isto, porém,
não garante ter-se mantido imparcial.
Como identificado nos dois grupos do estudo, o acompanhamento mais
frequente e as consultas mais próximas aos pacientes diabéticos promoveram vigilância
positiva, já que, em face de maior interação de ambas, pôde-se melhor adequar as
estratégias de adesão ao tratamento proposto com consequente promoção da qualidade
de vida dos participantes diabéticos.
Nesta perspectiva, ante os resultados encontrados, finaliza-se este estudo com a
confiança de que o cuidado clínico de enfermagem favorece positivamente a clientela
diabética, com vistas a melhorar a assistência de enfermagem a ela direcionada.
REFERÊNCIAS
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Disponível em: http://www.diabetes.org
Acesso em: 12 mar. 2012.
ARAÚJO, M. F. M. et al. Readiness for enhanced self-health management among
people with diabetes mellitus. Acta Paul. Enferm., v.25, n.1, p. 133-39, 2012.
ASSUMPÇÃO, E. C. et al. Comparação dos fatores de risco para amputações maiores e
menores em pacientes diabéticos de um Programa de Saúde da Família. J. Vasc. Bras.,
v.8, n.2, p.132-138, 2009.
AUDI, E. G. et al. Avaliação dos pés e classificação do risco para pé diabético:
contribuições da enfermagem. Cogitare Enferm., v. 16, n. 2, p. 240-6, 2011.
BARROS, A. E.; SOUZA, E. N. Self-injection of insulin: attitudes of a group of
individuals with diabetes. Rev. Enfermagem UFPE On Line [REUOL], v. 5, n. 3,
2011.
BEZERRA, S. T. F.; SILVA, L. F.; GUEDES, M. V. C.; FREITAS, M. C. Percepção
de pessoas sobre a hipertensão arterial e conceitos de Imogene King. Rev. Gaúcha
Enferm., v. 31, n. 3, p. 499-507, 2010.
BOAS, L. C. G. V. et al. Relação entre apoio social, adesão aos tratamentos e controle
metabólico de pessoas com diabetes mellitus. Rev. Latino-am. Enfermagem, v. 20,
n.1, 08 telas, 2012.
BAINBRIDGE, K. E. et al. Mitigating case mix factors by choice of glycemic control
performance measure threshold. Diabetes Care, v. 31, n. 9, p. 1754-60, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Diabetes mellitus. Caderno de Atenção Básica n. 16. Série A. Normas
e Manuais Técnicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 64p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a
alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 210p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 2011:
vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico /
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde – Brasília (DF): Ministério da
Saúde, 2012. 132p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política de atenção ao diabetes no SUS. 2008.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br Acesso em: 12 mar. 2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Avaliação do
plano de reorganização da atenção à hipertensão e ao diabetes mellitus. Brasília
(DF): Ministério da Saúde, 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466 de 12 de
dezembro de 2012: diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres
humanos. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Plano de
reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus. Brasília:
Ministério da Saúde, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília:
Ministério da Saúde, 2011. 160p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de
Descentralização da Gestão da Assistência. Regionalização da Assistência à Saúde:
aprofundamento a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da
Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 108p.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Dados do Censo
Demográfico 2010.
CANESQUI A. M.; SPINELLI M. A. S. Saúde da família no Estado de Mato Grosso,
Brasil: perfis e julgamentos dos médicos e enfermeiros. Cadernos de Saúde Pública.
v.22, n.9, 2006.
CORDOVA, C. M. M. et al. Determinação das glicemias capilar e venosa com
glicosímetros versus dosagem laboratorial da glicose plasmática. J Bras Patol Med
Lab, v.45, n. 5, p. 378-84, 2009.
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3a
ed. Tradução LOPES, M. F. Porto Alegre: Artmed, 2010. 296p.
DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES – São Paulo: AC
Farmacêutica, 2013. 385p.
FARIA, H. T. G. et al. Fatores associados à adesão ao tratamento de pacientes com
diabetes mellitus. Acta Paul. Enferm., v.26, n.3, p. 231-37, 2013.
FARIA, H. T. G. et al. Conhecimento sobre terapêutica medicamentosa em diabetes: um
desafio na atenção à saúde. Acta Paul. Enferm., v.22, n.5, p. 612-7, 2009.
FAUSTINO, E. B. et al. Diabetes mellitus: busca ativa em portadores de obesidade.
Cogitare Enferm, v.16, n.1, p. 110-15, 2011.
FRÁGUAS, G.; SOARES, S. M.; SILVA, P. A. B. A família no contexto do cuidado ao
portador de nefropatia diabética: demandas e recursos. Esc Anna Nery Rev Enferm., v.
12, n.2, p. 271-7, 2008
GUEDES, M. V. C; ARAÚJO, T. L. Crise hipertensiva: estudo de caso com utilização
da classificação das intervenções de enfermagem para alcançar respostas adaptativas
baseadas no Modelo Teórico de Roy. Acta Paul. Enf., v.18, n. 3, p. 241-246, 2005.
HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica.
3 ed. Tradução DUNCAN, M. S. Porto Alegre: Artmed, 2008, 348p.
KING, J. M. A theory for nursing: systems, concepts, process. Tampa, Florida:
Delmar Publishers, 1981, 181p.
LAURINDO, M. C. et al. Conhecimento das pessoas diabéticas acerca dos cuidados
com os pés. Arq Ciênc Saúde, v. 12, n. 2, p. 80-4, 2005.
LEOPARDI, M. T. Teoria e método em assistência de enfermagem. 2. ed.
Florianópolis: Soldassoft, 2006. 396p.
LYRA, R. et al. Prevalência de diabetes melito e fatores associados em população
urbana adulta de baixa escolaridade e renda do sertão nordestino brasileiro. Arq. Bras.
Endocrin. Metab., v.54, n.6, p.560-566, 2010.
MARINHO, N. B. P. et al. Diabetes mellitus: fatores associados entre usuários da
Estratégia Saúde da Família. Acta Paul. Enferm., v.25, n.4, p. 595-600, 2012.
MASCARENHAS, N. B. et al. Sistematização da assistência de enfermagem ao
portador de diabetes mellitus e insuficiência renal crônica. Rev Bras Enferm., v. 64,
n.1, p. 203-8, 2011.
MESSMER P.; PALMER J. In honor of Imogene M. King. Reflections on Nursing
Leadership Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International. Primeiro
trimestre de 2008.
MIYAR-OTERO, L .et al. Seguimento de pacientes com diabetes mellitus em serviço
de atenção básica: parâmetros clínicos e laboratoriais. Rev. Enferm. UERJ, v.18, n. 3,
p. 423-428, jul./set. 2010.
MOREIRA, R.C. et al. Vivências em família das necessidades de cuidados referentes à
insulinoterapia e prevenção do pé diabético. Rev Gaúcha Enferm., v. 29, n. 2, p. 28391, 2008.
NOGUEIRA, A. M.T. et al. Estudo multidimensional de idosos diabéticos atendidos
em ambulatório do Sistema Único de Saúde. Rev. Enferm. UERJ, v.18, n.1, p. 25-31,
jan./mar. 2010.
ORTIZ, M. C. A.; ZANETTI, M. L. Levantamento dos fatores de risco para diabetes
mellitus tipo 2 em uma instituição de ensino superior. Rev. Latino–am. Enfermagem,
v.9, n.3, p.58-63, 2011.
OTERO
L.
M.;
ZANETTI
M.
L.;
TEIXEIRA
C.
R.
S.
Características
sociodemográficas e clínicas de portadores de diabetes em um serviço de atenção básica
à saúde. Rev. Latino-am. Enfermagem, v.15, n.especial, 2007.
PARKIN, C. G.; DAVIDSON, J. A. Value of self-monitoring blood glucose pattern
analysis in improving Diabetes outcomes. J Diabetes Sci Technol., v. 3, n. 3, p. 500-8,
2009.
POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de
evidências para a prática da enfermagem. 7 ed. Tradução SALES, D. R. Porto Alegre:
Artmed, 2011. 669p.
RAO, A. et al. Individuals achieve more accurate results with meters that are codeless
and employ dynamic electrochemistry. J Diabetes Sci Technol., v. 4, n. 1, p. 145-50,
2010.
RIBEIRO, R. S. Impacto do rastreamento e monitoramento de glicemia capilar na
detecção de hiperglicemia e hipoglicemia em pacientes não graves internados. Einstein,
v.9, n.1, p.14-17, 2011.
ROCHA, M. R.; ZANETTI, M. L.; SANTOS, M. A. Behavior and knowlege: basis for
prevention of diabetic foot. Acta Paul. Enferm., v. 22, n. 1, p. 17-23, 2009.
ROSA, W. A. G.; LABATE, R. C. Programa saúde da família: a construção de um novo
modelo de assistência. Rev. Latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 13, n. 6, p.
1027-34, nov./dez. 2005.
SAMPAIO F. A. A. et al. Avaliação do comportamento de promoção da saúde em
pacientes com diabetes mellitus. Acta Paul. Enferm., v.21, n.1, p. 84-8, 2008.
SANTOS, L.; TORRES, H.C. Práticas educativas em diabetes mellitus: compreendendo
as competências dos profissionais da saúde. Texto Contexto Enferm., v.21, n. 3, p.57480, 2012.
THAINES, G. H. L. S. et al.; A busca por cuidado empreendida por usuário com
diabetes mellitus – um convite à reflexão sobre integralidade em saúde. Texto Contexto
Enferm, v.18, n.1, p. 57-66, 2009.
TORRES, H. C. et al. Intervenção educativa para o autocuidado de indivíduos com
diabetes mellitus. Acta Paul. Enferm., v.24, n.4, p. 514-19, 2011.
TORRES, H. C.; PEREIRA, F. R. L.; ALEXANDRE, L. R. Avaliação das ações
educativas na promoção do autogerenciamento dos cuidados em diabetes mellitus tipo
2. Rev Esc Enferm USP, v.45, n.5, p.1077-82, 2011.
TORRES H. C.; ROQUE C.; NUNES C. Visita domiciliar: estratégia educativa para o
autocuidado de clientes diabéticos na atenção básica. Rev. Enferm. UERJ, v.19, n.1, p.
89-93, 2011.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
VASCONCELOS, F. F. et al. Associação entre diagnósticos de enfermagem e variáveis
sociais/clínicas em pacientes hipertensos. Acta Paul. Enferm., v. 20, n.3, p. 326-332,
2007.
ZAGURY L.; ZAGURY R. L. Tratamento atual do diabetes mellitus. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
ZANONI, P.H. et al. Curso de imersão em diabetes como técnica educativa para
profissionais médicos. Arq Bras Endocrinol Metab., v. 52, n. 3, p. 355-9, 2009.
APÊNDICES
APÊNDICE A – FORMULÁRIO 1a Consulta de Enfermagem
DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Nome:__________________________________________________________
Sexo: ( ) Feminino ( )Masculino Idade: ____________ Cor: __________
Estado civil:______________ Anos de estudo:___________________
Atividade profissional ( ) Sim ( ) Não ( ) Aposentado
Profissão do ativo: __________________
Número de pessoas que residem em sua casa: __________________________
Renda mensal:___________
Renda familiar:__________________
Religião: ( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Outra ______________
DADOS FAMILIARES
Hipertensão arterial ( ) ____________ Diabetes mellitus ( ) ____________
Doença cardiovascular ( ) _______________
Outras doenças:____________________________
DADOS SOBRE A SAÚDE
Ano do diagnóstico do DM _____________
Tratamento não medicamentoso ( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Tratamento medicamentoso ( )Glibenclamida ( )Metformina ( )Glicazida ( )Insulina NPH
( )Insulina regular ( )Insulina lantus ( )Glimepirida ( )Clorpropamida ( )_______________
Presença de Hipertensão Arterial ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe
Presença de Colesterol alto ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe
Presença de Triglicerídeos alto ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe
Há quanto tempo faz tratamento medicamentoso: ______
Confia no tratamento medicamentoso ( ) Sim ( ) Não.Por quê?
Já ficou sem medicamento ( ) Não ( ) Sim. Por quê?
Tem conhecimento sobre a doença ( )Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
ESTILO DE VIDA
Atividade física ( ) Não ( ) Sim. Realiza quantas vezes por semana? ( ) 2 ( )3 ( )4
Há quanto tempo faz regularmente? _____________
Mobilidade física ( ) Normal ( ) Prejudicada
Já sofreu queda ( ) Não ( ) Sim. Houve fratura?
Tabagismo ( ) Sim ( )Não ( ) parou. Há quanto tempo? _______Quantos cigarros por dia? _____
Uso de bebidas alcoólicas ( ) Sim ( ) Não ( ) Parou. Há quanto tempo? ____________Quantas
vezes por semana? ________
Considera-se estressado ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe analisar
COMORBIDADES:
Amputação por diabetes ( ) Onde: _______________ Há quanto tempo?_____________
( )Pé diabético ( ) Retinopatia diabética ( ) Doença renal ( ) Hipertensão arterial ( )
Infarto agudo do miocárdio ( ) Acidente vascular cerebral ( ) Insuficiência cardíaca ( ) Outras
coronariopatias ( )________________________
DADOS ANTROPOMÉTRICOS / LABORATORIAIS
Peso (em kg) ______ Altura (em metros) __________ IMC ___________
Circunferência abdominal ____ Circunferência quadril _____
Frequência cardíaca _________
Níveis pressóricos nas consultas de enfermagem
1-Ótima 2-Normal 3-Limítrofe 4-HA leve 5-HA moderada 6-HA grave 7-Sistólica isolada
P.A. ____________________________ Data _________________ Classificação________
P.A. ___________________________ Data _________________ Classificação________
P.A. ____________________________ Data _________________ Classificação________
P.A. ____________________________ Data _________________ Classificação________
Níveis glicêmicos nas consultas de enfermagem
Glicemia (mg/dl) __________________ Data _________________ Jejum ( ) Pós ( )
Glicemia (mg/dl) __________________ Data _________________ Jejum ( ) Pós ( )
Glicemia (mg/dl) __________________ Data _________________ Jejum ( ) Pós ( )
Glicemia (mg/dl) _________________ Data _________________ Jejum ( ) Pós ( )
PERCEPÇÃO/ACOMPANHAMENTO GERAL DA SAÚDE
Como está sua saúde: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
O diabetes interfere na sua vida: ( ) Não ( ) Sim. Em quê? _______________________
______________________________________________________________________
Como percebe sua adesão ao tratamento: ( ) Total ( ) Parcial ( ) Não adere
Você acha que seu tratamento depende de que: ( ) Dieta ( ) Medicamento ( ) Atividade
física ( )____________
Muda dosagem por conta própria? ( )Não ( )Sim. Por quê?
Você percebe alguma diferença no seu dia a dia por ser diabético: ( ) Não ( ) Sim.
Quais? ________________________________________________________________
Você tem dificuldades na adesão do seu tratamento: ( ) Não ( ) Sim. Quais? ( ) Dieta
( ) Medicamento ( ) Atividade física ( ) _________
Faz uso correto da medicação: ( ) Sim ( )Não
SELF / IMAGEM CORPORAL
Como você se percebe? ______________________________________________
Condições da pele: ( ) Normal ( ) Ressecada
Condições do cabelo: ( ) Normal ( ) Alterado
Lentes corretivas: ( ) Sim ( ) Não
Mucosa oral: ( ) Normal ( ) Alterada
Dentição: ( ) Normal ( ) Ausente parcialmente ( ) Ausente totalmente
Unhas: ( ) Normais ( ) Alteradas
Edema nos MMII: ( ) Ausente ( ) Presente
Realiza cuidados com os pés: ( ) Sim ( )Não
Dormência nas mãos: ( ) Sim ( ) Não
Dormência nos pés: ( ) Sim ( ) Não
TEMPO
Como administra seu tempo para desenvolver atividades para controle do diabetes:
_________________________________________________________________
INTERAÇÕES HUMANAS
Como é seu relacionamento com seus familiares: ( )Ótimo ( )Estável ( )Difícil ( ) _____
O que sua família pode fazer por você?______________________________________
Quais as contribuições da sua família no seu tratamento: _________________________
Como é o uso de sal por seus familiares: ______________________________________
______________________________________________________________________
Como é o uso de açúcar por seus familiares: _________________________________
As comidas já são preparadas com açúcar: ( ) Café ( ) Suco ( )
Consumo de refrigerantes por semana: ( ) Diário ( ) 3 ( ) 4. Este é ( ) Normal ( ) Light
Participa de grupos sociais ou religiosos: ( ) Não ( ) Sim. Qual? ( ) Bombeiros/ Ativ.
física ( ) Associação ( ) Religioso ( )______________________
Alguma parte do seu tratamento não é permitida pela sua igreja ( ) Não ( ) Sim. Qual?
_______________
PAPÉIS E RELACIONAMENTO
Qual seu papel no seu tratamento: ___________________________________________
______________________________________________________________________
Qual a contribuição dos profissionais de saúde no seu tratamento: _______________
______________________________________________________________________
Qual a participação da enfermagem no seu tratamento:________________________
______________________________________________________________________
Qual
a
participação
da
enfermeira
no
seu
tratamento:______________
______________________________________________________________________
NUTRIÇÃO E METABOLISMO
Dieta: ( ) Equilibrada ( ) Não segue
Ingestão de alimentos maior que as necessidades: ( ) Não ( ) Sim
Número de refeições diárias ( ) 3 ( ) 4 ( ) 6 ( )______
Ingestão de água/ dia (
) Copos de água por dia
Ingestão de açúcar ( ) Sim ( ) Não
Ingestão de adoçante ( ) Sim ( ) Não
Doces ( ) Controla ( ) Consome moderadamente ( ) Consome muito
Ingestão de sal ( ) Pouco ( ) Normal
Uso de saleiro na mesa ( ) Sim ( ) Não
Consumo excessivo de gordura ( ) Sim ( ) Não
Deglutição ( ) Normal ( ) Prejudicada
Ingestão de frutas/dia: ____ vezes
Ingestão de pão/dia: ____ vezes
Ingestão de bolo/semana: ____ vezes
Ingestão de carne vermelha/dia: ____ vezes
ELIMINAÇÕES
Incontinência urinária ( ) Sim ( ) Não
Infecção urinária de repetição ( ) Sim ( ) Não
Constipação ( ) Sim ( ) Não
Diarreia ( ) Sim ( ) Não
SONO E REPOUSO
Número de horas de sono por dia? ____ horas
Padrão de sono: ( ) Contínuo ( ) Acorda às vezes ( ) Acorda várias vezes
Acorda à noite para ir ao banheiro? ( ) Não ( ) Sim. Quantas vezes?______
Ronco ( ) Não ( ) Sim
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Estamos convidando V.Sa. a participar da pesquisa intitulada CUIDADO DE
ENFERMAGEM NA INTERAÇÃO ENFERMEIRA-PESSOA COM DIABETES,
FUNDAMENTADO NA TEORIA DE ALCANCE DE METAS DE KING, cujo objetivo é
verificar a eficácia de uma intervenção em enfermagem, fundamentada na Teoria de
Alcance de Metas, na melhoria do cuidado à pessoa com diabetes e na sua adesão ao
tratamento.
O (a) senhor (a) terá plena liberdade para aceitar ou não o convite para participar, assim
como de permanecer ou não no estudo sem nenhum prejuízo para seu atendimento neste
serviço. Sua participação será respondendo algumas perguntas, permitindo que a
pesquisadora examine seu corpo e verifique sua pressão arterial, seu peso, sua altura,
sua cintura e glicemia capilar.
Os riscos do estudo são mínimos, pois os dados da pesquisa serão coletados por meio de
entrevista e medidas da pressão arterial, peso, altura, circunferência da cintura e
glicemia capilar, e se ocorrer alguma intercorrência a pesquisadora estará atenta para
resolvê-la. Não haverá pagamento por sua participação, assim como o (a) senhor(a) não
terá nenhum gasto com o estudo.
Como benefícios, garantimos que o estudo contribuirá para que a enfermagem possa
ajudar o paciente com diabetes a enfrentar as barreiras impostas pela doença por meio
de uma melhor assistência.
Garantimos sigilo sobre sua identidade e as informações prestadas serão utilizadas
exclusivamente para os fins deste estudo. Os resultados serão enviados à sua unidade de
saúde como subsídio para a melhoria da prestação de serviço e posteriormente serão
publicados em revistas científicas e apresentados em eventos científicos da área.
Este termo será preenchido em duas vias, uma para o pesquisado e a outra para o
pesquisador.
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa, favor se comunicar com a
pesquisadora responsável pelo telefone: 3433.2737/8843.2725 ou no Campus do Itaperi
– UECE, ainda, com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará
pelo telefone 3101. 9890
Atenciosamente
Eline Saraiva Silveira Araújo
Eu, ____________________________________________, declaro que depois de ser
esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar
voluntariamente da pesquisa.
Fortaleza, ______ de ______________ de ______
_______________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
_______________________________
Assinatura ou Digital do Pesquisado
____________________________________________________
Assinatura de quem recebeu o Consentimento
ANEXO