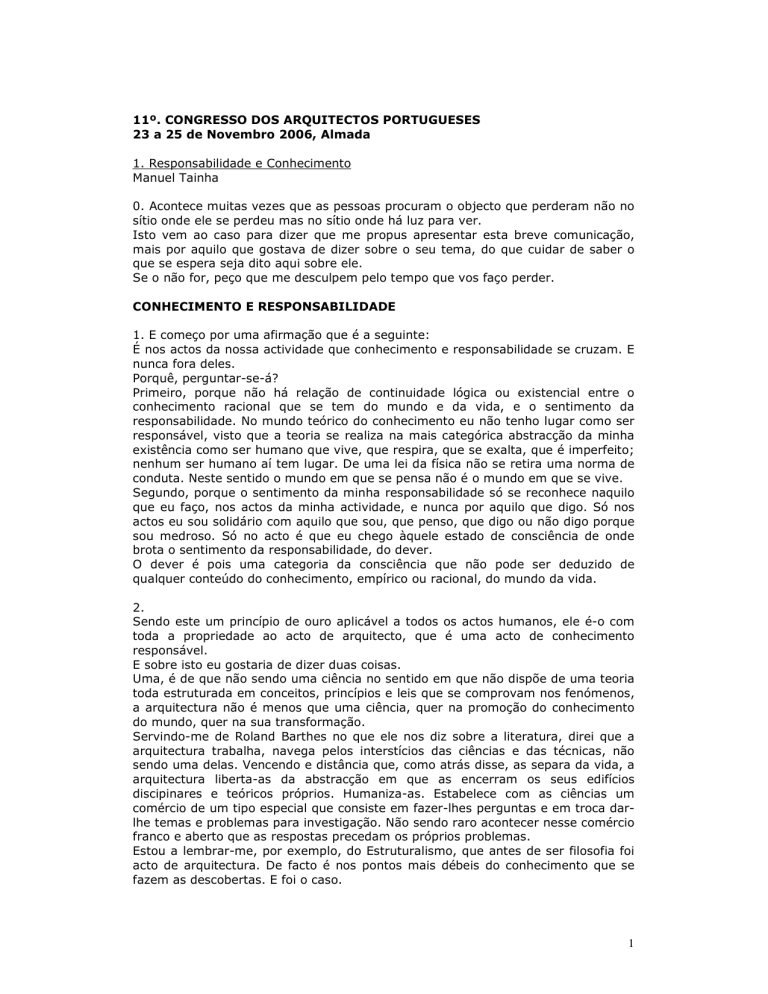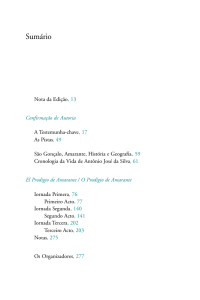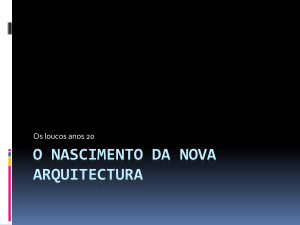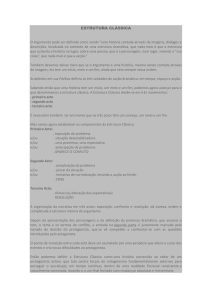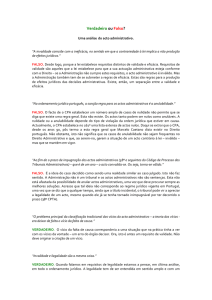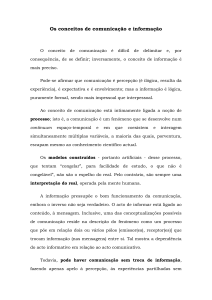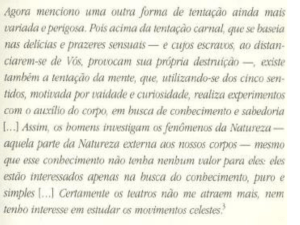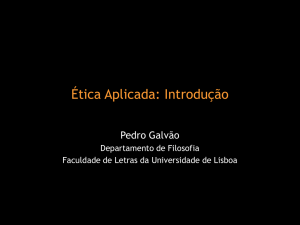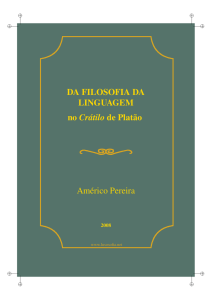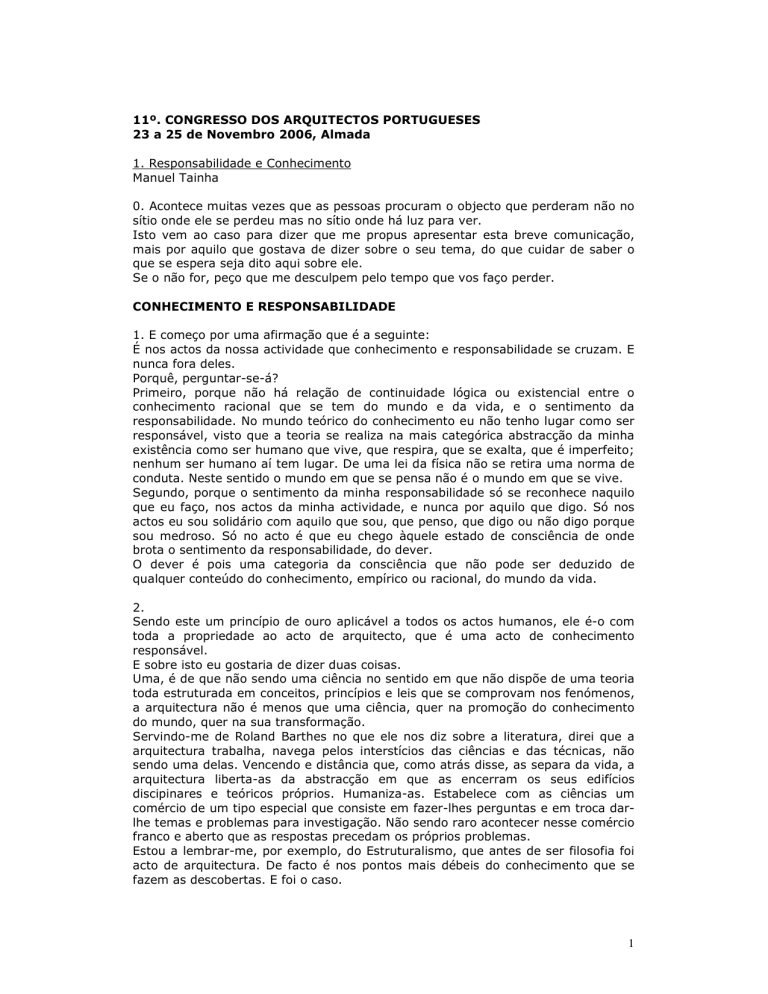
11º. CONGRESSO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES
23 a 25 de Novembro 2006, Almada
1. Responsabilidade e Conhecimento
Manuel Tainha
0. Acontece muitas vezes que as pessoas procuram o objecto que perderam não no
sítio onde ele se perdeu mas no sítio onde há luz para ver.
Isto vem ao caso para dizer que me propus apresentar esta breve comunicação,
mais por aquilo que gostava de dizer sobre o seu tema, do que cuidar de saber o
que se espera seja dito aqui sobre ele.
Se o não for, peço que me desculpem pelo tempo que vos faço perder.
CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE
1. E começo por uma afirmação que é a seguinte:
É nos actos da nossa actividade que conhecimento e responsabilidade se cruzam. E
nunca fora deles.
Porquê, perguntar-se-á?
Primeiro, porque não há relação de continuidade lógica ou existencial entre o
conhecimento racional que se tem do mundo e da vida, e o sentimento da
responsabilidade. No mundo teórico do conhecimento eu não tenho lugar como ser
responsável, visto que a teoria se realiza na mais categórica abstracção da minha
existência como ser humano que vive, que respira, que se exalta, que é imperfeito;
nenhum ser humano aí tem lugar. De uma lei da física não se retira uma norma de
conduta. Neste sentido o mundo em que se pensa não é o mundo em que se vive.
Segundo, porque o sentimento da minha responsabilidade só se reconhece naquilo
que eu faço, nos actos da minha actividade, e nunca por aquilo que digo. Só nos
actos eu sou solidário com aquilo que sou, que penso, que digo ou não digo porque
sou medroso. Só no acto é que eu chego àquele estado de consciência de onde
brota o sentimento da responsabilidade, do dever.
O dever é pois uma categoria da consciência que não pode ser deduzido de
qualquer conteúdo do conhecimento, empírico ou racional, do mundo da vida.
2.
Sendo este um princípio de ouro aplicável a todos os actos humanos, ele é-o com
toda a propriedade ao acto de arquitecto, que é uma acto de conhecimento
responsável.
E sobre isto eu gostaria de dizer duas coisas.
Uma, é de que não sendo uma ciência no sentido em que não dispõe de uma teoria
toda estruturada em conceitos, princípios e leis que se comprovam nos fenómenos,
a arquitectura não é menos que uma ciência, quer na promoção do conhecimento
do mundo, quer na sua transformação.
Servindo-me de Roland Barthes no que ele nos diz sobre a literatura, direi que a
arquitectura trabalha, navega pelos interstícios das ciências e das técnicas, não
sendo uma delas. Vencendo e distância que, como atrás disse, as separa da vida, a
arquitectura liberta-as da abstracção em que as encerram os seus edifícios
discipinares e teóricos próprios. Humaniza-as. Estabelece com as ciências um
comércio de um tipo especial que consiste em fazer-lhes perguntas e em troca darlhe temas e problemas para investigação. Não sendo raro acontecer nesse comércio
franco e aberto que as respostas precedam os próprios problemas.
Estou a lembrar-me, por exemplo, do Estruturalismo, que antes de ser filosofia foi
acto de arquitectura. De facto é nos pontos mais débeis do conhecimento que se
fazem as descobertas. E foi o caso.
1
A arquitectura recolhe das ciências e das técnicas (físicas, sociais e humanas) os
materiais que lhe interessam, convertendo-os em padrões de espaço e tempo
utilizáveis pelo seu saber que é acima de tudo um saber fazer, ou se o quiserem,
um saber do fazer.
A arquitectura é um acto; não é um fenómeno.
Já houve mesmo quem filosoficamente dissesse que “arquitectónica” é a parte da
lógica que ensina a coordenar os elementos do conhecimento; preceito este que
sem grande esforço se pode reconhecer no próprio acto da composição
arquitectónica tal como a praticamos no nosso dia a dia.
Os conteúdos das técnicas ou das ciências estão sedimentados nas formas
arquitecturais, e nelas permanecem até essas formas durarem. Por isso é que estas
formas são o registo da história da humanidade com maior exactidão que os
documentos.
A outra coisa que queria dizer é que o acto do arquitecto não é um acto neutro,
imune a contaminações de toda a ordem, morais e poéticas.
Se Claude Bernard dizia que “as matemáticas representam as relações entre as
coisas nas condições de simplicidade ideal”, eu direi que a arquitectura representa
as relações entre as coisas nas condições da sua complexidade real. Projecta-se
sempre contra qualquer coisa.
O acto arquitectónico é composto, como todos sabem, por uma sucessão de
escolhas e decisões: numa espécie de jogo em que nós fabricamos as regras à
medida que avançamos. Aí se configura já, com alguma clareza, um estado de
responsabilidade do arquitecto consigo próprio. Uma responsabilidade de 1.º grau,
digamos, que a sua consciência não lhe deixa escamotear, e que ele sente com o
mesmo rigor com que sente o frio ou o calor.
Mas o sentimento da responsabilidade não se esgota aí.
O olho da sua consciência abre-se igualmente sobre o exterior, onde se perfila a
figura do destinatário do seu trabalho.
A arquitectura não é moralista. Nunca o foi. Mas nem por isso o arquitecto deixa de
ser movido por valores morais e éticos. Do mesmo modo que a arquitectura não
exprime sentimentos, mas nem por isso deixa de ser movida por sentimentos.
E quem é o destinatário da sua obra?
Será o promotor, o dono da obra, quem a vai usar realmente, o povo, a sociedade,
a cidade, a cultura? Serão todos por igual? Privilegiar uns em detrimento de outros
pode ser sacrificá-los a todos.
A figura do beneficiário do acto profissional do arquitecto é de facto múltipla e uma
tanto difusa; podendo ser-se tentado/levado a pensar por vezes que a profissão é
uma profissão solitária.
E aqui surge um primeiro paradoxo que é o seguinte: quanto mais anónima,
distante e enigmática é a figura do destinatário maior é a responsabilidade do
arquitecto.
Estamos de facto já muito longe do Código Guadet que no séc. XIX dispunha que a
responsabilidade do arquitecto era única e exclusivamente devotada a quem lhe
encomendava o trabalho, a cuja vontade tudo devia subordinar.
Por outro lado, nenhum arquitecto hoje trabalha sózinho: o acto profissional é um
acto compartilhado.
E daqui nasce um segundo paradoxo: à medida que a responsabilidade técnica mais
se reparte, e dissemina por todo o grupo de projecto – os nossos companheiros de
estrada – mais a responsabilidade recai sobre uma única figura: o arquitecto.
E porquê?
Quanto a mim, apenas por isto: é que de todos aqueles saberes que participam do
acto projectual – e são cada mais, ao que parece – o arquitecto é aquele único que
vê, pensa e concebe a peça arquitectónica como um todo, na integridade das suas
funções práticas, formais, espirituais e culturais. É esse o seu saber e o seu papel
na divisão do trabalho.
Um exemplo: o toldo de betão armado ou de ferro-betão do Pavilhão de Portugal
para a Exposição de 98. Ele é uma proeza técnica (e de cálculo) devida sobretudo
2
ao talento e competência do Eng.º Segadães (se não estou em erro). Todavia ele
popularizou-se como sendo o toldo do Siza Vieira.
Popularidade da obra versus anonimato do autor, ou popularidade do autor versus
anonimato da obra
Toda a gente conhece o Panteão de Roma, a Catedral de Chartres, os Jerónimos, a
Torre de Belém. Alguém sabe quem foram os seus autores?
Toda a gente sabe quem foi o Le Corbusier, quem é o Siza Vieira ou o Tomás
Taveira; poucos porém conhecem o que fizeram. Este é o espírito da época.
Para terminar.
O pensamento grego, diz-se, era um pensamento estético; não necessariamente
artístico, convém lembrar. Eles não se debatiam com os preconceitos e erros do
racionalismo moderno, com a dualidade objectivo-subjectivo, alheia ao pensamento
estético. Por isso eles foram tão longe na compreensão do ser humano e dos seus
actos, visto que acima de tudo o homem era um ser indiviso. Disto nos fala a
tragédia grega.
Ora o que caracteriza, a meu ver, o pensamento arquitectónico é precisamente a
sua componente estética a qual lhe dá acesso à obra de arte, não necessariamente
a qual tende a fundir, a reunir o mundo do conhecimento com o mundo da vida em
que eu sou um ser responsável. Pois contrariamente aquilo do que se diz, o
pensamento estético abomina o vago, o obscuro, o abstracto; ele alimenta-se
precisamente do concreto, do real. E quando aqui me refiro à estética não é a
estética dos estetas, do belo e do sublime, mas à estética como uma componente
da razão prática da arquitectura.
Sendo assim rejeitar a estética é cortar o galho em que nós os arquitectos estamos
sentados.
3