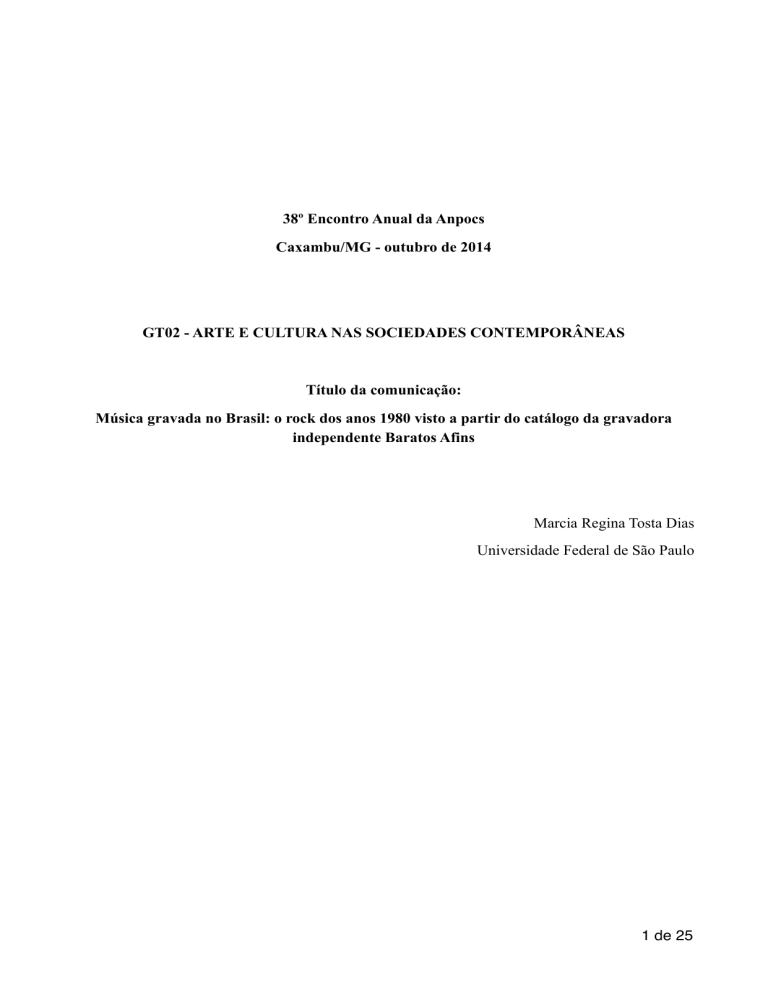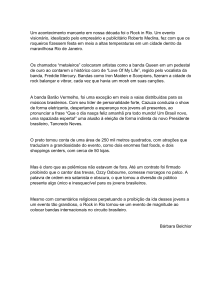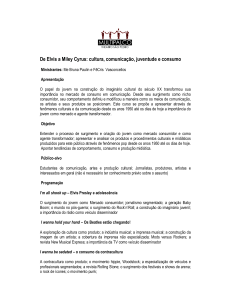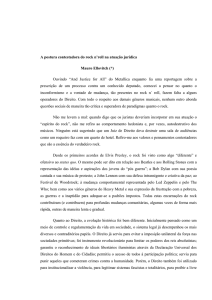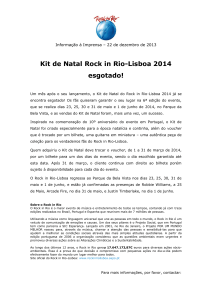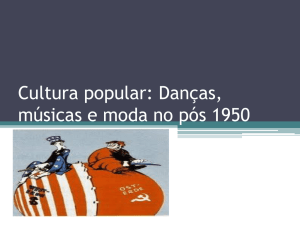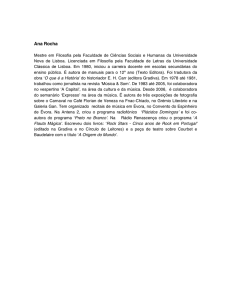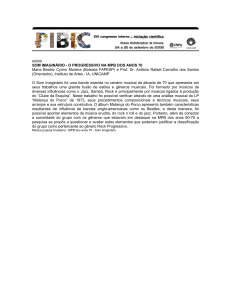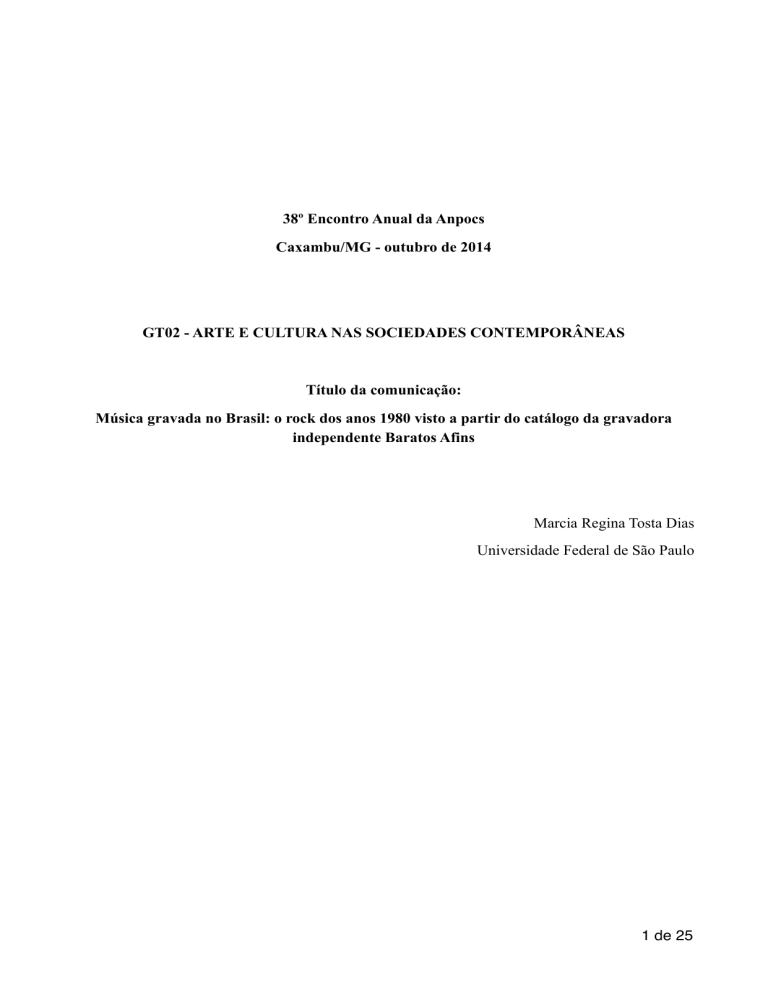
!
!
!
!
!
38º Encontro Anual da Anpocs
Caxambu/MG - outubro de 2014
!
!
GT02 - ARTE E CULTURA NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS
!
Título da comunicação:
Música gravada no Brasil: o rock dos anos 1980 visto a partir do catálogo da gravadora
independente Baratos Afins
!
!
Marcia Regina Tosta Dias
Universidade Federal de São Paulo
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1 de 25
!
Música gravada no Brasil: o rock dos anos 1980 visto a partir do catálogo da gravadora
independente Baratos Afins1
!
Marcia R. Tosta Dias
Universidade Federal de São Paulo
!
!
Resumo: A comunicação traz resultados parciais de pesquisa mais ampla que se ocupa de analisar o
desenvolvimento e a produção fonográfica da gravadora independente paulistana Baratos Afins, em
atividade desde 1981. Do amplo conjunto de sua produção, busca-se destacar aquela realizada na
primeira fase de sua história (década de 1980) voltada para diferentes formas expressivas tomadas
pelo rock. O destaque será dado a discos de punk rock, heavy metal, hard rock, pós-punk e
rockabilly. Trata-se de analisar, a partir de pressupostos da sociologia da música gravada, o
processo que levou à produção de discos de grupos musicais ligados à tais cepas do rock
considerando: a constituição, no Brasil daquele período, de um tardio mercado de música gravada
dirigida ao público jovem; o papel que nele desempenharam os grandes e os pequenos produtores
fonográficos; as várias etapas do trabalho de produção dos discos de rock (seleção de artistas e
repertório, gravação, fabricação e difusão); as relações que se estabelecem entre os artistas e o
produtor fonográfico independente e a maneira como propostas estéticas diferenciadas pareciam
constituir projetos em disputa.
!
!
!
!
Trazer para o foco as produções fonográficas ligadas ao rock lançadas pela gravadora Baratos
Afins em São Paulo/SP nos anos 1980, implica identificá-las nas relações que estabelecem com um
conjunto enervado de temas fundamentais da sociedade e da cultura brasileiras contemporâneas. A
gravadora está em atividade na cidade de São Paulo desde 1981, momento em que a produção de
discos estava fortemente concentrada nos limites das grandes companhias fonográficas, detentoras
dos meios de produção. Tinham sob seu domínio as fábricas de discos de vinil – o principal suporte
material das gravações musicais – cuja operação era especialmente dispendiosa. Concentravam, da
mesma forma, o acesso às mais avançadas tecnologias envolvidas no trabalho de estúdio/ gravação,
bem como aos grandes meios de difusão. Tal posição permitiu a tais empresas usufruírem da
1
Esta comunicação integra projeto de pesquisa financiado pela FAPESP - Fundação de Amparo à pesquisa
do Estado de São Paulo.
2 de 25
primazia na proposição de conteúdos musicais gravados durante todo o século XX, portanto, desde
sua constituição como área da indústria cultural, nos anos iniciais daquele século. Apesar disso,
pequenas companhias fonográficas se notabilizaram na tarefa de ampliar o catálogo de música
gravada no Brasil e no mundo2.
Mesmo que constituídos de objetivos, perspectivas e formas de atuação diferentes, um tipo de
simbiose sempre envolveu grandes e pequenas gravadoras. Se nos primeiros tempos todas eram
pequenas, uma diferença de origem marcou o perfil das companhias e seu subsequente
desenvolvimento. As grandes (majors) se constituíram enquanto tais a partir de sua atividade de
produção dos primeiros modelos de máquinas gravadoras e reprodutoras dos registros musicais - os
fonógrafos e os gramofones (hardwares) e de seus correspondentes suportes portadores da música
gravada – os discos e cilindros (softwares). Outras empresas interessadas em trabalhar com registros
fonográficos tiveram que, desde então e até as últimas décadas do século XX, contratar tal serviço
daquelas que os possuíam.
O desenvolvimento de hardwares e softwares de música gravada, que envolveu sempre
diferentes dimensões do trabalho técnico, industrial, empresarial, artístico e musical, consolidou um
sistema de produção de mercadorias musicais próprio a um grupo seleto de companhias que se
tornaram líderes de mercado. As pequenas, cuja lógica de produção não era unívoca, em geral se
permitiam produzir discos de artistas que não se adequavam às prioridades das grandes, absorvendo
um tipo de demanda reprimida por gravações musicais. Mesmo assim, parte de sua produção foi
sendo, em diferentes medidas, capitalizada pelas grandes.
No entanto, para além de simplesmente constituírem um jogo concorrencial equilibrado em
que atuavam empresas de porte diferenciado, algumas companhias pequenas ganharam distinta
importância, sobretudo a partir dos anos 1960, na medida em que pautavam a sua atuação
empresarial em propostas estéticas e políticas concebidas essencialmente no sentido contrário
àquele que caracterizava o trabalho das grandes. Nesse contexto é que surgiram as chamadas
gravadoras “independentes”: se definiam e se articularam a partir da dinâmica das grandes, mas, ao
se contraporem a elas, revelavam a essência de sua atividade.
A pesquisa, da qual esta comunicação apresenta os primeiros resultados, trata de conhecer o
desenvolvimento e as formas de atuação da gravadora Baratos Afins procurando entender a forma
2!
Na primeira parte desta comunicação lanço mão, já com os primeiros aperfeiçoamentos, de passagens,
dados e argumentos presentes no Projeto de Pesquisa "Música gravada no Brasil: Estudo do desenvolvimento
e da produção fonográfica da gravadora Baratos Afins - 'a pioneira dos independentes' (1981-2013), que
recebe atualmente Auxílio à Pesquisa Fapesp, considerando a forma sintética do texto e sua conveniência
para a apresentação dos temas principais envolvidos na questão aqui enfrentada.
3 de 25
como as gravadoras independentes diversificaram a oferta de música gravada para além do que era
proposto pelas grandes gravadoras e as relações que estabelece com a contexto mais amplo da
realidade e da cultura brasileiras.
Nesse aspecto, chama a atenção a dinâmica específica e especialmente rica da produção ligada
ao rock, gênero musical ao qual se filiava a primeira floração de discos da gravadora. Nos anos 80,
no Brasil que vivia o período final do regime militar, a juventude traduzia em termos locais ondas
próprias à cultura juvenil mundializada num panorama em que, surpreendentemente, não se havia
ainda constituído um mercado de música gravada destinada ao público jovem. As grandes
gravadoras passam a se mobilizar nesse sentido impulsionando a produção que veio a ser conhecida
como BRock. Por outro lado, a Baratos Afins, com outras independentes, acolheu, produziu e
traduziu em música gravada uma produção musical que foi surgindo em torno de subculturas
específicas, formadas em torno de ideários e propostas estético musicais definidas e não menos
mundializadas. Nesse aspecto, o catálogo que então se constituía, refletia projetos culturais que
pareciam estar em disputa e a chance de ter um disco gravado era um de seus principais elementos.
!
!
I - Questões de base: história, método e referencias
Esta abordagem se reúne, dialoga e se apoia nos pressupostos científicos que têm sido
consolidados em uma jovem e promissora área de pesquisa que identifico como sendo a como
Sociologia da música gravada. Pelos instrumentos científicos operados pela Sociologia da música
gravada tem sido possível, a partir de diferentes perspectivas teóricas, identificar os agentes sociais
e as dinâmicas socioculturais envolvidos na produção de registros musicais dirigidos à escuta e à
fruição, ao consumo e à difusão pelos grandes meios instituídos. Sua produção acadêmica e
científica se encontra esparsa em momentos diferentes da segunda metade do século XX e nesses
primeiros anos do XXI, não estando, em geral, identificada com o nome que ora utilizo para a ela
me referir3.
A mirada sociológica para tal objeto de pesquisa considera a música como manifestação
cultural distinta de nossas sociedades, como fina elaboração da razão e da sensibilidade humana. Ao
mesmo tempo em que partilha elementos de uma linguagem que é, de certo modo, universal, sua
lógica e, consequentemente, suas formas estéticas estão circunscritas a espaços culturais, sociais e
políticos definidos (Attali, 1977:11-38 e Wisnik, 1989: 32-58, por exemplo). Esse movimento que
3!
Consideradas as transformações recentes no âmbito dos suportes materiais e das gravações, passou-se a
chamar de música gravada o que até recentemente se designava disco.
4 de 25
conjuga tão especialmente objetividade e subjetividade, particularidade e universalidade, tem
potencializado a capacidade que tem a música de revelar aspectos e dinâmicas das sociedades nas
quais é produzida; de transpor fronteiras de toda sorte, de estabelecer diálogos culturais os mais
variados, bem como de interagir e adequar-se aos vários tipos de media que lhe fornecem forma,
suporte e alcance.
O advento dos registros fonográficos, no final do século XIX, marcou a emergência de
padrões de produção e difusão musical, tendo a dimensão técnica como elemento fundamental.
Como música gravada, produzida por empresas a partir de esquemas originalmente alheios à lógica
artístico-cultural, a música se aproximou da forma mercadoria, compondo um produto cultural de
características muito especiais. As relações produzidas no encontro dessas duas dimensões têm sido
um dos alvos diletos dessa Sociologia específica. Aqui importa considerar como a análise desses
produtos pode revelar a maneira como “momentos da estrutura social, posições, ideologias”, valores
e interesses conseguem neles se impor, recorrendo, de maneira excessivamente livre, ao conceito de
“mediação” proposto por T. W. Adorno (2011). A contradição essencial existente entre música e
mercadoria foi especialmente estudada por Adorno (1983; 1986 e 1990, por exemplo, e na obra
escrita com M. Horkheimer, 1971) e oferecem distinta fonte de inspiração para esta análise.
De toda a discussão que a obra desses autores tem despertado, seja no debate essencialmente
metodológico, seja na sua dimensão político-ideológica, ou ainda no confronto com a emergência
de novos atores e dinâmicas culturais por eles não previstos, persiste, na maneira como aqui se
procura desenvolver a Sociologia da música gravada, dentre outros pressupostos, a proposição de
que a análise do âmbito da produção revela elementos fundamentais para a compreensão do
desenvolvimento do mercado de bens culturais e de sua recepção, em sociedades cada vez mais
envolvidas pela ação dos grandes meios de comunicação. Mas, mesmo que o foco esteja nessa
dimensão, não é possível tratar da produção musical ligada ao rock, sem dilatar as fronteiras do
objeto e considerar aspectos que compõem a cena cultural mais ampla, tais como seu público, sua
audiência ou o seu potencial consumidor. Em sua Sociologia do Rock, S. Frith (1981) identifica
duas contradições centrais que caracterizam o rock: como música produzida massivamente, o rock
traria consigo uma critica dos seus próprios meios de produção; como música consumida
massivamente, construiria sua própria e “autêntica” audiência4.
!
Nesse sentido, tem sido frutífero o diálogo com a perspectiva trazida pelos Estudos Culturais, sobretudo
por meio de sua presença, explícita ou não, em vários estudos publicados nessa área por pesquisadores
ingleses, sobretudo por S. Frith e D. Hesmondhalgh.
4
5 de 25
Do ponto de vista do material existente para a pesquisa e dos interlocutores fundamentais,
depois de trabalhos precursores surgidos nos anos 1970 e 80 como os de Peterson e Berger (1975),
Chapple e Garofalo (1977), S. Frith (1978), A. Hennion (1981) e o de P. Flichy (1982), foi a partir
dos anos 90 que passamos a contar com um conjunto de obras que trouxeram sistematizações de
dados e discussões aprofundadas sobre a indústria fonográfica no mundo e, especificamente, as
relações entre grandes e pequenos produtores fonográficos. Ampliaram o quadro básico de
referências Lopes (1992), Christianen (1995), Burnett (1996) e Hesmondhalgh (1996). Em seu
conjunto, tais obras contemplam três frentes de estudos: a expansão das empresas da área do
entretenimento e a particularidade da indústria fonográfica; as possibilidades de inovação e
diversidade na grande indústria fonográfica e o lugar ocupado pelas companhias independentes
nesse contexto, considerando ainda as fases distintas do desenvolvimento capitalista.
No Brasil, à forte presença da música no repertório cultural, contrapunha-se um número
reduzido de obras dedicadas à análise dos registros fonográficos. Nos anos 1970, o florescimento
da área da Sociologia da Comunicação trouxe os primeiros estudos sobre música gravada com os
trabalhos pioneiros de O. Jambeiro (1975) e W. Caldas (1977). E, tomando, em alguma medida,
como base e inspiração os avanços trazidos pela bibliografia, nos anos 90 surgiram análises que,
para a Sociologia da música gravada a qual me refiro, tem importância fundamental. Trata-se dos
trabalhos de R. Morelli (1991), E. Paiano (1994), E. Vicente (1996) e J. R. Zan (1997)5. Tais
estudos, conectados à bibliografia, bem mais farta, existente sobre a música popular, seus
movimentos e personagens e àquela produzida pela área de Comunicação, reunidos ainda à análise
do material de imprensa, constituem a base fundamental para a pesquisa nessa área.
!
Tendo como objeto a música gravada, um conjunto de empresas constituiu e consolidou essa
área de atividade econômica e cultural desde finais do século XIX e início do XX6. Por caminhos
diversos, tais empresas vieram a integrar grandes conglomerados que, juntamente com outros
setores da indústria cultural, dominaram largamente a produção de discos durante todo o século XX
(Dias, 2008: 40-47). Um forte movimento de concentração caracterizou, portanto, o
desenvolvimento da indústria fonográfica, que foi contando com fusões variadas entre empresas.
Para citar apenas um dado, em 1990, dominavam o mercado mundial de discos as companhias EMI,
5!
O meu próprio trabalho de pesquisa pode ser reunido a esse conjunto, Dias (2000 e 2008). Morelli (2008)
faz interessante revisão do debate que tais obras contemplam.
6!
Estudo e documentos primorosos sobre os primeiros tempos da música gravada no Brasil encontramos em
Franceschi (2003).
6 de 25
PolyGram, BMG, Sony Music, Warner Music. Em 2013, mantêm-se nessa posição, as empresas
Universal Music/EMI, Sony Music, Warner Music.
No mesmo contexto, sempre atuaram pequenas empresas, que apesar de apresentarem porte,
organização e objetivos distintos, espelhavam-se nas grandes e orientavam sua atividade, em
sentidos os mais diversos, a partir delas7. Ao seu domínio na área de hardware, se reunia a
contradição existente entre a farta produtividade e efervescência musicais, características de vários
contextos culturais, e as restritas possibilidades de acesso às condições de gravação e difusão.
As relações entre os dois tipos de empresas podia ser vista das seguintes perspectivas: 1) as
independentes, ao absorverem parte da produção musical não capitalizada pelas majors, além de
colaborarem com a diminuição da tensão no panorama cultural derivada da busca/falta de
oportunidades, acabavam por testar produtos, mesmo que num espaço restrito, permitindo às estas
realizarem escolhas mais seguras no momento em que decidiam investir em novos nomes. 2) As
independentes cultivavam formas de atuação autênticas e específicas, sem buscar vínculos com as
grandes, de quem queriam, aliás, se diferenciar (Hesmondhalgh, 1999; Lee, 1995 e Fenerick, 2007).
As pequenas gravadoras tornam-se objeto do debate acadêmico quando o assunto é a
concentração da produção e do mercado de discos e a decorrente falta de diversidade cultural. Nesse
sentido, vale apresentar as ideias centrais do pioneiro estudo de Peterson e Berger (1975) que
contem um desenho clássico do movimento8.
Para os autores, a dinâmica da indústria fonográfica era caracterizada por ciclos de
concentração e distensão nos quais a um período de intensa concentração, correspondia um nível de
baixa diversidade e inovação na produção. A demanda insatisfeita estimularia o surgimento de
produções independentes, que apresentariam novidades ao mercado. O ciclo se realizaria na medida
em que a grande indústria incorporaria lentamente essa diversidade, comprando casts das pequenas
companhias, até que se alcançasse um novo momento de concentração, reiniciando o ciclo.
Exemplificando, mostram a importância das gravadoras independentes no processo de revelação e
difusão do rock’n’roll nos Estados Unidos dos anos 50 e 60.
7!
Torna-se importante notar que me refiro, nesta proposta, a gravadoras que podem ser chamadas de
pequenas, independentes ou autônomas, mas em geral não me refiro a selos (labels). Entendo que os selos
existem enquanto tais ligados a grandes gravadoras que, ou os cria, como forma de atuarem em segmentos
diferenciados, com certa autonomia, ou os incorporam, transformando em selos específicos companhias
pequenas ou independentes. Na bibliografia, sobretudo a estrangeira, é comum encontrarmos, contudo,
termos diferentes usados para se referir à mesma coisa: independent labels, independent companies; record
labels, record companies, por exemplo.
8!
Retomo aqui elementos fundamentais desse debate, já apresentados em Dias, 2000 e 2008.
7 de 25
Outros autores deram continuidade aos estudos de tais relações. Paul Lopes (1992) divergindo
da ideia de ciclos, trouxe para a análise o sistema de desenvolvimento e produção efetivado pela
grande companhia. Tal sistema, a partir dos anos 80, passou a ser um sistema aberto incorporando a
inovação e a diversidade produzidas pelas independentes como estratégia de manutenção do
controle do mercado, garantindo a concentração nas áreas de fabricação e distribuição/ difusão.
Note-se que tais explicações só têm sentido se consideradas as condições de produção próprias ao
disco de vinil.
Christianen (1995), trazendo a discussão de Peterson e Berger para o tempo das tecnologias
digitais, considerou que a nova configuração do cenário fonográfico fazia parte de um novo ciclo de
concentração e distensão, que se efetiva num outro patamar, com maior autonomia das produtoras
independentes que, apoiadas pelas altas tecnologias e pela segmentação do mercado (importante
elemento desse conjunto), conseguem melhores condições de aceitação de seus produtos,
garantindo diversidade e inovação para o panorama fonográfico.
O advento das tecnologias digitais, que transformaram radicalmente o universo da música
gravada no início do presente século, implicou, inicialmente, na mudança da configuração e nos
custos do aparato técnico e, além de ter permitido o acesso de novos agentes à cena, promoveu a
especialização de áreas fundamentais da produção como a dos estúdios de gravação e da fábrica.
Seus efeitos ainda estão sendo sentidos e mapeados. O fim do domínio sobre a produção física de
música gravada, abalou especial e radicalmente a posição até então usufruída pelas majors.
O processo jogou luz no caráter de indústria da produção fonográfica e a colocou em sintonia
com o rearranjo estrutural pelo qual toda produção capitalista passou a partir dos anos 1970
(Harvey, 1993); a fragmentação das linhas de produção constituiu-se como um de seus movimentos.
Hesmondhalgh (1996) chama de especialização flexível (flexible specialization) esse processo tal
como ocorreu nas indústrias fonográfica e cinematográfica. A autonomização das etapas da
produção (estúdios, fábrica, gráfica, distribuição) foi, gradualmente, chegando ao seu centro vital: a
área de Artistas e Repertório (A&R). Algumas empresas independentes tornaram-se agentes desse
processo, transformando-se em fornecedoras de produtos acabados para as grandes, como
prestadoras de serviços (Dias, 2008, 145-155).
!
Nos anos 1990, foi se tornando usual referir-se às gravadoras independentes a partir do
genérico indie. A partir do crescimento das experiências desse setor verificado nos anos 80/90, o
8 de 25
termo passou a concentrar diferentes perspectivas de atuação que é preciso distinguir, mesmo que
em suas linhas gerais.
A primeira delas, que já foi aqui referida, é a empresa de pequeno porte. As pequenas, que
estão na origem do empreendimento fonográfico, seguem mais de perto a dinâmica das grandes
espelhando-se nelas de formas variadas. Um dos primeiros estudos a identificar tais empresas entre
nós foi Disco em São Paulo (Cozzella, 1980). O livro, que traz um mapa da atividade fonográfica
na São Paulo dos anos 70, apresenta um conjunto de pequenas empresas instaladas na região central
da cidade onde realizavam, em pequenas salas, ensaios e gravações com artistas (em geral duplas)
ligados à música sertaneja (Dias, 2008: 136-138). Em livros recentemente publicados (Gonçalves,
2013 e Franceschi, 2002) temos finalmente acesso a informações sobre as atividades nas primeiras
décadas do século, quando a maioria das empresas era formada por pequenas, tornando possível
traçar um paralelo entre estas e aquelas dos anos 1970.
A independente, que também tinha (e ainda tem) pequeno porte, agregava o diferencial de
apresentar uma atitude diferenciada traduzida em produtos de proposta estética e política
diferenciada e, muitas vezes, inovadora, que não encontrava lugar – pelo menos a priori - nos
planos da grande empresa e do grande mercado. Concentrava, por isso, a própria essência do
problema aqui perseguido, na medida em que se constituíam como os agentes da diversidade e da
inovação e, em alguns casos, na mais clara acepção das palavras.
Há um substancioso debate constituído, que busca identificar a história das companhias
independentes no Brasil e que é retomado por aqueles que se dedicam a estudos relacionados
(Costa,1984; Dias, 2000; Vicente, 2002; Fenerick, 2007)9. O caso da chamada Vanguarda Paulista
(São Paulo, década de 80) é consenso entre os estudiosos como sendo o exemplo acabado da
produção independente. Protestou objetivamente contra a falta de espaço existente na sociedade
para uma produção artística que fugia dos padrões estabelecidos. Como alternativa, construiu esse
espaço – concentrado em torno do Teatro Lira Paulistana - congregou artistas, acionou mecanismos
de gravação e distribuição de discos, mobilizou a juventude e/ou um público interessado em suas
produções e estimulou outras inciativas.
O movimento concentrava explicitamente todas as contradições de que se nutria. Aos poucos,
mais para o final da década de 80, foi se fragmentando. Artistas e ele ligados foram procurando
outras formas de sobrevivência, o que incluía a busca de contratos com grandes gravadoras. Mas
uma tradição se formou na Vanguarda Paulista. Alguns de seus representantes - Luiz Tatit, Arrigo
9!
Como são muitos os nomes das empresas, prefiro não citá-los para não correr o risco de, ao fazê-lo parcialmente, criar
hierarquias enganosas. Restrinjo-me, portanto, a analisar o movimento.
9 de 25
Barnabé, Itamar Assumpção, músicos ligados aos Grupos Rumo, Premeditando o Breque, Língua
de Trapo, dentre outros – trazem em suas obras traços inconfundíveis desse movimento.
D. Hesmondhalgh (1998 e 1999) e S. Lee (1995) são autores que analisaram casos exemplares
de gravadoras independentes que são preciosas referências para o estudo aqui proposto. Analisam o
processo de profissionalização pelo qual passaram muitas gravadoras independentes surgidas, por
exemplo, no movimento punk e pós punk na Inglaterra e nos EUA. Uma de suas manifestações está
na busca - sempre permeada de contradições e dificuldades - do estabelecimento de contratos com
grandes companhias fonográficas. Em transações desse tipo, as indies praticamente abdicam da
identidade e autonomia artística que as distinguiu, em nome do fim das incertezas institucionais e
econômicas que sempre marcaram suas trajetórias.
Analisando o caso inglês, D. Hesmondhalgh (1999 ), trata do exercício, pelas partes
envolvidas, de políticas institucionais e estéticas (institutional politics and aesthetics)
diferenciadas, que envolvem tomadas de posição aptas a mudarem o rumo das carreiras e da
produção artísticas. Chama atenção a maneira como opera esse conceito dado que identifica na
trajetória de determinadas indies o entrecruzamento de características político institucionais –
presentes na postura com a qual exercem suas posições e seus propósitos frente ao mercado e ao
contexto cultural – e as estéticas, ligadas às características artísticas e musicais que distinguem suas
obras. A maneira como a análise articula as duas dimensões, permite ainda que se ofereça
informações sobre o tipo de música produzida, apresentando características estéticas essenciais, sem
que se procedam análises musicais estritas mas, ao mesmo tempo, não deixando a análise carente de
tais informações. Ao considerar as indies como espaço de desenvolvimento de políticas
institucionais e estéticas, Hesmondhalgh (1998) consegue dar encaminhamento objetivo e mais
seguro à questão da provável democratização trazida por tais empresas ao panorama cultural, sem
com isso trazer à análise do mercado uma "ideia fora do lugar”.
Lee (1995), ao analisar a trajetória da gravadora norte-americana Wax Trax (Chicago,
1978-2001), oferece o exemplo de estudo de indie que tem numa loja de discos a base para suas
atividades econômicas e fonográficas, situação não rara entre as independentes e característica
fundamental da gravadora Baratos Afins. Analisou o funcionamento da empresa, suas formas de
produção e distribuição e, sobretudo, suas várias tentativas de estabelecer parcerias com as majors
e, finalmente, a venda parcial de seu catálogo para uma delas. Discute em detalhes o sentido que vai
adquirindo a posição de uma indie frente ao interesse constante de ascensão pela via das parcerias
com as majors.
10 de 25
Tais estudos mapeiam, de formas diferentes, os caminhos que tais empresas trilham de sua
condição de independente à de empresas autônomas. Com o fim das limitações de ordem prática
trazido pelo digital, se tem a pulverização das iniciativas autônomas de produção e difusão musical
e o progressivo enfraquecimento da contraposição existente entre indies e majors.
As empresas adquirem outros perfis, objetivos e formas de atuação que congregam amplo
espectro de atividades que vão da produção de discos à gestão da carreira dos artistas (Dias, 2010).
Conquistam espaços próprios à sua atividade transformando seu original espelhamento nas majors.
Mesmo desfrutando da condição de autônomas continuam se auto intitulando independentes. Além
das empresas, os músicos que realizam eles mesmos todas as etapas de sua produção artística e
fonográfica também são chamados independentes. Um tipo de estertor desse processo, estudado
também por Hesmondhalgh (1998) encontramos na transformação do indie em gênero musical.
Com relação à bibliografia, uma situação muito diferente da que enfrentávamos no Brasil dos
anos 90 faz com que se conte atualmente com um número crescente de substanciosos estudos.
Eduardo Vicente (2002 e 2006) tem se dedicado ao estudo dos “circuitos independentes” ou
“circuitos autônomos” oferecendo mapas e análises das mudanças da dinâmica do setor. Leão e
Nakano (2009) diversificam o enfoque e tornam mais específicas as análises, que aqui se vinculam
ao universo da engenharia de produção. De Marchi (2006 e 2012) analisa a reestruturação da
indústria fonográfica e enfoca a “nova produção independente” a partir do “entorno digital”.
Herschmann (2011) reflete sobre o universo indie posicionado na porosidade das fronteiras entre o
underground e o mainstrean pensando no surgimento de espaço específico situado “nas bordas do
mainstrean”. Hesmondhalgh (1999) e Gumes (2011) analisam a transformação do indie em gênero
musical, como já foi citado. Autores como Kruse (2003) e Fonarow (2006), ambas apud Fonseca
(2010), vêem o indie como movimento amplo que concilia comportamento e identidade, no qual a
música é apenas um dos vários elementos de interesse.
!
A gravadora Baratos Afins
O produtor fotográfico Luiz Carlos Calanca, proprietário da gravadora e da Loja de Discos
Baratos Afins, afirma em entrevista concedida a esta pesquisa (São Roque/SP, 20/07/2014) que não
contava com a possibilidade de ter seu próprio selo fonográfico, quando abriu sua loja de discos.
Tinha, sim, a idéia de trazer de volta ao mercado álbuns de música brasileira que estavam esgotados
e não despertavam o interesse das gravadoras para lançarem reedições. No entanto, foi exatamente a
regularidade da produção da gravadora, sua persistência, longevidade e a maneira como tem
11 de 25
investido em novos talentos e gravado discos que são considerados marcos da produção brasileira
em determinados estilos musicais que justificam e motivam o seu estudo.
Um levantamento inicial do catálogo construído em seus 32 anos de existência aponta a quantia
108 discos lançados (em discos de vinil e CD) de 86 artistas, além daqueles envolvidos em seis
coletâneas temáticas e 16 relançamentos de discos feitos pelas grandes gravadoras. Foram esses
últimos, aliás, que primeiramente chamaram minha atenção. Desde que registrou sua loja nos
departamentos de vendas das gravadoras, em 1978 quando da sua abertura, Luiz Calanca
estabeleceu um relacionamento especial com eles. Conseguiu, em várias ocasiões, que gravadoras
como a antiga PolyGram (atual Universal) e a Continental, fizessem prensagens de discos de
artistas brasileiros, cujas tiragens estavam esgotadas (Tom Zé, Walter Franco, Mutantes, Jorge
Mautner, Som Nosso De Cada Dia, Rita Lee, Itamar Assumpção, Marcelo Nova, dentre outros),
sendo que, para alguns, obteve direitos exclusivos de comercialização. Nesses, o logotipo de sua
empresa vinha estampado na capa do disco, indicando a tiragem exclusiva. Calanca considera, no
entanto, que se tivesse tentado negociar tais tiragens junto aos executivos, não teria conseguido;
com os vendedores, bastava garantir o pagamento dos serviços (Dias, 2008:156).
O fato revelava percepção especifica da lógica própria ao business e da possibilidade de
intervir num dos pontos nevrálgicos da atuação das majors: seu pouco interesse na manutenção da
diversidade de seu catálogo de música brasileira. Calanca imprimiu outro sentido a um tipo de
relação que é fundamental porém limitada, como aquela que o lojista estabelece com as gravadoras.
Sintonizado com a circulação de discos estrangeiros, Luiz Calanca foi acompanhando de perto
a cena cultural paulistana e, a partir de movimentos musicais distintos, foi escolhendo grupos para
registrar seus trabalhos. Discos de rock progressivo como o que fazia a Chave do Sol, o heavy metal
(ou “rock pesado” ou “rock pauleira” como preferem alguns, numa defesa da manifestação
brasileira do estilo) do Harppia, Centúrias, Korzus, Vírus; o hard rock do Golpe de Estado e do
Salário Mínimo, ao pós-punk do Fellini, Voluntários da Pátria, Akira S e as Garotas que Erraram,
Mercenárias, Gueto, Smack, 365, o punk rock do Ratos de Porão, o Rockabilly do Coke Luxe,
dentre outros. Dessas formações originais surgiram outros grupos que, como o Ira! e Ultrage a
Rigor, ganharam projeção nacional.
Em termos de música instrumental, no mesmo período foram lançados três discos do
trombonista Bocato e um da baterista Vera Figueiredo. Nos anos 90, foram feitos discos do
guitarrista Lanny Gordin, músico que participou de discos seminais do movimento tropicalista, de
Itamar Assumpção (três discos) e Alzira Espíndola. Voltou-se ao rock com Serguei e do final da
década até os dias de hoje, a gravadora tem produzido discos de grupos que trafegam entre o rock
12 de 25
herdeiro d´Os Mutantes e a música popular brasileira, tais como Mopho, Expresso Monofônico, Os
Skywalkers, Fábrica de Animais e Messias Elétrico, dentre outros.
A maneira como resiste ao tempo é inédita entre as indies brasileiras e talvez mesmo entre as
estrangeiras; uma curta e intensa existência constitui uma característica predominante entre as
independentes, em geral. Sua perenidade está seguramente associada à da loja Baratos Afins,
especializada em produtos distintos não facilmente encontráveis no grande mercado e, como sebo,
dona de um acervo de discos em vinil que atraem colecionadores tradicionais e iniciantes. Continua
sendo um ponto de encontro de gerações de apreciadores de música gravada, apesar de não mais
funcionar como uma espécie de centro cultural tal como acontecia no início dos anos 80.
!
!
II - O rock dos anos 80 no catálogo da gravadora Baratos Afins
!
Uma pergunta que, mesmo a essa altura da história, continua sem resposta definitiva apesar
de estarem mapeadas hipóteses e possibilidades para esclarecê-la, diz respeito aos fatores que tem
promovido a ocorrência de ondas, movimentos e sucessos musicais integrados a partir de
características estéticas comuns. No universo da música popular, dentre as variáveis possíveis de
serem mobilizadas, duas delas tem cadeira cativa nos esquemas explicativos: a rota que se traça do
epicentro da manifestação musical específica, até o agente fonográfico disposto a gravá-la,
promovê-la e difundi-la. Muitos dos movimentos musicais ou a forma particular que tomaram
determinados gêneros e estilos musicais perante o público, podem ser entendidos a partir das
variações de modo e intensidade que incidem sobre a ação que aproxima ou fragiliza esses dois
pólos num dado momento da história.
É nesse sentido que S. Frith (1981, p.4) para entender a “importância social” do rock
recorreu inicialmente aos dados sobre vendas de discos nesse segmento, que apresentava altas cifras
nos anos 70 nos EUA e Inglaterra. Dada a ligação original do rock com os discos e a destes com o
mundo da produção e circulação de mercadorias dirigidas a geração de lucros, para o autor, o rock
só pode ser entendido como “cultura de massa” inseparável, desde sua concepção, do "mercado de
massa”, como o é toda cultura pop, sua irmã gêmea. É intrínseca ao rock a capacidade de construir
sua
própria audiência mas, a partir do momento em que as gravadoras atendem determinados
gostos específicos, não conseguem mais manipulá-los. Depois que um disco é lançado, sua
execução pode ser controlada e limitada no rádio e na televisão, mas uma vez estando nas mãos do
ouvinte, devidamente habilitado técnica e economicamente, não há mais controle possível sobre sua
13 de 25
difusão. Essa capacidade original permitiu ao rock correr mundo, expandir-se para além de suas
fronteiras, desde os anos 50, encontrando e se identificando com uma juventude historicamente
predisposta a produzi-lo, ouvi-lo, consumi-lo e a reproduzi-lo numa conjuntura complexa e
contraditória. Para Frith, uma sociologia do rock é inseparável de uma sociologia da juventude.
!
O caso do rock brasileiro ou da presença do rock, em termos mais gerais, na cultura
brasileira, sua história, especificidades e contradições tem sido objeto de a estudos, desde os anos
70. O tema tem sido retomado atualmente e o olhar lançado em perspectiva parece revelar a
tendência a se considerar o chamado BRock - produção característica dos anos 80, quando se teve
uma notável intensificação da produção e consumo de rock entre nós - como sendo a expressão do
rock brasileiro10. Ana Maria Bahiana (2005, p. 40) lembra que “a força dessa eclosão foi tamanha
que, na verdade, acabou por ofuscar completamente a primavera rock dos anos 70, criando na mente
de duas gerações a ilusão de que tudo começa em 1982”. O dado traz consigo elemento distinto da
preocupação dos estudiosos relativo à forma tardia da consolidação do rock no panorama musical
brasileiro.
Autores como A. M. Bahiana e J. Janotti apresentam interessante e rica perspectiva do rock
nesse cenário, pontuando alguns de seus marcos, em que se pode constatar a quantitativamente
tímida porém não menos substantiva e emblemática produção dos anos 60 e 70 e sua crescente
intensificação a partir dos anos 80. Por outro lado, o estudo de Helena W. Abramo (1994) sobre a
juventude e a cena musical urbana no Brasil dos anos 80, traz elemento fundamental à análise pois
possibilita ver a constituição sócio cultural da juventude que, para além de designar uma faixa etária
específica da população, se transforma, a partir dos anos 1950, num dos segmentos mais ativos
social, econômica a culturalmente das sociedades contemporâneas.
Tais argumentos permitem recuperar a idéia apresentada no início dessa seção sobre a rota
que liga as produções culturais aos seus meios de difusão, para lembrar que o rock no Brasil dos
anos 80 não pode ser entendido longe das estratégias desenvolvidas pelas grandes gravadoras para
definitivamente inserir o consumidor jovem num mercado de discos em que o consumidor padrão
tinha mais de 30 anos (Dias, 2000, p. 82, com base em Paiano, 1994). Nos anos 70, quando o
mercado brasileiro de discos se consolidava, a produção local de rock acabou por não receber a
atenção e o empenho dos produtores fotográficos. Bahiana fala de importação, cópia e assimilação
de padrões americanos por grupos musicais e artistas em produções que alcançaram público muito
10
!
Janotti, 2003, p. 67, prefere a expressão “rock tupiniquim”.
14 de 25
reduzido, mas que se tornaram notáveis e que deixaram marcas na música brasileira. Sua prática
estava especialmente ligada ao ideário oriundo da cultura hippie, de um conjunto de hábitos,
interesses e comportamentos de difícil transposição para uma cultura que amargava tempos de
restrição das liberdades imposta pela ditadura vigente. De todo modo, proliferaram grupos
espelhados nos padrões estéticos estrangeiros, padrões esses que aos poucos se entranharam nas
formas tomadas pela cultura musical local fazendo surgir produções sui generis qua são marcas da
cultura brasileira do período.
A partir do final dos anos 70, o mercado brasileiro de discos passou a ser alvo de iniciativa
decisiva empenhada em trazer o rock para centro da cena cultural, encampada inicialmente pela
Warner e seguida de perto por outras gravadoras. No entanto, a iniciativa não surgiu de um vazio.
Contava com a tendência de distensão na vida política brasileira, com a consolidação da presença
dos meios de comunicação de massa na vida social e a intensificação do processo de mundialização
da cultura, adaptando aqui o uso do conceito criado e do panorama estudado por R. Ortiz (1988 e
1994).
!
!
“(...)De 1957 a 67, foi lavrado o sulco no qual anda o rock no mundo inteiro e não mudou.
Em dez anos, aquela forma de vida se propaga e sobrevive onde existe uma população
urbana de 12 a 28 anos. Onde existe esse tipo de população, se não pegou, mais dia, menos
dia, vai pegar. De 57 a 67, o rock se impregnou pelas ondas de rádio; com a televisão, se
espalhou pelo mundo inteiro e se estabeleceu. Existe uma música como a de Elvis Presley,
feita com características iguais, na Finlândia, Indonésia, onde se quiser, porque as
condições são parecidas: rádio, televisão, eletricidade, juventude, asfalto. Você pode ter uns
ingredientes regionais, a língua e outras influências locais, mas a química básica é a
mesma”11.
Para os empresários e produtores fonográficos, as conseqüências do encontro das variáveis
apontadas acima eram claras:
!
“Eu vou contar a minha participação na investida das gravadoras no rock nos anos 80: era
segunda feira de manhã, eu abro a Folha de São Paulo e, nessa época, saía às segundas, um
resumo dos programas da semana. Eu vi que tinha quarenta shows de rock anunciados para
aquela semana, uma página inteira. Aí eu pensei assim: se você vai no pasto e todo dia conta
50 cogumelos e num outro dia você olha e conta 500 cogumelos, alguma coisa está
acontecendo, choveu, mudou a lua, mas alguma coisa aconteceu”. (idem)
Ao cenário descrito acrescia-se um conjunto de outras atividades que aconteciam nos
centros culturais, nos cines clubes - que apresentavam, por exemplo, vídeos de shows que
aconteciam fora do país com as bandas do momento - programação de filmes de música nos
!
11
Entrevista realizada com o produtor musical Pena Schmidt em 09/12/92, citada em Dias, 2008, p. 94.
15 de 25
cinemas, saraus, feiras de cultura alternativa (como as da Vila Madalena e da Pompéia), dentre
outras. Destaque deve ser dado à Praça do Rock, com eventos de rock/ heavy metal que se
realizavam uma vez por mês no Parque da Aclimação em São Paulo, revelando e divulgando várias
bandas desse estilo musical12. No meio década, o Brasil entra definitivamente no circuito dos shows
internacionais de rock, com o Rock in Rio, em 1985. Ou seja, condições para a definitiva
incorporação do rock ao circuito ampliado de trocas culturais na sociedade brasileira estavam se
constituindo, desigual porém progressivamente. O Brock constitui uma de suas dimensões.
Alguns autores tem se dedicado a compreender as especificidades dessa produção, buscando
responder às frequentes comparações que são feitas entre a sua produção e aquela da MPB dos anos
60 e 70. O próprio caráter tardio do rock poderia ser visto nas dificuldades de sua integração à
chamada linha evolutiva da MPB (Napolitano, 2007). Enquanto a nova geração é formada por
"filhos dos anos de chumbo", com inspiração no movimento punk e pós punk, buscando a
profissionalização - que foi significativamente oferecida pelas grandes gravadoras - um outro
segmento seguiu de perto o legado do rock internacional produzido nos anos 70, em vários estilos,
cultivando sua vida no ambiente underground longe de qualquer forma de profissionalização. É esse
tipo de produção que foi sendo capitalizada pela gravadora Baratos Afins.
Érica Magi (2013) chama a atenção para a necessidade de se olhar para o BRrock (bandas
como Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Ultrage a Rigor, Titãs, dentre outras) a
partir da sua especificidade, considerando, sobretudo, o fato de que muitas análises utilizam
referenciais dos anos 60 e 70 para refletir sobre o rock dos anos 80. A pratica alimentaria a
existência de enfoques preconceituosos, em que o rock é frequentemente tratado como prática
cultural estrangeira, e enquanto tal, alienado e despolitizado, discussão essa também proposta por
H. Abramo.
Samantha Quadrat (2005), analisando essa mesma produção, questiona sobre a razão de ter o
Brock surgido no período da transição política da primeira metade dos anos 80 e não nos "anos de
chumbo” dos 60 e início dos 70. Pondera que, como forma de música de protesto, o rock não teria
sido tolerado pelo regime militar; não teria sobrevivido à doutrina de segurança nacional. Por outro
lado, havia “forte controle ideológico” da esquerda com relação às questões culturais e ao rock era
creditado um suposto “caráter alienante"". Haveria também, segundo a autora, uma demanda, nos
anos 80, por estilos musicais diferentes da MPB, que não mobilizaria mais os jovens que tinham,
então, em torno dos 20 anos.
12
Ver “Praça do Rock, uma viagem à década de 60”. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 30/07/1984, p. 19.
16 de 25
Com relação aos anos 80, Erica Magi acata reflexão de Helena Abramo (1994), que
apresenta um conjunto de particularidades que orientavam a geração dos roqueiros dos 80 e que,
consequentemente, os diferenciava dos das gerações anteriores e da “linha evolutiva”da MPB. Não
teriam tido o dever de se organizarem em um movimento e nem de serem críticos da realidade
brasileira, mas o fizeram de várias outras formas.
"O estilo de inserção e atuação deles seria o do ‘espetáculo’: 'É assim que eles
buscam atuar e interferir nesse cenário social, pela construção de um espetáculo que chame
a atenção pública para essas questões: se oferecem como espelhos da essência do seu
tempo, buscando obrigar os outros a verem e ouvirem as distorções e a se mirarem nessa
perplexidade, de modo a repensarem suas convicções sobre o presente e o futuro.
(ABRAMO, 1994, p. 156, apud Magi, 2011, p.18)
Considero, com relação a tais questões, importante ressaltar que as várias formas que a
produção de rock no Brasil tomou, a partir dos anos 50, parecem expressar dimensões diversas do
processo de modernização brasileira. Seja como versão do rock’n'roll americano, como Jovem
Guarda, como Tropicalismo, como rock “pesado”,progressivo, punk rock ou BRock, importa
considerar que a ampla produção, circulação, recepção, enfim, a consolidação do rock como prática
musical e cultural, bem como segmento da indústria fonográfica acompanhou o ritmo do processo
de mundialização da cultura ou da maneira como este foi se aprofundando na sociedade brasileira. É
como se o caminho para uma produção de rock entre nós tivesse percorrido uma trajetória de
construção, sendo que em todas as suas etapas pôde contar com um tipo de público e de produções
fonográficas representativas de suas varias conjunturas específicas13.
!
!
!
!
13
!
M. Nicolau Netto trata de aspectos do encontro entre a música brasileira e mundialização da cultura em
Nicolau, 2009.
17 de 25
Para além do BRock14
Luiz Calanca, amante dos discos e dono de uma coleção deles, trabalhava numa farmácia
quando passou a ter idéias mais substantivas de abrir uma loja de discos. Olhava para o panorama e
via várias brechas que poderiam ser preenchidas pelo mercado. Em 1978, leva a cabo a ideia e
monta sua loja, inicialmente composta de discos de sua coleção, no edifício das Grandes Galerias
no centro da cidade de São Paulo. O lugar, que era antes ocupado por escritórios, foi aos poucos
dando lugar para lojas de roupas, discos e outros itens ligados à moda, cultura e beleza, tendo se
transformado num polo de consumo desses setores.
As lojas de discos foram atraindo interessados de toda sorte até se transformarem no que
talvez tenha sido para a época no espaço mais importante de trocas culturais ligadas à música do
final dos anos 70 e de toda década de 80. Músicos, ouvintes, interessados de toda sorte, buscavam
nas lojas Baratos Afins, Grilo Falante, Wop Bop e Punk Rock Discos, as novidades do momento, as
encomendas feitas via importação, as dicas sobre instrumentos musicais, acessórios técnicos (todos
raros naquela altura), noticias sobre a agenda de shows. Os sábados pela manhã eram especialmente
intensos: encontrava-se os amigos e de posse de novos discos, grupos decidiam o que fariam à
noite, onde se reuniriam para ouvir as novidades. A audição de discos era prática coletiva nessa
altura.
Entre o fim dos 70 e o início da década de 80, essa cena se efervescia ainda mais a partir do
que chegava vindo dos EUA e, sobretudo, da Inglaterra e grupos de fãs e de músicos interessados
foram se organizando em tipos de grupos identitários, em movimentos e/ou em grupos musicais.
Roqueiros adeptos do rock “tradicional”, do progressivo e de suas derivações, o Heavy Metal, o
Hard Rock, o Punk Rock, o Pós Punk e mesmo os que se remetiam às origens cinquentistas do
gênero, como Rockabilly, frequentavam e sorviam, de alguma forma, a substancia que derivava das
lojas de discos, considerado inclusive que a dimensão presencial constituía a única forma de acesso
! A apresentação
14
do panorama da produção de rock da gravadora Baratos Afins segue o seguinte
procedimento: foram realizadas até o momento 20 entrevistas com o produtor fotográfico e com os artistas
envolvidos na produção de discos e outras estão programadas. O material está sendo transcrito e o que
inviabilizou a apresentação de excertos. Apresento então um relato que busca privilegiar características
fundamentais da dinâmica da gravadora e que toma como base essencialmente esse material de pesquisa. A
lista dos entrevistados até o momento está citada ao final da Bibliografia.
18 de 25
aos produtos15. Todos esses segmentos estão representados no catálogo da gravadora Baratos Afins
da década de 1980.
!!
Discos e Artistas de Rock - Gravadora Baratos Afins – Anos 1980
Ano
Artista/ Banda
Álbum (A) / Single (S)
Estilo *
1982
Arnaldo Baptista
Singing’ Alone - A
Rock
1982
Patrulha do Espaço
Patrulha - A
Hard Rock
1983
Mixto Quente
Mixto Quente - A
Hard Rock
1983
Coke Luxe
É Rockabilly! - S
Rockabilly
1983
Patrulha do Espaço
Patrulha do Espaço IV - A
Hard Rock
1984
Voluntários da Pátria
Voluntários da Pátria - A
Pós Punk
1984
Avenger
Centúrias
Salário Mínimo
Vírus
SP Metal I - A
Heavy Metal
1984
Ave de Veludo
Eleérico Blues - A
Hard Rock
1984
Coke Luxe
Rockabilly Bop - A
Rockabilly
1984
Bagga’s Guru
Pirata - A
Rock
1984
Esquadrilha da Fumaça
Tora! Tora! Tora! - A
Pós Punk
1985
Patrulha do Espaço
Patrulha 85 - A
Hard Rock
1985
Akira S e as Garotas que Erraram
Muzak
Chance
Ness
Não São Paulo - A
Pós Punk
1985
A Chave do Sol
A Chave do Sol - A 45 rpm
Hard Rock
1985
Harppia
A Ferro e Fogo - A
Heavy Metal
1985
Akira S e as Garotas que Erraram
Akira S e as Garotas que Erraram - A Pós Punk
1985
Santuário
Abutre
Performances
Korzus
SP Metal II - A
Heavy Metal
1985
Platina
Platina – A 45rpm
Hard Rock
!
15
H. Abramo (1994, sobretudo Parte III) explora de maneira muito interessante essa cena, de várias
perspectivas. À centralidade da música como catalisadora principal de referências, agregava-se o interesse
pelas roupas, cortes de cabelo, atitudes específicas de comportamento para cada tipos de grupo. Posturas
político ideológicas, visões de mundo objetivas, eram mais ou menos presentes e conhecidas. Identifica
também questões relativas ao pertencimento social dos grupos que estudou, podendo identificar entre os
punks jovens de origem operária, habitantes das periferias da cidade de São Paulo e do ABC Paulista e entre
os pós punks, jovens universitários de origem “burguesa”.
19 de 25
1985
Smack
Ao Vivo no Mosh - A
Pós Punk
1986
Smack
Noite e Dia - A
Pós Punk
1986
Fellini
O adeus de Fellini - A
Pós Punk
1986
Fellini
Só vive duas vezes - A
Pós Punk
1986
Centúrias
Última Noite – A 45 rpm
Hard Rock
1986
Alta Tensão
Metalmorfose - A
Heavy Metal
1986
Ratos de Porão
Descanse em paz - A
Punk Rock
1986
Mercenárias
Cadê as armas? - A
Pós Punk
1986
Golpe de Estado
Golpe de Estado - A
Hard Rock
1987
Fellini
Três lugares diferentes - A
Pós Punk
1987
Nau
Gueto
365
Vultos
Não São Paulo II
Pós Punk
1987
Kafka
Musikanervosa - A
Pós Punk
1987
Karisma
Starway to Heavy - A
Heavy Metal
1988
Golpe de Estado
Forçando a Barra - A
Hard Rock
1988
Controlle
Sinto Muito em Dizer - A
Hard Rock
1988
Cherokee
Pegando Fogo - A
Hard Rock
1988
Centúrias
Ninja - A
Heavy Metal
1989
Kafka
Obra dos Sonhos - A
Pós Punk
!
!
!
Fonte: www. baratosafins.com.br – Acesso: Abril/setembro 2014
* As referências ao estilo tomam como base as informações oferecidas pela gravadora, pelas
próprias bandas ou via material de imprensa.!
O primeiro disco lançado pela gravadora foi o álbum Singing' Alone, de Arnaldo Baptista, o
segundo disco solo da carreira do ex integrante de Os Mutantes, desde sua saída do grupo. Calanca
trabalhou sobre um material que carecia apenas de finalização. O próprio artista tinha gravado todas
as faixas, tocando ele mesmo todos os instrumentos, no estúdio Abertura, de Tico Terpins. O disco
foi lançado em 1982, meses depois de Arnaldo se recuperar (mesmo que não inteiramente) de vários
e sérios problemas de saúde. Por todos os detalhes de forma e história, considero esse disco um
emblema da produção da Baratos Afins - a começar pelo título.16 É carregado de significação o
16
!
Desenvolvi, ainda que também inicialmente, essa idéia em Dias, M. T. "Singin' Alone (1982) – emblema
para uma gravadora indie paulistana no Brasil dos anos 1980”. International Congress of the Brazilian
Studies Association (BRASA). Londres, Agosto de 2014.
20 de 25
começo da atividade fonográfica da Baratos Afins se dar com o trabalho de um músico que era
cultuado por muitos, inclusive por Calanca, autor de projeto inventivo e precursor do rock brasileiro
e o faz no momento de seu descenso, depois de viver a toda brida as benesses e agruras da
contracultura. As 12 canções que integram o álbum parecem trazer um angustiado balanço dessa
trajetória.
A partir desse primeiro lançamento, o produtor passou a ser procurado por muitos músicos e
bandas que buscavam a sua chance de gravar um disco. A circulação de outros saídos por indies,
principalmente aqueles ligados ao movimento punk, mostrava a viabilidade do esquema de
produção independente. É nesse momento do processo que as “disputas" aconteciam, na busca pela
oportunidade de gravar. Nelas pareciam sobressair o pertencimento a determinado estilo, a um
projeto estético particular como forma de apresentação dos talentos individuais.
Espaços físicos e socio-culturais definidos conformaram algumas decisões do produtor. O
edifício Grandes Galerias e suas lojas de discos promoviam os encontros e sua loja, em especial
configurava um espaço particular nesse ambiente mais amplo. Neles circulavam jornalistas
(Revistas Pop, Bizz e Folha de S. Paulo) que eram também músicos e alguns deles como Thomas
Pappon (Fellini e Smack) e Alex Antunes (Akira S e as Garotas que Erraram) abriram caminho para
muitas das bandas ligadas ao Pós Punk. Depois dos discos lançados, sua divulgação era facilitada a
partir dessa rede existente. Bandas como a Voluntários da Pátria, cuidaram de todas as etapas
produção de seu disco, na busca de sofisticação para o produto. Cuidados com as capas e a
produção final eram itens especialmente acompanhados por esse segmento.
Hoje considerados marcos da história desse estilo no Brasil, as coletâneas SP Metal I e II
trazem uma amostra de várias bandas dessa cena; algumas continuam em atividade até hoje. Um
espaço específico, a já citada Praça do Rock, permitiu a sua seleção:
"Para o primeiro volume foi tudo muito natural. As bandas escolhidas eram as que estavam
mesmo mais presentes na cena. Eu também estava envolvido com toda aquela ebulição e
sempre a procura de novos espaços para divulgar nossos lançamentos e também abertos a
novas bandas. Acho que a Praça do Rock na concha acústica do Parque da Aclimação (SP),
organizadas pelo Dalam Jr., da banda Mercúrio, foi talvez o mais importante espaço para
nossas exibições. As reuniões para definir que banda tocaria lá eram feitas na sede do Jornal
do Cambuci e na própria Baratos Afins. Conseqüentemente, acabamos escolhendo as que
julgamos serem as melhores.”17
Entrevista de Luiz Carlos Calanca à Revista Roadie Crew (2005). Disponível em
www.baratosafins.com.br. Acesso em 20 de abril de 2014.
17
21 de 25
!
Muitas das gravações foram feitas no estúdio Vice Versa, em São Paulo. Em geral, todas as
etapas da gravação deviam ser feitas no menor tempo possível considerando o alto custo dessa fase
do trabalho. Muitas bandas mal tinham tempo de ensaiar. Em algumas ocasiões, como a da gravação
dos álbuns SP Metal I e II, as bandas entravam no estúdio uma após a outra, em um único dia de
gravação. O produtor fonográfico que era também o produtor musical, acompanhava todas as etapas
do trabalho, dirigindo a cena.
Com relação aos procedimentos formais que amparam legalmente esse tipo de atividade, a
década de 80 parece ter sido um tempo de aprendizado tanto para o produtor como para os músicos.
Os primeiros discos foram feitos sem contratos e outros cuidados desse tipo; quando passaram a ser
feitos, muitos ajustes foram sendo necessários ao longo do tempo dado o desconhecimento que se
tinha sobre os trâmites. A gravadora também não contava com um esquema de distribuição dos
discos para outros pontos de venda. Vendia-se os discos na loja própria e atendia-se o envio de
discos via correio. Os próprios músicos encarregavam-se de distribuir a sua cota de discos à outras
lojas bem como se incumbiam de conseguir espaços para shows e estabelecer formas de divulgação.
No entanto, a loja Baratos Afins funcionava como o centro agregador desses contatos e da difusão
dessas informações.
Apesar de considerar que os músicos e bandas que gravaram discos na Baratos afins eram
artistas da gravadora, não havia nenhum vínculo efetivo que os ligasse como que formando um cast.
Somente as obras é que selavam essa relação. Assim, Luiz Calanca viu vários dos “seus" artistas
migrarem para outras independentes e mesmo para grandes gravadoras. As Mercenárias foram para
a EMI Odeon, o Golpe de Estado foi para a Eldorado, o Fellini para a Wop Bop, o Harppia para a
Rock Brigade, a Chave do Sol para a Devil e o Ratos do Porão, para a Cogumelo Records. Esses
últimos, aliás, protagonizam o maior sucesso de vendas da Baratos Afins. Seu álbum “Descanse em
paz” vendeu até o momento oito mil LPs em vinil, cinco mil CDs e conta com 11 licenças
internacionais para reprodução.
!
Nesse primeiro balanço, tendo a bibliografia específica como amparo, nota-se a grande
identidade que a gravadora Baratos Afins apresenta com casos clássicos de independentes estudadas
por vários autores. Seu potencial, suas limitações técnicas e administrativas, seu alcance em termos
de difusão, enfim, suas condições de exercício do que Hesmondhalgh chamou de política estética e
institucional, se dividem em duas dimensões, a serem melhor exploradas pela pesquisa. De um lado,
a capacidade de incitava que permitiu registrar um tipo de produção que ficaria provavelmente
22 de 25
incógnita, e que integra um conjunto vivo, intenso e representativo de um momento específico e
importante da cultura brasileira. De outro, a maneira como, mesmo na condição de independente
que critica o rígido esquema no qual funcionava as grandes gravadoras, correu o risco e foi
reproduzindo questões inexoráveis ao negócio da música gravada, das relações entre artistas e
produtores, entre música e mercadoria. A produção de discos de rock feitos pela gravadora na
década de 80 é exemplo interessante desse processo. É dessas contradições que essa trajetória se
alimenta e é delas que temos ainda muitos meandros para desvendar.
!
!
!
!
!
Bibliografia
!ADORNO, T. W. The Form of He Phonograph Record. October, Vol. 55. (Winter, 1990), pp. 56-61.
Tradução de Thomas Y. Levin.
ADORNO, T. W. Introdução à Sociologia da Música. SP: Ed. UNESP, 2011.
ADORNO, T. W. “Sobre Música Popular”. Theodor W. Adorno. SP: Ed. Ática. Col. Grandes Cientistas
Sociais, nº 54, Org. Gabriel Cohn, 1986, tradução de Flávio Kothe, pp.115-146.
ADORNO, T.W. “Ideias para a Sociologia da Música”. Os Pensadores. Benjamin, Habermas,
Horkheimer e Adorno. 2ª ed. SP: Ed. Abril, 1983, tradução de Roberto Schwarz, pp. 259-268.
ATTALI, J. Bruits. Essay sur l’économie politique de la musique. Paris: Presse Universitaire de France,
1977.
BAHIANA, A. M. “Importação e assimilação: rock, soul, discotheque”. Anos 70, ainda sob a tempestade.
Rio de Janeiro: Aeroplanoe Ed. Senac Rio, 2005, p. 53-60.
BURNETT, R. The global jukebox: the international music industry. London: Routledge, 1996.
CALDAS, W. Acorde na Aurora: música sertaneja e indústria cultural. SP: Companhia Editora
Nacional,1977.
CHAPPLE & GAROFALO. Rock &Indústria. História e política da indústria cultural. Lisboa: Caminho da
Música, 1989.
CHRISTIANEN, M. Cycles in simbol production? A new model to explain concentration, diversity and
innovation in the music industry. Popular Music, volume 14/1, 1995, Londres: Cambridge University Press.
COSTA, I. C.“Quatro Notas sobre a Produção Independente de Música”. In: Arte em Revista.
Independentes, Ano 6, nº8. SP: CEAC, 1984, p.06-21
COSTA, I. C “Como se Tocam as Cordas do Lira”. In: Arte Em Revista. Independentes. Ano 6, nº 8, SP:
CEAC, 1984, p.34-36.
COZZELA, D. (org.) Disco em São Paulo. SP: IDART - Departamento de Informação e Documentação
Artísticas. Secretaria Municipal de Cultura, 1980.
DIAS, M. T. Os donos da voz. Indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura. SP:
Boitempo Editorial, 2008, 2ª edição (primeira edição 2000).
DIAS, M.T. Indústria fonográfica: a reinvenção de um negócio. Economia da arte e da cultura. Bolaño,
Golin e Brittos (orgs.). SP: Itaú Cultural, 2010. P. 165-183
23 de 25
FENERICK, J.A. Façanha às próprias custas: a produção musical da Vanguarda Paulista (1979-2000).
SP: Annablume, 2007.
FONAROW, W. Empire of dirt: the aesthetics and rituals of british indie music. Middletown
Connecticut: Wesleyan University Press, 2006.
FONSECA, R. A cena musical indie em Belo Horizonte: problemas em comum e articulações entre
gêneros musicais. 34º Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu, outubro de 2010, ST 33 – Sonoridades
Contemporâneas na perspectiva das Ciências Sociais.
FRANCESCHI, H. M. A Casa Edison e seu tempo. RJ: Sarapuí, 2002.
FRITH, S. The sociology of rock (Communication and society). Londres: Constable, 1978.
GONÇALVES, C.K. Música em 78 rotações. Discos a todos os preços na São Paulo dos anos 30. SP:
Editora Alameda, 2013.
GUMES, N.V.C. A música faz seu gênero. Uma análise sobre a importância das rotulações para a
compreensão do indie rock como gênero. Salvador: UFBA, 2011. Tese de Doutorado.
HARVEY, D. Condição Pós-Moderna. 2ª ed. SP: Edições Loyola, 1993, tradução de Adail U. Sobral e
Maria Stela Gonçalves.
HENNION, A. Les Professionnels du Disque. Une sociologie des variétés. Paris: Éditions A. M. Métailié,
1981.
HESMONDHALGH, D. “Flexibility, post-Fordism and the music industries”. In: Media, Culture and
Society. Londres: Sage Publications, vol. 18, 1996, p.469-488.
HESMONDHALGH, D. Indie: the institutional politics and aesthetics of a popular genre. Cultural Studies,
13 (1), 34-61. London: Routledge, 1999.
HESMONDHALGH, D. Post-punk’s attempt to democratize the music industry: the success and failure of
Rough Trade. Popular Music, vol 16/3, 255-274. London: Cambridge University Press, 1998.
JAMBEIRO, O. Canção de massa: as condições de produção. SP: Livraria Pioneira Editora, 1975.
KRUSE, H. Site and sound: understanding independent music scenes. New York: Peter Lang, 2003.
LEE, S. Reexamining the concept of the ‘independent’ record company: the case of Wax Trax! Records.
Popular Music. Vol 14/1, 13-31. London: Cambridge University Press, 1995.
LOPES, P. “Innovation and Diversity in the Popular Music Industriy, 1969 to 1990”. In: American
Sociological Review. vol. 57, nº 1, 1992, p. 56-71.
MAGI, E. Rock and roll é o nosso trabalho. A Legião Urbana do underground ao mainstream. SP: Alameda,
2013.
MORELLI, R.C.L. Indústria Fonográfica: Um Estudo Antropológico. Campinas/ SP: Editora da
UNICAMP, Série Teses, 1991.
MORELLI, R.C.L.O Campo da MPB e mercado moderno de música no Brasil: do nacional-popular à
segmentação contemporânea. Revista ArtCultura, Uberlândia, v. 10, nº16, jan. jun., 2008, pp.83-97.
NAPOLITANO, M. A síncope das idéias. A questão da tradição na música popular brasileira. SP: Editora
Perseu Abramo, 2007.
NICOLAU NETTO, M. Música brasileira e identidade nacional na mundialização. SP: Annablume,
2009.
ORTIZ, R. A Moderna Tradição Brasileira. SP: Ed. Brasiliense, 1988.
ORTIZ, R. Mundialização e Cultura. 2ª ed. SP: Ed. Brasiliense,1994.
PAIANO, E. Do berimbau ao Som Universal: Lutas Culturais e Indústria Fonográfica nos anos 60.
Dissertação de Mestrado. SP: ECA/USP, 1994.
PETERSON, R. e BERGER, D. “Cycles in Simbol Production: the case ”f popular music”. In: American
Sociological Review, vol. 40, April, 1975, p. 158-173.
QUADRAT. S. El brock y la memoria de los años de plomo em Brasil democrático. In JELIN, Elizabeth y
LONGONI, Ana. Escrituras, imágenes y scenarios ante la represión. Madrir, Siglo XXI, 2005. pp 93-117.
24 de 25
VICENTE, E. A Música Popular e as Novas Tecnologias de Produção Musical. Dissertação de Mestrado,
IFCH/UNICAMP, 1996.
VICENTE, E. A vez dos independentes (?): um olhar sobre a produção musical independente no país.
Ecompós. Dez/2006. http://www.compos.org.br/
VICENTE, E. Música e disco no Brasil: a trajetória da indústria nas décadas de 80 e 90. ECA/USP:
Tese de doutorado, 2002.
WISNIK, J.M. O som e o sentido. SP: Companhia das Letras, 2009, 2ª edição.
ZAN, J. R. Do fundo do quintal à vanguarda. Tese de Doutorado. Campinas: IFCH/ UNICAMP, 1997.
!
!
Entrevistas realizadas
!
Luiz Calanca (08 entrevistas, de 2005 a 2009); Paulo Thomas (Centúrias), Banda Salário Mínimo,
Akira (Akira S e As Garotas Que Erraram), Sandra Coutinho (As Mercenárias), Hélcio Aguirra
(Harppia e Golpe de Estado - 3 entrevistas), Paulo Zinner e Nelson Brito (Golpe de Estado), Miguel
Barella (Voluntários da Pátria e Smack), Thomas Pappon (Fellini, Smack e Três Hombres), Nardis
Antinardis (Salário Mínimo), Jack Santiago (Harppia), Banda Expresso Monofônico, Luiz
Domingues (A Chave do Sol), Tibério Corrêa e Marcos Patriota (Harppia) e Ricardo Ravache
(Harppia e Centúrias) (de dezembro/08 a fevereiro/09); João Gordo (Ratos de Porão).
25 de 25