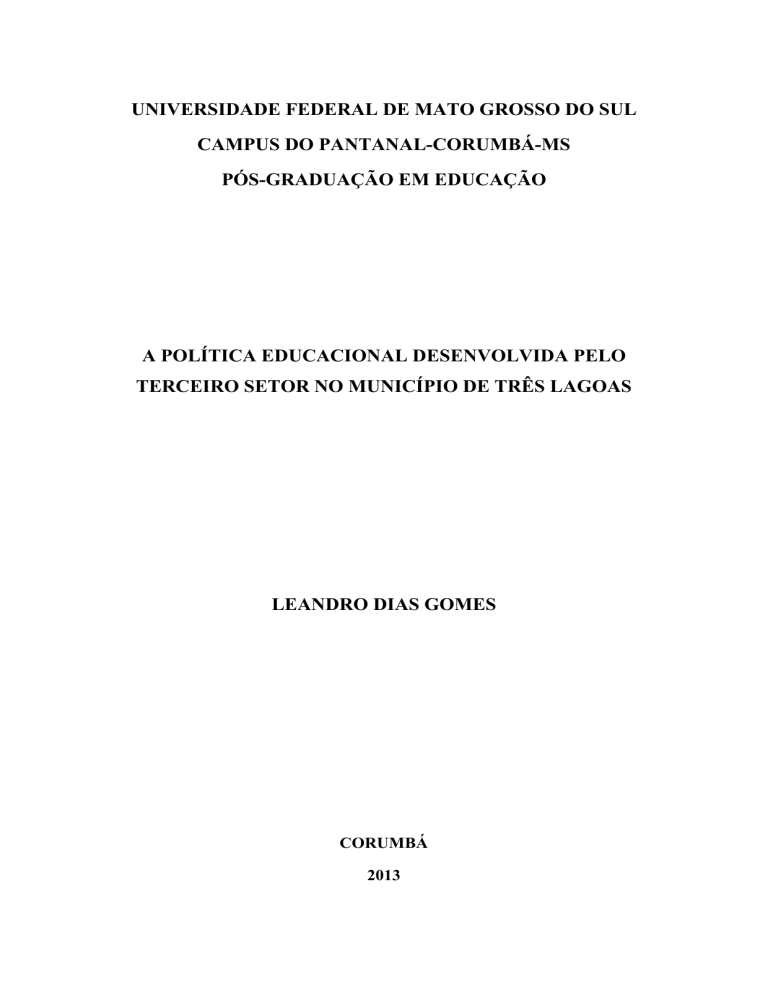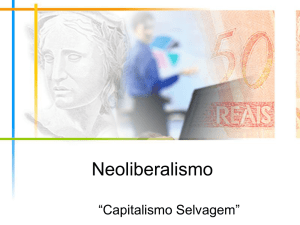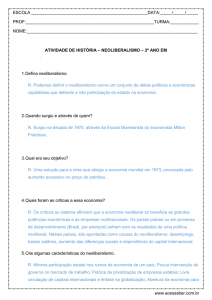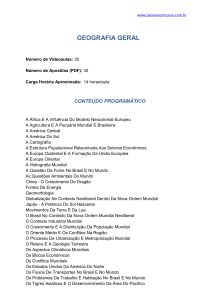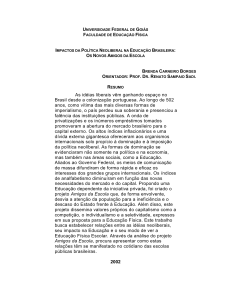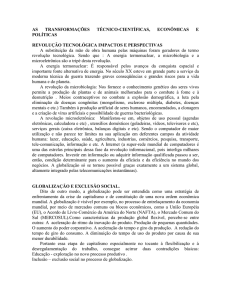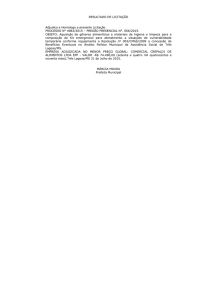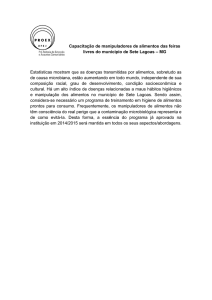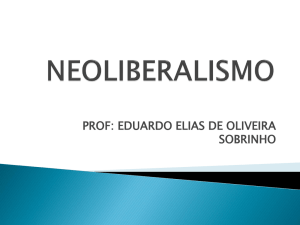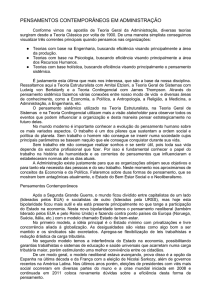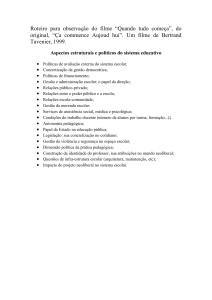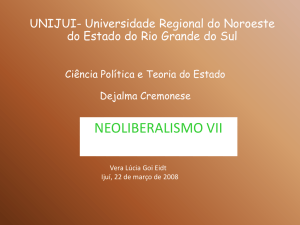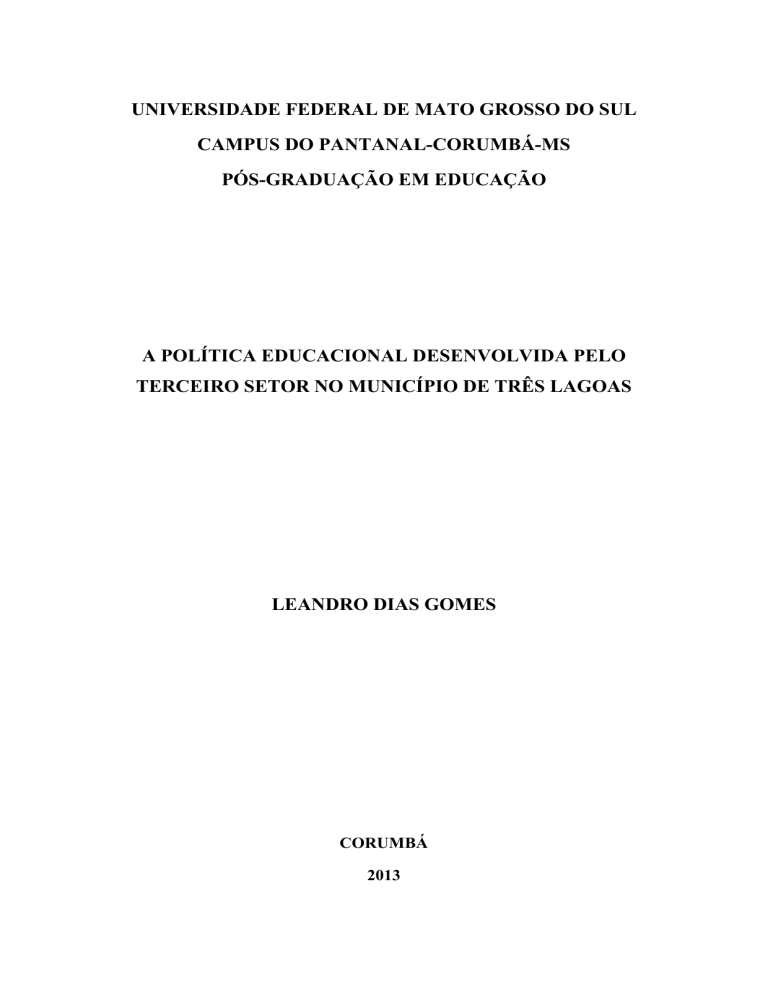
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CAMPUS DO PANTANAL-CORUMBÁ-MS
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
A POLÍTICA EDUCACIONAL DESENVOLVIDA PELO
TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
LEANDRO DIAS GOMES
CORUMBÁ
2013
1
A POLÍTICA EDUCACIONAL DESENVOLVIDA PELO
TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
LEANDRO DIAS GOMES
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós- Graduação em Educação como
exigência final para obtenção do grau de
Mestre em Educação pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul
Orientador: Prof. Dr. Hajime Takeuchi
Nozaki.
CORUMBÁ
2013
2
UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
A dissertação de mestrado intitulada A POLÍTICA EDUCACIONAL
DESENVOLVIDA PELO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS foi aprovada por todos os membros da banca examinadora, e aceita pela
Faculdade de Educação após homologação do resultado como requisito final a obtenção
do grau de
MESTRE EM EDUCAÇÃO
Corumbá, _______________________________________________ de 2013
BANCA EXAMINADORA
___________________________________________________
Prof. Dr. Hajime Takeuchi Nozaki - Orientador
Universidade Federal de Juiz de Fora
________________________________________________________________
Prof(a). Dra. Mônica Carvalho Kassar
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
_________________________________________________________________
Prof(a). Dra. Vera Maria Vidal Peroni
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
3
A conclusão desta pesquisa dedico a todos aqueles que estiveram sempre
comigo, desde o início da minha caminhada, em especial a vocês:
Edite Aparecida Dias, que é mais que uma mãe, mais que uma heroína, mais que
um exemplo, é a mulher da minha vida, é a mulher que me inspira a cada dia a nunca
desistir perante as dificuldades, que me ensinou a ser um homem de caráter, digno,
honesto. Feliz o filho que tem uma mãe como você, TE AMO.
Cícero Mathias Gomes, pai zeloso, que mesmo estando distante sempre
contribuiu para o meu crescimento, a minha formação à sua maneira. TE AMO.
Dolvanir Batista, mais que minha madrinha, minha MÃEDRINHA. Sempre nos
momentos de dificuldade esteve ao meu lado trazendo palavras de coragem e conforto.
São a vocês
para quem dedico esta pesquisa
4
Tenho muito que agradecer e a quem agradecer:
Gostaria de agradecer a Deus pelas portas que foram se abrindo durante esta
trajetória, pelas pessoas maravilhosas que colocou no meu caminho que fizeram e fazem
toda a diferença na minha vida. Pela saúde que me deste, pelo dom de existir. Esta força
sobrenatural que está comigo sempre.
Gostaria de agradecer ao grande Mestre Armando Catrana. Foi por meio dele
que iniciei meus primeiros passos na educação e foi ele o grande incentivador a cursar o
curso de Pedagogia, me respaldando durante o período de ingresso ao ambiente
acadêmico. Com ele aprendi as primeiras lições no âmbito educacional, me fiz e me
refiz ser humano durante a trajetória no Centro Juvenil, aprendendo como lidar com os
educandos. Ali passei muitos conflitos que hoje fazem a diferença.
Gostaria de agradecer também aos meus amigos do Centro Juvenil, meu
primeiro emprego formal onde formei minha base educacional e fiz grandes amigos.
Muitos me incentivaram e desfrutaram dos meus conflitos, anseios, dificuldades e das
vitórias. Agora compartilho com vocês esta minha vitória! Vocês serão inesquecíveis.
Aos meus amigos de Três Lagoas e de Corumbá, que sempre estiveram comigo
acompanhando meu crescimento, dando aquela força nos momentos mais difíceis e
compartilhando suas experiências.
À grande professora Ester Senna pela escolha do meu projeto, mas que por conta
de problemas de força maior não pode dar continuidade à conclusão da minha pesquisa.
Entretanto, sua colaboração foi imprescindível, sempre solícita e presente. Meu muito
obrigado Mestre!!
À banca de qualificação e defesa, em especial à professora Dr(a) Vera Maria
Vidal Peroni, que muito contribuiu para minha pesquisa, com suas arguições de grande
valia para meu estudo, pela disponibilidade e disposição em contribuir com sua
experiência neste trabalho. Sua presença na banca examinadora valorizou ainda mais a
minha pesquisa.
À equipe do Programa de Pós graduação, campus de Corumbá, à Cleidinha, a
nossa mais que secretária, uma amiga, mãe de todas as horas e também a todos os
professores: Anamaria Santana, Mônica Kassar, Ana Lúcia Espíndola, Edelir Garcia,
Márcia Sambugari, Dimair França, Rosana Cintra, Constantina Xavier Filha pelos
momentos de aprendizagem, pelas discussões acaloradas que promoveram durante as
aulas, que foi muito importante neste processo de crescimento profissional.
5
À família Ohara, ao Sr. Geraldo, à Sra Maria Lúcia e ao grande Alexandre por
ter acolhido um “estranho” durante um ano em vossa casa. Realmente ganhei mais uma
família. Supriram as minhas dificuldades de estar longe de casa, cuidando de mim como
se fosse um filho. Serei eternamente grato pela cordialidade!
Ao Grupo de Estudos Nucleados em Trabalho e Educação (GENTE), pelos
momentos de discussão sobre o nosso referencial teórico-metodológico, pelos
encontros, as reuniões formais e informais que realizamos periodicamente que muito
contribuíram para a execução desta pesquisa.
E não poderia deixar de agradecer ao meu grande mestre, amigo, pai, professor
Dr. Hajime Takeuchi Nozaki. Você é meu exemplo. Vem me acompanhando desde a
graduação, durante este período passamos por grandes momentos de embate, de
reflexões e hoje se estou nesta condição de mestre é porque você acreditou no meu
potencial, o qual nem eu mesmo acreditava. Fez brotar frutos de onde não se acreditava.
A você amigo, palavras de agradecimento serão sempre insuficientes. Agradeço a cada
dia a Deus por ter te conhecido. São poucas as pessoas que teve esta condição de estar
com uma pessoa tão competente como você. Você me adotou e se hoje posso dizer que
sou mestre, o maior responsável foi você. Muito obrigado amigo!
6
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar o papel do terceiro setor na política
educacional brasileira e caracterizar o desenvolvimento das instituições públicas nãoestatais presentes no Município de Três Lagoas-MS. A pesquisa se propôs a responder
algumas questões de investigação como: Existem instituições amparadas pelo terceiro
setor no município de Três Lagoas? Qual a característica dos projetos educativopedagógicos do terceiro setor em Três Lagoas? Houve uma expansão do terceiro setor
na área da educação em Três Lagoas após a reforma do Estado de 1990? Qual o perfil
da clientela atendida pelo terceiro setor em Três Lagoas? Qual a relação do terceiro
setor estabelecida com o governo federal e o setor privado e qual o interesse destes
setores em trabalhar no social? O materialismo histórico-dialético foi o referencial
teórico metodológico que sustentou a crítica desenvolvida na pesquisa, pois esta
abordagem tem como característica desvendar, além do conflito de interpretação, o
conflito de interesses, de transformar as situações ou fenômenos estudados, resgatando
sua dimensão histórica e desvendando suas possibilidades de mudança. O estudo de
campo foi a estratégia metodológica utilizada na pesquisa. Como procedimentos foram
tomados os documentos oficiais fornecidos pelas instituições do terceiro setor que
desenvolvem projetos educacionais em Três Lagoas, além de entrevistas com os
gestores destas entidades. O resultado da pesquisa salientou que não foram encontradas
entidades formalmente legalizadas pela lei do terceiro setor (OSCIPs n° 9.790/99), e
sim apenas instituições de caráter beneficentes, filantrópicas, sem fins lucrativos. Os
projetos educativos destas instituições têm como finalidade atender as camadas mais
populares, residentes das periferias do município, além do foco das ações serem
voltados para a formação para o trabalho. As instituições públicas não-estatais em Três
Lagoas trabalhavam em parceria nas 3 instâncias federativas e com as empresas, que
buscam associar suas ações de responsabilidade social com estas instituições com o
intuito máximo de fortalecer sua marca nas comunidades e aumentar sua lucratividade.
A partir destes dados, chegamos à conclusão de que as entidades públicas não-estatais
neste município desenvolvem suas ações a fim de compensar as lacunas deixadas pelo
Estado brasileiro neoliberal no setor social, invertendo a responsabilidade destas
políticas que antes era de obrigação do Estado, atualmente fica por conta das ações das
entidades públicas não-estatais.
7
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar el papel del tercer sector en la política
educativa y caracterizar el desarrollo de las instituciones públicas no estatales presentes
en Três Lagoas-MS. La investigación tiene como objetivo responder a algunas
preguntas de investigación como: Hay instituciones apoyadas por el tercer sector en
Três Lagoas? ¿Qué característica de los diseños del tercer sector educativo-docente en
Três Lagoas? Hubo una expansión del tercer sector de la educación en Três Lagoas
después de la reforma de 1990 del estado? ¿Cuál es el perfil de la clientela para el tercer
sector en Três Lagoas? El trabajo realizado por el tercer sector está relacionado con el
sector público y / o de negocios? ¿Qué interés en estos sectores en el trabajo social? El
materialismo histórico y dialéctico fue el marco teórico que la crítica sostenida
desarrollado en la investigación ya que este enfoque se caracteriza desentrañar, y el
conflicto de interpretación, conflicto de intereses, para transformar situaciones o
fenómenos estudiados, recuperando su dimensión histórica y revelando sus
posibilidades de cambio. El estudio de campo fue la estrategia metodológica utilizada
en la investigación. Los procedimientos fueron tomados como documentos oficiales
proporcionadas por las instituciones del tercer sector para desarrollar proyectos
educativos en Três Lagoas y entrevistas con los directivos de estas entidades. Los
resultados de la encuesta indicaron que no se encontró entidades formalmente
legalizadas por el derecho del tercer sector (OSCIP N º 9.790/99), pero sólo las
instituciones caritativas de carácter, filantrópicas, sin fines de lucro. Los diseños de
estas instituciones educativas tienen la intención de cumplir con el nivel de base, los
residentes de las afueras de la ciudad, más allá del enfoque de las acciones están
dirigidas a la formación para el trabajo. Las instituciones públicas no estatales en Três
Lagoas trabajan en asociación con el sector público local, estatal y nacional, y las
empresas que buscan asociar su responsabilidad social con estas instituciones con el fin
de fortalecer su máxima marca en las comunidades y aumentar rentabilidad. A partir de
estos datos se concluye que las entidades públicas no estatales en este municipio
desarrollan sus acciones con el fin de compensar los vacíos dejados por el sector social
neoliberal de Brasil, la inversión de la responsabilidad de estas políticas fue una vez que
el deber del Estado, se encuentra actualmente debido a las acciones de las entidades
públicas no estatales.
8
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Quadro 1: Combinações resultantes entre agentes e finalidades ....................................44
Quadro 2: Síntese da caracterização das instituições investigadas..................................84
9
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Distribuição das entidades do terceiro setor, conforme foco de atuação ........78
Tabela 2: Distribuição das entidades do setor educacional pesquisadas, conforme foco
de atuação .......................................................................................................................79
Tabela 3: Distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil por Unidade da
Federação ........................................................................................................................86
Tabela 4 – Distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil segundo a data de
criação..............................................................................................................................88
Tabela 5 - Número de alunos atendidos pelas instituições............................................104
10
LISTA DE SIGLAS
ABONG- Associação Brasileira das Organizações não-governamentais
BM- Banco Mundial
BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento
CEAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
CEE- Conselho Estadual de Educação
CEI- Centro de Educação Infantil
CEMPRE - Cadastro de Empresas (CEMPRE)
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar
CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
CNAS- Conselho Nacional e Assistência Social
DRU- Desvinculação de Recursos da União
EUA- Estados Unidos da América
FMI- Fundo Monetário Internacional
FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social
FIS- Fundo de Investimento Social
FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social
FUNDEB- Fundo Nacional da Educação básica
GIFE- Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
ISS- Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social
MARE- Ministério de Administração e Reforma do Estado
MTE- Ministério do Trabalho e Emprego
OIF- Organismo Internacional de Financiamento
ONG- Organização não-governamental
OS- Organizações Sociais
OSCIP- Organizações da Sociedade Civil e de Interesse Público
11
PDRAE- Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado
PED- Plano Estadual de Desestatização
PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PIB- Produto Interno Bruto
PND- Plano Nacional de Desestatização
PNP- Plano Nacional de Publicização
PPP- Plano Político Pedagógico
PVCA- Projeto Valorização da Criança e Adolescente
RCNEI- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
RITS- Rede de Informações para o terceiro setor na Internet
SEMED- Secretaria Municipal de Educação
SUS- Sistema Único de Saúde
12
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..................................................................................................................1
CAPÍTULO 1: POLÍTICA SOCIAL E TERCEIRO SETOR: SEUS CONTORNOS
APÓS O RECEITUÁRIO NEOLIBERAL E A TERCEIRA VIA.....................................9
1.1 Estado providência, neoliberalismo e organismos internacionais financeiros..............9
1.2 A terceira via...............................................................................................................20
1.3 A política social brasileira a partir dos anos 1990......................................................28
CAPÍTULO 2: TERCEIRO SETOR, A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E A
FILANTROPIA EMPRESARIAL: O DESMONTE DA NAÇÃO..................................40
2.1 Terceiro setor: a busca por uma definição..................................................................40
2.2 A reforma do aparelho do Estado e a lei da publicização (nº 9.637/98).....................47
2.3 O Programa Comunidade Solidária e a lei do terceiro setor (n° 9.790/99).................52
CAPÍTULO 3: A CONSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE
TRÊS LAGOAS-MS ........................................................................................................65
3.1 Sobre o referencial teórico metodológico ..................................................................65
3.2 Caracterização das entidades educacionais do terceiro setor no município de Três
Lagoas- MS.......................................................................................................................77
CAPÍTULO 4: A CARACTERIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR EM TRÊS LAGOASMS.....................................................................................................................................86
4.1 Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três Lagoas-MS............86
13
4.2 Relação terceiro setor, setor público e o empresariado ..............................................92
4.3 A proposta pedagógica do terceiro setor e sua relação com o público-alvo ............103
4.4 Condição dos trabalhadores das instituições investigadas........................................108
CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................................112
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................116
APÊNDICES...................................................................................................................121
1
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos vem ocorrendo no mundo, e especificamente no Brasil, um
movimento de transformação no plano das políticas públicas sociais e na relação
Estado, empresas e entidades do terceiro setor. Os direitos sociais, com o avanço das
políticas capitalistas, vêm sendo destituídos paulatinamente do controle do Estado, sob a
justificativa de que ele é o culpado pela crise, que gastou demais com políticas sociais
provocando a crise fiscal.
As estratégias para o enfrentamento desta crise foi o deslocamento da execução
das políticas sociais do âmbito do Estado para a sociedade, e o que fica como
propriedade do Estado adquire a orientação do mercado, considerada parâmetro de
eficiência. Desta forma, a responsabilidade pela execução das políticas sociais é
repassada para a sociedade: para os neoliberais, através da privatização (mercado), e,
para a terceira via, pelo público não estatal. Assim, as políticas públicas passam a ser
executadas pelo terceiro setor, que vai se ampliando significativamente sendo uma
alternativa para o atendimento de demandas da população de baixa renda, oferecendo
políticas pontuais em parceria com o poder público. Constata-se ainda que o setor
privado, nos últimos anos, cada vez mais interfere no setor público como parte de um
diagnóstico de que o Estado é ineficiente e o setor privado mercantil deve ser o
coordenador da vida em sociedade. (PERONI, 2006).
Apesar de o terceiro setor assumir a execução da política social, o Estado não se
eximiu totalmente da manutenção da mesma, mas financia estas entidades com recursos
públicos, o que estimulou, nos últimos anos, diversas entidades públicas não-estatais e
empresas em resposta ao social. Este cenário, de precarização e focalização (não
universalização) da política social, o avanço do terceiro setor e do setor empresarial em
resposta ao social tornam-se os cenários a serem investigados nesta pesquisa.
O conceito de terceiro setor ganhou força após a crise do Estado de bem-estar
social1 nos países de capitalismo central e da entrada do novo sistema políticoideológico neoliberal que, a partir da execução de reformas no aparelho estatal,
retiraram diversos direitos dos trabalhadores conquistados a duras reivindicações,
passando os direitos à lógica do mercado, a fim de manter a maximização do lucro
1
Neste estudo, serão utilizados os termos Estado providência, keynesianismo e Estado de bem-estar
social e welfare state como sinônimos. Parte-se da análise de que, no Brasil, não houve este tipo de
Estado, mas um outro de caráter desenvolvimentista. Esta questão será retomada no capítulo 1.
2
capitalista. A política social deixa de ser, no projeto neoliberal, responsabilidade
prioritária do Estado e passa a ser de responsabilidade compartilhada pela ação
filantrópica, das organizações sociais e dos indivíduos. (MONTAÑO, 2003).
O sistema capitalista de tempos em tempos sofre suas crises de superprodução e
baixa demanda, consequências da lei geral de tendência decrescente da taxa de lucro.
Em cada crise, o capital reage criando novas estratégias de superação e uma delas foi o
projeto neoliberal. Segundo Carlos Montaño (2003), o neoliberalismo, dentre suas
medidas, promove uma forte ofensiva contra o trabalho, aumentando a exploração da
força de trabalho e os níveis de mais-valia. Estabelece uma flexibilização dos contratos
de trabalho, através de subcontratação e terceirização das relações de trabalho;
esvaziamento ou atenuação da legislação trabalhista; a retirada dos direitos sociais e até
políticos dos trabalhadores e a redução do poder sindical.
O projeto neoliberal constituiu numa radical ofensiva contra as conquistas
históricas dos trabalhadores. Para Pablo Gentili (1996), expressa uma dupla dinâmica
que caracteriza todo processo de construção de hegemonia. Por um lado, trata-se de uma
alternativa de poder extremamente vigorosa, constituída por uma série de estratégias
políticas, econômicas e jurídicas orientadas para encontrar uma saída dominante para a
crise capitalista que se iniciou ao final dos anos 1960 e que se manifestou claramente já
nos anos 1970. Por outro lado, expressa e sintetiza um ambicioso projeto de reforma
ideológica nas sociedades capitalistas: a construção e a difusão de um novo senso
comum que fornece coerência, sentido e uma pretensa legitimidade às propostas de
reforma impulsionadas pelo bloco dominante. Os governos neoliberais não só
transformam a realidade econômica, política, jurídica e social, como também
conseguem incutir nos cidadãos que esta transformação seja aceita como a única saída
possível para a crise.
Em países de cunho neoliberal, ao Estado cabe apenas a responsabilidade nas
funções essenciais: justiça, segurança interna e relações exteriores. Como o
neoliberalismo busca racionalizar recursos e esvaziar o poder do Estado, uma das
principais marcas da sua política é a privatização de funções públicas, políticas e de
setores sociais (saúde, educação, previdência e assistência social) que pressupõe ser o
deslocamento da produção de bens e serviços da esfera pública para o setor privado
lucrativo, ou seja, para o mercado. Neste contexto, para arcar com as políticas sociais,
foram lançadas as bases da convocação da sociedade civil e do desafio que o governo
3
dirigiria ao terceiro setor, compreendido como um dos mecanismos institucionais de
controle das ações governamentais. (SIMIONATTO, 2000).
Junto à política neoliberal, outro fator que aumenta ainda mais a crise dos países,
em especial os periféricos, são os receituários dos organismos internacionais de
financiamento (OIF). Os países em crise econômica interna, para buscar manter o
superávit econômico, recorrem a estes organismos tais como o Banco Mundial (BM) e
Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros. Porém, estes organismos impõem
condições, reformas políticas aos países tomadores de empréstimos, além dos juros
exorbitantes cobrados, que muitas vezes se tornam dívidas impagáveis. (NEVES, 2005).
A América Latina tem sido obrigada a aceitar a eterna receita imposta pelos
credores, sempre em moda exclusivamente na vida dos devedores. Essa receita consiste
na obrigação de aplicar o liberalismo econômico e a estabilização monetária, que têm
redundado na penúria destes países. Segundo Simionatto (2000), essa combinação entre
liberalismo econômico e estabilização monetária tem causado sujeição e obscuridade a
esta região. Desta forma, sob administração dos Estados, cabe apenas a execução de
programas de combate à pobreza, pois, para estes organismos, a população pobre tornase uma ameaça social em grande potencial.
O neoliberalismo, para que se tornasse uma política de destaque no cenário
mundial, chegou ao poder, na maioria das nações mundiais, pela via do voto popular,
por meio do processo de convencimento das massas. Durante a segunda metade do
século XX, deixou de ser apenas uma simples perspectiva teórica, para passar a orientar
as decisões governamentais em grande parte do mundo capitalista, o que incluiu desde
as nações do primeiro e terceiro mundo até algumas sociedades da Europa oriental.
(GENTILI, 1996).
Na Europa, a década de 1980 ficou marcada pela execução prática do
neoliberalismo no governo da primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, um
dos principais governos neoliberais da história. (ANDERSON, 2000). No Brasil, o
neoliberalismo emergiu a partir dos anos 1990, sob o governo de Fernando Collor de
Mello, centrando-se no feroz ataque aos elementos de conquistas sociais e trabalhistas
do Estado desenvolvimentista. Os setores sociais que continuaram administrados pelo
Estado, na sua maioria, se caracterizaram como de baixa qualidade e sob condições
precárias de trabalho. (SIMIONATTO, 2000).
4
Contudo, o auge da materialização política neoliberal aconteceu sob o governo
de Fernando Henrique Cardoso. Para Carlos Montaño (2003), como o projeto político
de FHC servia aos interesses do capital, seu alvo central de ataque foi o conjunto dos
direitos sociais, ferindo a seguridade social. Seu governo promoveu um profundo
desmonte nas políticas sociais, tanto que, em 1995, atrelado à política neoliberal,
formulou o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), liderado por
Luis Carlos Bresser Pereira, à frente do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado (MARE).
O PDRAE tinha como um dos principais objetivos proporcionar meios de
reconhecer e renovar as instituições públicas, a esfera pública, respondendo a
globalização. Enfatizava a defesa do discurso do terceiro setor em arcar com as políticas
sociais, através da criação da lei da publicização (nº 9.637/98), que defendia a
transferência para o setor público não-estatal das políticas sociais, estimulando a
participação de organizações públicas não-estatais para atuarem na implementação dos
ditos serviços não-exclusivos do Estado. (BRASIL, 1995). Além do Plano Diretor, o
Programa Comunidade Solidária também atuou divulgando e promovendo o terceiro
setor2, fomentando a participação de organismos da sociedade na implementação de
políticas públicas e na elaboração da lei nº 9.790/99, a lei do terceiro setor, que criou a
figura jurídica das Organizações da Sociedade Civil e de interesse Público – OSCIPs.
A partir da criação destes marcos legais do terceiro setor (nº 9.637/98 e nº
9.790/99), o Estado promoveu a extinção de organizações estatais e transferiu
patrimônio pessoal e recursos financeiros para as instituições públicas não-estatais, sem
fins lucrativos, que assumiu as atividades, antes, de responsabilidade direta do Estado,
sob o corolário de que estas instituições responderiam melhor aos anseios do cidadão
brasileiro. (FERRAREZI, 2007). Segundo Montaño (2003), a finalidade da reforma do
aparelho
do
Estado
e
a
criação
da
lei
da
publicização,
representou
a
desresponsabilização do Estado à questão social e sua transferência para o setor privado.
Além do advento das políticas neoliberais e a execução do PDRAE, o
crescimento do terceiro setor no Estado brasileiro decorreu da retração do mercado de
trabalho industrial, que gerou desemprego estrutural, consequência da crise do capital.
Segundo Ricardo Antunes (1999), através do processo de reestruturação produtiva do
2
Este conceito será tratado no capítulo 2
5
capital, os neoliberais encontraram no terceiro setor a forma de gerar postos de trabalho
como forma de mascarar a crise do capital e os elevados índices de desemprego. Perry
Anderson (2000), mesmo não acreditando que seja uma alternativa efetiva e duradoura
ao mercado de trabalho capitalista, atenta que o terceiro setor tem cumprido um papel
de funcionalidade ao incorporar parcelas de trabalhadores desempregados pelo capital,
situação que legitima ainda mais o seu discurso.
Dentro da análise do terceiro setor, outro aspecto a ser investigado nesta
pesquisa é o processo que legitimou as empresas como entidades do terceiro setor.
Apesar de gerarem lucros, as empresas estão respondendo à questão social, defendendo
o conceito de filantropia empresarial. Outrossim, será analisar o estímulo que o Estado
oferece às empresas que desenvolvem ações no âmbito social como: subvenções para
execução de seus projetos, isenção de impostos às empresas parceiras do Estado, entre
outros incentivos que esvaziam os cofres públicos.
O setor educacional também sofreu grande influência do neoliberalismo.
Segundo Gentili (1996), na perspectiva neoliberal os sistemas educacionais enfrentam
uma profunda crise de qualidade decorrente da improdutividade que caracteriza as
práticas pedagógicas e a gestão administrativa da maioria dos estabelecimentos
escolares. Para os neoliberais, esta crise promove em determinados contextos a evasão
escolar, repetência, o analfabetismo funcional, entre outros.
No argumento neoliberal, a educação funciona mal porque foi profundamente
estatizada, reivindicando a ausência de um verdadeiro mercado educacional permitindo
compreender a crise da qualidade que invade as instituições escolares. Defendem a
eficiência da escola por meio da implantação de um sistema de gestão gerencial.
(GENTILI, 1996). Segundo o autor, a grande operação estratégica do neoliberalismo
consiste em transferir a educação para a esfera do mercado, questionando assim seu
caráter de direito e reduzindo-a a sua condição de propriedade.
Conforme José Souza (2002), no caso brasileiro, com o advento do
neoliberalismo, a educação se apoiou basicamente em três teses: a da necessidade de se
estabelecer parâmetros de qualidade para nortear a gestão das políticas educacionais, a
de que o Brasil não gasta pouco em políticas sociais, ele gasta mal, e a de que o
problema educacional do Brasil não é universalização do ensino, mas a produtividade
do trabalho escolar.
6
O que fica evidente é que não é por meio do incremento de sistemas de gestão
que será resolvido o problema da educação pública. O neoliberalismo defende o livre
mercado, insere sistemas de gestão, colocando os problemas educacionais como se
fossem apenas problemas administrativos, como se especialistas em administração de
empresas resolveriam a crise da educação. Jogar a responsabilidade da crise da
educação aos cidadãos é papel do neoliberalismo. São formas que este encontra para
superar a crise, mascarando o real sentido: a queda nas taxas de acumulação capitalista.
A educação na década de 1990 passou a receber investimentos privados,
especialmente mediante o apoio de empresas, da sociedade civil e organizações nãogovernamentais (ONGs). Conforme Souza (2002), o Plano Decenal da educação de
1993, fortaleceu a participação do empresariado na educação, por meio de políticas de
gestão educacional, priorizando a obtenção do consenso em vez da coação. Este
processo abriu a escola pública ao interesse empresarial, por meio de ações pedagógicas
que transformam os estudantes em futura mão-de-obra, disciplinando a classe
trabalhadora desde a tenra idade. Neste período, o Brasil investiu pouco na educação, e
ainda conclamou a sociedade civil a responder pela educação e culpabilizou o cidadão
pela situação crítica do setor educativo e social. Pode-se considerar que o cerne da crise
está alicerçada em dois pontos: no Estado que é mínimo em resposta à questão social e
no capitalismo que é máximo em seu processo de acumulação.
O interesse pelo estudo do terceiro setor surgiu devido o conceito estar ganhando
grande visibilidade no cenário social e, em Três Lagoas-MS, este crescimento não é
diferente. Investigar esta temática pode ajudar a entender as mediações da política social
promovidas pelo Estado brasileiro, neste município, analisando o alcance das
instituições públicas não-estatais nesta região. Montaño (2003) apresenta o esforço
dedicado ao tema do terceiro setor, que busca:
[...] explicitar o fenômeno real encoberto pelo conceito (ideológico e
mistificado) de terceiro setor. Assim, numa perspectiva crítica e de
totalidade, o que é chamado de terceiro setor refere-se na verdade a um
fenômeno real inserido na e produto da reestruturação do capital, pautado nos
princípios neoliberais: um novo padrão de responsabilidades para a função
social de resposta às seqüelas da questão social, seguindo os valores da
solidariedade voluntária e local, da auto-ajuda e da ajuda-mútua. (p. 22).
Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o papel do terceiro setor na política
educacional brasileira e caracterizar o desenvolvimento das instituições públicas não-
7
estatais presentes no Município de Três Lagoas-MS. A pesquisa teve como questões a
investigar: Existem instituições amparadas pelo terceiro setor no Município de Três
Lagoas? Qual a característica dos projetos educativo-pedagógicos do terceiro setor em
Três Lagoas? Houve uma expansão do terceiro setor na área da educação em Três
Lagoas após a reforma do Estado de 1990? Qual o perfil da clientela atendida pelo
terceiro setor em Três Lagoas? O trabalho desempenhado pelo terceiro setor está
atrelado ao setor público e/ou empresarial? Qual a relação do terceiro setor estabelecida
com o governo federal e o setor privado e qual o interesse destes setores em trabalhar no
social?
O materialismo histórico-dialético foi o referencial teórico metodológico que
sustentou a crítica desenvolvida na pesquisa, pois esta abordagem tem como
característica desvendar, além do conflito de interpretação, o conflito de interesses, de
transformar as situações ou fenômenos estudados, resgatando sua dimensão histórica e
desvendando suas possibilidades de mudança. (GAMBOA, 2000). Com isso, mais do
que evidenciar a expansão do terceiro setor, a pesquisa busca entender quais os
interesses contidos neste processo de transferência/cooperação entre o público e o
privado com as organizações públicas não-estatais. O estudo de campo foi a estratégia
metodológica utilizada na pesquisa. Como procedimentos foram utilizados os
documentos oficiais fornecidos pelas 6 instituições do terceiro setor que desenvolvem
projetos educacionais em Três Lagoas além de entrevistas com os gestores destas
entidades.
A dissertação está dividida em quatro capítulos: no primeiro capítulo foi
realizado o percurso das políticas sociais e o surgimento do neoliberalismo em resposta
à crise do capital, discutindo sua gênese e suas características no cenário mundial. Em
complemento a esta discussão, dialogou-se sobre o conceito político da terceira via, que
alicerçou as bases para a reforma da gestão gerencial do PDRAE brasileiro, durante a
presidência de Fernando Henrique Cardoso e salientou a continuidade desta gestão
gerencial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
A discussão do segundo capítulo concentrou-se no conceito de terceiro setor
enquanto uma estratégia neoliberal e da terceira via analisando sua implantação no
Estado brasileiro. Foi tratado ainda o conceito de terceiro setor, além da reforma do
PDRAE no Brasil, que por conseqüência amparou o surgimento da lei da publicização
(n° 9.637/98). Abordou-se ainda o Programa Comunidade Solidária, que impulsionou o
8
processo de criação das OSCIP (n° 9.790/99), discutindo ainda sobre o arranjo político
promovido pelas empresas que passaram a ser legitimadas como entidades do terceiro
setor.
O terceiro capítulo focalizou os aspectos metodológicos da pesquisa,
apresentando o materialismo histórico dialético, referencial teórico metodológico que
embasou o estudo, a estratégia metodológica e os procedimentos da pesquisa, além de
ter sido apresentado o levantamento realizado das entidades do terceiro setor que
desenvolvem trabalho educacional em Três Lagoas, explicitando suas características e
aspectos principais.
No quarto capítulo desenvolveu-se a análise do desenvolvimento do terceiro
setor em Três Lagoas e sua perspectiva de trabalho no setor educacional. Este capítulo
está dividido em 4 itens: Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três
Lagoas; Relação terceiro setor, setor público e o empresariado; A proposta pedagógica e
sua relação com o público-alvo; Condições dos trabalhadores das instituições
investigadas.
Com a conclusão do estudo busca-se fazer um balanço dos resultados obtidos na
pesquisa, respondendo em que perspectiva está calcado o trabalho das instituições do
terceiro setor em Três Lagoas que desenvolvem trabalhos no setor educacional.
9
CAPÍTULO 1
POLÍTICA SOCIAL E TERCEIRO SETOR:
SEUS CONTORNOS APÓS O RECEITUÁRIO NEOLIBERAL
E A TERCEIRA VIA
Este capítulo apresenta o percurso das políticas sociais e do neoliberalismo,
discutindo detalhes da sua gênese e suas características no cenário mundial e suas
medidas na política brasileira. Em complemento a esta discussão, discutir-se-ão as
características políticas da terceira via, política surgida na Europa que influenciou as
reformas no Estado brasileiro.
O capítulo está dividido em três tópicos. O primeiro tópico trata do conceito de
Estado de bem-estar social, que posteriormente foi alterado pelo advento do
neoliberalismo, com a intervenção de organismos internacionais de financiamento. O
segundo tópico discute o conceito político da terceira via, que mesmo afirmando ser
uma política renovada, nem socialista, nem neoliberal, em suas ações predomina a
lógica do mercado e a retirada do Estado, medidas defendidas pelos neoliberais. O
terceiro tópico analisa os rumos da política brasileira após a eleição do governo
neoliberal de Fernando Collor de Mello, até a chegada à presidência do governo de Luiz
Inácio Lula da Silva, seus meandros e relações.
1.1 Estado providência, neoliberalismo e organismos internacionais financeiros
O século XX foi marcado por transformações na organização social, econômica
e política do Estado capitalista. Para que se entenda a política social atual brasileira, fazse necessário investigar o germe das políticas públicas no seu contexto mundial. O
neoliberalismo, antes de ganhar notoriedade no capitalismo contemporâneo, obteve
impulsão a partir da crise do Estado de bem-estar social. Para Elaine Behring (2007), o
sistema capitalista atravessou um longo ciclo de aceleração e desaceleração da
acumulação de capital. A partir destas crises cíclicas, as políticas sociais se
multiplicaram no final de um longo período depressivo, que se estendeu de 1914 a
1939, e se generalizou no início de um período de expansão, que teve como substrato a
guerra e o fascismo, e seguiu até fins da década de 1960.
10
Evaldo Vieira (2007) discorrendo sobre a gênese da crise norte-americana da
época que se alastrou pelo mundo capitalista, afirma que os anos de 1929 a 1931 não
deixaram dúvidas a respeito dos estorvos à estabilização, dando início a uma crise
econômica sem precedentes e sem comparação com a Grande Depressão. Em outubro
de 1929, a bolsa de Nova York sofreu o crash, com violentíssima queda de valor dos
títulos, pulverizando fortunas em pouco tempo. Os EUA se singularizaram pela
prosperidade na década de 20, contrapondo-se às dificuldades econômicas e sociais da
vida européia, porém, edificaram naquela década um desarranjado crescimento
industrial, gerador de superprodução, de saturação do mercado, de consumo elitista, de
ampliação excessiva do crédito bancário, de protecionismo exagerado e de desequilíbrio
acentuado entre agricultura e a indústria.
A eleição, em 1932, de Franklin Delano Roosevelt à presidência dos EUA deu
condições ao surgimento do New Deal (Novo Acordo), fundando a ideologia do
planejamento no capitalismo, ligada à ação do Estado. O dirigismo estatal foi uma das
principais características deste acordo, pois continha medidas a serem aplicadas pelo
Estado com a finalidade de reorganizar a economia e a sociedade norte-americanas.
Preservando a lei do mercado e as bases do capitalismo, pressupondo forte intervenção
estatal, as medidas incluídas neste acordo visaram ordenar a vida econômica,
controlando o mercado financeiro, combatendo o desemprego e o desamparo da velhice
por meio de subvenções, estimulando a elevação da produção e das rendas, subindo os
salários e reduzindo a jornada de trabalho, orientando a produção para o mercado
interno, sem negligenciar o externo. As medidas propostas pelo New Deal
incrementaram as funções econômicas e sociais do governo federal nos EUA, em
detrimento dos poderes estaduais e da liberdade de empresa. Elas incentivaram o
sindicalismo, restringiram o desemprego e aumentaram os preços, a produção industrial,
as exportações e a renda nacional. (VIEIRA, 2007).
O New Deal foi resultado dos estudos do economista inglês John Maynard
Keynes. Na linha de raciocínio de Keynes, o colapso econômico do capitalismo nos
EUA e nos demais países industriais nasceu do insuficiente investimento por parte dos
empresários. Propunha que o Estado investisse temporariamente, até que a economia
voltasse à sua posição regular. Na visão de Keynes, o consumo representava o grande
sustentáculo da atividade econômica. (VIEIRA, 2007).
11
A partir destas concepções, surgiu o Estado providência, que dentro das suas
atribuições, defendia um Estado máximo no trato com as políticas sociais, cuidando do
planejamento econômico e social, garantindo pleno emprego aos trabalhadores e
distribuição equitativa da renda gerada na sociedade. Assim, Elaine Behring (2007)
aponta que a política keynesiana que elevou a demanda global a partir da ação do
Estado, em vez de evitar a crise, apenas amorteceu-a por meio de alguns mecanismos
como, por exemplo, a seguridade social e a política social, direitos estes garantidos
através das lutas dos movimentos operários. Porém, a partir da eclosão da Segunda
Guerra Mundial, a sociedade industrializada sofreu terríveis consequências, não
somente realçando diversos aspectos do Estado providência, como também
multiplicando as demandas sociais por sua completa instalação destas políticas.
(VIEIRA 2007).
O padrão de acumulação que sustentou o Estado de bem-estar foi o
taylorismo/fordismo. Segundo Frigotto (2003), o fordismo teve duas fases marcantes.
Na primeira, que foi de 1914 até 1930, constituiu-se num processo de refinamento do
sistema de maquinaria, que tinha como características principais ser um sistema de
máquinas acoplado que gerou o aumento intenso de capital morto e da produtividade
visando uma produção em grande escala e consumo de massa. Este sistema ficou
marcado por tornar-se um modo social e cultural de vida após a Segunda Grande
Guerra.
Conforme Thomas Gounet (1999), o sistema fordista foi implantado por Henri
Ford, um produtor de automóveis dos EUA. Ford propôs aumentar a produção, ao
mesmo tempo reduzir os gastos para ter uma maior lucratividade. Sua produção
baseava-se na planta horizontal, ou seja, os seus trabalhadores montavam o veículo por
inteiro, gastando, para isso, tempo e trabalho. Para dinamizar a produção, Ford buscou
conhecimento nos preceitos de Frederick Taylor, este último baseado na racionalização
do trabalho.
O taylorismo foi um modelo que fragmentava a autonomia dos trabalhadores em
relação à produção, buscando produzir mais em pouco tempo, sendo necessária a
divisão de funções para cada operário, além da repetição de gestos. O estudo de Taylor
consistia em aumentar a produtividade do trabalho. Para ele, o grande problema das
técnicas administrativas existentes consistia no desconhecimento, pela gerência, bem
como pelos trabalhadores, dos métodos ótimos de trabalho. A busca dos métodos
12
ótimos seria efetivada pela gerência, através de experimentações sistemáticas de tempos
e movimentos. Uma vez descobertos, os métodos seriam repassados aos trabalhadores
que se transformavam em executores de tarefas pré-definidas. (GOUNET, 1999).
Utilizando
as
técnicas
de
Taylor,
Ford
inseriu
a
esteira
rolante,
consequentemente o trabalho humano ficou mais limitado com o parcelamento de
tarefas, pois cada funcionário exercia uma função específica, reduzindo-a apenas a
repetições de gestos, tornando o trabalho alienado, perdendo sua criatividade e noção do
produto no todo. Com o acréscimo dos estudos de Taylor, o modelo de produção passou
a ser denominado taylorismo/fordismo, que nas palavras de Ricardo Antunes (1999):
[...] baseava-se na produção em massa de mercadorias, que se estruturava a
partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada.
Esse processo produtivo caracterizou-se, portanto, pela mescla da produção
em série fordista com o cronômetro taylorista, além da vigência de uma
separação nítida entre a elaboração e execução. A atividade de trabalho
reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva. (p. 36-37).
A segunda fase marcante do sistema fordista está no contexto das teses
keynesianas que postulavam a intervenção do Estado na economia como forma de evitar
o colapso total da economia. Para Frigotto (2003), o welfare state teve como finalidade
desenvolver políticas sociais que visassem à estabilidade no emprego, políticas de
rendas com ganhos de produtividade e de previdência social, incluindo seguro
desemprego, bem como direito à educação, subsídio no transporte dentre outros, ou
seja, os direitos sociais propriamente ditos. As teses keynesianas, em suma, postulavam
a intervenção do Estado na economia como forma de evitar o colapso total do sistema
econômico, proporcionando assistência aos cidadãos.
Para Perry Anderson (2000), o Estado de bem-estar foi uma política tão eficaz
para a segurança da classe trabalhadora que serviu como a mais importante fórmula de
paz para as democracias capitalistas desenvolvidas, pois o capitalismo maximizou ainda
mais seus lucros com o advento do keynesianismo, gerando maior potencial de compra
aos trabalhadores, consequentemente desafogando os capitalistas da crise de
superprodução.
A partir da década de 1970 foi sentido nos países do capitalismo central o fim da
comemoração americana dos anos dourados, além da crise do welfare state, processos
estes amplificados pela crise do socialismo real. Foram tendências que, conforme
Behring (2007), promoveram inflexões estruturais na produção/acumulação, com fortes
13
repercussões na esfera da regulamentação/reprodução, que revelaram graves e
progressivos empecilhos à continuidade e à dilatação das atividades estatais, gerando
uma falência do Estado.
A década de 1970 foi marcada pela crise do padrão de acumulação
taylorista/fordista, que sustentava a política do Estado de bem-estar. Para Antunes
(1999), a crise do padrão de acumulação taylorista/fordista nada mais foi do que a
“expressão fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Ela exprimia, em seu
significado mais profundo, uma crise estrutural do capital, onde se destacava a
tendência decrescente da taxa de lucro”. (p. 31). A crise se deu pela grande produção e
baixa demanda devido à diminuição do poder de compra e não por culpa do governo
que gastava demasiadamente com as políticas de welfare state, como defendiam os
neoliberais.
Para superar a crise da década de 1970, os anos de 1980 foram marcados, sob o
ponto de vista da economia capitalista, por uma ofensiva revolução tecnológica na
produção, pela globalização da economia, pelo ajuste neoliberal e pelo padrão de
acumulação toyotista. Na concepção de David Harvey (1999), este período foi marcado
pela passagem do padrão de acumulação e regulamentação fordista/keynesiano para o
novo padrão – toyotista ou da acumulação flexível. Antunes (1995, 1999) argumenta
que o padrão de acumulação flexível, dentre outras características, trouxe uma nova
forma de organização industrial e de relacionamento entre o capital e o trabalho, mais
favorável quando comparada ao taylorismo/fordismo, uma vez que possibilitaram a
constituição de um trabalhador flexível, mais qualificado, participativo, multifuncional e
polivalente.
Contudo, neste novo padrão de acumulação, forjou-se uma articulação entre
descentralização produtiva e avanço tecnológico, além de uma combinação entre
trabalho extremamente qualificado e desqualificado. Contrapondo-se à verticalização
fordista, a produção flexível é horizontalizada e descentralizada. Trata-se de terceirizar
e subcontratar uma rede de pequenas e médias empresas, muitas vezes com perfil semiartesanal e familiar. Behring (2007) alerta para o processo de reestruturação produtiva
que vem sendo conduzida em combinação com o ajuste neoliberal. Esta aproximação
implica na desregulamentação de direitos, no corte dos gastos sociais, deixando milhões
de pessoas à sua própria sorte e mérito individuais – elemento que também desconstrói
as identidades, jogando os indivíduos numa aleatória e violenta luta pela sobrevivência.
14
O neoliberalismo tem como principal medida controlar o poder do Estado,
enxugando os gastos públicos. Procurou eliminar o Estado de bem-estar, que passou a
tomar a posição de Estado mínimo. (FRIGOTTO, 2003). Em seu bojo, contém
proposições que vão além da esfera econômica e implica em rever a relação do Estado
com as políticas sociais, em fortalecimento do capital e controle sobre a organização dos
trabalhadores. A ideologia neoliberal se fez como uma construção hegemônica. Além de
regular o mercado no âmbito econômico, regulou também ideias e pessoas.
As despesas de manutenção da regulação do mercado colocaram também em
crise a política social. Mesmo que a política social jogava a favor do capitalista, pois
legitimava o controle dos trabalhadores, não foi possível segurar a crise de legitimação
política articulada à queda dos gastos na área social. Segundo Behring (2007), o
discurso neoliberal atacou as políticas sociais com o argumento do excesso de
paternalismo do welfare state. Com relação à política social, o sistema capitalista trouxe
consequências marcantes como desemprego estrutural e o aumento dos programas
sociais de caráter assistencial permanente.
O neoliberalismo do século XX trata-se de uma atualização do liberalismo do
século XVIII, que tem como um dos seus principais representantes Adam Smith,
economista inglês, autor, dentre outras obras, de “A riqueza das nações”. Janete
Azevedo (1994) argumenta que a máxima “menos Estado e mais mercado”, que
sintetiza suas postulações, tem como princípio chave a noção da liberdade individual, tal
como concebida pelo liberalismo clássico.
O capitalismo, desde seu surgimento, vem sofrendo constantes crises cíclicas,
típicas deste sistema. Acontecem devido aos processos de superacumulação,
superprodução e estagnação. Umas são mais sentidas, outras mais indeléveis, porém
todas com a mesma estrutura. No final do século XX, o capital reagiu como forma de
enfrentar e ampliar os níveis de lucro esperado, utilizando como estratégia hegemônica
o projeto neoliberal.
Carlos Montaño (2003) define o projeto neoliberal em 3 frentes articuladas de
ação:
A ofensiva contra o trabalho, permitindo a concentração de capital em
detrimento da exploração da força de trabalho; a reestruturação produtiva,
confirmada a partir de um novo padrão produtivo, o toyotismo e a reforma do
Estado, que está articulada com o projeto de desregulamentação do capital,
que procura reverter, retirar os direitos dos trabalhadores conquistados
historicamente por pressão e lutas sociais. (p. 26).
15
Os neoliberais creditam ao mercado a capacidade de regulação do capital e do
trabalho e consideram as políticas públicas as principais responsáveis pela crise que
perpassa as sociedades. Para eles, a intervenção estatal afeta o equilíbrio da ordem, tanto
no plano econômico como no plano social e moral, na medida em que tende a
desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores estes básicos no
sistema capitalista.
No que diz respeito às políticas sociais, a referência básica é igualmente o livre
mercado. Os programas e as várias formas de proteção destinadas aos trabalhadores, aos
excluídos do mercado e aos pobres são vistos pelos neoliberais como fatores que
tendem a bloquear a livre iniciativa e a individualidade, acabando por desestimular a
competitividade e infringir a própria ética do trabalho. (AZEVEDO, 1994, p. 13). Para o
grupo neoliberal, os seguros de acidente, de desemprego, as pensões e as aposentadorias
são considerados formas de constranger e de alterar o equilíbrio do mercado de trabalho,
isto porque se julga que induzem os beneficiários à acomodação e a dependência ao
Estado, contribuindo para a desagregação das famílias e do pátrio poder. Consideram
que os recursos públicos estimulem a indolência e a permissividade social.
Para os neoliberais, as políticas sociais e o seguro desemprego são nefastos para
a economia estatal, pois o Estado, ao tomar a responsabilidade destes programas sociais,
geraria a necessidade de aumentar os tributos e os encargos sociais à população, além de
os seguros gerarem um bloqueio dos mecanismos que o próprio mercado seria capaz de
acionar para restabelecer o seu equilíbrio. Contudo, Janete Azevedo (1994) vai contra
esta posição, pois argumenta que, se assim fosse, o Brasil, que é o país com a maior
carga tributária do planeta, deveria ter programas sociais mais eficazes e não como os
que presenciamos, na forma de políticas de alívio à pobreza.
Investigando o avanço das políticas neoliberais na América Latina, Vieira (2007)
aponta que este fenômeno chegou nos países latino-americanos a partir das últimas
décadas do século XX e no início do século XXI. Teve como palco da sua primeira
experiência a América Latina, mais especificamente, no Chile, em 1973, sob a ditadura
de Augusto Pinochet,
[...] abrindo seu mercado consumidor interno, liberando a descontrolada
especulação financeira nas bolsas, desejando com ardor o aumento das
importações, leiloando as principais empresas públicas, privilegiando os
investimentos e as empresas externas, remetendo volumosas somas de
dólares para pagamento da dívida externa, conseqüentemente cortando os
gastos públicos em nome do controle das contas do Estado, acelerando o
crescimento da pobreza, da violência social e do desemprego. (p. 79).
16
Porém, foi na Inglaterra nos anos 80 que esta política obteve maior destaque.
Sob o governo da primeira ministra Margaret Thatcher “A Dama de Ferro”, as medidas
de austeridade foram mais sentidas, as quais apresentavam como medidas
intervencionistas a contração de emissão monetária, elevação das taxas de juros,
diminuição dos impostos sobre os rendimentos altos, abolição de controles sobre os
fluxos financeiros, criação de níveis de desemprego massivo, aplastamento de greves,
imposição de uma nova legislação antissindical, corte de gastos sociais e lançamento de
planos de privatizações. Segundo Anderson (2000), esse pacote de medidas foi o mais
sistemático e ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo
avançado. A desigualdade foi um dos agravantes causados pelo neoliberalismo.
Vieira (2007) esclarece que este período propiciou estudos concernentes à
compatibilização entre democracia, capitalismo e bem-estar social, avultando por seu
lado os obstáculos ao prosseguimento e à ampliação do intervencionismo do Estado.
Instala-se a crise do Estado ou crise do Estado providência, em razão de motivos
econômico e sociais. Alastram-se os debates e as pressões em torno das alternativas: de
estatização ou privatização. Os governos que se assumem neoliberais desenvolvem
reformas nos setores públicos nos princípios da descentralização e flexibilidade
administrativa com o foco das reformas na diminuição dos custos, corte de pessoal,
aumento da eficiência e da produtividade e a flexibilização burocrática. Já as políticas
públicas sociais são delegadas à lógica empresarial do mercado.
Ivete Simionatto (2000) afirma que o tripé focalização, descentralização e
privatização são as principais características das políticas sociais no Estado neoliberal.
Na primeira, os gastos e investimentos em serviços públicos devem concentrar-se nos
setores de extrema pobreza, cabendo ao Estado participar apenas residualmente da
esfera pública. A descentralização busca redirecionar as formas de gestão e a
transferência das decisões da esfera federal para estados e municípios, buscando
combater a burocratização e a ineficiência do gasto social. No nível local inclui,
também, a participação das organizações não governamentais, filantrópicas,
comunitárias e empresas privadas. E a privatização pressupõe o deslocamento da
produção de bens e serviços da esfera pública para o setor privado lucrativo, ou seja,
para o mercado.
17
Na América Latina a agenda neoliberal, por meio dos organismos internacionais
de financiamento, ganhou espaço a partir da década de 1990 com ênfase nas reformas
em favor do mercado. Ajustaram o Estado, reduzindo seu tamanho e desmantelaram as
instituições protecionistas e criaram agências regulatórias. Em seguida, o objeto das
mudanças passou pela consolidação das reformas, pelo restabelecimento da capacidade
regulatória do Estado em atividades que foram repassadas para a iniciativa privada, pela
melhoria da competitividade e por novas definições na oferta dos serviços sociais e de
sua qualidade. (SIMIONATTO, 2000).
Para Ivete Simionatto (2000), em todos os países do Mercosul as consequências
dos planos de estabilização macroeconômica e das reformas do Estado que
predominaram nos anos de 1990 incidiram diretamente sobre as políticas sociais
públicas, sendo estas o alvo prioritário das privatizações. As restrições para o seu
financiamento, a dinâmica perversa do mercado, a diminuição de recursos humanos
para operá-las e a redução da esfera estatal vêm se constituindo nos principais fatores de
sua deslegitimação. Nestes países, as políticas sociais universais como previdência,
saúde, assistência e educação básica, sofreram perdas irreparáveis, agravando-se de
forma crescente às já precárias condições sociais da grande parcela da população.
Outro processo que acelera ainda mais a crise dos países, em especial os
periféricos, são as políticas ditadas pelos organismos internacionais de financiamento,
pois a política neoliberal está intrinsecamente subordinada a estes organismos. Dentre
os principais estão: o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e
suas agências. Segundo Lúcia Neves (2005), estes organismos surgiram do acordo de
Bretton Woods, em 1945, com o intuito de elaborar um plano visando à criação de um
fundo de estabilização econômica capaz de manter as taxas de comércio internacional
em equilíbrio e, com menor ênfase, à criação de um banco para a reconstrução e o
desenvolvimento para recuperação dos mercados dos países afetados pela Segunda
Guerra Mundial. Atualmente sua missão é conceder empréstimos aos países que
necessitam de recursos financeiros para equilibrar sua balança comercial.
Segundo Adriana Melo (2005), estes organismos exigem que os países
devedores executem reformas e ajustes como garantias de pagamento e de
desenvolvimento das dívidas. Estas garantias se traduzem na obrigação de realizar
políticas sociais de caráter compensatório, com o objetivo de diminuir a desigualdade
social, sob a forma de pacotes para o desenvolvimento com os quais os países anuíam.
18
No entanto, o resultado desses pacotes de ajustes é claramente nefasto, provocando uma
forte reação social nos países em desenvolvimento, que exigem, por sua vez, novas
condições para futuros contratos.
Para Octávio Ianni (1992), os planos de estabilização macroeconômica e os
programas de ajustamento estrutural postos por estes organismos representam um
poderoso instrumento de remodelagem que afeta a vida de centenas de milhões de
pessoas. A aplicação do programa de ajustamento estrutural, em um grande número de
países devedores favorece a globalização de uma política macro-econômica colocada
sob o controle do FMI e BM, que atuam em nome do capitalismo. Segundo o autor, essa
nova forma de dominação, denominada de “colonialismo de mercado”, subordina povos
e governos ao jogo anônimo e as manipulações deliberadas das forças desse mercado,
uma situação sem precedente histórico nesta escala. As políticas ditadas pelo FMI e
BM acentuam as disparidades sociais entre as nações e no seu interior, porém a
realidade é cada vez mais camuflada por uma ciência econômica global.
O pacote de reformas do FMI- BM constitui um programa coerente de colapso
econômico e social. As medidas de austeridade levam à desintegração do Estado,
remodela-se a economia nacional, a produção para o mercado doméstico é destruída
devido ao achatamento dos salários reais e redireciona-se a produção nacional para o
mercado mundial. Essas medidas implicam muito mais que a gradual eliminação das
indústrias de substituição de importações; elas destroem todo o tecido da economia
doméstica. (MELO, 2005). Conforme Ianni (1992) estes organismos desenvolvem seus
próprios desenhos do que podem ou devem ser as nações e os continentes. Elaboram
parâmetros rigorosos, técnicos, pragmáticos, fundados nos princípios do mercado, da
livre iniciativa, da liberdade econômica, que segundo o autor, são princípios sugeridos e
impostos aos governos que pretendem ou precisam beneficiar-se de sua assistência.
Para pagarem suas dívidas, os governos latino-americanos são obrigados a cortar
investimentos, tornando ainda mais precários e desprezíveis os serviços de educação,
saúde, assistência, moradia, previdência, entre outros. (VIEIRA, 2007). Muitas vezes
são dívidas impagáveis devido aos altos juros cobrados nestes financiamentos. É nesse
contexto em que se lançam as reais possibilidades de organização e exercício do poder
mundial. O FMI e o BM concretizam-se, segundo Ianni (1992), como instituições
mundiais na medida em que institucionalizam ou formalizam as condições sob as quais
o capital em geral se movimenta e se reproduz, absorvendo as outras formas.
19
Vieira (2007) aponta que da segunda metade do século XX em diante os países
latino-americanos têm se submetido às decisões destes organismos financeiros
internacionais, administrados pelos governos dos grandes centros capitalistas, que são
os emprestadores:
Premidos pela exigência de remediar os déficits da balança comercial e da
balança de pagamentos, saldando quase sempre juros e, às vezes, um pouco
do principal da dívida para com os credores estrangeiros, o FMI, dentre
outros tem exercido na América Latina uma função fundamental no seu
endividamento e no abuso da cobrança de juros sobre os empréstimos aí
feitos. (p. 79-80).
Na década de 1980, aprofundaram-se os processos de liberalização,
desregulamentação e privatização de cunho antissocial, ou seja, em detrimento dos
interesses da maioria da população dos países. A implantação de medidas
macroeconômicas cada vez mais conservadoras e a intensa exploração pelos países
capitalistas periféricos fizeram com que ficassem cada vez mais claras e declaradas as
intenções dos representantes do grande capital mundial na exploração e conformação da
classe trabalhadora, estabelecendo um discurso legitimador que, incorporando
demandas das classes populares, planeja a condução de ações estratégicas focalizadas e
restritivas e, ao mesmo tempo, de incentivo ao pluralismo e à democracia de caráter
universalista. (MELO, 2005).
As principais diretrizes destes organismos recomendam reformas no Estado
orientadas para o mercado exigindo o abandono de instrumentos de controle político e a
restrição na alocação de recursos públicos, principalmente na área social, buscando
diminuir o papel do Estado e fortalecendo as ações de natureza privada, reforçando o
aspecto mercadológico na área social. Neste contexto, para arcar com as políticas
sociais, foram convocadas as entidades público não-estatais, fenômeno, que será
investigado mais à frente, denominado de terceiro setor. (SIMIONATTO, 2000).
Em resumo, nos países dominados pela política econômica neoliberal e pelos
organismos financeiros, a política pública social está subordinada à lógica do mercado,
contendo os gastos do governo, transferindo a responsabilidade desta política às
organizações de caráter público-não estatais e comunidades à focalização de programas
para os segmentos mais pobres da população, política esta que tem como principal
finalidade o alívio a pobreza. (SIMIONATTO, 2000).
20
Após a apresentação do Estado de bem-estar social e do neoliberalismo, a seguir
será analisado a política da terceira via discutindo suas diferenças e semelhanças com as
políticas neoliberais e sua relação com o terceiro setor.
1.2 A terceira via
Devido às transformações neste particular período do capitalismo, surgiram
diversas consequências econômicas, políticas e sociais nos países capitalistas. Segundo
Vera Peroni (2006), tais mudanças ocorreram na esfera do Estado, da produção, do
mercado e também no âmbito ideológico, político e cultural em consequência dos
processos da reestruturação produtiva, da globalização, do neoliberalismo e da terceira
via, medidas estas que redefiniram o papel do Estado. Neste prisma é que será
investigado o conceito político da terceira via e sua relação com o terceiro setor.
Segundo Ricardo Antunes (1999), as referências indicadas pela terceira via estão
ligadas
organicamente
ao
capitalismo,
apresentando-se
como
um
programa
comprometido com a atualização do projeto burguês de sociedade e pela geração de
uma pedagogia voltada a criar uma unidade moral e intelectual comprometida com essa
concepção. Para o autor, objetiva dar continuidade ao projeto de reinserção do Reino
Unido, iniciado na era da primeira ministra Margaret Thatcher, que pretendia
redesenhar a alternativa inglesa dentro da nova configuração do capitalismo
contemporâneo, reiterando sistematicamente seu compromisso em preservar a
legislação que flexibiliza e desregulamenta o mercado de trabalho, em detrimento dos
direitos da classe trabalhadora.
A expressão terceira via surgiu em 1920, popularmente usada por grupos da
direita, pelos grupos social-democratas e socialistas. Na década de 1990, o termo foi
tomado por Bill Clinton, nos EUA e por Tony Blair, na Inglaterra, na qual encontrou
uma acolhida morna por parte da maioria dos social-democratas do continente europeu,
bem como dos críticos da velha esquerda em seus respectivos países. Na Grã Bretanha,
a terceira via passou a ser associada à política de Tony Blair, após as eleições em 1997 e
ao Novo Trabalhismo Inglês (New Labour). Posteriormente a política da terceira via
passou a influenciar alguns governos na Europa, como no governo francês de Lionel
Jospin e do governo italiano de Romano Prodi. (GIDDENS, 2000).
Segundo Ferrarezi (2007), a terceira via se consolidou como uma perspectiva
teórica alternativa, que ganhou força na política mundial com o advento do
21
neoliberalismo. No Brasil, sua presença foi sentida, influenciando em muitos aspectos a
presidência de Fernando Henrique Cardoso e o discurso do ministro Luiz Carlos Bresser
Pereira para a reforma administrativa do aparelho de Estado. Apesar de Cardoso ser
conhecido como o principal expoente do neoliberalismo no Brasil, nota-se a presença da
terceira via em seu discurso, como na execução do Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado em 1995.
Segundo Anthony Giddens (2000), um dos mais influentes intelectuais da
terceira via, o conceito refere-se a uma estrutura de pensamento e de prática política que
visa transcender tanto a social-democracia do velho estilo quanto o neoliberalismo, pois
argumenta que o welfare state teve um custo que se manifestou na elevada carga
tributária, no excesso de regulamentação das relações trabalhistas e no crescimento do
déficit público. Com o advento da globalização, a política do welfare foi taxada como a
vilã dos cofres públicos, o que favoreceu o surgimento da onda neoliberal. Por outro
lado, Giddens (2000) argumenta que a adoção da economia de livre-mercado também
trouxe um elevado custo social, jogando parcelas significativas da população na miséria
e no desamparo.
Por isso, na concepção de Giddens (2000), a terceira via é definida como um
movimento de centro-esquerda que tenta defender tanto o mercado, os interesses da
burguesia, quanto à manutenção dos benefícios sociais, de interesse da classe
trabalhadora, produzindo novas respostas para novos desafios. Contudo, conforme
Peroni, Oliveira e Fernandes (2009), pode se verificar que a questão crucial, de a
terceira via posicionar-se como centro-esquerda, permanece a mesma, de ser o centro.
Pode até em alguns momentos posicionar-se mais à esquerda, mas tem como principal
função propor reformas nos limites do capitalismo e com vistas a fortalecê-lo.
Neste prisma é que Antunes (1999) traz sua contribuição. Conforme o autor, a
terceira via se configurou como uma alternativa que preservasse, no essencial, as
metamorfoses ocorridas durante o período neoliberal. Contudo, a vitória eleitoral de
Tony Blair trouxe em seu conteúdo programático nada de novo, e sim a preservação do
essencial do projeto neoliberal, herança da era Thatcher.
Não haveria revisão das privatizações; a flexibilização (e precarização do
trabalho) será preservada e em alguns casos intensificada; os sindicatos
manter-se-iam restringidos em sua ação; o ideário da modernidade,
empregabilidade, competitividade, entre tantos outros, continuaria a sua
carreira ascensional e dominante. (ANTUNES, 1999. p. 97).
22
Peroni (2006) afirma que a política da terceira via tem grande influência da
política neoliberal, porém a autora traz um dado importante. Apesar de as duas políticas
buscarem racionalizar recursos e diminuir os gastos do Estado com as políticas sociais e
diminuir o papel das instituições públicas, as estratégias de superação da crise tomaram
rumos distintos: para a terceira via, o Estado deve repassá-las para a sociedade, através
do terceiro setor, enquanto que para o neoliberalismo, deve transferi-las para o mercado,
através das privatizações. O neoliberalismo defende claramente o Estado mínimo e a
privação de direitos, além de penalizar a democracia, por considerá-la prejudicial aos
interesses do mercado. Já a terceira via se coloca entre o neoliberalismo e a antiga
social-democracia, mas não rompe o diagnóstico de que o Estado é culpado pela crise.
(PERONI, 2012).
No âmbito da filosofia da terceira via, para Giddens (2000), esta deveria ajudar
os cidadãos a abrir seus caminhos através das mais importantes revoluções do cotidiano:
a globalização, as transformações na vida pessoal e o relacionamento do homem com a
natureza, projetando políticas que fossem realistas, mas não perdendo seu caráter de
austeridade. Porém, segundo Peroni (2006), o que predomina nesta afirmação sobre as
três revoluções é uma concepção individualista, pois as transformações vão se dar na
esfera pessoal, e não societária, mesma concepção da teoria do capital humano3, que
reforça o individualismo e a meritocracia. Ou seja, uma concepção de sociedade
meritocrática, uma visão ideológica puramente capitalista, baseada no merecimento,
concepção que estimula a competição entre os indivíduos, consequentemente
aumentando a produtividade e eficiência, marcas que justificam o caráter neoliberal. A
3
Para o idealizador desta teoria, Theodore W. Schultz, o trabalho humano, quando qualificado por meio
da educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e,
portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a idéia de capital humano gerou
toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que acabou por
mistificar seus reais objetivos. Passou-se a disseminar a idéia de que a educação é o pressuposto do
desenvolvimento econômico, bem como do desenvolvimento do indivíduo, que, ao educar-se, estaria
valorizando a si próprio, na mesma lógica em que se valoriza o capital. O capital humano deslocou para o
âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do desempenho profissional e fez da
educação um valor econômico, numa equação perversa que equipara capital e trabalho como se fossem
ambos igualmente meros fatores de produção. Além disso, legitima a idéia de que os investimentos em
educação sejam determinados pelos critérios do investimento capitalista, uma vez que a educação é o
fator econômico considerado essencial para o desenvolvimento. Para o estudo da Teoria do capital
humano ver Theodore Schultz, “O capital humano – investimentos em educação e pesquisa” (1971) e
Gaudêncio Frigotto, Educação e capitalismo real (1995).
23
individualidade provocada pela meritocracia incute no cidadão a responsabilidade pelo
seu próprio êxito ou fracasso, não importando em qual cenário econômico se encontra.
Acirrando o debate sobre a filosofia inserida na política da terceira vida, Giddens
(2000) argumenta que a terceira via não abre mão dos ideais de solidariedade e inclusão
social. Entretanto, é difícil compreender como que em um governo que defende o livre
mercado, o Estado consiga defender a solidariedade e inclusão social. É contraditória
esta afirmação, pois o próprio sistema capitalista, para sua manutenção, deve criar a
desigualdade entre os cidadãos.
Já André Martins (2005) afirma que a terceira via é o próprio neoliberalismo.
Isso fica evidente quando a terceira via defende que a promoção da igualdade com
inclusão social e do bem comum deveriam ser asseguradas pela produção de políticas
sociais que desenvolvam o chamado capital social dos grupos de indivíduos para a ação,
incutindo neles o espírito empreendedor, a autoconfiança, a capacidade de administrar
riscos e rompendo em definitivo com a dependência das políticas sociais universais.
Segundo Giddens (2000), na agenda da terceira via estão como principais
objetivos a reforma do Estado e a revitalização da sociedade civil, a criação de fórmulas
para o desenvolvimento sustentado, a preocupação com uma nova política internacional,
a disciplina fiscal (em especial nos sistemas de proteção social) instrumentos em
educação obras sociais e na renovação urbana. Esta revitalização da sociedade civil
seria assegurada por meio da participação das entidades públicas não-estatais
defendendo a democracia na política social.
Giddens (2001) defende a expressão “democratizar a democracia”, mas o
problema é que este conceito é entendido como a sociedade assumindo tarefas que até
então eram do Estado, enquanto a participação significa responsabilização na execução
de tarefas. A partir desta posição, as autoras Peroni, Oliveira, Fernandes (2009) afirmam
existir uma separação entre o econômico e o político, o esvaziamento da democracia
como luta por direitos e das políticas sociais como a materialização de direitos sociais.
Ellen Wood (2003) destaca que em uma sociedade sob a hegemonia do
capitalismo, não pode ser visto em abstrato, separando o econômico do político.
Segundo a autora, o sistema capitalista cria uma visão distorcida do real significado de
democracia. Cria nos cidadãos uma forma de democracia em que a igualdade formal de
direitos políticos e econômicos tem efeito nulo sobre as desigualdades ou sobre as
relações de dominação e de exploração em outras esferas, o que legitima o argumento
24
do sistema capitalista, aumentando as disparidades entre a classe trabalhadora e a classe
burguesa. Segundo Peroni (2012), essa análise de Wood encaminha as discussões sobre
como, neste período particular do capitalismo, por um lado, houve um avanço na
democracia, contudo, houve também um esvaziamento das políticas sociais,
principalmente como um direito universal.
Peroni (2012) questiona o significado dos termos democracia e participação
defendidos pela terceira via. Na sociedade capitalista atualmente, a sociedade civil é
muito mais chamada a executar tarefas do que a participar nas decisões e no controle
social. Já no conceito de democracia da terceira via, a sociedade acaba se
responsabilizando pela execução das políticas sociais em nome da democracia. Para a
autora, a concepção de democracia também é diferente entre o neoliberalismo e a
terceira via. Enquanto para o neoliberalismo a democracia atrapalha o livre andamento
do mercado, pois deve atender a demanda dos eleitores para se legitimar o que provoca
o déficit fiscal, para a terceira via a democracia deve ser fortalecida.
Dentro de sua filosofia ideológica, a terceira via defende a reformulação nos
programas de proteção social. Uma das vertentes é a questão da previdência social,
especificamente o caso da terceira idade. Giddens (2000) afirma que é preciso
reconsiderar a velhice, enfrentando os idosos não como um problema e sim como um
recurso, pois, em sua visão, os gastos com a previdência oneram os cofres públicos e
muitos idosos se limitam a trabalhar, pois atingiram o tempo de aposentadoria, mesmo
alguns tendo ainda vigor físico para o trabalho. Para o autor, a previdência social
deveria ser acionada pelo idoso apenas em última instância, como emergência.
Esta afirmação de Giddens fere em grande medida o direito social dos idosos. O
trabalhador passa a perder seu direito à aposentadoria, sendo que na verdade, ele
durante sua vida pagou seus tributos para que pudesse na velhice desfrutar de tal direito.
O corte da previdência social é uma das lutas mais acirradas da política neoliberal, que
defende sua extinção. Esta posição de Giddens contra a previdência coaduna-se com a
posição neoliberal, o que evidencia que, quanto à previdência, as duas políticas
convergem.
A terceira via defende uma economia mista, abrangendo a sociedade, o governo
e as instituições do terceiro setor, trabalhando em parceria, fomentando a renovação e o
desenvolvimento das comunidades. Na visão de Giddens (2000), as atribuições das
instituições do terceiro setor seriam a de proteção da esfera pública estatal; de
25
prevenção de crimes pelo incentivo da ação comunitária; do estímulo à família
democrática, do incentivo ao envolvimento cívico de indivíduos e grupos sociais,
articulando liberdade individual com solidariedade e responsabilidade social para a
criação de um sistema moral capaz de garantir o pleno exercício da cidadania renovada
e da harmonização social por meio de um pacto para a promoção do bem comum.
Uma sociedade civil sem confronto e sem lutas, responsável pelas autorrespostas
às questões sociais, é o caminho, segundo Giddens (2001), da renovação da sociedade
que se dá pela parceria do governo com a sociedade civil, possibilitando a renovação
comunitária através do envolvimento do terceiro setor. As parcerias definidas pela
terceira via responsabilizam a sociedade civil por suas demandas, desoneram o Estado e
barateiam o custo das políticas sociais.
Entretanto, Peroni (2012) faz um alerta ao pensamento ingênuo sobre a terceira
via e sua defesa ao terceiro setor. O terceiro setor é uma das principais estratégias
defendidas pela terceira via que busca reformar o Estado. Com esta reforma, o terceiro
setor passa a ter a responsabilidade na execução das políticas sociais; já o Estado passa
a ser o coordenador e avaliador das políticas, mas não mais o principal executor. Desta
forma, a parceria entre o público e o privado acaba sendo a nova estrutura de política
pública.
A defesa da terceira via na renovação da sociedade, recuperando formas de
solidariedade, trabalho voluntário, aproveitamento de iniciativas locais, relação do
público com o privado na perspectiva da inclusão e com propostas de movimentos
constantes de imersão do público no privado, desvia o problema e centra a solução na
sociedade civil, num rearranjo econômico e social, em que não há lugar para
antagonismos, nem enfrentamentos de interesses, nem luta de classes. Assim, o
confronto, o enfrentamento e a luta dão lugar à busca do entendimento, da
solidariedade, da cooperação dos indivíduos. Portanto, as parcerias defendidas pela
terceira via são as possíveis saídas para os graves problemas sociais, uma vez que o
Estado não tem podido atender às demandas da sociedade. (PERONI, 2012).
Na concepção de Giddens (2000), desenvolver um trabalho em comunidades
pobres é fundamental para a terceira via, pois são nestas comunidades que o incentivo à
iniciativa e ao envolvimento locais podem gerar maior retorno, impedindo o caos social.
Segundo o autor, o importante é que o Estado, não se envolva diretamente com a
sociedade, mas apóie atividades através de investimentos nas áreas mais críticas das
26
cidades, sendo o novo agente histórico por excelência, em lugar das classes sociais
polarizadas. Para os adeptos da política da terceira via, essas referências indicam que a
sociedade civil constitui-se em uma instância que possui uma materialidade, uma força
própria e portadora de um elevado grau de autonomia e independência do processo
histórico.
Neste prisma, pode-se observar a relevância que tem o terceiro setor para a
terceira via. Segundo Peroni (2006), o terceiro setor é funcional à terceira via (e ambos
ao capital), uma vez que a proposta desta é a busca de parceria com a sociedade civil em
substituição à privatização pregada pelo neoliberalismo. Constituído por redes de
organizações privadas autônomas voltadas à distribuição de lucros para acionistas ou
diretores, atendendo a propósitos públicos, embora à margem do aparelho formal do
Estado, o terceiro setor não se submete ao controle institucional. Esta descentralização
lhe dá um poder cada vez maior.
A política da terceira via, ao propor a parceria público-privada, busca reduzir o
papel do Estado na execução das políticas sociais, repassando principalmente para o
público não-estatal ou terceiro setor. O que permanecia sob a esfera estatal passa agora
a ter a lógica de mercado, que é considerado mais eficiente e produtivo. (PERONI,
OLIVEIRA, FERNANDES, 2009). Lúcia Neves (2005) argumenta que os elementos
apresentados pela terceira via não são suficientes para descrever e sustentar uma
mudança na materialidade da sociedade civil. Segundo a autora, o conceito da terceira
via confunde a forma aparente com o movimento dos complexos processos
hegemônicos que buscam tornar os ideais e as práticas da classe dominante e dirigente
as ideias dominantes de um tempo.
Conforme Giddens (2000), na política da terceira via, o Estado não deve
somente distribuir benefícios sociais, mas sim dar suporte para que os cidadãos não
necessitem novamente de tal benefício. Segundo ele, são as instituições do terceiro setor
que deveriam desempenhar um papel maior no fornecimento de serviços de welfare. A
reconstrução da provisão do welfare deve ser integrada a programas para o
desenvolvimento ativo da sociedade civil. Ou seja, mais evidências de que a política da
terceira via busca defender o incremento das entidades públicas não-estatais em resposta
da política social, com o intuito de transferir a responsabilidade do Estado para o
terceiro setor.
27
Neste prisma, pode-se inferir que apesar de terem posições diferentes em
determinados pontos, há uma similitude da terceira via com o neoliberalismo, de que as
duas concepções visam defender os interesses do capital. Mesmo Giddens afirmando
que a terceira via busca defender a solidariedade, a justiça e a política social, ela não é
garantida pelo Estado, o terceiro setor que a responderá, do seu jeito e com suas
peculiaridades. Ou seja, percebe-se que na prática a terceira via é uma estratégia do
capitalismo para enxugar os gastos públicos em favor do mercado.
Segundo Martins (2005), em ambas as políticas é comum a recusa dos direitos
sociais e do princípio da universalidade como categorias válidas bem como a defesa da
mercantilização e submissão dos bens sociais à lógica do mercado. O argumento central
da terceira via e do neoliberalismo é o de que se deve eliminar toda e qualquer política
estatal que imobilize os indivíduos, gere obstáculos à expansão do mercado e crie
dificuldades para o pacto entre capital e trabalho. O argumento é de cortar os gastos
públicos até que a população não necessite mais destes benefícios. Aos poucos os
direitos sociais estão sendo retirados da responsabilidade do Estado e a projeção a longo
prazo é retirá-lo totalmente.
Com seu argumento ideológico-político, a terceira via, que defendia transcender
tanto a social-democracia quanto o neoliberalismo, percebe-se que na realidade é a
própria política neoliberal remodelada, dando continuidade ao seu processo de
desmonte da nação, não havendo nenhuma renovação, e sim, uma continuação do
avanço neoliberal. Concorda-se com a opinião de Martins (2005) e Antunes (1999), de
que a terceira via e a doutrina teórica que a inspira – o liberalismo – insistem na
organização da vida social em esferas autônomas e independentes que, em última
instância, não só reforçam o processo de isolamento do produtor dos meios de produção
como também despolitizam o econômico, apresentado como salvaguarda dos intocáveis
direitos burgueses. A política da terceira via apesar de apresentar particularidades com
relação ao neoliberalismo (PERONI, 2012), coaduna-se com os preceitos neoliberais,
em favor do livre mercado, da acumulação capitalista.
Após análise da política neoliberal e do discurso da terceira via, conceitos que
estimularam o surgimento do terceiro setor, o próximo item apresentará a discussão das
políticas sociais no contexto brasileiro a partir da década de 1990, período marcado pela
ofensiva neoliberal no país.
28
1.3 A política social brasileira a partir dos anos 1990
No Brasil, a política social teve outro destino a partir da entrada do receituário
neoliberal. A área social foi comprometida pelas restrições econômicas impostas pelas
políticas neoliberais que criaram um desmonte do Estado, levando-o a uma crescente
desresponsabilização do governo federal a estas políticas, aprofundando ainda mais o
quadro de desigualdade social. Desta forma, nesta seção trataremos das políticas sociais
a partir da década de 1990, sua ênfase nos governos deste período e sua estreita ligação
com o avanço das políticas neoliberais.
Nos anos de 1990 instalou-se na América do Sul e no Brasil, o Estado de direito
democrático, uma típica configuração de democracia liberal, baseado na Constituição
Brasileira de 1988. Estes Estados de direito democrático, ou essas democracias, foram
instaladas em sociedades pouco democráticas, limitadas em suas manifestações e
interesses, com forte presença autoritária, na prática política e na própria cultura.
(VIEIRA, 2007).
No Brasil, não tivemos um Estado de bem-estar social constituído nos moldes
europeus, mas um Estado desenvolvimentista que assegurava alguns direitos ao cidadão
brasileiro como: educação, saúde, previdência social, seguro desemprego e outros. Na
realidade, dos planos brasileiros, a política de saúde, habitação popular, educação,
assistência e outros, conforme Vieira (2007), não formam um todo com alguma
coerência, não se articulam. Esta realidade nos faz inferir que este caráter de política
social não se constitui em um Estado de bem-estar social, ou rede de proteção, mas
numa intervenção estatal no campo econômico e no campo social, dependendo das
condições do momento. Na concepção de Vieira (2007), esses Estados, sob a alegação
de crise orçamentária, são levados a desmontar ou substituir esses serviços, por sofrer
pressão real do orçamento e por pressão ideológica dos defensores do livre mercado.
Desta forma, o direito a serviços sociais que foram conquistados a partir das
mobilizações operárias sucedidas ao longo das primeiras revoluções industriais do
século XIX (BEHRING, 2007), atualmente, se transformou em mercadorias, em
serviços vendidos no mercado. Assim, devem ser repassados ao mercado a saúde, a
educação, entre outros. Essas transformações tanto na política econômica, quanto na
política social, estão intrinsecamente ligadas à evolução do capitalismo que acirrou a
concorrência monopolista e a classe operária tornou-se cada vez mais fragmentada,
29
explorada, perdendo cada vez mais os direitos conquistados. Para Vieira (2007), esse
tipo de política não é de caráter social, pois se resume a uma política de assistência.
No Brasil, as políticas sociais, a partir de 1990, sofreram modificações
consideráveis. Elisabete Ferrarezi (2007) ressalta que no período entre 1985 e 1997
foram implementadas diversas reformas no país. A Constituição Federal de 1988 trazia
nas entrelinhas ideias de descentralização para promover maior autonomia e agilidade, a
desburocratização visando eficiência e efetividade e a democratização por meio de
mecanismos que tornassem o setor público mais transparente, ampliando o controle
social sobre a gestão pública. Na análise de Carlos Montaño (2003), enquanto a década
de 1980 foi marcada por um pacto social entre os diversos setores democráticos,
pressionados por amplos movimentos sociais e classistas que levou à Constituição de
1988, os anos 90 representaram o contexto do desenvolvimento mais explícito da
hegemonia neoliberal.
Para Laura Soares (2001), as razões do surgimento da política neoliberal
encontravam-se, de um lado, no agravamento da crise econômica em meados de 1990 e,
de outro, no esgotamento do Estado desenvolvimentista brasileiro, na época tendo como
presidente da república José Sarney. Seu governo culminou o processo de transição
democrática.
A erosão da autoridade governamental com a ausência crescente de
legitimidade, enfrentando uma sociedade carente de consensos e hegemonias,
sem parâmetros de ação coletiva, sofrendo os impactos de uma economia
destruída pela hiperinflação, tudo isso levou a insustentabilidade da situação
política e econômica e a um sentimento generalizado da necessidade de uma
mudança radical de rumo. (p. 214).
.
Com a eleição de Fernando Collor de Mello à presidência da república, em 1990,
os contornos neoliberais do projeto do governo tornaram-se mais nítidos, bem como as
suas consequências. Segundo Laura Soares (2001), sua passagem pela presidência foi
rápida, porém devastadora e deixou marcas indeléveis na economia brasileira. A
principal urgência de Collor naquele período era conter a inflação. Adotou medidas
tacitamente de cunho neoliberal como: abertura de mercados, privatização de bens
públicos e internacionalização da economia. Collor produziu uma grave restrição
evolutiva das políticas públicas brasileiras em geral e das políticas sociais em particular.
Além de não implementar as mudanças inscritas na Constituição Federal de 1988,
desvirtuou-as totalmente, trazendo evidentes retrocessos econômicos e sociais à nação.
30
O seu governo defendia que a redução do tamanho do Estado restabeleceria a
economia, porém os resultados não são causados pelo excesso de Estado, mas pela sua
privatização interna. (SOARES, 2001). Este governo, para defender as medidas
neoliberais, vendeu a ideia de que com a privatização e a redução do tamanho do Estado
estaria ganhando a nação, reduzindo o gasto público, consequentemente eliminaria o
déficit público, os dois grandes causadores de quase todos os males, sobretudo o da
inflação. Tomou a liberalização do comércio exterior, com o propósito de tornar a
economia brasileira mais internacionalizada e moderna, fazendo com que as estruturas
produtivas internas pudessem competir livremente no mercado internacional. Em
consequência dessas políticas, um dos elementos foi a abertura ao exterior para as
importações.
Outra ordem de consequências das políticas neoliberais foi o agravamento da já
iníqua situação de alocação de recursos para as políticas sociais. Provocou-se uma
recessão, aumentando o desemprego e piorando ainda mais a situação dos mais carentes,
desencadeando uma elevação na demanda por benefícios e serviços sociais. Neste
quadro, a proposta do governo Collor foi a de cortar ainda mais os gastos públicos. A
resultante dessa perversa combinação, no Brasil, foi o agravamento da miséria,
associada ao total desmantelamento das políticas sociais. A extensão da recessão para
atingir os objetivos pretendidos pelo ajuste neoliberal no Brasil, além de inimaginável,
atingiu a sociedade de modo extremamente desigual. (SOARES, 2001).
No campo social, o governo Collor simplesmente ignorou os preceitos
constitucionais, através das reformas administrativas promovidas no sistema de
seguridade social inscrito na Carta Magna de 1988. Para Laura Soares (2001), a
seguridade social é compreendida como um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social. Collor fragmentou a seguridade social em
ministérios diferentes, dando-lhe margem para realizar, na saúde, um boicote
orçamentário sistemático ao Sistema Único de Saúde – SUS. Na previdência, lançou um
pacote de reforma previdenciária já em 1992. Na assistência, vetou a Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), desrespeitando a Constituição Federal e retirando direitos
dos trabalhadores.
O governo Collor não propiciou, apesar de toda a movimentação social e política
em torno do seu impeachment, uma reversão nessas condições. Após a passagem de
31
Itamar Franco, vice de Collor, pela presidência, Fernando Henrique Cardoso consolidou
ainda mais as políticas neoliberais. Cardoso buscou substituir o princípio da
universalização nas políticas sociais pela focalização em determinados segmentos das
classes pauperizadas, excluindo-as cada vez mais do acesso aos direitos que lhe são
conferidos a esta classe salvaguardados pela LOAS. Assim, as políticas sociais públicas
passaram a concentrar-se em programas assistenciais, com o objetivo de compensar os
efeitos negativos das políticas econômicas restritivas, tornando mais crítica a situação
de pobreza e desigualdade. (SOARES, 2001).
Ferrarezi (2007) afirma que pressionado pela necessidade de contenção do
déficit público, o governo federal adotou medidas de contenção de gastos e apresentou
um projeto de reforma que pretendeu incidir diretamente sobre a situação funcional da
burocracia, inovando do ponto de vista gerencial e alterando a estrutura do Estado.
Vicente Faleiros (2004) evidencia que no primeiro ano de governo Fernando Henrique
Cardoso, em 1994, realizou-se uma reordenação estratégica do Estado no marco legal
constitucional, abrindo espaço para o capital estrangeiro e as empresas privadas nos
setores economicamente cruciais das telecomunicações, do petróleo, da navegação e
cabotagem da canalização do gás e da própria definição de empresa, terminando-se com
o conceito de empresa brasileira e implicando num fortalecimento do mercado, na
preparação do terreno para as privatizações combinadas com a desnacionalização.
Já Lúcia Neves (2005) aponta que o governo Fernando Henrique Cardoso estava
voltado prioritariamente à reestruturação do Estado nas suas funções econômicas e
ético-políticas. O governo brasileiro, com o intuito de competir no cenário internacional,
abriu seu mercado interno a empresas multinacionais, o que criou a transferência de
recursos nacionais para os cofres destas empresas, não havendo crescimento da
economia brasileira, arrefecendo a economia nacional. Além da abertura econômica ao
capital exterior, as privatizações aumentaram ainda mais a crise nacional. Desta forma,
o Brasil, de produtor de bens e serviços, passou a coordenador de iniciativas privadas,
tomando como principal política estatal a privatização dos setores públicos. Assim, não
foi o Brasil que passou a competir mundialmente, mas o capital mundial que veio a
assumir monopólios do Estado, pois de fato transferiram-se monopólios estatais a
empresas privadas, embora com salvaguardas, realizando-se um dos maiores negócios
do mundo em matéria de privatização, no século XX. Uma das medidas de 1997 foi a
32
modificação nos objetivos da lei nº 9.491 que trata do Plano Nacional de Desestatização
- PND. Dentre as medidas estavam:
[...] reordenar a posição estratégica do Estado na economia transferindo à
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente
através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida; permitir
a retomada de investimento nas empresas e atividades que vierem a ser
transferidas à iniciativa privada; contribuir para a reestruturação econômica
do setor privado especialmente para a modernização da infraestrutura e do
parque industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a
capacidade empresarial nos diversos setores da economia inclusive através da
concessão de crédito; permitir que a administração pública do Estado seja
fundamental para a consecução das prioridades nacionais; contribuir para o
fortalecimento do mercado de capitais através do acréscimo da oferta de
valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das
empresas que integrarem o programa. (FALEIROS, 2004, p. 41).
A privatização efetivou a transferência do patrimônio estatal para empresas
privadas (a maioria para o patrimônio das multinacionais), do público para o mercado,
atingindo o coração do Estado. Se no governo Collor de Mello e Itamar Franco já
haviam sido privatizados por meio do Plano Nacional de Desestatização (PND) e o
Fundo Nacional de Desestatização de 1990 a 1994 os setores siderúrgico, petroquímico
e de fertilizantes, no governo Cardoso, a partir de 1995, com a aprovação da lei de
concessões, destacaram-se os setores de telecomunicações, energia elétrica e
transportes, substituindo-se os monopólios públicos por empresas privadas. Em 1996, os
estados foram incluídos no processo de privatização dos Programas Estaduais de
Desestatização PEDs. (FALEIROS, 2004).
Além da entrada do receituário neoliberal na economia brasileira, outra causa
que aprofundou a legitimação do Estado-nação foi a estreita ligação com o Fundo
Monetário Internacional. No período entre 1998 e 2002 aumentou-se a vulnerabilidade
do país às turbulências dos mercados internacionais devido às crises do câmbio. Sem
que se tivessem condições de resolubilidade interna dessas crises, recorria-se a estas
agências de financiamento. Dados de Faleiros (2004) apontam que a dívida líquida do
setor público aumentou de R$ 208 bilhões de reais, em 1995, para R$ 563 bilhões, em
2000, e para cerca de R$ 800 bilhões em 2002. Já a dívida externa subiu de US$ 159
bilhões para US$ 231 bilhões no período de 1995 a 2000. Em 2002 os juros já
absorviam 8% do Produto Interno Bruto (PIB) e o passivo externo chegou a US$ 400
bilhões, com déficit operacional de 5% do PIB. A desestatização foi realizada também
33
com a transferência de créditos para que as empresas financiassem a compra dos ativos
nacionais.
Draibe (2003) afirma que em governos de política neoliberal, as políticas sociais
não são mais prioridades do Estado, contudo houve uma razoável preservação do gasto
social, especialmente em programas prioritários, como por exemplo, em políticas de
alívio a pobreza, de caráter focal, setorial, fragmentada e emergencial. As políticas de
Cardoso não foram desenvolvidas como políticas públicas, mas através de convênios
com
organizações
não-governamentais
(ONGs),
instituições
comunitárias
e
filantrópicas, o que fortaleceu a perda de confiança nas instituições públicas, repassando
as funções estatais às entidades público não-estatais.
Para Simionatto (2000), estas políticas possuem como objetivo central o foco à
pobreza, a descentralização e a participação dos usuários em todas as etapas de
execução. Ligados à reforma do Estado, tais projetos têm como centralidade as
orientações dos organismos internacionais de financiamento, principalmente no que
tange à focalização nos setores de maior vulnerabilidade, na medida em que a
destinação
de
recursos
financeiros
teve
como
prioridade
a
estabilidade
macroeconômica.
Neste tocante, Neves (2005) afirma que a proposta do primeiro governo de
Fernando Henrique Cardoso trazia definições claras em relação à reestruturação do
Estado e à criação de novas formas de articulação entre aparelhagem estatal e sociedade
civil. Foi assim que, em 1995, Fernando Henrique Cardoso promoveu uma reforma do
aparelho do Estado, que estimulou a criação de entidades de caráter público nãoestatais. Iluminados pelos preceitos da terceira via, que em linhas gerais seria a política
neoliberal com uma nova roupagem, tanto Cardoso, quanto seu Ministro Luiz Carlos
Bresser Pereira, executaram o Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRAE) que
mudou a orientação da política nacional. Dentre as medidas do PDRAE foi criada a lei
da publicação (nº 9.637/98) que legitimou as entidades do terceiro setor em resposta ao
social.
Além do PDRAE, o Programa Comunidade Solidária, criado sob a presidência
de Fernando Henrique Cardoso, estimulou o surgimento do terceiro setor, que tinha
como foco o combate a situações agudas ou extremas de pobreza. Além de cumprir o
importante papel de pólo aglutinador de forças políticas e sociais para implementação
das ações educadoras da sociabilidade neoliberal na sociedade civil, o Programa
34
Comunidade Solidária desempenhou, ainda, papel fundamental na elaboração da lei do
Voluntariado (nº 9.608/98) e da lei n° 9.790/99, que criou as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIPs).
Para Draibe (2003), a relação do Estado com o setor privado e o terceiro setor
formou duas outras linhas de ação que revelaram preferências governamentais na
condução da área social. De um lado, uma visão positiva das parcerias com as ONGs,
nem tanto em relação à prestação de serviços sociais, mas pelo seu reconhecimento
como interlocutor legítimo na formulação da política social. De outro lado, a
modernização e o reforço dos mecanismos da ação regulatória do Estado, em relação ao
setor privado lucrativo e às próprias organizações do terceiro setor, envolvidos na
provisão social por meio de mudanças legislativas ou da criação de órgãos destinados a
tais funções.
A política assistencial, segundo Draibe (2003), sofreu alterações no ciclo
democratizante de reformas. A partir de reivindicações dos atores envolvidos, a nova
política de assistência social foi definida na Constituição de 1988 e na LOAS de 1993,
como política pública fundada nos direitos sociais básicos, associada a ações
permanentes, dirigidas aos setores vulneráveis segundo suas necessidades à aprovação
do Fundo de Combate à Pobreza, em 2000. Já no ano seguinte de sua aprovação, foram
criados os programas Bolsa-Alimentação, Agente Jovem e, em 2002, o Auxílio-gás que
foram acoplados aos anteriores, o Bolsa-Escola, de 1998, o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI), de 1995, e outros programas de transferência preexistentes.
Em suma, estas reformas formaram a rede social brasileira de proteção social,
concebida como um conjunto de transferências monetárias a pessoas ou famílias de
mais baixa renda, destinado a protegê-las nas distintas circunstâncias de risco e
vulnerabilidade social. O balanço deixado no governo de Fernando Henrique Cardoso
foi de defender os interesses capitalistas, abrindo mão do patrimônio estatal
privatizando muitos setores públicos e saldando a dívida externa, como postula os
organismos financiadores internacionais. No campo social, foram executadas políticas
de alívio à pobreza como políticas de transferência de renda e a convocação da
sociedade civil para executar programas de assistência social, ganhando força e respaldo
o conceito de terceiro setor e as entidades que o compõem.
Após oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, o Partido dos
Trabalhadores (PT) venceu as eleições de 2003. A esquerda chegou à presidência da
35
república por meio de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006). Apesar da desconfiança
da burguesia nacional, comparando os dois governos, percebeu-se a continuidade no
governo Lula da Silva do modelo de Estado implementado no governo anterior,
inclusive com um novo acordo com o FMI que aumentou o superávit primário de 3,75%
do PIB para 4,25%, acarretando cortes substanciais nos gastos públicos inclusive na
área social. (FALEIROS, 2004). Segundo Neves (2005), este governo deu continuidade
à
execução
de
reformas
estruturais,
em
especial
daquelas
que
visam
à
desregulamentação das relações de trabalho (reformas da previdência, trabalhista e
sindical) e, no plano político, tentou consolidar a formação do novo homem coletivo
indispensável ao projeto de sociabilidade neoliberal da terceira via.
A reforma tributária realizada no governo Lula da Silva não mudou
substancialmente a distribuição de renda no país. Continuou-se a drenar recursos da
seguridade social para pagamento de juros da dívida através da Desvinculação dos
Recursos da União - DRU. Conforme Faleiros (2004), a renda do trabalhador ficou 15%
menor em novembro de 2003 em comparação ao mesmo período de 2002 e o
desemprego se manteve elevado. Por outro lado, a bolsa de valores teve um aumento
significativo, os juros foram sagradamente pagos e a inflação foi contida apesar das
empresas e dos bancos terem aumentado seus lucros. Toda essa sequência reformista
teve como justificativa a manutenção da credibilidade econômica do país.
Para o grande público, a maior surpresa oferecida pelo governo Lula da Silva em
matéria de seguridade social talvez tenha sido seu projeto de contrarreforma da
previdência social dos funcionários públicos, encaminhada em abril de 2003 para ser
apreciada pelo Congresso Nacional e aprovada em dezembro do mesmo ano
introduzindo um valor máximo para a aposentadoria dos funcionários públicos. Esta
reforma onerou em 11% os proventos dos atuais aposentados que recebiam acima de R$
1.440 mil e limitou a aposentadoria dos futuros servidores a R$ 2.400 mil, favorecendo
os fundos de previdência privada. Por outro lado, conseguiu fixar em R$ 17.100 o teto
para as aposentadorias. (FALEIROS, 2004). Este pacto estabelecido entre o Estado
brasileiro e seus funcionários teve como objetivo garantir uma renda perpétua, embora
mais baixa que a paga pelo mercado para o mesmo nível de qualificação.
Dessa forma, considerando que o nível da remuneração dos servidores ativos
não se alterou, a mudança nas condições das aposentadorias foi um desestímulo para
que muitos profissionais decidissem fazer concurso público. Assim, nota-se que a
36
contrarreforma previdenciária promovida, em 2003, pelo governo Lula da Silva resultou
em mais um passo no longo processo de destruição do Estado desenvolvimentista que
aconteceu desde o governo Collor por meio da ofensiva neoliberal. (FALEIROS, 2004).
No âmbito social, o governo Lula da Silva deu continuidade aos programas de
transferência de renda, reforçando a parceria entre Estado e as entidades do terceiro
setor, além dos investimentos sociais das empresas, que juntos poderiam suprir o déficit
no âmbito social. Segundo Neves (2005), este governo desenvolveu o Programa Fome
Zero que desempenhou um importante papel pedagógico na formação do novo homem
coletivo. Para a autora, esse programa que substituiu o Programa Comunidade Solidária,
encerrado em 2002, tinha como objetivo principal combater a pobreza extrema, por
meio da colaboração de todos os níveis de governo e da sociedade civil organizada. O
Programa Fome Zero, tinha como carro-chefe o Programa Bolsa Família, lançado em
outubro de 2003, fruto da unificação de diversos programas pré-existentes (Bolsa
Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio Gás).
Com vistas a estreitar esta parceria com a sociedade civil, o governo Lula da
Silva criou um gabinete de mobilização social do Programa Fome Zero, que, ao lado do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, congregou empresas,
denominações religiosas, ONGs, sindicatos e escolas em um mutirão de combate à
fome. Conforme Neves (2005), desse mutirão resultaram: doações em dinheiro e
equipamentos na ordem de R$ 25 milhões no período de janeiro de 2003 a abril de
2004; a apresentação de projetos de inclusão social por parte de 96 empresas; a
autorização do uso da logomarca do Programa Fome Zero por parte de 1.412
instituições.
A política social do terceiro setor também ganhou destaque no governo de Lula
da Silva no campo esportivo. Segundo Marcelo Melo (2007), o terceiro setor foi
chamado a cobrir as lacunas onde o Estado já não priorizava. O Programa Segundo
Tempo, criado em 2003 pelo Ministério do Esporte, convocou a sociedade civil a
desempenhar ações sociais esportivas focando na classe mais empobrecida, com a
intenção de conter os conflitos sociais.
A relação entre as políticas sociais esportivas do governo Lula da Silva com o
chamado terceiro setor, foi tão forte que não se limitou apenas ao Programa Segundo
Tempo. O documento Política Nacional de Esporte (BRASIL, 2005), defendia a
parceria do Estado com entes não-governamentais, iniciativa privada, entidades
37
esportivas e sociedade, de forma que todos trabalhassem com objetivos comuns.
Segundo Melo (2007), as parcerias entre o governo federal e as organizações da
sociedade civil só aconteceriam se estas entidades fossem reconhecidas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), conforme a legislação
conhecida como lei do terceiro setor (n° 9790/99). Ou seja, pode-se inferir que o
movimento de legitimação das entidades do terceiro setor passou a ter maior destaque
após o incentivo do governo Lula da Silva, que exigia o reconhecimento jurídico de tais
entidades para que pudessem ser realizadas as parceiras com o Programa Segundo
Tempo.
Peroni (2012) argumenta que tanto o processo de publicização - a transferência
da responsabilidade da política social para o terceiro setor, principalmente através de
parcerias - quanto a proposta de gestão gerencial, que foi a marca do governo de
Fernando Henrique Cardoso, através do Plano Diretor, tiveram continuidade no governo
de Lula da Silva. Segundo a autora, isso pode ser verificado, por exemplo, na Carta de
Brasília, que apresentava uma proposta de gestão pactuada pelo Ministério do
Planejamento e Secretários Estaduais de Administração (BRASIL, 2008) com os
princípios da gestão gerencial e no Plano de Gestão do Governo Lula, “Gestão pública
para um país de todos”, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (BRASIL,
2003).
A carta de Brasília (BRASIL, 2008), expunha as principais preocupações e
diretrizes que deviam orientar as estratégias e as ações em prol da construção de um
pacto para melhorar a gestão pública. A carta argumentava que o Estado brasileiro para
dar conta das demandas da sociedade no contexto atual fazia-se necessário repensar a
sua forma de organização e funcionamento. Defendia a reforma do marco legal, com o
intuito de unir governo e sociedade com objetivo de alcançar melhores resultados para a
nação.
O Plano de Gestão (BRASIL, 2003) discutia a importância de uma
transformação da gestão do país, por meio da execução de um plano de gestão pública,
exigindo um processo de formulação participativo que trouxesse soluções inovadoras e
arranjos de implementação em rede entre Estado, mercado e sociedade civil. Defendia a
necessidade de significativas transformações na gestão pública como necessárias para
que se reduzisse o déficit institucional e fosse ampliada a governança, alcançando-se
mais eficiência, transparência, participação e um alto nível ético.
38
Este processo de reformulação da gestão pública proposta no governo de Lula da
Silva tem suas semelhanças com a presidência anterior de Fernando Henrique Cardoso,
pois no PDRAE os termos governança, eficiência e transparência eram conceitos de
ordem na reforma estrutural da gestão gerencial, conceitos que também se fizeram
presentes na pauta do Plano de Gestão do governo Lula da Silva. Estes conceitos
reforçam a discussão em torno da legitimação do terceiro setor, que buscou argumentar
que o Estado sem a presença do terceiro setor não poderia manter as políticas sociais
públicas, pois este setor cobre o social melhor que o próprio Estado. O Plano de Gestão
(BRASIL, 2003) defendia a construção de uma gestão de forma participativa e
transparente, com amplo processo de debate, envolvendo as organizações e setores no
âmbito do governo federal e os grupos interessados da sociedade civil. Ou seja, ficando
claro que a mudança na gestão pública federal também era de obrigação das entidades
do terceiro setor.
A presença do terceiro setor e do empresariado nos rumos da política social
brasileira pôde ser notada, também, no 1° Fórum Nacional de Gestão Pública, realizado
em 2009. Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, este evento
congregou parceiros estratégicos dos setores público e privado, além do terceiro setor,
em torno da agenda proposta pela Carta de Brasília, documento que tinha como objetivo
balizar as ações do governo para melhorar a gestão pública sob a égide da boa
governança. Na ocasião, diversos órgãos e instituições assinaram o termo de adesão à
Carta, dentre os signatários, os mais destacados estavam o Presidente Fundador do
Movimento Brasil Competitivo - Jorge Gerdau Johannpeter, empresário do Grupo
Gerdau - e Luisa Helena Trajano Inácio Rodrigues - Presidente em exercício do
Conselho do Prêmio Nacional de Gestão Pública -, empresária do Grupo Magazine
Luiza. (BRASIL, 2008). Ou seja, nota-se a presença do empresariado nas questões
governamentais. Tanto Jorge Gerdau, quanto Luisa Helena são expoentes do setor
empresarial e que se infiltram nas relações governamentais para defender seus interesses
capitalistas em detrimento dos interesses da classe trabalhadora.
Segundo Draibe (2003), as propostas de Lula da Silva no âmbito social não
romperam com a ótica seletiva e emergencial promovida pelos governos anteriores,
muito menos com o desenvolvimento de ações sociais de caráter paliativo, focalizadas e
sem inovações. Seguindo o receituário neoliberal, o que era um direito garantido
constitucionalmente passa agora a ser filantropia. A política social, que durante o Estado
39
desenvolvimentista era de obrigação Estatal, com a ofensiva neoliberal passa à lógica do
mercado. O terceiro setor foi uma ferramenta utilizada também no governo de Lula da
Silva seguindo os moldes do receituário neoliberal e da terceira via para mascarar a
retirada do Estado na obrigação de promover as políticas sociais. Em vez de executar a
política social, o Estado convocou a sociedade civil, ou melhor, o terceiro setor para
arcar com as lacunas deixadas por ele, passando a se preocupar prioritariamente com as
políticas sociais mais emergenciais, focalizadas no alívio a pobreza.
A partir destas evidências, pode-se concluir que o surgimento do terceiro setor
está diretamente relacionado com o advento do neoliberalismo e a política da terceira
via, pois o Estado brasileiro, abdicando de executar a política social, convocou as
entidades públicas não-estatais para a manutenção desta área. O terceiro setor
assumindo a responsabilidade da política social - que é dever do Estado - mascara os
efeitos das medidas neoliberais à classe trabalhadora: o esvaziamento das políticas de
seguridade social e a transferência do público para o privado, ou seja, apesar de em sua
gênese o terceiro setor possuir um caráter benemérito, o capitalismo se utiliza desta
característica para defender seus interesses de mercado, controlando o caos social e
solapando as economias nacionais.
O próximo capítulo vai discorrer sobre o conceito do terceiro setor e da reforma
do aparelho do Estado, processo que culminou na criação da legislação do terceiro setor,
favorecendo a legitimação do setor empresarial em responder o social.
40
CAPÍTULO 2
TERCEIRO SETOR, A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E A
FILANTROPIA EMPRESARIAL: O DESMONTE DA NAÇÃO
O objetivo deste capítulo é caracterizar o crescimento do terceiro setor enquanto
uma estratégia neoliberal, analisando sua implantação no Estado brasileiro. Como passo
inicial, apresentaremos o conceito de terceiro setor, fenômeno que surgiu atrelado às
mudanças no mundo capitalista. Em seguida será discutida a criação do Plano Diretor de
Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) no Brasil, além de argumentar sobre a
legislação que amparou o surgimento do terceiro setor investigando o processo que
legitimou as empresas como entidades de caráter público não-estatais.
Este capítulo está dividido em três tópicos: o primeiro tópico trata do conceito
do terceiro setor, seu surgimento no cenário brasileiro e a lógica que permeia sua
gênese. O segundo tópico discorre sobre a execução do PDRAE que legitimou o
crescimento do terceiro setor, por meio da lei da publicização (nº 9.637/98). O terceiro
tópico trata do Programa Comunidade Solidária, programa que impulsionou o processo
de criação da lei do terceiro setor (n° 9.790/99).
2.1 Terceiro setor: a busca por uma definição
O campo de estudos do terceiro setor é uma das áreas multidisciplinares das
Ciências Sociais, unindo pesquisadores de diversas disciplinas como Economia,
Sociologia, Ciência Política e áreas acadêmicas aplicadas como Serviço Social, Saúde
Pública e Administração. Andrés Falconer (1999) afirma que o estudo na área do
terceiro setor ainda é novo tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Ressalta uma
imprecisão com que a literatura trata o termo, por transitar por várias áreas do
conhecimento, ora aproximando o conceito de uma definição de sociedade civil, ora
referindo-se a um formato específico juridicamente definido de instituição privada, ou
ainda, identificando-se com as tradicionais entidades de caráter assistencial ou
filantrópico.
Rosa Fischer e Andrés Falconer (1998) afirmam ser difícil encontrar um
denominador comum para o conceito de terceiro setor que privilegie todos os grupos.
41
Argumentam que, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, esta questão sobre
a falta de precisão conceitual do nome que define o conjunto destas organizações não é
uma polêmica vazia e de interesse exclusivamente acadêmico. Observando o
comportamento das próprias entidades, verifica-se que não existe uma identificação
com o termo, uma manifestação clara e unânime sobre o terceiro setor.
Na concepção de Mário Alves (2002), os estudos sobre este conceito são
divergentes e confusos, pois alguns associam com ONGs, outros com caridade ou obras
religiosas. Por vezes o termo é confundido com a nomenclatura econômica e
considerado uma extensão do setor de serviços, denominado de terciário, no modelo
clássico de categorização das formas de produção na economia capitalista.
Segundo Alves (2002), o termo terceiro setor é originário do conjunto das ideias
da economia clássica, para qual a sociedade é dividida em setores de acordo com as
finalidades econômicas dos agentes sociais, entendidos como agentes de natureza
pública e privada. Marcos Kisil (2000) apresenta que na conceituação tradicional, o
primeiro setor é o Estado, representado por entes políticos (prefeituras municipais,
governos dos estados e presidência da república), além de entidades a estes ligados
(ministérios, secretarias, autarquias, entre outras). Este setor conta com mecanismos
burocráticos e busca uma concordância forçada de toda a sociedade para com as
decisões do governo, que usa de seu papel regulador e responsável pelo cumprimento
das decisões legais. As decisões são tomadas por administradores e burocratas eleitos de
acordo com políticas, e/ou princípios e critérios técnicos, seguindo objetivos políticos
dos detentores do poder.
No segundo setor estão enquadradas as empresas, compostas por entidades
privadas que exercem atividades privadas, ou seja, atuam em benefício próprio e
particular, contando com os mecanismos do mercado para participar do processo de
desenvolvimento. (KISIL, 2000). As decisões são deixadas para os indivíduos que
calculam a vantagem privada sem referência explícita a interesses mais amplos ou aos
bens públicos. O setor privado é geralmente o maior setor em qualquer país capitalista,
tendo como abrangência os produtores agrícolas, microempresários, indústrias,
comerciantes, banqueiros e outros cujas atividades principais consistem em produzir
mercadorias e serviços, gerando assim emprego, produção e renda.
Já o terceiro setor é composto pelas organizações não-governamentais (ONGs),
as cooperativas, as associações, fundações, institutos e instituições filantrópicas,
42
entidades sem fins lucrativos, entidades de assistência social (MONTAÑO, 2003) e,
hoje em dia, também as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs). Todas são entidades de interesse social, que apresentam como característica
em comum, a ausência na geração de lucros e o atendimento de fins públicos e sociais.
Este setor confia mais nos mecanismos voluntários, de solidariedade humana, apelando
para o senso de interesse público. (KISIL, 2000).
Maria Susin (2006) trabalha com um sinônimo de terceiro setor: público nãoestatal, que, segundo ela, remete-se às entidades que não são de ordem estatal porque
nelas não se exercem o poder do Estado, mas também não são privadas porque se tratam
de serviços subsidiados pelo Estado, contando, portanto, com recursos orçamentários
estatais para sua execução. Ou seja, a propriedade pública não-estatal possibilita a uma
instituição receber verba pública e, em contrapartida, não isenta o Estado de sua
responsabilidade social e administrativa do serviço que devem ser assegurados por ele.
Com o terceiro setor ocorre a configuração de uma nova modalidade no trato
com a questão social, que, segundo Carlos Montaño (2003) está baseado em três
princípios: primeiro, a transferência da responsabilidade da questão social do Estado
para o indivíduo, que a resolverá por meio da auto-ajuda ou adquirindo serviços como
mercadorias; segundo, as políticas sociais passam a ser focalizadas, perdendo, assim,
seu princípio universalista; terceiro, com a descentralização administrativa, as políticas
tornam-se ainda mais precarizadas, entre outros problemas, porque são transferidas as
competências sem os recursos correspondentes e necessários para executá-las.
Elisabete Ferrarezi (2007) atenta que o conceito está atrelado à noção de
associativismo, ONGs, ajuda-mútua, voluntariado e sociedade civil, sendo um debate
amplo e variado. Sua definição está baseada na similitude e diferença em relação aos
outros setores. Rosa Fischer (2005) argumenta que o crescimento do terceiro setor
despontou no país fortalecendo a sociedade civil, através de organizações filantrópicas,
fundações, institutos empresariais, associações de defesa de direitos e as mais diversas
formas organizativas, manifestando-se como um pólo dinâmico de atuação social.
Para Falconer (1999), o termo terceiro setor é usado para se referir à ação social
das empresas, ao trabalho voluntário de cidadãos, às organizações do poder público
privatizadas na forma de fundações e organizações sociais. Apesar da discussão do
termo terceiro setor ser de meados da década de 1990, o autor salienta que as
organizações que o compõem existem há muitos anos, como exemplo brasileiro as
43
Santas Casas de Misericórdia e obras sociais, que trabalhavam em outro foco de
atuação, porém com a proposta de ação social e, como representantes mais recentes, as
organizações não-governamentais resultantes dos novos movimentos sociais que
emergiram a partir dos anos de 1970.
Para Vera Peroni e Theresa Adrião (2004), o terceiro setor seria a denominação
do conjunto dos entes e processos da realidade social que não pertencem ao primeiro
setor (o Estado com quem pode compartilhar a finalidade pública) e nem ao segundo
setor (o mercado, com quem compartilha a origem privada). Entre estes setores haveria
muitas interseções, sendo um campo sem definição clara de seus limites e alcances, nas
quais diferentes racionalidades e discursos se entrecruzam, disputam-se e ao mesmo
tempo cooperam-se.
Carlos Montaño (2003) critica esta divisão social em setores, pois seria um
reducionismo conceitual definir o terceiro setor “como se o 'político' pertencesse à
esfera estatal, o 'econômico' ao âmbito do mercado e o ‘social’ remetesse apenas à
sociedade civil" (p.182). Afirma que o terceiro setor indica uma homogeneidade que
disfarça a variedade dos tipos de organizações envolvidas e oculta suas múltiplas
dimensões políticas. Critica ainda que mesmo o terceiro setor ter se popularizado como
uma atividade caritativa, a responsabilidade pelo atendimento das demandas sociais
passou a ser delegada aos próprios indivíduos que buscaram atendê-las por meio de
atividades de ajuda mútua, voluntária, benemérita, entre outras. Na contramão, as
políticas sociais, que antes do neoliberalismo eram mantidas no âmbito do Estado,
tiveram seu tratamento alterado: foram descentralizadas para os níveis locais das esferas
governamentais e passaram a ter uma natureza menos universalista.
Para Rubem Fernandes (1994), o terceiro setor é composto por organizações sem
fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito
não-governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da
filantropia e expandindo o seu sentido para outros domínios por meio da incorporação
do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. O autor
desenvolveu um quadro segundo agentes e finalidades com o intuito de reforçar a
presença constante e eficaz de uma terceira possibilidade. Dentre estas quatro
combinações possíveis entre o público e o privado, Fernandes (1994) apresenta a sua
definição conceitual do terceiro setor:
44
Agentes
Para
Fins
=
Setor
Privados
Para
Privados
=
Mercado
Públicos
Para
Públicos
=
Estado
Privados
Para
Públicos
=
Terceiro setor
Públicos
Para
Privados
=
Corrupção
Quadro 1: Combinações resultantes entre agentes e finalidades
Fonte: Fernandes (1994)
Pode-se inferir que o conceito de terceiro setor denota um conjunto de
organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos.
Ou seja, o terceiro setor, então, exibe claramente as características que o diferem dos
demais setores, primando pelo não-lucrativo e pelo não-governamental. (FERNANDES,
1994).
Esta afirmação do autor de que no terceiro setor pode coexistir o setor público
estatal e o setor privado empresarial mostra uma das preocupações desta pesquisa: de
que as empresas sobre o rótulo do terceiro setor desenvolveram suas ações sociais,
participando dos rumos da política social brasileira, buscando ganhar maior
credibilidade dos cidadãos, trabalhando seu marketing social, fortalecendo a marca
empresarial, além disso, recebendo apoio financeiro dos órgãos públicos para execução
de seu trabalho social. Ou seja, executam ações sociais, porém não investem seus
próprios recursos, mas os recursos viabilizados pelo Estado.
O tema do terceiro setor gera polêmica entre dois grupos antagônicos: o grupo
defensor que acredita no terceiro setor como uma alternativa viável para a saída da
crise, pois incorporam parcelas de trabalhadores e, por outro lado, o grupo que critica
sua manifestação, por entender que estas entidades se prestam a favorecer a evasão de
recursos que deveriam ser repassados para o Estado e, por consequência, contribuem
para a diminuição do papel do Estado, uma das inquietações deste estudo.
Para Fischer e Falconer (1998), o terceiro setor é avaliado com otimismo por
analistas da crise do Estado neoliberal que tendem a identificar nas organizações sem
fins lucrativos a via eficaz para eliminar a ineficiência da burocracia estatal e assegurar
a eficácia dos serviços públicos. As organizações do terceiro setor atuam nesta faixa
difusa que está igualmente distante do setor público e do privado, embora exercendo
atividades que poderiam estar catalogadas entre os deveres do Estado (educação, saúde
pública, assistência social), simultaneamente às funções que, teoricamente, deveriam ser
45
de responsabilidade de agentes sociais e econômicos específicos (geração de emprego e
renda; formação e desenvolvimento profissional). Dadas as características do
desenvolvimento social e econômico do país, ao longo de sua história recente, estes
papéis e funções se mesclaram, não permitindo que, na prática, houvesse critérios claros
para delimitar o público e o privado.
Segundo Montaño (2003), com o advento do neoliberalismo no Brasil, o Estado
se desresponsabilizou de alguns encargos, transferindo a responsabilidade a outros
sujeitos: o setor empresarial se volta para atender demandas nas áreas da previdência
social e da saúde, enquanto o terceiro setor dirige-se fundamentalmente à assistência
social, notadamente nos setores carentes. Peroni (2006) faz críticas ao terceiro setor,
pois, segundo ela, este se multiplicou em um contexto de crise do Estado providência,
período em que o neoliberalismo tem como objetivo fundamental a desregulamentação
da economia, tentando retirar o poder do Estado para esvaziar o poder do voto. Na visão
de Montaño (2003), o desenvolvimento do terceiro setor processou alguns
deslocamentos: “de lutas sociais para a negociação/parceira; de direitos por serviços
sociais para a atividade voluntária/filantrópica; do âmbito público para o âmbito
privado; do universal/estrutural/permanente para o local/focalizado/fortuito”. (p. 200).
O fenômeno do terceiro setor expandiu especialmente em países de capitalismo
avançado, como EUA, Inglaterra, entre outros, assumindo uma forma alternativa de
ocupação, em empresas de perfil mais comunitário, motivadas predominantemente por
formas de trabalho voluntário, abarcando um amplo leque de atividades, sobretudo,
assistenciais, sem fins diretamente lucrativos e que se desenvolvem um tanto à margem
do mercado. Segundo Ricardo Antunes (1999), o crescimento do terceiro setor decorreu
da retração do mercado de trabalho industrial e do setor de serviços, em decorrência do
desemprego estrutural, consequência da crise estrutural do capital, da sua lógica
destrutiva vigente, bem como dos mecanismos utilizados pela reestruturação produtiva
do capital visando reduzir trabalho vivo e ampliando trabalho morto.
Segundo Antunes (1995), o processo de crescimento do terceiro setor, é visto,
pelos seus defensores, como oportunidade de emprego, uma vez que com o advento da
industrialização e da informatização é alto o número de desempregados substituídos
pelas máquinas. Assim, este setor teria a condição de absorver parcelas de
desempregados. Contudo, ao mesmo tempo está ligado ao processo de precarização do
trabalho, uma vez que o operário para se manter competitivo em seu posto de trabalho
46
precisa, nas horas vagas, que já são raras, desenvolver atividades em instituições do
terceiro setor, a fim de manter seu nível de empregabilidade.
Peroni (2006) concorda com Antunes (1995), avaliando que o Estado capitalista
atualmente está em crise. A prova está no alto grau de desemprego que vem
intensificando a exclusão social provocada, principalmente, pela chamada revolução
tecnológica. Segundo Peroni (2006), esse quadro se agravou pela reforma do Estado,
que ocasionou uma diminuição nas políticas sociais. Nesse contexto, a solução apontada
pelos neoliberais é aliviar os níveis da pobreza para se evitar o caos – e o terceiro setor é
chamado a desempenhar essa tarefa.
Segundo Falconer (1999), além do neoliberalismo e a terceira via, outro
processo que impulsionou o alastramento do terceiro setor foi a influência dos
organismos internacionais de financiamento (OIF), com destaque para o Banco Mundial
(BM), que contribuiu decisivamente para a consolidação e disseminação deste campo no
mundo em desenvolvimento. Para o BM, o interesse em trabalhar com ONGs decorre da
sua constatação de que estas organizações podem contribuir para a qualidade,
sustentabilidade e efetividade dos projetos que financia.
Porém, na verdade, a defesa pela política do terceiro setor não acontece por meio
de uma bondade destes organismos, o real interesse tem uma funcionalidade capitalista:
Os OIFs defendem o pagamento dos empréstimos concedidos aos países devedores a
todo custo, sobre a ameaça de suspender futuros empréstimos. Para assegurar o
pagamento destes empréstimos, defendem a retirada do Estado das políticas sociais,
repassando ao terceiro setor a responsabilidade pela administração deste serviço
público. Segundo Montaño (2003), o terceiro setor passou a ser um instrumento
defendido pelo neoliberalismo encarregado de diminuir o perigo de possíveis explosões
sociais. Longe de ser uma ferramenta de reivindicação por direitos sociais, o verdadeiro
efeito da proliferação das ONGs seria o de fragmentar as comunidades pobres e
transformá-las em grupos setoriais e subsetoriais incapazes de ver os seus problemas
sociais.
A política do terceiro setor é utilizada pelos neoliberais e os senhores do mundo,
como forma de impedir que as comunidades pobres se revoltem contra a crise
econômica que perpassa os países capitalistas, e que se mantenham inertes frente aos
parcos recursos e qualidade dos serviços públicos. Os neoliberais se apoiam na política
47
do terceiro setor e influenciam a opinião da classe operária, deixando transparecer
apenas o caráter filantrópico, caritativo, benemérito destas entidades.
Conforme Peroni (2006), o terceiro setor foi a estratégia proposta pela terceira
via em substituição à proposta de privatização do neoliberalismo. A ampliação do
terceiro setor no Brasil aconteceu após a execução do Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado, que alicerçou as bases de criação das leis que amparam o terceiro
setor: a lei da publicização (9.637/98) e a lei do terceiro setor (9.790/99), que serão
discutidas a seguir.
2.2 A reforma do aparelho do Estado e a lei da publicização (n° 9.637/98)
Conforme apresentado por Falconer (1999), o primeiro programa em nível
federal responsável pelo fortalecimento do terceiro setor foi a execução do Plano
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), no governo de Fernando
Henrique Cardoso. Segundo Vicente Faleiros (2004), esta reforma esteve articulada às
transformações do capitalismo mundial que alterou o seu papel de pilar do
desenvolvimento interno para o de suporte da competitividade internacional.
O PDRAE foi criado, em 1995, pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (MARE), com Luiz Carlos Bresser Pereira à sua frente. Para o
governo federal, era preciso que o Estado não somente sustentasse a competitividade,
mas também se reestruturasse visando implementar uma administração pública
gerencial que se orientaria pela eficiência e qualidade dos serviços, rompendo com a
administração burocrática anterior. A necessidade da reforma do Estado brasileiro é
justificada, no documento, como uma saída para a crise de ordem fiscal. (OLIVEIRA,
2006).
De acordo com o Plano Diretor (BRASIL, 1995), o objetivo da Reforma do
Aparelho do Estado ocorreu “Através da transição programada de um tipo de
administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o
controle interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada
para o atendimento do cidadão” (p. 13), pois na visão do governo, além da questão
fiscal, a crise do Estado estava ligada à crise de administração pública burocrática
marcada pela ineficiência, morosidade, pelo clientelismo e descompromisso com o
desempenho estatal.
48
O Plano Diretor apresentava a diferença entre reforma do Estado e reforma do
aparelho do Estado:
A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do
governo e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma
do aparelho do Estado tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar
a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania. Este
Plano Diretor focaliza sua atenção na administração pública federal, mas
muitas das suas diretrizes e propostas podem também ser aplicadas no nível
estadual e municipal. (BRASIL, 1995. p. 12).
Na visão de Bresser Pereira, o Brasil passou por duas gerações de reformas. A
primeira na década de 1980, denominada simplesmente por ele como reforma e, na
década de 1990 uma segunda reforma denominada de reforma gerencial. Esta reforma
partiu da ideia de que o Estado poderia ser mais eficiente, desde que usasse instituições
e estratégias gerenciais, e utilizasse organizações públicas não-estatais para executar os
serviços por ele apoiados. (BRASIL, 1995). Para o governo, era preciso que o Estado
não somente sustentasse a competitividade, mas também se reestruturasse visando
implementar uma administração pública gerencial que deveria se orientar pela eficiência
e qualidade dos serviços, rompendo com a administração burocrática anterior.
Para Montaño (2003), na verdade o que Bresser Pereira chama de “reforma
gerencial” não é outra coisa senão a continuidade do ajuste estrutural macroeconômico
neoliberal com o desenvolvimento de novas áreas mais de ordem institucional-legal,
como as reformas administrativas e da Previdência.
No Plano Diretor (BRASIL, 1995), o aparelho do Estado estava dividido em
quatro setores: núcleo estratégico, que é o Estado propriamente dito e seus três poderes
(legislativo, executivo e judiciário), voltado para o cumprimento das leis; atividades
exclusivas, setor também destinado ao Estado, sendo serviços que somente ele pode
realizar; serviços não-exclusivos, que trata de ser um setor com atuação simultânea com
organizações públicas não-estatais e privadas; produção de bens e serviços para o
mercado, que é uma área destinada à atuação das empresas. (p. 41-42). Remetendo-se
ao setor de serviços não-exclusivos, o PDRAE tinha como principal objetivo:
49
Transferir para o setor público não-estatal estes serviços, através de um
programa de publicização, transformando as atuais fundações públicas em
organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins
lucrativos, que tenham autorização específica do poder legislativo para
celebrar contrato de gestão com o poder executivo e assim ter direito à
dotação orçamentária. (BRASIL, 1995, p. 46).
Para Luiz Mendes (1999) é no setor de serviços não-exclusivos do Estado que se
encontram as entidades do terceiro setor. Foi por meio do processo de publicização, que
surgiram as primeiras organizações sociais (OS), regulamentadas pela lei nº 9.637/98.
Na fala de Bresser Pereira, um dos principais problemas do Estado era a falta de
governança e de eficiência do aparelho estatal, e para corrigi-la, o caminho encontrado
foi a publicização. Entretanto, para Montaño (2003), o processo de publicização é, na
verdade, a denominação ideológica dada à transferência de questões públicas de
responsabilidade estatal para as entidades públicas não-estatais e ao repasse de recursos
públicos para o âmbito privado. O que está por trás da chamada publicização é:
[...] por um lado, a diminuição dos custos desta atividade social – não pela
maior eficiência destas entidades, mas pela verdadeira precarização,
focalização e localização destes serviços, pela perda das suas dimensões de
universalidade, de não-contratualidade e de direito do cidadão, desonerando o
capital; por outro lado, o retiro destas atividades do âmbito democráticoestatal e da regência conforme o direito público, e sua transferência para o
âmbito e direito privados, e seu controle seguindo os critérios gerenciais das
empresas, e não uma lógica de prestação de serviços e assistência conforme
um nível de solidariedade e responsabilidade social. (MONTAÑO, 2003. p.
47-48).
Segundo Regina Oliveira (2006), a reforma do Estado fundamentou-se em três
elementos: a privatização, como um processo de transformar uma empresa estatal em
privada; terceirização como um processo de transferir para o setor privado os serviços
auxiliares; e a publicização, um processo de transformar uma organização estatal em
uma organização de direito privado, mas de ordem pública não-estatal.
Segundo Montaño (2003), dentro dos parâmetros da reforma gerencial, para
operacionalizar esta publicização foram tomados como base o tripé conceitual:
descentralização; organização social e parceria. A descentralização seria a transferência
de decisões para unidades subnacionais, como a delegação de autoridade a
administradores de nível mais baixo; as organizações sociais (OS) são as entidades de
direito privado que, por iniciativa do poder executivo, obtêm autorização legislativa
para celebrar contrato de gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação
50
orçamentária (BRASIL, 1995) e a parceria, o acordo entre o Estado e as organizações
sociais.
O PDRAE define as OS como sendo um modelo de organização pública nãoestatal destinado a absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica.
Trata-se de uma forma de propriedade pública não-estatal, constituída pelas associações
civis sem fins lucrativos, que não são propriedades de nenhum indivíduo ou grupo e
estão orientadas, diretamente, para o atendimento do interesse público. Constituíram-se
em uma inovação institucional, embora não representem uma nova figura jurídica,
inserindo-se no marco legal vigente, sob a forma de associações civis sem fins
lucrativos, não as caracterizando como pessoas jurídicas de direito privado. A entidade
qualificada como OS estaria habilitada a receber recursos financeiros e a administrar
bens e equipamentos do Estado. Em contrapartida, ela se obrigaria a celebrar um
contrato de gestão, por meio do qual seriam acordadas metas de desempenho que
assegurassem a qualidade e a efetividade dos serviços prestados ao público. (BRASIL,
1998).
Para Maria Susin (2006), a reforma do papel do Estado, amplamente defendida
pelo PDRAE, definia que a prática da parceria tinha como princípio basilar reduzir ou
não ampliar o tamanho do Estado, deixando que a sociedade assumisse algumas de suas
funções não-exclusivas. Para o governo de Fernando Henrique Cardoso, o PDRAE
significou garantir ao Estado maior governança, maior condição de implementar as leis
e políticas públicas, além de tornar muito mais eficientes as atividades exclusivas de
Estado através da transformação de autarquias em “agências autônomas” e tornou
também muito mais eficientes os serviços sociais competitivos ao transformá-los em
organizações públicas não-estatais. (BRASIL, 1995).
Porém, Peroni (2006) entende que há, aí, uma contradição, pois, conforme o
Plano Diretor, o Estado fortaleceu suas funções de regulação e coordenação,
particularmente em nível federal, porém, ao passar o controle político-ideológico para
as organizações públicas não-estatais, apenas as financiando, transferiu a coordenação e
a regulação dessas organizações para o mercado. Assim sendo, quem passou a regular
foi o mercado, e não o Estado, característica predominante no Estado neoliberal.
O PDRAE teve grande interferência dos organismos internacionais de
financiamento. Os pressupostos da reforma administrativa incorporaram as diretrizes do
Banco Mundial (BM), tomando como principais medidas: a redução de custos e
51
racionalização do gasto público para assegurar a estabilidade econômica; a melhoria da
eficiência do aparelho do Estado e a descentralização dos serviços, retirando-lhes as
atividades que possam ser desenvolvidas por outras instituições. (MONTAÑO, 2003).
Na visão de Ferrarezi (2007), a proposta principal do MARE não tinha como
princípio básico fortalecer o terceiro setor, embora isso tenha ocorrido indiretamente.
Para o PDRAE sempre que o Estado não demonstrasse uma vantagem comparativa,
deveria ser substituído, no exercício das funções não-exclusivas, por instituições
privadas mercantis (privatização) ou instituições do terceiro setor (publicização). Um
dos objetivos do PDRAE era “Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são
próprias, reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade
pública não-estatal, e a produção de bens e serviços para o mercado para a iniciativa
privada”. (BRASIL, 1995, p, 45).
Em suma, o setor que produz bens e serviços é destinado à iniciativa privada,
por meio da privatização, prevalecendo a lei do mercado nos moldes do capitalismo. Já
o setor de serviços não-exclusivos do Estado, em linhas gerais, a política social, fica sob
a responsabilidade das entidades público não-estatais que receberam parcos recursos do
Estado e que vão exercer sua ação ao seu bel prazer, situação presente em países de
ordem neoliberal.
A lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 que se constituiu após a reforma do
PDRAE, qualificou as entidades como organizações sociais e criou o Programa
Nacional de Publicização (PNP). As entidades qualificadas como organizações sociais
deveriam ser pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades
fossem dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à
proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Para se qualificar como
Organizações Sociais - OS era preciso atender a alguns requisitos:
52
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; b)
finalidade não-lucrativa, c) previsão expressa da entidade ter, um conselho de
administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto; d) previsão
de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de
representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória
capacidade profissional e idoneidade moral; e) composição e atribuições da
diretoria; f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da
União,dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de
gestão; g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na
forma do estatuto; h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do
patrimônio líquido em qualquer hipótese, i) previsão de incorporação integral
do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem
como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de
extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social
qualificada no âmbito da União. (BRASIL, 1998, p. 1 -2).
O PNP tinha como objetivo estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação
de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por
entidades ou órgãos públicos da União, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, levando em consideração algumas diretrizes: ênfase no
atendimento do cidadão-cliente; nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos
pactuados e controle social das ações de forma transparente. (BRASIL, 1998).
Maria Susin (2006) esclarece que o PDRAE criou mecanismos legais para
descentralizar a execução dos serviços que não envolviam o poder do Estado. Para
Montaño (2003), o PDRAE representou a transferência de questões públicas de
responsabilidade estatal para o chamado terceiro setor e ao repasse de recursos públicos
para o âmbito privado. A lei da publicização (nº 9.637/98) e a lei das Organizações da
Sociedade Civil e de Interesse Público- OSCIPs. (nº 9.790/99) fortaleceu o terceiro
setor. A seguir será analisado o Programa Comunidade Solidária que formulou as bases
de criação da lei da OSCIP.
2.3 O Programa Comunidade Solidária e a lei do terceiro setor (nº 9.790/99)
Segundo Elisabete Ferrarezi (2007), o Programa Comunidade Solidária, foi
criado em 1995 pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, no formato do
antigo Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA, instituído pelo governo
Itamar Franco.
Rosa Fischer (2005) afirma que o Comunidade Solidária continha em sua
denominação o conceito integrador da solidariedade, unindo diferentes organizações
53
para viabilizar resultados comuns no campo das ações sociais. Sua principal proposta
era ser um instrumento de mobilização da participação dos cidadãos e de promoção de
parcerias entre governo e sociedade para o combate à pobreza e exclusão social,
exigindo o fortalecimento das capacidades de pessoas e comunidades em satisfazer suas
necessidades,
resolvendo
problemas
e
melhorando
sua
qualidade
de
vida.
(FERRAREZI, 2007).
Realizando um histórico sobre o processo que culminou com a aprovação da
OSCIP, Mário Alves (2002) salienta que o governo federal, por meio do Comunidade
Solidária, liderou um processo de consolidação de um novo marco legal para as
entidades de caráter público não-estatal, condição que possibilitou que estas
organizações participassem de uma nova maneira de formular e executar políticas
públicas: a parceria entre Estado e sociedade civil. Em dezembro de 1994, no Brasil, foi
realizado um encontro de diversas entidades ligadas à sociedade civil para estabelecer
uma pauta de compromissos com vistas a uma nova regulação das relações entre o
Estado e o terceiro setor.
Deste encontro, os pontos discutidos mais relevantes foram: a criação de uma
legislação semelhante ao estatuto da microempresa, a fim de estimular a criação e o
funcionamento das entidades sem fins lucrativos, possibilitando o acesso dessas
organizações aos recursos governamentais, sem qualquer forma de intermediação; a
criação de um cadastro único nacional para a emissão de registros e certificados, para
um procedimento mais transparente e uniforme, evitando diversas titulações; a
promoção de subvenções e isenção de impostos apenas às entidades que prestam
serviços complementares ao Estado. (ALVES, 2002).
No parágrafo acima pode-se notar que as empresas começaram a se articular e
desenvolver as diretrizes de como deveriam ser pautadas a lei do terceiro setor. Os
pontos discutidos baseavam-se nos recursos financeiros, isenção de impostos e
formulação de estatuto no formato de microempresas, reforçando a tese de que a
burguesia empresarial passou a dominar a área social, defendendo seus interesses em
detrimento do esvaziamento do Estado.
Segundo Alves (2002), para viabilizar a proposta de fortalecimento da sociedade
civil, o Conselho do Comunidade Solidária, que era constituído por membros tanto do
Estado quanto da sociedade civil, deu origem a reforma do marco legal do terceiro setor,
por meio de um financiamento obtido com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
54
(BID). Segundo Ferrarezi (2007), a percepção de que era preciso transformar as
políticas públicas em políticas de parceria entre governo e sociedade deu origem a
programas gerenciados por associações civis como: Universidade Solidária,
Capacitação Solidária e o Alfabetização Solidária, programas criados entre 1995 a 1997,
dentre outros.
Porém, o Conselho do Comunidade Solidária começou a sofrer duras críticas de
vários segmentos do governo e da sociedade devido à sua atuação, pois, segundo
Ferrarezi (2007) foram detectados problemas na formulação de ideias do conselho.
Várias foram as instituições que contestaram as formulações do conselho: instituições
da sociedade civil, instituições ligadas ao setor empresarial como o Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (GIFE), a Associação Brasileira das Organizações nãogovernamentais (ABONG), além dos organismos internacionais, dentre outras.
Cada qual buscava defender seus interesses e encontrar um divisor comum a
todos foi o grande obstáculo. Com uma crise instalada no Conselho do Comunidade
Solidária, muitos representantes de entidades da sociedade civil se desligaram do
conselho, pois o mesmo não estava conseguindo gerar respostas convincentes.
Conforme Ferrarezi (2007), os principais motivos geradores da crítica foram:
Sua deliberada diferenciação em relação à forma de estabelecer relações
políticas no governo (sem as tradicionais trocas e barganhas); a escolha dos
conselheiros que não respondia a uma forma representativa tradicional de
segmentos políticos, econômicos e sociais; sua postura crítica em relação aos
programas do governo federal de combate à pobreza e de assistência social e
afirmação de aspectos pouco convencionais para caracterizar e combater a
pobreza; recursos financeiros que eram viabilizados por meio das parcerias
com empresas e fundações; e por fim as características distintivas de seus
programas que proporcionavam maior autonomia e flexibilidade para
inovação e captação de recursos, o que era difícil de ser viabilizado nas
condições em que as instituições governamentais deviam atuar (orçamento
rígido que delimita aonde e como gastar, regras administrativas impeditivas
etc). (p.141).
As propostas formuladas pelo conselho do Comunidade Solidária eram
compatíveis com as mudanças que estavam ocorrendo no mundo em razão da
globalização, da crise do Estado-nação e foi simultânea ao surgimento de uma
concepção política: modernidade reflexiva, emergência da sociedade-rede, reforma do
Estado, expansão de uma esfera pública não-estatal, a mudança do padrão de relação
Estado-sociedade, a dificuldade do estatismo keynesiano como ideologia capaz de
55
resolver os problemas da sociedade contemporânea e do capitalismo em lidar com riscos
artificiais. (FERRAREZI, 2007).
Alguns argumentos contribuíram fortemente, segundo Ferrarezi (2007), para a
crítica à atuação do conselho, reagindo contra as inovações que o conselho tentava
disseminar. Partidários da esquerda criticaram algumas características do conselho, que
estavam associadas ao neoliberalismo como: a focalização e as parcerias com atores
privados e associações civis. Este grupo passou a defender a manutenção de políticas
ligadas ao Estado desenvolvimentista, políticas essas no âmbito da seguridade social.
Além disso, não estava claro qual era a natureza das várias mudanças que estavam
ocorrendo naquele momento, sobressaindo as questões econômicas e financeiras por seu
impacto, associados a um projeto neoliberal pró-mercado, além das reformas
constitucionais que estavam na agenda. Havendo este impasse, foram interrompidas as
discussões sobre a formulação do marco legal do terceiro setor.
Na primeira metade da década de 1990, após solucionar a crise interna, o tema
da constituição do marco legal voltou à pauta dos grupos que identificaram os principais
temas a serem revisados e posteriormente incorporados na discussão da reforma. Em
1996, foi reestruturado o Conselho do Comunidade Solidária e idealizada a interlocução
política como intuito de chegar a um consenso para área social no Brasil. Segundo
Ferrarezi (2007), a interlocução política tentou por em prática algumas das diretrizes
que o conselho adotou: promover o fortalecimento da sociedade civil e incentivar a
parceria entre Estado e sociedade por meio do diálogo político entre atores
governamentais e da sociedade civil.
Já em abril de 1997, a ABONG organizou o seminário “As ONGS e o Marco
Legal da Sociedade Civil com Fim Público”, no qual foram abordados os principais
pontos da discussão: objetivos de uma nova legislação, princípios e critérios
orientadores; papel do Estado; fim público; imunidades e isenções e acesso a fundos
públicos. No mesmo ano, foi preparada uma rodada de interlocução política do
Conselho do Comunidade Solidária dedicada ao tema da reforma do “Marco Legal do
terceiro setor”, com o objetivo de identificar as principais dificuldades legais que as
diversas entidades de origem privada, porém com fins públicos, enfrentavam em suas
atividades cotidianas e recolher sugestões de como reformar a legislação e inovar.
(FERRAREZI, 2007).
56
Durante este período foram realizadas diversas rodadas de interlocução que
detectaram problemas e soluções para a constituição do novo marco legal. Foram
formulados documentos que afirmavam que o crescimento do terceiro setor no Brasil
estava relacionado não somente à demanda por participação social nas decisões
públicas, mas também à redefinição das relações entre Estado e sociedade. Trazia como
destaque sua importância política, diante da crise de representatividade dos partidos;
importância social, por assumir responsabilidade nessa área e importância econômica,
devido ao crescimento de empregos no setor. (FERRAREZI, 2007). Na visão de Luiz
Mendes (1999), o argumento do Estado para a criação de uma nova legislação para o
terceiro setor surgiu a partir da identificação de problemas na legislação anterior. Esses
problemas foram discutidos com um grande conjunto de organizações públicas nãoestatais, de modo que o resultado foi a definição contida na lei.
Após muitas rodadas de negociação, em julho de 1998, o projeto de lei foi
encaminhado ao poder legislativo, sendo aprovada e sancionada a lei em 23 de março de
1999, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A Lei n° 9.790/99 dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e institui o termo
parceria. (BRASIL, 1999). As pessoas jurídicas de direito privado para obterem este
título deveriam trabalhar com a proposta de serem sem fins lucrativos, e que os
excedentes gerados fossem utilizados com objetivo social e não em benefício próprio ou
dividido entre os membros.
A lei da publicização e a lei da OSCIP, além de demarcarem novos contextos
para a atuação das organizações do terceiro setor, representaram iniciativas de
aproximação do Estado para com as entidades público não-estatais. Aproximação essa,
evidentemente, dentro dos interesses da linha de ação que o Estado brasileiro adotou na
última década, de diminuir a sua presença na sociedade. A lei do terceiro setor,
conforme Ferrarezi (2007), visava simplificar os procedimentos para o reconhecimento
institucional das entidades como OSCIP e facilitar as parcerias com o poder público.
Esse era o contexto em que o Conselho do Comunidade Solidária tentava
difundir valores e suas propostas de mudança na relação tradicional do Estado nas
políticas sociais, visando uma relação mais permeável tanto do Estado quanto da
sociedade,
em
que
ambos
assumiriam
responsabilidades
de
formulação
e
implementação de uma estratégia de desenvolvimento social. O conselho não apenas
57
reconheceu a subpolítica, como a incorporou em seu projeto político, admitindo a
limitação das instituições estatais de promoverem mudanças relevantes quando atuam
sem a participação social. (FERRAREZI, 2007).
Em suma, tanto a reforma promovida pelo PDRAE, quanto as propostas do
Conselho do Comunidade Solidária, tinham como principal objetivo retirar o Estado da
responsabilidade de intervenção na questão social e de transferi-las para a esfera das
entidades público não-estatais. Para Montaño (2003), o motivo é fundamentalmente
político-ideológico: além de retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do
cidadão quanto às políticas sociais de qualidade, outro motivo crucial é criar uma
cultura de auto-culpa pelas mazelas que afetam a população, e de auto-ajuda e ajuda
mútua para seu enfrentamento.
Mário Alves (2002) afirma que para fomentar parcerias com as OSCIP, a lei
instituiu o termo de parceria. Diferente dos convênios e contratos, o termo parceria foi
proposto como um instrumento mais transparente e democrático, de fomento para as
atividades e projetos das organizações sem fins lucrativos.
O termo parceria adquiriu grande popularidade, principalmente em razão do
sucesso das propostas do Comunidade Solidária que disseminou o conceito e estimulou
a aproximação de empresários e lideranças comunitárias na solução de problemas
sociais. As empresas buscavam frequentemente estabelecer parcerias com organizações
da sociedade civil para concretizar seus projetos de atuação social. (FISCHER, 2005).
Conforme Montaño (2003), a função ideológica da parceria entre Estado e o
terceiro setor tem como funcionalidade encobrir o fundamento, a essência do fenômeno:
ser parte da estratégia de reestruturação do capital, e fetichizá-lo em transferência,
levando a população a um enfrentamento/aceitação deste processo dentro dos níveis de
conflitividade institucional aceitáveis para a manutenção do sistema, e ainda mais, para
a manutenção da atual estratégia do capital e seu projeto hegemônico: o neoliberalismo.
A qualificação instituída pela lei nº 9.790/99 (BRASIL, 1999), somente seria
conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos
sociais tivessem pelo menos uma das seguintes finalidades:
58
I - promoção da assistência social; II - promoção da cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico; III - promoção gratuita da
educação; IV - promoção gratuita da saúde; V - promoção da segurança
alimentar e nutricional; VI - defesa, preservação e conservação do meio
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; VII - promoção do
voluntariado; VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e
combate à pobreza; IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos
sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego
e crédito; X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; XI - promoção
da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
mencionadas neste artigo. (p. 2).
Alves (2002) traz a definição de entidades “sem fins lucrativos”: Considera-se
sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre seus
sócios, associados, empregados e outros, os excedentes operacionais, brutos ou líquidos
gerados. Porém a denominação “sem fins lucrativos” acende a uma conclusão duvidosa:
o conceito de “sem fins lucrativos”, pelo qual passa a ser entidade de interesse público,
não é a entidade que não aufere lucro no seu exercício, mas a entidade que, em existindo
o lucro, não o distribua à sua equipe de trabalho. Ou seja, a partir das brechas deixadas
na legislação, o setor empresarial ganhou espaço e também pôde ser denominado como
entidades do terceiro setor, concorrendo a subvenções públicas e a ter os mesmos
direitos que as entidades filantrópicas, as ONGs, que muitas vezes não possuem
recursos próprios para sua manutenção.
A lei traz, no artigo segundo, as características que inviabilizam tal entidade a
obter a qualificação como OSCIP:
I - as sociedades comerciais; II - os sindicatos, as associações de classe ou de
representação de categoria profissional; III - as instituições religiosas ou
voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais
e confessionais; IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive
suas fundações; V - as entidades de benefício mútuo destinadas a
proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e
assemelhados; VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas
mantenedoras; VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não
gratuito e suas mantenedoras; IX - as organizações sociais; X - as
cooperativas; XI - as fundações públicas; XII - as fundações, sociedades civis
ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações
públicas; XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de
vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da
Constituição Federal. (BRASIL, 1999, p.1).
59
Ou seja, por meio do processo de exclusão, pode-se inferir que as ONGs se
enquadram neste processo. As entidades que se enquadrassem nestas normas poderiam
receber do poder público o reconhecimento como OSCIP e o termo de parceria
ganhando o direito de receber subvenções do Estado para manutenção de suas
atividades. A lei nº 9.790/99 ampliou o rol de interesse público, qualificando como
OSCIP as entidades cujos objetivos sociais são a preservação, estudo, pesquisa de
patrimônio ecológico (meio ambiente) e cultural, microcrédito, assessoria jurídica e
outros. (ALVES, 2002). Pode-se inferir que o que era levado em consideração para se
denominar uma instituição de terceiro setor, não era sua natureza jurídica e sim seu
objetivo social, mais um motivo que contribuiu para que as empresas se enquadrassem
como entidades público não-estatais.
Na visão de Carlos Montaño (2003), a finalidade da reforma do aparelho do
Estado, a criação da lei da publicização e da lei das OSCIPs, mais do que um estímulo
estatal para a ação cidadã, representou a desresponsabilização do Estado para com a
questão social. Além disso, a legislação do terceiro setor fortaleceu e legitimou a
sociedade civil e a filantropia empresarial como responsáveis pela política social
brasileira, transferindo o social à lógica do mercado, caracterizando um processo de
privatização do social.
A reforma administrativa do Estado foi considerada o auge do desenvolvimento
da filantropia empresarial brasileira. Segundo André Martins (2005), surgiram novas
organizações burguesas que passaram a somar esforços decisivos na tarefa de reeducar a
sociedade, organizando-se em pautas mais emergenciais de caráter econômico, a partir
das novas políticas do governo federal dando um novo caráter às experiências políticosociais. Segundo Rosa Fischer (2005), a Constituição de 1988 promoveu a
descentralização administrativa do Estado brasileiro, processo que estimulou a
responsabilidade dos cidadãos perante a área social, surgindo um ambiente favorável ao
crescimento da atuação social de empresas e da formação de alianças com as
organizações da sociedade civil.
Ruben Fernandes (1994) argumenta que no Brasil, na década de 1980, houve
uma tendência mais dinâmica de propagação do conceito de investimentos privados no
social. O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), estimulou a participação
do setor empresarial em desenvolver trabalhos de filantropia empresarial. Para Falconer
60
(1999), o setor empresarial defendeu a bandeira do terceiro setor. O envolvimento das
empresas se realizava tipicamente através de doações de recursos, da operação direta de
programas, ou através de parcerias com organizações da sociedade civil. Mas a grande
questão aqui é o estímulo estatal dado às empresas que desenvolvem ações sociais
como: subvenções para execução de seus projetos, isenção de impostos às empresas
parceiras do Estado, políticas que claramente esvaziam os cofres públicos.
Para Martins (2005), a filantropia empresarial é um conceito de caráter
ideológico que ganhou presença no cenário brasileiro incorporado pelo governo
Fernando Henrique Cardoso, após a execução da reforma do aparelho do Estado
(PDRAE). A responsabilidade social empresarial expressa o encerramento de crise e
tensões hegemônicas e indica novas acomodações políticas e novas movimentações
qualitativamente superiores que penetraram o campo das políticas de Estado e
envolveram todas as frações de classe burguesa, reordenando as relações políticas mais
amplas localizadas no interior da sociedade civil.
A visibilidade propiciada pela mídia e a atuação de entidades que disseminaram
o conceito da responsabilidade social estimulou essa tendência, fortalecendo a
participação da sociedade civil organizada. Para Fernandes (1994), a elaboração da
legislação fiscal estimulou investimentos privados no social, tornando a temática de
enorme relevância. O surgimento da filantropia empresarial caminhou no sentido de
mudar as práticas de fundo caritativo para o exercício da responsabilidade social e
depois pelo investimento social privado.
Porém, Martins (2005) argumenta sobre a visão aparentemente caritativa do
setor empresarial quanto ao campo social. A intervenção dos empresários no campo
social transformou-se em algo orgânico à classe proprietária, operacionalizando,
portanto, seu projeto de sociabilidade. Segundo o autor, a presença dos empresários nas
políticas sociais trata-se de uma nova perspectiva da atuação educativa da classe
burguesa rumo à consolidação de sua condição de dirigente de toda a sociedade.
Para Fernandes (1994), este processo das empresas trabalharem no social, na
realidade, é uma estratégia de sobrevivência deste setor, pois com este trabalho estarão
fazendo uso inteligente das oportunidades de lucro e ganhando visibilidade, apropriação
indubitável do conceito de marketing social. As empresas buscam atuar no campo social
com a finalidade de que seu trabalho seja subsidiado pelo Estado, e ao mesmo tempo
61
desenvolver mecanismos políticos e educativos mais sofisticados e eficientes de
dominação da classe proletária através do convencimento. (MARTINS, 2005).
A
ideologia
da
responsabilidade
social
empresarial
sustentada
pelo
neoliberalismo definiu novas estratégias que fortaleceram a fragmentação da vida no
capitalismo, visando perpetuar os mecanismos de exploração e redefinir a dinâmica da
sociedade civil. Martins (2005) apresenta dois fenômenos que foram importantes para a
contextualização da ideologia da responsabilidade social empresarial:
O primeiro refere-se ao processo de destruição do modelo de Estado de bemestar social e implantação do Estado neoliberal em suas diferentes versões,
com efeitos nocivos sobre as políticas sociais e situação de vida dos
trabalhadores. Foi a partir daí que a classe [burguesa] procurou substituir a
noção de filantropia empresarial por uma ideologia que fosse capaz de
responder aos problemas sociais e políticos que potencialmente poderiam
prejudicar sua condição de classe dominante e dirigente. O segundo, mais
ligado ao campo econômico, relaciona-se a introdução do paradigma flexível
de produção, às mudanças nas relações políticas e comerciais ocorridas
recentemente em todo o mundo e as indicações de que o capital diminuiu
extraordinariamente a capacidade de obtenção de lucro. (p. 163).
A fim de compreender como se deu a entrada do setor empresarial no campo
social, é importante discorrer sobre os aspectos mais gerais do GIFE. Com a introdução
da cidadania empresarial, foi formado o GIFE, segmento advindo da atividade
empresarial no terceiro setor, voltado para o apoio de iniciativas sociais,
disponibilizando recursos privados para fins públicos, buscando expressar a
responsabilidade e consequente participação da iniciativa privada na reorganização do
espaço público. Segundo Fischer (2005), o GIFE surgiu em 1989, na época com 25
associados, como organização formal de associação dos braços sociais corporativos. Em
2002, o grupo passou a contar com 67 associados, ampliando seu leque de atuação em
atividades de divulgação, capacitação e apoio aos empreendimentos sociais das
empresas vinculadas ao grupo. Em 2004, o GIFE já tinha um conjunto de 32 fundações,
27 institutos e 10 grupos empresariais. Seu pioneirismo esteve pautado na definição de
um código de ética responsável por demarcar as bases de ação fundamentadas na nova
ideologia empresarial.
O GIFE se constituiu para a formalização das práticas filantrópicas do mundo
empresarial a partir de 1995. As raízes dessa organização da sociedade civil estão
ligadas à história do Prêmio Empresa e Sociedade, mais conhecido como Prêmio Eco,
62
promovido pela Câmara Americana de Comércio. O concurso, iniciado em 1982, tinha
como objetivo estimular e divulgar a filantropia empresarial e, nos anos 1990, a
responsabilidade social empresarial. (MARTINS, 2005).
Segundo Martins (2005), o GIFE foi a primeira expressão da mudança da
concepção burguesa sobre educação política na contemporaneidade. O termo foi
reformulado para melhor atender as exigências do setor empresarial. Segundo
Fernandes (1994), nos anos de 1980, a denominação deste grupo não agregava o setor
empresarial: Grupo de Institutos e Fundações (GIF), após a década de 1990, as
empresas se mobilizaram e passaram a fazer parte deste grupo e a nomenclatura foi
alterada: Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). Ou seja, fica evidente o
interesse das empresas em legitimar seu trabalho no âmbito social, como forma de
influenciar as políticas governamentais da sua maneira.
Martins (2005) alerta sobre o apelo e as investidas desse grupo na mudança do
aparato legal que regulamentou a participação burguesa nas questões sociais. O GIFE
obteve certificações como: título de utilidade pública federal, posteriormente
transformando-se em OSCIP para obterem isenções fiscais, ou mesmo estarem
formalmente aptas a ter acesso às verbas públicas para realização de seus projetos
sociais. Para ele trata-se
[...] de medidas que no campo ideológico reforçam, difundem e aprofundam
a ideia neoliberal da terceira via, de que o Estado não é capaz de se
responsabilizar sozinho por educação, saúde, assistência social, e que cabe ao
terceiro setor a tarefa de partilhar responsabilidades a partir de uma rede de
parcerias. No campo da ação política, significa uma forma extremamente
inovadora de obtenção do consenso em torno de um determinado projeto de
sociabilidade dirigido pela classe proprietária. (p.157).
Vale lembrar que o período de amadurecimento organizacional e conceitual do
GIFE coincide com o início da implantação das reformas do aparelho do Estado no
governo de Fernando Henrique Cardoso que procuraram redefinir as relações entre
aparelhagem estatal e sociedade civil. As propostas do GIFE estiveram inseridas em um
projeto internacional de recuperação da hegemonia burguesa: o lucro e a
responsabilidade social se relacionaram positivamente não como ações voltadas à
obtenção de resultados imediatos, mas como medidas de alcance de longo prazo. Por
isso, afirma Martins (2005), que o GIFE inaugurou uma importante ação política
destinada à promoção e difusão da coesão social, de uma nova sociabilidade inspirada
nos mesmos princípios que compuseram o projeto da terceira via.
63
O crescimento quantitativo e qualitativo das organizações burguesas
responsáveis pela difusão da nova ideologia atingiu marcas históricas em curto período
de tempo, pois encontrou no Brasil um terreno extremamente fértil. Organizações
filiadas ao GIFE desenvolveram projetos sociais focalizados, visando transformar os
preceitos da responsabilidade social em ações capazes de disseminar o novo padrão de
sociabilidade. (MARTINS, 2005). Ou seja, todo esse quadro comprova que o
empresariado atuante no Brasil modernizou-se e foi capaz de assimilar e traduzir para a
realidade local um projeto de renovação da hegemonia burguesa nas últimas décadas
que defendeu os seus interesses e um aspecto ainda mais perverso, conseguiu o
consenso da classe trabalhadora.
Para Carlos Montaño (2003), seria ingênuo pensar que as atividades filantrópicas
desenvolvidas pelas empresas não visam, mesmo que indiretamente, fins lucrativos. Tal
ação soa como um marketing social; as empresas realizam projetos em determinadas
localidades a fim de ganhar notoriedade e confiança dos cidadãos, passando uma
imagem positiva da empresa. Mesmo que esta empresa cause vários danos em
determinada região, sempre irá defender seus interesses capitalistas e buscará por meio
da participação nestas comunidades conter os conflitos sociais para o bem da
acumulação capitalista.
Conforme Martins (2005), a responsabilidade social empresarial chegou ao
século XXI como uma ideologia capaz de impulsionar e orientar, a partir de referências
inovadoras, a atuação empresarial em todos os níveis e, ainda, legitimar junto à classe
trabalhadora pelo menos três diretrizes estratégicas:
(i) é necessário readequar os fins, os objetivos e as práticas políticas ligadas à
representação de interesses dos trabalhadores, no sentido da colaboração e do
pacto entre as classes; (ii) é imprescindível que a aparelhagem estatal assuma
um novo papel frente às questões sociais em termos bem distintos daqueles
experimentados nos tempos do Estado inspirado no modelo de bem-estar
social; (iii) é indispensável que todos os atuais e futuros cidadãos-voluntários
apostem na construção de um capitalismo dito humanizado, já que todos são
iguais e portadores de grande potencialidades que precisam ser desenvolvidas
para realização pessoal e comunitária. (p. 164).
Neste prisma, Montaño (2003) afirma que o movimento do terceiro setor
assegura a perversidade do sistema capitalista. Estes movimentos sociais tentam
apaziguar os conflitos, e muitas empresas, sabendo desta jogada, apóiam certas
iniciativas a fim de defender seus próprios interesses. Quando não executam seus
64
próprios programas sociais, inserem-se em instituições que desempenham alguma ação
social em comunidades periféricas a fim de desenvolver uma ação diplomática, em
busca do consenso das massas e da acumulação capitalista.
A intervenção empresarial na área social pouco tem a ver com uma mudança de
perfil na diminuição da exploração capitalista – muito pelo contrário, vai da mão da
precarização do contrato de trabalho e aumento do desemprego –; sendo antes uma
forma de reduzir os impostos, de aumentar a aceitação pelo seu produto, ampliando as
vendas da sua mercadoria, e incrementando assim o lucro, de engajar o trabalhador com
a firma, de obter apoios e vantagens, inclusive financeiros, do Estado. A chamada
responsabilidade social nada mais é do que uma filantropia burguesa, articulada a uma
original forma de marketing social, que em conjunto amplia largamente os lucros
capitalistas. (MONTAÑO, 2003)
Em resumo, os marcos legais criados nas últimas décadas respaldaram a criação
e operação de certas entidades privadas com interesse público, não-governamentais e
sem fins lucrativos, como corolário e justificativa para o processo neoliberal de
desresponsabilização do Estado: a lei da publicização (9.637/98) e a lei da OSCIP ou
terceiro setor (9.790/99). O próximo capítulo, destinado à discussão da metodologia do
estudo, vai também apresentar o levantamento realizado das entidades que compõem o
terceiro setor no município de Três Lagoas, evidenciando suas características e
aspectos.
65
CAPÍTULO 3
A CONSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR
NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS
Este capítulo, destinado à metodologia da pesquisa, tem como objetivo discutir o
materialismo histórico-dialético, referencial teórico metodológico, além de apresentar o
levantamento realizado das entidades que compõem o terceiro setor no município de
Três Lagoas.
O capítulo estará dividido em dois tópicos: o primeiro elucida o método
materialista histórico-dialético, além de apresentar a estratégia e os procedimentos
metodológicos utilizados na execução da pesquisa; o segundo trata da descrição das
instituições do terceiro setor que desenvolvem atividades educacionais em Três Lagoas,
levantando suas características e aspectos principais.
3.1 Sobre o referencial teórico metodológico
A escolha de um método para análise investigativa de um objeto não pode ser ao
acaso. A metodologia escolhida para fins investigativos deve sempre partir de uma
postura política, que possui uma concepção de homem, ciência e de mundo. Desta
forma, o estudo toma como referencial o materialismo histórico-dialético, levando-se
em conta a necessidade de escolha de um método que não se limite simplesmente à
explicação, compreensão ou interpretação do fenômeno estudado, mas que,
fundamentalmente, paute-se na investigação a partir da situação concreta, construída
historicamente e determinada pela condição material, orientada, especialmente, para
uma ação transformadora da realidade.
Para Gaudêncio Frigotto (2000), o materialismo histórico dialético tem como
proposta que o homem se liberte do domínio ideológico e material burguês. Comenta
que, na luta de classes, deve-se buscar investigar o pensamento dominante que tudo
controla, alienando as massas da sua intensa exploração. Por meio do método dialético,
deve o ser cognoscente ruir com o pensamento anterior por meio de reflexões e, assim,
analisar a realidade com o objetivo de transformá-la, ou seja, deve o pesquisador ter
uma postura de analisar as impressões primeiras, passando para um concreto pensado.
66
Para Karel Kosik (1976), a dialética é o pensamento crítico que se propõe a
compreender a realidade, e, sistematicamente, se perguntar como é possível chegar à
sua compreensão. Por isso, é o oposto da sistematização doutrinária ou da romantização
das representações comuns.
Para Sílvio Gamboa (2000), a dialética pretende revelar as leis do movimento
dos objetos e dos processos tanto da natureza como do pensamento e a lógica do avanço
da relação entre o mundo objetivo e o pensamento, segundo as leis objetivas,
assegurando assim que o pensamento coincida em conteúdo com a realidade objetiva
que está fora dele, ou seja, a dialética materialista apresenta-se como método e lógica do
movimento do pensamento no sentido da verdade objetiva. Neste caso, o desafio do
pensamento que se situa no plano abstrato e teórico é trazer para o plano do
conhecimento essa dialética do real. A partir desta perspectiva, mais do que evidenciar a
expansão do terceiro setor, o foco é entender qual a finalidade deste processo de
transferência/cooperação entre o Estado com as entidades público não-estatais.
Gaudêncio Frigotto (2000) destaca três dimensões do materialismo histórico,
porém oriundas de uma mesma unidade: enquanto uma postura, ou concepção de
mundo; enquanto um método que permite uma apreensão radical da realidade e
enquanto práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da transformação e de novas
sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica. Como postura, o
materialismo histórico-dialético contrapõe-se às abordagens metafísicas (empiricistas,
positivistas, idealistas, ecléticas e estruturalistas), que orientam os métodos de
investigação de forma linear, a-histórica, lógica e harmônica, apresentando os
fenômenos sociais como leis do tipo natural, passíveis de observação neutra e objetiva.
Quanto à diferença entre as visões de mundo, Kosik (1976) ressalta que,
enquanto as concepções metafísicas se fixam no fenômeno, no mundo da aparência ou
na aparência exterior dos fenômenos, no movimento visível, na representação, na falsa
consciência, na sistematização doutrinária das representações ou ideologias, a
concepção materialista histórica fixa-se na essência, no mundo real, no conceito, na
consciência real, na teoria e na ciência.
Conforme Kosik (1976), enquanto o positivismo reduz o conhecimento em
diversas partes, separando o reflexo que se faz de um determinado conhecimento, da sua
projeção, reduzindo o mundo real a uma única dimensão e sob um único aspecto, o
materialismo histórico, como reprodução espiritual da realidade, capta o caráter
67
ambíguo da consciência, que escapa tanto ao positivismo quanto ao idealismo. Ou seja,
enquanto capta uma determinada realidade, o materialismo histórico já a projeta em seu
interior e a reflete: “A consciência humana é o reflexo e ao mesmo tempo projeção;
registra e constrói, toma nota e planeja, reflete e antecipa; é ao mesmo tempo receptiva
e ativa”. (p.26).
Em outra análise da dimensão da postura do materialismo dialético, Gamboa
(1998) ressalta que a abordagem crítico-dialética está imbuída de alguns pressupostos
filosóficos, que são a base de qualquer teoria. Dois merecem destaque: os pressupostos
gnoseológicos (maneiras de conceber o sujeito, de construir o objeto e de relacioná-los),
e os pressupostos ontológicos (relativo aos conteúdos da realidade objetiva ao ser), mais
amplos e complexos que indicam a cosmovisão, ou visão de mundo. Gamboa (1998),
discorrendo sobre o surgimento do materialismo histórico-dialético argumenta que
Hegel, com base no princípio de identidade entre pensamento e ser, interpretada de
maneira idealista, uniu o conceito de lógica, dissolvendo a ontologia e a gnoseologia na
lógica. Segundo Hegel, as mesmas leis do mundo objetivo são as mesmas leis da lógica,
ou seja, para Hegel a lógica engloba tudo e toda a Filosofia se converte em lógica.
Segundo Gamboa (1998), Marx e Engels formularam um processo inverso ao
proposto por Hegel. Com o descobrimento da concepção dialética do sujeito e do objeto
no processo do conhecimento e o reconhecimento do lugar da prática na teoria do
conhecimento, Marx supera a separação entre ontologia e gnoseologia na base
materialista e histórica da lógica dialética. Na concepção dialética materialista, não há
um isolamento do sujeito e do objeto, entre o homem e a natureza, eles se relacionam e
se interagem mutuamente. A prática histórica, entendida como a ação transformadora do
homem sobre a natureza, é a base para entender a relação entre pensamento e natureza
como um processo de reflexo desta na consciência do homem, e para compreender
melhor a unidade entre as leis do pensamento e as leis do ser.
Estes ressaltavam que as conclusões não deveriam partir de bases arbitrárias
dogmáticas e sim de bases reais que só poderiam ser abstraídas na imaginação, ou seja,
inicialmente Feuerbach, e depois Marx, opõem-se à filosofia hegeliana, afirmando que a
natureza tem sua origem em si mesma e não no pensamento. “Não é consciência dos
homens que determina sua existência, porém, pelo contrário, é a sua existência social
que lhes determina a consciência". (MARX; ENGELS, 2001, p.21). Após este acalorado
68
embate filosófico entre Marx e Hegel, começou a se desenhar a concepção materialistahistórico-dialética.
De acordo com o pressuposto gnoseológico, para o materialismo históricodialético a primeira condição de toda a história humana é, naturalmente, a existência de
seres humanos vivos, pois a história é uma verdadeira história do homem. Mas não é
qualquer homem e sim homens que estejam em plenas condições de viver para poder
fazer história, com suas necessidades fisiológicas asseguradas: beber, comer, morar,
vestir-se, reproduzir-se. Segundo Marx e Engels (2001), examinar a constituição
corporal desses indivíduos e as relações que ela gera entre eles e o restante da natureza
deve ser a primeira situação a ser constatada. Toda historiografia deve partir dessas
bases naturais e de sua transformação pela ação dos homens no curso da história.
Baseados no pressuposto ontológico, para Marx e Engels (2001) podem-se
distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo o que se
queira, porém eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a
produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria consequência de sua
organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, eles produzem
indiretamente sua própria vida material que depende, antes de tudo, da natureza dos
meios de existência já encontrados e que eles precisam reproduzir. É por meio do
trabalho que o homem domina a natureza e produz sua existência, diferenciando-se
assim do animal. O trabalho, no materialismo histórico-dialético, é compreendido como
uma atividade intrínseca ao ser humano.
No pressuposto ontológico, o homem é considerado um ser social, isto é,
indivíduo inserido no conjunto das relações sociais, com interioridade psicológica, mas
projetado para fora. Conforme Gamboa (1998), dependendo das necessidades
socioeconômicas de cada etapa histórica, solicita-se ao homem o desenvolvimento de
suas potencialidades e determina-se o nível de aprendizagem de sua especialização
dependendo da formação social na qual se situa e da correlação de forças existentes, o
homem se torna força de trabalho, capital humano, sujeito transformador da realidade,
capaz de tomar consciência de seu papel histórico, educar-se pelas ações políticas e
libertar-se através da prática revolucionária, ator e criador da história.
Segundo José Paulo Netto e Marcelo Braz (2010), o homem, entendido como ser
social, é parte da natureza, mas diferencia-se desta como um ser que a transforma, ao
69
mesmo tempo em que se transforma, objetivando-se no mundo a partir de seu trabalho e
de sua capacidade teleológica.
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera
mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior
arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de
transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho aparece um
resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele
não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material
o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei
determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade.
(MARX, 1996, p. 298).
Os animais dependem estaticamente da natureza, agindo de forma instintiva,
com ações sempre iguais. O homem, ao invés, com sua capacidade de abstração, com
sua criatividade, encontra-se em relação com este ambiente social, com a sociedade,
modificando a sua própria ação, desenvolvendo as suas capacidades e suas produções.
O materialismo histórico como dimensão do método está vinculado a uma
concepção de realidade, de mundo, de totalidade e de vida no seu conjunto. Constitui-se
numa espécie de mediação, no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o
desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais. Para a dialética é necessário
acontecer uma ruptura do pensamento dominante que tudo controla para iniciar o
exercício do método de investigação, para a busca de respostas que permita uma
apreensão radical da realidade. (FRIGOTTO, 2000). Romper com a ideologia
dominante é, pois, condição necessária para instaurar-se um método dialético de
investigação. Um primeiro aspecto a ser caracterizado nesta compreensão de método é
que a dialética é um atributo da realidade e não do pensamento.
O materialismo histórico-dialético enquanto método, segundo Gamboa (1998),
se desdobra em três níveis de análise: o nível técnico, o nível teórico e o nível
epistemológico, níveis que se articulam em categorias das mais simples e fáceis de
constatação empírica às mais complexas e abstratas. Quanto ao nível epistemológico,
Gamboa (1998) classifica a abordagem crítico dialética em 3 concepções específicas:
concepção de causalidade, os critérios de cientificidade e concepção de ciência. Sobre a
causalidade, mesmo não priorizando este conceito, o materialismo histórico-dialético
destaca uma interrelação entre o todo e as partes, entre o fenômeno e a essência ou a
interrelação entre dois fenômenos no qual um é a causa e outro a consequência e viceversa; a causa ou explicação dos fenômenos está em seus contextos, os aspectos
70
contextuais explicam o fenômeno; a causalidade refere-se à sequência histórica dos
fatos; interrelação deriva das condições específicas da luta de contrários e das
contradições internas. Para o autor, a explicação de um fenômeno está nas condições
específicas da luta de contrários.
Quanto ao critério de cientificidade, o método materialista histórico explicita a
dinâmica dos fenômenos e veicula a relação teoria prática (razão transformadora). A
validade da prova científica se fundamenta na lógica interna do processo de análise e
síntese, no referencial teórico que permite explicar a relação do todo com as partes e a
recuperação da totalidade no processo da pesquisa, e no método dialético que aborda o
fenômeno em suas contradições numa perspectiva histórica e dinâmica. (GAMBOA,
1998).
A concepção de ciência para o materialismo histórico, como produto da ação do
homem, é tida como uma categoria histórica, um fenômeno em contínua evolução
inserido no movimento das formações sociais. A produção científica, nesse contexto, é
uma construção que serve de mediação entre o homem e a natureza, uma forma
desenvolvida da relação ativa entre o sujeito e o objeto, na qual, o homem, como
sujeito, veicula a teoria e a prática, o pensar e agir, num processo cognitivotransformador da natureza. Ou seja, na visão de Gamboa (1998), a dialética considera a
ação como a categoria epistemológica fundamental.
O homem comum, que não possui uma visão dialética da realidade, é dominado
pela visão aparente da realidade, não notando, por exemplo, no caso de nossa
investigação, que o avanço do terceiro setor é uma estratégia do neoliberalismo e da
terceira via para assegurar a acumulação capitalista em detrimento dos direitos sociais
da classe trabalhadora. Este complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano
e a atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e
evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto
independente
e
natural,
constitui,
segundo
Kosik
(1976),
o
mundo
da
pseudoconcreticidade, ou da falsa realidade.
A pseudoconcreticidade está imbuída num mundo de representações comuns,
que são projeções dos fenômenos postas na consciência dos homens propositalmente.
Segundo Kosik (1976), o seu elemento próprio é o duplo sentido: que indica a essência,
a realidade e, ao mesmo tempo, a esconde. No mundo da pseudoconcreticidade, a
diferença entre o fenômeno e a essência desaparece. O problema de compreender toda
71
esta trama de relações é que o fenômeno se manifesta imediatamente, primeiro e com
maior freqüência do que a essência, desta forma para que se possa compreender o
fenômeno e atingir a essência, é necessário, além de um esforço intelectual, fazer um
détour (um desvio).
Esse détour implica necessariamente ter como ponto de partida os fatos
empíricos que nos são dados pela realidade e, em seguida, implica superar as
impressões primeiras, as representações fenomênicas destes fatos empíricos e ascender
ao seu âmago, às suas leis fundamentais. O movimento de superação da
pseudoconcreticidade assemelha-se ao de um espiral, pois ao passar novamente pelo
ponto de partida, as representações, as inferências, já terão outra validade e
entendimento. Desta forma, o ponto de chegada não será mais a representação primeira
do empírico ponto de partida, mas o concreto pensado. Essa trajetória demanda do
homem, enquanto ser cognoscente, um esforço e um trabalho de apropriação,
organização e exposição dos fatos.
Porém, Kosik (1976) adverte que o homem, antes de iniciar qualquer
investigação, deve possuir uma segura consciência de que existe algo susceptível de ser
investigado, e de que existe uma oculta verdade da coisa, distinta dos fenômenos que se
manifestam imediatamente. A política do terceiro setor é adotada pelos neoliberais e os
senhores do mundo como forma de impedir que as comunidades pobres se revoltem
contra a crise econômica que perpassa os países capitalistas, e que se mantenham inertes
frente aos parcos recursos e qualidade dos serviços públicos. Os neoliberais se apóiam
na política do terceiro setor e influenciam a opinião da classe operária, deixando
transparecer apenas o caráter filantrópico, caritativo, benemérito destas entidades. Por
isso, é imprescindível que o homem faça um desvio, se esforce na descoberta da
verdade, pois pressupondo a existência da verdade e possuindo uma segura consciência
da existência da coisa em si, destruirá a pseudoconcreticidade.
A pseudoconcreticidade contida no discurso do terceiro setor impede que os
trabalhadores enxerguem a realidade concreta em que estão inseridos, uma sociedade
dividida em duas classes antagônicas: a burguesia e o proletariado, na qual a primeira,
para assegurar seus interesses capitalistas, destitui diversos direitos dos trabalhadores,
deixando esta classe em um processo sub-humano, em busca da manutenção de sua
sobrevivência. Neste prisma, a destruição da pseudoconcreticidade se efetuará por meio
da crítica revolucionária da práxis da humanidade, com as relações sociais e por meio
72
do pensamento dialético, que dissolve o mundo ideológico da aparência para atingir a
realidade. A destruição da pseudoconcreticidade é o processo de criação da realidade
concreta e a visão da realidade, da sua concreticidade. (KOSIK, 1976).
A teoria materialista distingue um duplo contexto de fatos: o contexto da
realidade, no qual os fatos existem originária e primordialmente, e o contexto da teoria
em que os fatos são, em um segundo tempo, mediatamente ordenados, depois de terem
sido precedentemente arrancados do contexto originário do real. Entre o real e o teórico
existe um processo de análise e de abstração. O homem não pode conhecer o contexto
do real a não ser separando os fatos do contexto, isolando-os, arrancando-os do contexto
real.
Kosik (1976) argumenta que no materialismo histórico, a partir da cisão do todo
é que passamos a conhecer, a descobrir a realidade, no entanto, é preciso retornar da
cisão das partes ao todo, alcançando o concreto pensado através do détour, pois se não
retornar das partes ao todo, corre-se o risco de cair numa visão idealista de mundo. Este
processo de apreensão da realidade através do movimento do todo para as partes e do
retorno das partes para o todo são revelados por meio de categorias de análise.
Discorrendo sobre as categorias de análise do método materialista históricodialético, Kuenzer (1998) apresenta quatro categorias: totalidade, contradição, mediação
e práxis. De acordo com a autora, estas categorias servem de critério de seleção e
organização da teoria, a partir da finalidade da pesquisa, fornecendo-lhe o princípio de
sistematização que vai lhe conferir sentido, cientificidade, rigor e importância. Sem a
necessária e adequada articulação entre as categorias de análise, a produção sempre será
parcial e pouco útil para dar suporte às intervenções no sentido da transformação da
realidade.
Segundo Kuenzer (1998), a primeira categoria analítica, a totalidade, implica na
concepção da realidade enquanto um todo em processo dinâmico de estruturação e de
autocriação, na qual os fatos podem ser racionalmente compreendidos a partir do lugar
que ocupam na totalidade do próprio real e das relações que estabelecem com os outros
fatos e com o todo; os fatos são parte integrante de um processo de concretização que se
dá através do movimento e das relações que ocorrem das partes para o todo e do todo
para as partes, dos fenômenos para a essência e vice-versa, da totalidade para as
contradições entre as partes.
73
Os fatos isolados são abstrações, são momentos artificiosamente separados
do todo, os quais só quando inseridos no todo correspondente adquirem
verdade e concreticidade. Do mesmo modo, o todo de que não foram
diferenciados e determinados os momentos é um todo abstrato e vazio.
(KOSIK, 1976, p. 41).
Em outras palavras, o pensamento dialético parte do pressuposto de que o
conhecimento humano se processa num movimento em espiral, do qual cada início é
abstrato e relativo. E justamente neste processo é que os conceitos entram em
movimento recíproco e se elucidam mutuamente, atingindo a totalidade.
Para Gamboa (1998), a categoria totalidade concebe a realidade como um todo
complexo, dinâmico e contraditório; referido à sociedade, esse todo se dá estruturado
num modo de produção em movimento devido à correlação de forças existentes que
podem mudar e ser mudadas pela ação transformadora dos homens. Essa totalidade
também é entendida como contexto amplo e complexo em que vive o homem,
construído e elaborado pelo homem e como o todo societário que constitui um bloco
histórico, entendido este como a real situação sócio-política, econômica e cultural. Sem
a decomposição do todo não há conhecimento. Essa decomposição do todo se dá através
dos elementos abstratos - conceitos, categorias etc. “o conceito e a abstração, em uma
concepção dialética, têm o significado de método que decompõe o todo para poder
reproduzir espiritualmente a estrutura da coisa e, portanto compreender a coisa”.
(KOSIK, 1976, p. 14).
Desta forma, a totalidade que envolve o terceiro setor é proveniente do avanço
das forças produtivas no interior do capitalismo. O método dialético, a partir da
totalidade, decompõe o todo e consegue descobrir que a real finalidade do terceiro setor
é desresponsabilizar o Estado de arcar com a política social. Os governos neoliberais em
busca de maximizar seus lucros, transferem o social para o livre mercado, deixando a
classe trabalhadora à margem da cobertura social.
Segundo Gamboa (1998), essa fase de decomposição do todo (processo
analítico) através de categorias abstratas não pode ser absolutizada, porque pode dar
origem à ilusão idealista de que o pensamento é que cria o concreto, ou que os fatos
adquirem seu pleno significado apenas na mente humana sem precisar voltar ao
concreto. Esta fase de análise e abstração só tem uma função metodológica como passo
para a construção da totalidade concreta, síntese de múltiplas determinações e relações.
Este processo se elucida e explica em relação a uma nova síntese, uma volta ao
concreto.
74
Na categoria contradição, compreende-se que a pesquisa deve captar a ligação da
relação dos contrários, que ao se opor dialeticamente se destroem ou se superam; as
determinações mais concretas contêm as determinações mais abstratas, superando-as;
assim, o pensamento deverá mover-se durante o transcurso da investigação, entre os
pólos dialeticamente relacionados, buscando compreender onde e como se
incluem/excluem, desaparecem ou originam uma nova realidade buscando não
explicações lineares que resolvam as tensões entre os contrários, mas captando a riqueza
do movimento e da complexidade do real, com suas múltiplas determinações e
manifestações. (KUENZER, 1998).
Sobre a categoria da mediação, Kuenzer (1998) explica que para conhecer é
necessário operar uma cisão no todo, como um recurso apenas para fins de delimitação
e análise do campo de investigação, isolando os fatos a serem pesquisados e tornandoos relativamente independentes. Isolar os fatos significa privá-los de sentido e
inviabilizar sua explicação, esvaziando-o de seu conteúdo, daí a necessidade de
trabalhar com a mediação, de tal modo a, cindindo o todo ao buscar a determinação
mais simples do objeto de investigação, poder estudar o conjunto das relações que
estabelece com os demais fenômenos e com a totalidade. Deve criar um processo de
continuidade ao qual a realidade objetiva tem que ser transformada em leis do
pensamento, ou seja, em conhecimento, e é através do método, que se desencadeia a
partir das finalidades da produção do conhecimento; se estas finalidades estiverem
definidas a partir da intenção de transformar a realidade, então é preciso que o
conhecimento produzido tome por base o conhecimento da realidade que se quer
transformar.
Com relação à práxis, Kuenzer (1998) afirma que o conhecimento novo só será
produzido através do permanente e crescente movimento do pensamento que vai do
abstrato ao concreto pela mediação do empírico; na busca da superação da dimensão
fenomênica e aparente do objeto, buscando sua concretude. A concepção materialista
funda-se no modo humano de produção social da existência, fixa-se na essência, no
mundo real, no conceito, na consciência real, na teoria e na ciência. Ressalta que a
verdade objetiva só se constituirá a partir da relação entre pensamento e realidade, e só
assim será prática. Conhecer é conhecer objetos que se integram na relação entre o
homem e o mundo, entre o homem e a natureza, relação que se estabelece graças à
atividade prática humana.
75
Segundo Gamboa (1998), no nível teórico, o método materialista histórico
critica fundamentalmente a visão estática da realidade implícita, que ocorrem com as
abordagens positivistas, que escondem seu caráter conflitivo, dinâmico e histórico. A
racionalidade crítica, presente nessa abordagem, busca desvendar não apenas o:
[...] "conflito das interpretações", mas o conflito de interesses que
determinam visões diferenciadas de mundo. Essas pesquisas manifestam um
"interesse transformador" das situações ou fenômenos estudados, resgatando
sua dimensão sempre histórica e desvendando suas possibilidades de
mudança. (GAMBOA, 1998, p. 117).
A terceira dimensão do materialismo histórico dialético, para Frigotto (2000) é a
práxis, que se expressa enquanto unidade, uma confluência entre duas dimensões, a
teoria e a ação, pois a reflexão sobre a realidade deve ter como intuito maior refletir
uma ação para transformar a realidade. O materialismo histórico-dialético sustenta que a
produção do conhecimento efetivamente se dá na e pela práxis. Consiste em formular
uma crítica e o conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme a
realidade anterior no plano do conhecimento e no plano histórico-social.
Kosik (1976) destaca duas vertentes da práxis: a práxis utilitária cotidiana e a
práxis revolucionária. A práxis utilitária cotidiana cria o pensamento comum, em que
são captados tanto a familiaridade com as coisas e o aspecto superficial das coisas
quanto a técnica de tratamento das coisas como forma de seu movimento e de sua
existência. O pensamento comum é a forma ideológica do agir humano de todos os dias.
O mundo que se manifesta ao homem nesta práxis não é um mundo real, mas o mundo
da aparência, o mundo da pseudoconcreticidade, da falsa realidade. Já a práxis
revolucionária seria alcançada pelo processo dialético de cisão do todo, modo pelo qual
o pensamento capta a coisa em si, a realidade concreta. Para a práxis revolucionária, a
destruição da pseudoconcreticidade, da falsa realidade, da realidade aparente é a chave
para se chegar ao mundo real, ao movimento real interno, à essência.
Para entender estes dois conceitos na prática, toma-se como exemplo a temática
da pesquisa, o terceiro setor: Um cidadão imbuído na práxis utilitária cotidiana acredita
que as entidades públicas não-estatais são uma ferramenta poderosa de ação social. Não
tiramos o mérito destas entidades, mas o problema deste pensamento é que a práxis
utilitária cria uma forma de pensamento superficial dos fatos, uma realidade invertida
que impede perceber a totalidade presente no crescimento das entidades do terceiro
setor. O problema maior é o afastamento, a retirada do Estado da responsabilidade da
76
questão social e a transferência desta responsabilidade às entidades do terceiro setor.
Não são as entidades que devem assumir a questão social e sim o Estado, defendendo a
concepção de Estado máximo que assume suas funções como proposto na Constituição
Federal. Somente através da práxis revolucionária é que é possível enxergar a
totalidade, através de uma olhar mais profundo nas particularidades da realidade
concreta. No caso do terceiro setor, a práxis revolucionária vai investigar a fundo a
realidade, descobrindo que o fenômeno das entidades público não-estatais está inserida
num processo capitalista, neoliberal de retirada do Estado das suas responsabilidades
passando a ser um Estado mínimo, num processo de transferência do social para o
mercado, passando o que era de direito constitucional para um processo de filantropia
destas entidades.
A ruptura radical da filosofia da práxis, em relação ao pensamento filosófico
anterior, é exatamente que a preocupação fundamental é refletir, pensar, analisar a
realidade com o objetivo de transformá-la. (FRIGOTTO, 2000). Gamboa (1998) destaca
que as propostas contidas nas abordagens crítico-dialéticas se caracterizam por destacar
o dinamismo da práxis transformadora dos homens como agentes históricos. Para isso,
além da formação da consciência e da resistência espontânea dos sujeitos históricos nas
situações de conflito, propõem a participação ativa na organização social e na ação
política. Para que o processo de conhecimento seja dialético, a teoria, que fornece as
categorias de análise no processo de investigação, precisa ser revisitada, e as categorias
reconstituídas.
A estratégia metodológica utilizada nesta pesquisa foi a pesquisa de campo, que
teve como foco 6 instituições públicas não-estatais que atuavam no setor da educação
no município de Três Lagoas-MS. Como procedimentos, a pesquisa se apoiou na
análise dos documentos fornecidos pelas instituições educativas do terceiro setor no
Município, levando em consideração 4 temáticas desenvolvidas pelo pesquisador:
Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três Lagoas; Relação
terceiro setor, setor público e o empresariado; A proposta pedagógica do terceiro setor e
sua relação com o público-alvo e a condição dos recursos humanos das instituições.
Outro procedimento foi a realização de entrevistas com os gestores de cada entidade, a
fim de buscar maiores informações relevantes para a pesquisa.
A pesquisa utilizou como instrumento investigativo um roteiro de entrevista
(apêndice 1), com base no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
77
(apêndice 2), seguindo as categorias de análise propostas pela pesquisa, além de levar
em consideração fatos que possam estar além das categorias pré-estabelecidas. Após a
caracterização do método materialista histórico, base investigativa da pesquisa, a seguir,
serão caracterizadas as entidades educacionais do terceiro setor em Três Lagoas.
3.2 Caracterização das entidades educacionais do terceiro setor no município de
Três Lagoas- MS
Três Lagoas foi fundada em 15 de junho de 1915 e está localizada na porção
leste do estado de Mato Grosso do Sul, possuindo área territorial de 10.197,80 km².
Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2010), o município tem um número estimado de 101.791 habitantes. Deste
contingente, 97.069 pessoas são residentes no perímetro urbano e aproximadamente
4.722 vivem no campo, possuindo uma densidade populacional computada em 9, 97
hab./km².
Localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Paraná, que possui 700.000 km² e tratase da quinta maior bacia hidrográfica do mundo. Possui, ainda, duas sub-bacias
importantes: a do Rio Verde e a do Rio Sucuriú. O município também se situa sobre o
maior lago subterrâneo do planeta, o Sistema Aqüífero Guarani. Devido a estas
características, Três Lagoas recebe o codinome de “Cidade das águas”. (BARROS,
2006).
O aspecto econômico predominante em Três Lagoas foi, por muitas décadas, a
pecuária, agricultura e comércio. Com relação ao setor da pecuária, tinha o segundo
maior rebanho de equino, o terceiro maior rebanho bovino e ovino e era o nono maior
produtor de leite do estado de Mato Grosso do Sul. (BARROS, 2006). Entretanto, a
partir dos anos de 1990, o município começou a atravessar um período de grandes
mudanças nas suas bases de sustentação econômica. Os setores secundário e terciário da
economia tornaram-se mercados em expansão, evoluindo para um processo de
industrialização que vem ocorrendo por meio da instalação de várias indústrias dentro
dos seus limites geográficos.
Por ter uma posição geoeconômica primordial e privilegiada, Renata Pereira e
Conceição Gomes (2004) afirmam que estas características facilitaram a instalação de
diversas empresas no município, pois Três Lagoas está localizada próxima dos grandes
78
centros consumidores (para escoamento de produção e recebimento de matéria-prima),
como, por exemplo, o interior do Estado de São Paulo, que é o segundo maior pólo
consumidor do país. Além disso, está situada em um entroncamento das malhas viária,
fluvial e ferroviária do Brasil, possuindo acesso privilegiado às regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do país. (VIEGAS, 2007).
A partir destas características, Três Lagoas vem mudando sua caracterização
econômica e no âmbito social também vem crescendo o número de instituições públicas
não-estatais no município. Como primeiro passo para realizar o levantamento das
instituições pertencentes ao terceiro setor em Três Lagoas, foi feito um contato com a
Prefeitura Municipal que aconselhou procurar o Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS, conselho que possui o registro das entidades regularmente aptas a
exercerem o trabalho de assistência social no município. O segundo passo foi procurar o
CMAS que disponibilizou uma lista contendo 13 endereços de entidades que estavam
cadastradas neste conselho, que serviram de base para a pesquisa. A partir do contato
com esta lista foi realizada uma divisão das entidades por foco de atuação. A tabela
abaixo mostra como foi realizada esta divisão das instituições públicas não-estatais por
foco de atuação:
Educação
6
Doenças
Usuários de
infecciosas
psicotrópicos
2
2
Asilo
Desabrigados
Acompanhamento
Total
gestantes/crianças
1
1
1
13
Tabela 1: Distribuição das entidades do terceiro setor, conforme foco de atuação
Fonte: Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) – Três Lagoas, 2012
Após a seleção destas entidades por foco de atuação, foi realizada uma nova
seleção considerando apenas as entidades que exerciam trabalho no setor da educação.
Das 13 entidades, 6 tinham como foco a educação. A partir das informações coletadas,
foi organizada uma nova tabela explicitando a composição das entidades do terceiro
setor que atuam especificamente na área da educação, por foco de atuação:
79
Foco de atuação
Quantidade
Educação
Educação
Educação
Especial
Infantil
Profissional
1
2
3
Total
6
Tabela 2: Distribuição das entidades do setor educacional pesquisadas, conforme foco de atuação
Fonte: Levantamento realizado a partir dos dados disponibilizados pelo CMAS – Três Lagoas, 2012
Como terceiro passo, foi procurada cada uma das 6 instituições a fim de
conhecer e levantar informações sobre as entidades. As entidades procuradas
disponibilizaram diversos documentos como: Plano de Ação, Histórico da Entidade,
Plano Político Pedagógico (PPP), Relatório de Gestão e Relatório de Atividades que
serviram de base na caracterização destas entidades.
Os dados coletados de cada instituição (histórico da entidade, objetivo,
atividades desenvolvidas, data de fundação, número de atendidos, característica da
clientela atendida, parcerias, cadastro em órgão municipal, governamental e federal)
foram as informações mais relevantes levadas em consideração na caracterização de
cada entidade. A seguir serão apresentados as características de cada uma das 6
entidades que compõem o universo investigado. A ordem de apresentação seguirá da
seguinte forma: as três primeiras serão as entidades de educação profissional, seguida
pelas duas entidades de educação infantil e a última que é de educação especial.
De acordo com o Plano de Ação da instituição, a instituição de educação
profissional Espírito Luz4 é uma entidade de inspiração cristã, de ordem espírita,
filantrópica, cultural e educacional com a finalidade de atender crianças oriundas de
famílias de baixa renda residente em Três Lagoas – MS, e adolescente visando sua
inserção no mercado de trabalho, e em casos excepcionais prestar assistência à sua
família.
A entidade educacional foi fundada em 27/04/1996, e está localizada num
bairro de periferia da cidade atendendo a comunidade local e moradores de bairros
vizinhos. De acordo com o Plano de Ação da entidade, esta tem como objetivo principal
aplicar atividades que auxilie as crianças e os adolescentes em sua formação social, no
sentido de formar bons cidadãos, com valores e princípios aplicados no dia-a-dia por
toda a vida. As atividades na entidade são realizadas de segunda à quinta-feira, no
4
A fim de não divulgar os nomes reais das instituições do terceiro setor em Três Lagoas, foram dados
nomes fictícios.
80
horário das 07h25min às 10h40min no período matutino e das 13h25min às 16h40min
no período vespertino, sempre no contraturno escolar do aluno.
Para os adolescentes entre 15 a 18 anos, a entidade desenvolve o Programa
Jovem Aprendiz, programa do Ministério do Trabalho e Emprego, oportunizando os
alunos a ingressarem no mercado de trabalho. A entidade oferece dois cursos: Auxiliar
de Escritório e de Serviços Bancários, contando com cerca de 20 jovens inseridos no
mercado de trabalho. De acordo com Histórico da entidade, as atividades com crianças e
adolescentes são aplicadas na intenção de auxiliar no desenvolvimento psicossocial
preparando-os para o convívio com a família, sociedade e a facilidade da inserção no
mercado de trabalho. A manutenção da instituição é por meio de doações, parcerias com
empresas e convênios com a prefeitura municipal.
A instituição de educação profissional Jesus Criança é uma congregação
religiosa, de ordem católica, que está presente no território nacional e internacional. De
acordo com a instituição, trabalham com atividades voltadas à educação e ao amparo a
jovens com risco social e pessoal.
De acordo com o Histórico da entidade, a Jesus Criança não possui fins
lucrativos e tem como objetivos: a) colaborar com o desenvolvimento e melhoria da
qualidade de vida da comunidade local, através de atividades esportivas, pedagógicas,
artísticas, lúdicas, lazer e recreativas; b) criar um ambiente sadio, no qual os
destinatários possam crescer como sujeitos e protagonistas do próprio processo
educativo; c) fornecer novos espaços de agregação juvenil, reduzindo aos poucos a
delinqüência a que estas se encontram; d) formar crianças, adolescentes e jovens para a
vida, educando a partir de valores cristãos, vivenciados primeiramente pelos
educadores; e) além de favorecer o sucesso das crianças atendidas, nos âmbitos
escolares, familiares, comunitários e demais atuação.
Participam desta ação social cerca de 250 crianças e jovens entre 6 a 21 anos.
São oferecidas semanalmente atividades esportivas-culturais como: Dança, Capoeira,
Futebol, Kung Fu e Jiu Jitsu, cada atividade oferecida duas vezes na semana, com 1
hora e ½ de duração. A entidade localiza-se num bairro periférico do município, a
mercê de vulnerabilidades sociais, porém estende suas atividades para moradores de
outros bairros.
Sua sede própria foi inaugurada em 21 de abril de 2004. Segundo dados do
Histórico da entidade, tem como público-alvo aqueles que sofrem ou já sofreram algum
81
tipo de violência física, psicológica ou sexual e toda população infanto-juvenil menos
favorecida, que são oriundas de famílias desempregadas, desestruturadas materialmente
e afetivamente e marginalizadas.
Além da formação esportiva-cultural, a Jesus Criança possui outra frente de
trabalho, a formação profissional. Esta se subdivide em duas modalidades de curso:
Aprendizagem e Qualificação Profissional. Na Aprendizagem são oferecidos, para
jovens a partir de 15 anos, a oportunidade de ingressar ao mercado de trabalho. Os
cursos oferecidos são: Assistente Administrativo e Secretariado. São atendidos nestes
cursos 85 alunos entre os períodos matutino e vespertino. Já nos cursos de qualificação,
para acima dos 18 anos, são disponibilizados três cursos: Eletromecânica, Mecânica de
Moto e Solda, como um número de atendidos de 70 alunos, nos períodos matutino,
vespertino e noturno.
A partir de 2011, a entidade iniciou uma parceria com uma grande empresa do
setor de fertilizantes, petróleo e gás natural desenvolvendo um projeto que objetiva
promover educação para qualificação profissional de jovens de 16 a 29 anos. Conforme
o Histórico da entidade, o projeto tem como foco dar reforço escolar para jovens das
redes municipal e estadual de ensino. O Projeto atende 240 alunos no período
vespertino e noturno, divididos em oito turmas de trinta alunos cada, que estejam
inseridos ou sejam oriundos do sistema público de educação de Três Lagoas.
A entidade é reconhecida como utilidade pública municipal, estadual e federal.
Para manutenção e desenvolvimento das atividades oferecidas, conta com recursos da
sua congregação, para o pagamento dos vencimentos dos funcionários, de convênio com
a prefeitura municipal, assumindo o custeio dos recursos humanos, além de doações de
um fundo internacional que apoia as atividades desenvolvidas na instituição e de
parcerias com empresas.
A instituição de educação profissional Integração Social, segundo seu Plano de
Ação, é uma instituição oriunda do movimento social popular de católicos com a
finalidade de atender jovens e adultos, entre 15 e 29 anos, que estão buscando emprego,
informações e conhecimentos gerais para se adequarem as exigências do mercado de
trabalho ou para aqueles que mesmo inseridos nele necessitem e estejam em busca de
capacitação e crescimento profissional, preparando-os para trabalhar com as principais
tecnologias de informática e comunicação. A entidade localiza-se numa região próxima
à área central do município, atendendo interessados de diversas localidades.
82
A instituição existe desde 1990, porém por muitos anos esteve desativada por
falta de recursos para sua manutenção, alugando seu espaço para a Prefeitura Municipal.
Segundo dados do Plano de Ação, a instituição, desde 2010, desenvolve cursos voltados
à área da inclusão digital: operador de computador básico; informática com rotinas
administrativas e manutenção de hardware e redes. A instituição tem como meta atender
370 alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno. O Integração Social acredita
que a inclusão digital na atualidade é uma necessidade para o exercício da plena
cidadania, além de ser vista como uma necessidade no âmbito social e profissional das
pessoas.
Conforme o Plano de Ação, a manutenção do Integração Social é oriunda de
recursos provindos da parcerias com duas empresas: uma no ramo de celulose e outra no
setor de energia elétrica. De acordo com a coordenadora do projeto, a intenção é
mobilizar mais indústrias para aumentar a ação da instituição. A entidade possui apenas
a certificação de filantropia municipal que data de 27/11/1998.
O Doce Infância é um Centro de Educação Infantil (CEI) de caráter privado
sediado no centro da cidade. Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) da
instituição, presta atendimento a 90 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, em
regime de 8 horas diariamente, proporcionando a criança seu desenvolvimento físico,
intelectual, moral, social e cultural, complementando a ação da família e da
comunidade.
O Doce Infância, por estar localizado no centro da cidade, atende crianças tanto
do bairro local, quanto de outras imediações. Segundo o histórico da entidade, foi a
instituição pioneira no município a abrigar crianças em período integral. Em agosto de
1970, deu-se início à construção, caminhando com dificuldades financeiras, mas em 17
de setembro de 1972, foi oficialmente inaugurada o CEI Doce Infância.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da entidade, o Doce
Infância possui inscrição no Conselho Nacional e Assistência Social (CNAS),
certificado de utilidade pública, pela Lei estadual nº 3665 e Municipal através da Lei
382, se tornou entidade de Assistência Filantrópica com auxílio do Fundo Nacional da
Educação básica (FUNDEB) e em parceria da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED). Em 2009, passou a ser Centro de Educação Infantil (CEI), permitindo o
funcionamento da educação infantil pelo prazo de cinco anos a partir de 2009, conforme
83
deliberação Conselho Estadual de Educação (CEE/MS Nº 9175 de 18 de Novembro de
2009).
A instituição não cobra mensalidade dos atendidos, por isso, para manutenção da
instituição são realizados eventos como chá beneficentes, festas e almoços, com a
participação da comunidade. O CEI possui convênio com a Prefeitura Municipal. Com
essa parceria é alcançada a cooperação do auxílio financeiro através de repasse do
FUNDEB.
O Espaço Criança é um Centro de Educação Infantil – CEI que, segundo o Plano
de Ação da entidade, tem como objetivo assegurar o atendimento educacional integral
às crianças de 0 a 6 anos de idade, visando o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo,
social e psicomotor.
Atualmente o Espaço Criança atende 250 crianças em período integral, nas
modalidades: Berçário, Maternal I, Maternal II e Educação Infantil: Pré I, Pré II e Pré
III. A educação Infantil, por falta de estrutura e de recursos humanos é oferecida em
uma escola do município. Segundo o Plano de Ação, o público-alvo desta instituição
são crianças carentes que seus pais trabalham em regime integral, não tendo onde deixar
seus filhos.
O Espaço Criança fica localizado em um bairro da área central de Três Lagoas,
atendendo moradores de localidades vizinhas. De acordo com seu Plano de Ação, sua
fundação data de 22 de novembro de 1980. A manutenção desta instituição ocorre a
partir de doações de populares e através de recursos oriundos do convênio com a
Prefeitura Municipal, além de financiamentos do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) e do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).
A instituição de educação especial Diferenças é uma entidade filantrópica de
caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos que atende crianças, adolescentes
e adultos com deficiência neste município desde 1975. Segundo o Histórico da
Entidade, um dos principais objetivos da instituição é preparar através de atividades a
pessoa com deficiência no aspecto biopsicossocial e educacional, objetivando a inclusão
na sociedade, assegurando a qualidade de vida da pessoa com deficiência, possibilitando
a independência e possível autonomia, promovendo a normalização e contribuição para
o resgate da cidadania, garantindo a participação efetiva na comunidade em que está
inserida.
84
A Diferenças está localizada no centro de Três Lagoas, mas atende os
necessitados de todo o município. A instituição Diferenças atende o público em quatro
níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação profissional e
manutenção profissional. Possui um centro de convivência para os alunos e é equipada
com salas de artes, educação física (quadra e piscina), laboratório de informática,
biblioteca, videoteca, brinquedoteca e sala de dança.
Além das atividades com os alunos com algum comprometimento físico,
psíquico e outras, a instituição Diferenças desenvolve atividade com os familiares dos
alunos. Segundo o Histórico da entidade, este vínculo com a família tem como
finalidade auxiliar e trabalhar a integração Família/Escola, incentivando e
responsabilizando para a continuidade do processo educacional, profissional em seu
contexto social. Enquanto os alunos recebem o atendimento necessário, os familiares
ajudam a entidade, confeccionando produtos que serão vendidos no bazar, para
arrecadação de recursos para a manutenção da entidade.
A partir do levantamento realizado das instituições do terceiro setor que
desenvolvem trabalho no setor educacional, apresentamos um quadro síntese da
caracterização das instituições investigadas selecionadas pela sua caracterização jurídica
e foco de atuação:
Instituições
Caracterização Jurídica
Foco de atuação
Espírito Luz
Filantrópica
Educação Profissional
Doce Infância
Centro de Educação Infantil-CEI
Educação Infantil
Jesus Criança
Filantrópica
Educação Profissional
Integração Social
Filantrópica
Educação Profissional
Diferenças
Filantrópica
Educação Especial
Espaço Criança
Centro de Educação Infantil-CEI
Educação Infantil
Quadro 2: Síntese da caracterização das instituições investigadas.
Fonte: Plano de Ação, Histórico das Entidades, Projeto Político Pedagógico das instituições. Três
Lagoas, 2012
Após o levantamento, apresentação e caracterização das instituições do terceiro
setor que trabalham no setor da educação em Três Lagoas-MS, o próximo capítulo irá
elaborar uma análise do desenvolvimento do terceiro setor em Três Lagoas e sua
perspectiva de trabalho no setor educacional, a partir das fontes documentais
85
disponibilizadas pelas instituições e da realização de entrevistas com os gestores de cada
instituição.
86
CAPÍTULO 4
A CARACTERIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR EM TRÊS
LAGOAS-MS
Este capítulo objetivou caracterizar as atividades das instituições públicas nãoestatais do setor educacional selecionadas no município de Três Lagoas. A estrutura
desta caracterização deu-se através da análise dos dados coletados das entrevistas
realizadas com os gestores destas entidades. Para uma melhor compreensão do estudo,
este capítulo está divido em 4 temáticas de acordo com a proposta da pesquisa:1)
Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três Lagoas; 2) Relação
terceiro setor, setor público e o empresariado; 3) A proposta pedagógica do terceiro
setor e sua relação com o público-alvo; e 4) Aa condição dos trabalhadores das
instituições investigadas.
4.1 Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três Lagoas-MS
Para verificarmos como está distribuído o terceiro setor no Brasil, tomamos
como suporte os dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2004) com base no Cadastro de Empresas - CEMPRE inscritas no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda. Abaixo os
dados apresentam a distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil por Unidade
de Federação:
Região
Quantidade de entidades (%)
Sudeste
43,92%
Sul
23,04%
Nordeste
22,22%
Centro-Oeste
6,58%
Norte
4,25%
Tabela 3: Distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil por Unidade da Federação
Fonte: (IBGE, 2004)
87
A partir deste panorama observou-se que a maior quantidade de entidades do
terceiro setor se encontra nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (67%), onde se destacam
os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Já a
região Centro-Oeste, composta pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e o Distrito Federal, as instituições públicas não-estatais representam apenas
cerca de 7% da totalidade, ficando à frente apenas da região Norte. Cotejando os dados
destas regiões, podemos inferir que o número elevado de entidades que se encontram no
Sudeste e Sul do Brasil decorrem destas regiões serem consideradas os grandes centros
do país, dotada de maior contingente populacional e desenvolvimento econômico.
Percebeu-se que, dentre as entidades analisadas, não foi constatada nenhuma
formalmente amparada pela lei n° 9.790/99, conhecida como lei do terceiro setor.
Entidades assistenciais, sem fins lucrativos, filantrópicas, são as denominações jurídicas
predominante nas entidades públicas não-estatais em Três Lagoas. Possuem o título de
utilidade pública, nos âmbitos municipal, estadual e federal, além de estarem
cadastradas nos órgãos reguladores municipais de assistência social e amparo à criança
e ao adolescente: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA
e Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Já no setor da educação possuem
cadastro na Secretaria Municipal de Educação - SEMED e no Conselho Estadual de
Educação - CEE.
Os gestores afirmaram não ter conhecimento da legislação do terceiro setor,
entretanto alguns disseram já ter ouvido falar de tal lei. Desta forma, com base nos
dados expostos na tabela acima, podemos inferir que a falta de entidades regularmente
cadastradas na legislação do terceiro setor seja por conta do baixo índice de instituições
presentes nesta região, pois há uma tendência em priorizar as regiões historicamente
privilegiadas tanto nos aspectos econômicos quanto no acesso a bens e direitos sociais
em detrimento das regiões mais afastadas dos grandes centros. Nesse sentido,
salientamos que o critério para a cobertura das ações destas instituições não parece ter
por fundamento a promoção da justiça social e sim acaba por aumentar o quadro de
desigualdade social que caracteriza nosso país.
Em geral, a fundação das entidades surgiu a partir da motivação particular dos
fundadores, com o intuito de cobrir as lacunas deixadas pelo Estado. Segundo
88
Norberto5, gestor da Espírito Luz, a motivação era ajudar a divulgar a doutrina espírita e
ao mesmo tempo assistir os necessitados com gêneros alimentícios ou com remédios.
Para Cordeiro, gestora da Jesus Criança, a motivação partiu do missionário italiano em
desenvolver um trabalho social neste município, pois não era desenvolvido nenhum
trabalho pela congregação religiosa que ele pertence em Três Lagoas, na época de sua
instalação. Conforme Rodrigues, a fundação da Integração Social foi motivada por meio
de um padre missionário alemão em desenvolver um trabalho social com as
comunidades da periferia do município, seguindo as metas do fundador da congregação.
Já Marques, gestora do CEI Espaço Criança, Passos, gestor da entidade Diferenças e
Fernandes, gestora do CEI Doce Infância relataram que os grupos fundadores
observaram a necessidade de se oferecer assistência social às crianças carentes e com
necessidades especiais educacionais que o município, na época de sua fundação, não
supria.
O IBGE (2004) divulgou também a distribuição das entidades do terceiro setor
no Brasil segundo a data de sua fundação entre os anos de 1970 a 2002:
Data de criação
Quantidade de Entidades
Quantidade (%)
Até 1970
10.998
3,99%
Entre 1971 e 1980
32.858
11,91%
Entre 1981 e 1990
61.970
22,46%
Entre 1991 a 2000
139.187
50,45%
Entre 2001 e 2002
30.882
11,19%
Total
275.895
100,00%
Tabela 4 – Distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil segundo a data de criação
Fonte: IBGE (2004).
Sobre o período de fundação das entidades públicas não-estatais em Três
Lagoas, cotejando-os com os dados divulgados nesta tabela pode-se observar que
existem dois momentos históricos marcantes que ajudam a compreender o processo de
fundação destas instituições no município: Algumas entidades públicas não-estatais em
Três Lagoas surgiram a partir da década de 1970, período em que o Brasil vivia sob
5
Os nomes reais dos gestores entrevistados e também das entidades em que trabalham foram preservados,
sendo citados nomes fictícios.
89
forte repressão vinda de um governo ditatorial. As políticas públicas, neste período,
eram precárias e assim surgiram muitos movimentos sociais com o intuito de ajudar os
mais vulneráveis, cobrindo as lacunas deixadas pelo Estado.
O segundo momento de expansão do terceiro setor foi marcado pelo período
entre os anos de 1991 a 2000. Esse aumento pode ser justificado, pois neste período o
Brasil começou a sofrer influência do projeto político do neoliberalismo, principalmente
no governo de Fernando Henrique Cardoso que instituiu o Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado – PDRAE (1995), que basicamente transferiu a responsabilidade
das políticas sociais para o terceiro setor. Em suma, observou-se nestes dois períodos
que as políticas públicas sofreram cortes devido à ofensiva do capital sob o Estado e,
desta forma, os movimentos sociais, percebendo o descaso do governo, acabaram por
responder às sequelas deixadas pelo Estado. Esta afirmação fica evidente quando
confrontada com os dados dos entrevistados sob a motivação pela fundação das
entidades públicas não-estatais em Três Lagoas.
Os entrevistados afirmaram que houve crescimento de ajuda financeira do
Estado às entidades públicas não-estatais, apesar dos gestores apresentarem opiniões
diferentes quanto ao período que se iniciou a distribuição destes subsídios. Norberto e
Cordeiro afirmaram que a partir do reconhecimento do trabalho, as instituições
passaram a receber maior credibilidade do setor público e das empresas, o que ajudou as
instituições a solidificar suas atividades. O gestora da Espírito Luz chegou a argumentar
que o crescimento das instituições do terceiro setor: “está assim, sendo bem visto e a
comunidade, as empresas, o Estado vê a necessidade de fortalecer este setor”.
Entretanto, Rodrigues argumentou que o crescimento das entidades públicas nãoestatais está atrelada à política de assistência social, período em que a mulher passou a
ingressar no mercado de trabalho aumentando a demanda de espaços para deixar as
crianças na ausência da família. Na percepção da gestora, o período que aumentou os
incentivos para as entidades públicas não-estatais começou:
[...] a partir de 88 que é a constituição cidadã, vem vários benefícios à
população, que antes não existia e um destes incentivos foi também ter a
parte dos incentivos das empresas que elas são obrigadas, não porque elas
querem, elas são obrigadas a incentivar. (RODRIGUES).
Marques ressaltou que foi a partir da década de 1980 que começaram a receber
subsídios financeiros, através do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do
90
Ministério de Previdência e Assistência Social, além de convênios com a Prefeitura
Municipal de Três Lagoas e de auxílio do Governo Federal. Passos argumentou que
desde 2000, ano que iniciou a trabalhar na instituição, também percebeu aumento de
subsídios financeiros. Além do convênio com a prefeitura local, recebe o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - FUNDEB, uma boa quantia financeira que ajuda a manter a instituição
funcionando. Fernandes notou que foi a partir de 1999 que os recursos financeiros
começaram a aumentar, com o auxílio da prefeitura local.
Notou-se que o estímulo financeiro a estas instituições cresceu no mesmo
período de implementação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado –
PDRAE (1995) que propunha, em linhas gerais, a desobrigatoriedade da manutenção
das atividades não-exclusivas do Estado. O PDRAE legitimou a criação da lei da
publicização (nº 9.637/98) e da lei das OSCIPs (nº 9.790/99), legislação que delegou as
entidades públicas não-estatais a responsabilidade pela área social, diminuindo o poder
do Estado brasileiro. Porém, os entrevistados não conseguiram fazer esta relação,
devido os gestores estarem imbuídos em uma concepção pseudoconcreta de realidade,
que camufla a totalidade do processo, vindo à tona apenas a realidade aparente do
processo. (KOSIK, 1976). Desta forma é preciso desenvolver uma concepção dialética
da realidade e entender que o avanço neoliberal nas políticas sociais legitimaram
instituições públicas não-estatais a arcar com a responsabilidade no âmbito social.
Perguntados sobre as causas que elevaram o número de entidades que trabalham
no setor educacional em Três Lagoas e no Brasil, os entrevistados tiveram opiniões
divergentes. A gestora da Jesus Criança elencou duas razões: a primeira razão seria o
modismo, pois a questão do terceiro setor e do trabalho no social estaria em alta e a
segunda razão seria a obrigatoriedade das empresas de investir recursos financeiros em
atividades sociais:
Hoje existe aquela responsabilidade social das empresas e as empresas estão
buscando entidades que prestam serviços a elas, ao invés da empresa criar o
seu setor social, ela procura a entidade para terceirizar o seu trabalho. Então
isso promove que as entidades se abram as parcerias e é dessas parcerias com
empresas que acabam vindo os recursos para sustentar as entidades.
(CORDEIRO).
Para Norberto, o crescimento das instituições foi motivado pela falta de ações
educativas no município, por isso empresas e o setor público compartilham do trabalho
91
destas entidades a fim de melhorar o índice educacional da nação. Já Rodrigues,
discorreu com certa desconfiança sobre o crescimento destas instituições, pois a gestora
diz conhecer algumas instituições no município que não têm nenhum comprometimento
com o social, mas apenas existem juridicamente com objetivo de desviar verba pública.
Entretanto, ela quer acreditar que a motivação seja oportunizar melhores condições de
vida aos envolvidos. Segundo Fernandes, foi devido às exigências do crescimento
populacional, em razão da vinda de várias indústrias para o município aumentando a
demanda por centros de educação. Para Marques, o crescimento foi devido à
necessidade e boa vontade dos fundadores em trabalhar com assistência social. Já
Passos relatou que não percebeu crescimento destas entidades e por isso não sabe dizer
as causas de tal crescimento.
Com relação ao chamado modismo do terceiro setor, esta concepção é defendida
pelo próprio governo, pois para o neoliberalismo quanto mais instituições estiverem
executando ações sociais que seria de obrigação do Estado, melhor será, pois diminui a
presença do Estado perante as políticas sociais. Assim podemos inferir que o
comentário de Passos sobre o desconhecimento das causas que elevaram o número de
entidades públicas não-estatais no município seja devido a falta de conhecimento deste
momento histórico-político que o Brasil vem passando desde o advento do
neoliberalismo.
Com relação ao exposto por Fernandes, sobre a idoneidade das instituições
públicas não-estatais, observou-se um grande perigo, pois muitas entidades são
denunciadas por corrupção ou desvio de verbas públicas. Segundo Carlos Montaño
(2003), instituições que não visam o social, mas somente o econômico são consideradas
instituições “pilantrópicas”. Outro ponto relevante de análise foi sobre a participação de
empresas em ações sociais. As empresas investem em ações sociais com o intuito de
receber dedução fiscal, diminuir os gastos com tributos fiscais, além de fortalecer sua
marca, através do marketing social e criando laços de próximidade com a comunidade,
formando seu público consumidor. Como muitas das ações sociais que as empresas
patrocinam estão relacionadas à redução da pobreza e à melhoria da qualidade de vida
das populações, elas também estão formando seu público consumidor, garantindo a sua
sobrevivência no longo prazo. (MONTAÑO, 2003).
O setor empresarial objetiva o lucro, é uma necessidade de sobrevivência deste
setor, desta forma, sobre o corolário da responsabilidade social, as empresas
92
descobriram alternativas para fortalecer sua marca e assim continuar lucrando. É o que
ocorre quando uma empresa decide se instalar em áreas extremamente pobres ou
violentas: decidem investir na comunidade local como maneira de resguardar a sua
segurança patrimonial e a de seus empregados. Segundo Montaño (2003), as
corporações notaram que muitos consumidores dão prioridade a produtos que são
produzidos por empresas que executam atividades de responsabilidade social, por isso
existem tantas delas interessadas em apoiar ações sociais.
Não podemos esperar outra postura de uma empresa capitalista senão esta. As
ações sociais surgiram como opção de marketing com o intuito de manter a marca forte
e não preocupados primeiramente com a realidade desigual que a própria concorrência
capitalista cria através do seu ímpeto de acumulação ao longo de anos de exploração da
classe trabalhadora. A seguir, o segundo bloco apresentou como ocorre a manutenção
das instituições públicas não-estatais em Três Lagoas, evidenciando se há uma relação
destas entidades com empresas e com o setor público.
4.2 Relação terceiro setor, setor público e o empresariado
Sobre a obtenção de benefícios fiscais e isenção de impostos, por serem
instituições sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, alguns impostos são isentos. Foi
possível notar, de acordo com os relatos dos gestores, a existência no âmbito municipal
a isenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, além de descontos na tarifa de água e
luz. No âmbito estadual e federal, as instituições Diferenças e Doce Infância são isentas
de pagar a cota patronal, que segundo Passos é a permissão de não recolher ao Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS contribuição de 20% sobre a folha de salários da
entidade. Conforme o gestor, para obter a isenção, a entidade precisa atender a uma
série de exigências do INSS, uma delas é de possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS.
Com a análise dos dados, pôde-se perceber que alguns gestores não tinham
clareza de qual instância federativa a instituição recebia recursos financeiros, pois
muitos gestores não tinha contato direto com a parte administrativa da instituição. Das 6
instituições investigadas, apenas o Integração Social não recebia nenhum tipo de recurso
público. Rodrigues ressaltou que o acordo com a prefeitura não é oficial; nos dizeres da
93
gestora é um contrato informal, apenas um “contrato de boca”, de disponibilidade de
espaço físico para que a instituição possa desenvolver seu trabalho nas escolas da rede
municipal:
Como a gente oferece cursos de informática, eles oferecem algumas escolas
pra que a gente vá mais próximo dos alunos. Então, nestes dois últimos anos
eles [prefeitura] têm oferecido algumas escolas pra gente, à noite, no horário
que não é utilizado. Resumindo, o convênio seria a cedência do espaço e nós
levamos nossos instrutores de informática. (RODRIGUES).
Contudo, todas as outras 5 entidades recebiam apoio do setor público. A Jesus
Criança recebia do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, convênio firmado
com a prefeitura municipal de Três Lagoas, um valor de R$ 252.000 reais divididos em
12 parcelas de R$ 21.000 reais. Deste mesmo convênio, a Espírito Luz recebia R$
24.000 reais, divididos em 12 parcelas de R$ 2.000 reais mensais. A gestora da Doce
Infância afirmou que a instituição, até 31 de dezembro de 2012, mantinha um convênio
com a Prefeitura Municipal para operacionalização e manutenção da instituição no valor
de R$ 420.000 reais. A instituição Diferenças recebia da prefeitura local um repasse
mensal de R$ 16.500 reais, da parceria com a rodoviária do município um valor mensal
de R$ 12.000 reais e do FUNDEB, R$ 75.000 reais. A Espaço Criança recebia do
FUNDEB um valor de R$ 273.710,16 reais em 12 parcelas de R$ 22.809,18 reais, valor
destinado ao pagamento dos profissionais da instituição.
A opinião dos gestores foi unânime em responder qual o motivo do setor público
investir em seu trabalho. Os gestores tinham a percepção de que as ações desenvolvidas
pelas entidades são de responsabilidade do setor público, mas como as entidades de
caráter público não-estatais assumiram a responsabilidade de trabalhar no social, o
Estado investe, repassando recursos pecuniários a estas instituições. Esta é a realidade
de Estados neoliberais, pois estas políticas avançaram sobre o setor social, destituindo
os direitos sociais da população e transferindo a responsabilidade às entidades de caráter
privado com fins públicos. Não se desobrigando totalmente da responsabilidade, o
Estado subsidia estas ações. Desta forma, as ações destas entidades em vez de surgir
como forma de superar o avanço do binômio neoliberalismo/capitalismo, acabaram por
legitimar ainda mais o processo de destituição de direitos sociais públicos.
Quanto à educação infantil, esta modalidade é oferecida em Três Lagoas pautada
no regime de parceria entre o município e as duas entidades públicas não-estatais, pois
94
devido aos parcos recursos investidos pelo Estado, surgiram soluções alternativas como
o trabalho destes CEIs, que nem sempre são as formas mais qualificadas para a oferta da
educação infantil. O município comprometeu-se com parte do custo deste atendimento,
dividindo a responsabilidade do custo e da oferta da primeira etapa da educação básica
com estas instituições da sociedade civil. Esta parceria do poder público com
instituições privadas na oferta da educação infantil, segundo Maria Susin (2006), no
momento, constituiu-se em alternativa para dar conta das dificuldades que circundavam
e ainda circundam as políticas para a infância, uma vez que foi somente a partir da
Constituição de 1988 que se definiu de forma clara a responsabilidade do Estado para
com as crianças pequenas. Contraditoriamente, segundo a autora, ainda não se definiram
as fontes de financiamento para esse atendimento.
Para Susin (2006), a solução desta realidade em que vivem as instituições de
educação infantil seria através de maior aporte de verba necessária à educação pública,
que garanta o direito universal à educação infantil já assegurado de forma legal pela
Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB 9.394/96) e também, “educação infantil pública assumida pelos municípios,
evitando-se alternativas que venham a propiciar exclusão ou engendrar mecanismos que
responsabilizem a sociedade civil pela carência de políticas sociais de competência do
Estado”. (p. 139).
Foi percebido que as três entidades de formação profissional mantinham
parcerias com o setor empresarial. A Integração Social trabalhava em parceria com uma
empresa do setor de celulose e seu instituto e que no momento, da execução da
pesquisa, era a única renda que mantinha a instituição funcionando. A gestora informou
que as empresas deixavam a administração da instituição bem tranquila, sem exigências
e controle das ações da empresa sob a instituição. A instituição Jesus Criança tinha
laços com várias empresas, pois como ofereciam o curso do Jovem Aprendiz (lei do
Adolescente Aprendiz nº 10.097/2000), muitas empresas se tornavam parceiras, pois
acabavam contratando aqueles jovens que a instituição preparava para o mercado de
trabalho, além da possibilidade das empresas contratarem os recém-formados nos cursos
de costura industrial e solda elétrica, ministrados pela própria entidade. A instituição
ainda desenvolvia, há cerca de 2 anos, uma parceria com uma empresa do setor de
petróleo e gás natural, que ampliou a estrutura física da entidade. A Espírito Luz
também oferecia o curso Jovem Aprendiz, firmando parcerias com bancos,
95
universidades e empresas que contratavam os jovens preparados pela instituição para o
mercado de trabalho. Segundo o gestor, a contrapartida exigida pelas empresas era
cumprir com as exigências formalizadas nos contratos, prestando contas, a mesma
informação fornecida por Cordeiro.
Quanto ao projeto Jovem Aprendiz, programa do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), podemos inferir que as 3 instituições que estão enquadradas na
modalidade educação para o trabalho ofereciam esta atividade de estímulo ao primeiro
emprego. Sob a ótica de Acácia Kuenzer (1986) com relação ao processo de formação
destes alunos para o trabalho, elenca-se alguns pontos de análise: O primeiro
corresponde ao projeto Jovem Aprendiz estar ligado às mudanças do processo de
precarização do trabalho, uma vez que as empresas preocupadas em maximizar os
lucros, contratam jovens sob a condição de aprendizes que vão exercer atividades
similares a de um adulto, porém, por um pagamento abaixo do que se pagaria a um
chefe de família com a justificativa de que estes estão em processo de aprendizagem.
Outro aspecto percebido deste programa está no ingresso precoce do processo de
exploração da mão de obra, uma vez que este programa aceita a entrada de jovens a
partir de 15 anos. Além de preparar os jovens para o trabalho, o aluno tem que dividir
sua rotina de estudo com a rotina de trabalho, o que para muitos não é tarefa fácil,
criando no jovem um desinteresse pelo estudo, o afastando da conclusão dos estudos e o
aproximando ainda mais do mundo do trabalho, pois, em geral, os jovens de periferia
almejam a obtenção de uma renda financeira em detrimento da conclusão dos estudos.
Desta forma, se tornam mais um elemento do expansivo exército de reserva, uma vez
que sem estudos avançados o jovem acaba galgando os postos de trabalho mais
subalternos, diminuindo suas chances de ascensão social.
Ainda, através deste ingresso precoce no mundo do trabalho, os capitalistas além
de obter todas estas vantagens acima citadas, buscam manter o trabalhador a par do
processo exploratório em que estão inseridos. O processo de alienação está sendo
construído cada vez mais cedo, além de prejudicar o trabalhador a galgar postos de
trabalho mais lucrativos, impede o conhecimento crítico do aluno para descobrir o
processo de exploração e acumulação do capital em que está inserido, uma forma de
deixá-lo ainda mais alienado do processo capitalista de acumulação. Sem estudos mais
avançados, os jovens acabam permanecendo na ignorância, obtendo uma visão
pseudoconcreta da realidade, não conhecendo as transformações que estão ocorrendo na
96
sociedade capitalista, permanecendo fora da discussão crítica da sociedade atual.
(KUENZER, 1986).
Porém, os gestores dos CEIs Espaço Criança e Doce Infância e da instituição
Diferenças afirmaram não haver qualquer tipo de vínculo das instituições com
empresas. Passos argumentou que até procurou empresas para firmar parcerias, mas
conforme depoimento do gestor, as empresas responderam que não investem em
instituições com o foco educacional da Diferenças. Porém, chamou a atenção o
comentário de Fernandes sobre o motivo da instituição não se envolver com empresas.
Segundo a gestora, as empresas exigem contrapartidas para que possam ajudar a
instituição:
[...] a partir do momento que você pega uma parceria, alguém quer alguma
coisa em troca. Então já tem empresas que buscaram, mas eles querem X de
vaga e não é esse o objetivo da nossa filantropia, porque a partir do momento
que eu firmo, vem uma verba, a verba tem que ter entrado aqui como doação,
essa aí é com convênio, tem um direcionamento, a partir do momento que
vem uma empresa e nos procura, ela quer: ó eu te ajudo, mas você pode nos
dar tantas vagas? [...] então não é assim, fecha com aquilo, eles põem o que
eles querem, então por isso é que a gente não tem ainda (parceria) [...] que a
empresa ajuda, porque sempre eles querem algo em troca. (FERNANDES).
Quanto ao financiamento das instituições públicas não-estatais em Três Lagoas
foi percebido que estas instituições recebiam recursos do setor público, já que a maioria
não têm condições de autofinanciamento. Carlos Montaño (2003) adverte que esta
transferência é chamada ideologicamente de parceria entre o Estado e a sociedade civil,
com o Estado supostamente contribuindo, financeiramente e legalmente, para propiciar
a participação da sociedade. Cria-se a opinião, a partir desta ideológica parceria, que o
Estado está fazendo um favor a estas instituições e a sociedade, fornecendo subsídios
fiscais, porém, como apresentamos, a política social é de obrigação do Estado e não
deveria ser concedida na forma de filantropia. Os impostos pagos por todos os cidadãos
deveriam ser destinados para a execução de políticas sociais efetivas e não para serem
usados em débitos de juros das dívidas interna e externa, favorecendo a burguesia e os
organismos internacionais de financiamento.
Outro dado que nos chamou a atenção foi perceber como que a filantropia dentro
de uma instituição religiosa vem perdendo espaço para o lucro. A questão da filantropia
na instituição Jesus Criança é encarada com certa desaprovação pela congregação a qual
seu diretor faz parte. O diretor é alvo de críticas pela diretoria da sua congregação por
97
sua prática social gratuita. Os diretores desta congregação o criticavam porque seu
trabalho gerava altos custos econômicos e nenhum retorno financeiro. Vale ressaltar que
esta congregação é mundialmente reconhecida, mantém no âmbito nacional vários
colégios e universidades privadas, o que gera lucros para a congregação, porém, poucos
destes lucros são colocados em suas instituições sociais.
O diretor da instituição disse que o ecônomo da congregação6 usou uma
metáfora para salientar os gastos da congregação: “É preciso fechar as torneiras, para
que o tanque possa encher novamente, se entra pouca água e os buracos são muitos a
tendência é esvaziar mais do que encher”. Na alegação do ecônomo, estariam gastando
mais do que entrando recursos, o que geraria uma crise econômica na congregação, e
por isso é preciso conter gastos na área social, ficando claro o interesse capitalista de
acumulação destas entidades religiosas, em detrimento do social.
Conforme os dados coletados, pôde-se notar a participação empresarial em 3
entidades públicas não-estatais no município. Sobre este tema pode-se destacar alguns
pontos de análise: algumas empresas aproveitam o discurso da responsabilidade social
para legitimar seu trabalho em prol da comunidade, como ocorreu com as entidades de
formação profissional aqui investigadas. As empresas apóiam estas entidades não
somente com o intuito de solidarizar-se com o trabalho desenvolvido por elas, mas com
a finalidade primeira de prestarem políticas mitigatórias, pois a instalação destas
empresas geraram grandes impactos ambientais, o que as tornaram obrigadas a investir
recursos na comunidade local.
Norberto, gestor da Espírito Luz, argumentou que as empresas colaboram com
seu trabalho porque elas são quase que obrigadas, e isso está estipulado em lei.
Cordeiro, além de ter a mesma opinião que Norberto, ressaltou que as empresas
precisam de mão de obra qualificada e por isso procuram a instituição, pois sabem que
ela capacita alunos que podem ser contratados pelas empresas. Outra questão que
Cordeiro levantou foi sobre a responsabilidade social das empresas, pois, de acordo com
a gestora, ainda era vista por alguns empresários como uma obrigatoriedade, e não
como algo que traga um benefício a longo prazo para o trabalhador e para a
comunidade.
6
Ecônomo inspetorial tem como função administrar os recursos financeiros desta congregação. É
equivalente ao administrador de empresas.
98
Os comentários de Rubem Fernandes (1994) vão na mesma linha: as grandes
empresas, nacionais e multinacionais, adotam políticas de marketing na área social, para
promover a imagem pública das empresas. Segundo o autor, esta é a grande sacada de
muitas empresas, pois a fim de garantir seus altos lucros, investem em trabalhos em
comunidades próximas a seu empreendimento a fim de diminuir a violência contra a
marca da empresa. Na verdade, a responsabilidade social é o interesse último de uma
empresa, o interesse maior é de preservar os laços amistosos entre comunidade e
empresa e assim poder continuar lucrando.
Os gestores argumentaram que por manter convênios com o setor público era
exigida a prestação de contas mensalmente, esta era a contrapartida das empresas.
Rodrigues chegou a afirmar como importante que esta fiscalização acontecesse, pois,
para a gestora da Integração Social, se o setor público tivesse o mesmo controle
financeiro dos gastos que são feitos no setor empresarial, o Brasil não teria tanto desvio
de verba pública.
Sobre a manutenção das entidades, 4 gestores disseram conseguir se manter com
os recursos recebidos, pois a previsão orçamentária é feita com base em planilhas
calculadas de acordo com a realidade, não existindo a necessidade de se promover
eventos para levantar fundos para a manutenção da entidade. Entretanto, os gestores
tanto do CEI Doce Infância, quanto da Espírito Luz, relataram que as entidades
promovem eventos com o intuito de levantar fundos para a manutenção diária da
instituição, pois, os recursos recebidos eram apenas para cobrir os salários dos
profissionais e para a alimentação das crianças. Já, para cobrir as avarias do espaço,
eram promovidos eventos como festas, chá beneficente, campanhas, rifas para terem
outros recursos para cobrir despesas extras. Norberto argumentou que além dos recursos
recebidos pelas empresas e pelo setor público, a cota mensal dos associados da
comunidade espírita também contribuía para a execução das atividades.
Sobre a existência de concorrência entre as instituições com relação à busca de
recursos e entre novos alunos, as opiniões se mostraram divergentes. Norberto afirmou
não acreditar na existência desta concorrência, porque cada instituição irá receber de
acordo com sua capacidade, porém, acredita que algumas instituições podem receber
mais recursos por ter alguma aliança com membros do setor legislativo e executivo do
município. Todavia, para Cordeiro, existe concorrência e acredita ser esta necessária,
pois, as obras sociais recebem por número de atendidos, então a instituição precisa
99
correr atrás de alunos. Para ela, existe concorrência até para conseguir uma empresa
para oferecer o programa Jovem Aprendiz, porque, “se você ganhar aquela empresa é
mais um que você vai colocar no mercado de trabalho; é mais uma renda que você vai
ganhar e uma oportunidade de tirar aquele adolescente de uma área de risco [...]”. Em
sua concepção, acredita não haver nenhuma instituição que busque vantagens próprias,
pois para ela “é difícil ganhar em cima, pois há muita fiscalização”. Contudo, já
Rodrigues afirmou existir esta concorrência e que já presenciou isso em sua antiga
instituição de trabalho:
[...] existiam pessoas que chegavam na porta do projeto e diziam: Ó você não
quer ir pro meu projeto? A gente lá oferece isso, muito mais do que a gente
oferecia e hoje uma das maiores concorrências é de certa forma a financeira
[...] ai eu ficava extremamente chateada com isso. (RODRIGUES).
Os comentários de Rodrigues e de Cordeiro a este respeito chamam muito a
atenção. Dentro da instituição Jesus Criança, havia o interesse de sempre aumentar o
número de participantes e valia de tudo, até mesmo ir à porta de outras instituições
apresentar a proposta aos alunos, convencendo-os a se transferirem para a instituição.
Como as duas instituições, Jesus Criança e Espírito Luz estão endereçadas no mesmo
bairro, a troca de alunos entre as instituições era corriqueira, o que acirrava a
concorrência em busca de novos alunos. Os comentários entre os diretores da Jesus
Criança eram de que as outras instituições conspiravam contra seu trabalho, por isso
deviam se armar contra elas. Por meio deste relato ficou evidente que o interesse maior
da Jesus Criança era aumentar os recursos financeiros ficando em segundo plano a
formação humana e profissional dos alunos. É preciso esclarecer, para que não confunda
o leitor de que Rodrigues, atualmente, é gestora da Integração Social. Porém, as críticas
expostas acima se referem ao período em que ela era gestora da Espírito Luz.
Outro ponto que a gestora da Integração Social ressaltou foi que algumas
instituições ofereciam recursos financeiros aos alunos para que eles frequentassem a
instituição. Na visão de Rodrigues, esta prática promoveu um jogo desigual porque
muitos alunos acabaram abandonando o curso na instituição que administrava para ir
para outra instituição que estava remunerando o aluno. Ela se disse preocupada com a
qualidade dos serviços que estavam sendo oferecidos nesta instituição:
100
[...] eu fico meio preocupada: que tipo de trabalho está sendo feito, entendeu,
porque eu acho que o jovem tem que ir pra curso sim, mas ele não tem que
receber pra curso, a menos que ele seja associado como aprendiz né entre
estudar e trabalhar, aí tudo bem e a lei ampara, mas cursos informais eu acho
meio estranho, porque a gente fica pensando o seguinte: até quanto tá
ganhando este jovem e quanto tá sendo repassado pra ele, eu tenho esta
preocupação, mas parece que as outras pessoas não têm. Se eu te dou 200
reais, eu devo estar recebendo um pouco mais por você. Então hoje eu
enfrento este tipo de concorrência, já enfrentei concorrência de irem na porta
do projeto que estava coordenando e falar: ó você não quer ir pro meu projeto
a gente tem isso, tem aquilo, e eu não tinha. (RODRIGUES).
Mais uma vez os comentários de Rodrigues se referiam às ações da instituição
Jesus Criança, pois nesta instituição os alunos que frequentavam o cursinho prévestibular, recebiam uma bolsa de cerca de R$ 200 reais e nenhuma outra instituição
neste município oferecia recursos para que os alunos frequentassem algum curso, sendo
na opinião da gestora uma competição injusta. Conforme Rodrigues, a quantidade de
matriculados muitas vezes não condiz com a qualidade dos serviços oferecidos. Ela
preferia atender menos alunos, porém propiciar um acompanhamento mais próximo do
aluno, do que atender muitos e não criar um relacionamento de proximidade com eles.
Sobre as maiores dificuldades que as instituições enfrentavam, as opiniões foram
bastante divergentes. Cordeiro afirmou que na Jesus Criança o grande obstáculo era a
desistência, pois muitos jovens e adultos ingressavam nos cursos propostos pela
instituição e boa parte desistiam, o que comprometia o trabalho da instituição. Alegou
que por trabalhar com pessoas de periferia, eles não conseguiam superar suas
dificuldades, pois queriam obtenção de retorno imediato, o que fazia com que eles se
desmotivassem a continuar no curso. Para Norberto, as maiores dificuldades
encontradas na Espírito Luz são os baixos recursos financeiros disponíveis e a qualidade
do material humano que lidam diariamente, pois a instituição promovia o curso Jovem
Aprendiz e muitas vezes as empresas não encontravam o perfil adequado que
procuravam.
Na Integração Social, a maior dificuldade encontrada era a baixa expectativa de
vida dos alunos, pois muitos jovens ingressavam nos cursos na instituição, mas só
porque a família exigia, não porque pensavam no futuro, adquirir conhecimentos para
buscar melhores condições de vida. Outra dificuldade era a falta de apoio das famílias, o
que fazia com que os alunos caminhassem sozinhos no curso, e muitas vezes até
desistissem, não concluindo os estudos regulares escolares, sintomas que refletiam
numa baixa expectativa de vida. Na Diferenças e na Doce Infância as dificuldades
101
pairavam na falta de recursos, apesar de atualmente, com os convênios firmados com o
setor público terem melhorado bastante a questão financeira, conseguindo equilibrar os
gastos mensais. Já na Espaço Criança, a maior dificuldade estava ligada à má formação
dos profissionais da educação.
Os relatos dos gestores demonstraram que as instituições alcançaram resultados
positivos desde a sua fundação. Rodrigues e Norberto argumentaram que os resultados
podem ser vistos quando descobre ex-alunos ingressos na universidade, ou em bons
postos de trabalhos, reflexo das ações educativas desenvolvidas na instituição. A gestora
afirmou até não conhecer nenhum ex-aluno que fracassou na vida, que tenha passado
para o “outro lado”, que seria o da criminalidade. Cordeiro afirmou que o trabalho
desenvolvido pela Jesus Criança possibilitou uma melhora social, o índice de violência
no bairro diminuiu e também os ex-alunos que hoje estão bem empregados, mas a
gestora ressaltou que este número de ex-alunos que alcançaram êxito é muito baixo em
relação ao fluxo de alunos que realizaram cursos na instituição: “vamos colocar assim,
você trabalha no ano com 1000 alunos, destes 1000 alunos você tem 20 que podem ter
sido bem empregados, então a porcentagem ainda é bem pequena”.
Passos destacou, dentre muitos resultados obtidos pela instituição Diferenças, a
aquisição de um ônibus zero quilômetro adaptado para se fazer o transporte dos alunos
da instituição e a abertura de uma clínica de atendimento ambulatorial. Conforme a
gestora do CEI Doce Infância, os resultados são percebidos através da opinião da
comunidade, das famílias dos envolvidos atendidos pela instituição. Para ela “a voz do
povo é a voz de Deus”, os relatos são de um bom atendimento, respeitando as crianças,
os pais e a família dos envolvidos. Marques afirmou que os resultados alcançados pelo
CEI Espaço Criança foi a formação de turmas de Pré II que passaram no ano seguinte
para a o ensino fundamental.
Norberto afirmou que, desde a fundação da Espírito Luz até os dias atuais, todos
os projetos que a instituição se comprometeu a executar foram alcançados. Segundo o
gestor, a meta da Espírito Luz seria continuar atendendo com qualidade e ampliar as
metas de atendimento. Para Cordeiro, a meta da Jesus Criança que não foi alcançada era
diminuir o número de desistências na instituição, pois, segundo a gestora, para que o
trabalho seja bem sucedido, é preciso dar continuidade a ele, e por isso não pode ser
interrompido. Rodrigues afirmou que o número de atendimentos acordados com a
empresa parceira não foi alcançado, pois a Integração Social desenvolve suas atividades
102
na sede da instituição e também faz um trabalho externo, com as comunidades, nas
escolas que possuem salas de informática. Como a prefeitura não disponibilizou as salas
para a instituição, a meta não pôde ser contemplada. Conforme a gestora, a meta da
instituição é atender 400 alunos no ano de 2013 e levar inclusão digital a comunidades
rurais próximas ao município.
Segundo Passos, a meta da instituição Diferenças é terminar a construção da
nova sede, que segundo o gestor levará em torno de 3 a 4 anos para conclusão. Marques
argumenta que todas as metas do Espaço Criança foram alcançados, e como a partir de
2013 a administração do CEI foi transferida para a prefeitura local, a antiga
administração da instituição não tem metas a alcançar. Segundo Fernandes, a meta do
CEI Doce Infância é ampliar o atendimento e, para isso, como meta a alcançar,
solicitará à prefeitura para que ceda o terreno ao lado da instituição para que possa
ampliar a sua estrutura predial, consequentemente aumentando o público atendido.
Fechando o segundo bloco de análise, o que chamou atenção são os comentários
de Cordeiro sobre os altos índices de desistência que encara a instituição, não sabendo
como resolver tal problema. Observou-se que a instituição Jesus Criança atende um
número elevado de alunos em várias frentes de trabalho. São muitas pessoas atendidas
diariamente e poucos profissionais qualificados, uma vez que a lógica do diretor da
instituição é: “Não escolher os capacitados e sim capacitar os escolhidos”. São pagos
baixos salários e os funcionários devem ser polivalentes, exercendo desde trabalhos
braçais até atividades pedagógicas, sugando ao máximo o trabalhador. Iremos discorrer
sobre este aspecto mais detalhadamente no último item. Além disso, a equipe educativa
não conseguia acompanhar individualmente todos os estudantes devido ao grande
número de alunos na instituição, não podendo descobrir suas dificuldades. Muitas vezes
aqueles jovens desistem dos cursos por falta de adaptação as normas da instituição,
motivação externa e falta de envolvimento entre estudantes e os profissionais da mesma.
Outro problema é que pessoas desqualificadas não têm preparo suficiente para
trabalhar em instituições deste porte, que na maioria das vezes são pessoas que
apresentam grandes vulnerabilidades sociais, vindas da periferia da cidade. Se
reduzissem o número de alunos, o trabalho poderia ser mais eficiente, mais
participativo, mais próximo dos conflitos dos alunos. Se existissem profissionais mais
capacitados, a desistência também poderia diminuir. É preciso rever estes pontos e
ponderar: O que mais importa é a quantidade de alunos atendidos ou a qualidade dos
103
serviços prestados? A seguir será apresentado o terceiro bloco que analisa as atividades
pedagógicas desenvolvidas pelas instituições, detalhes do perfil da clientela atendida e
localização da instituição.
4.3 A proposta pedagógica do terceiro setor e sua relação com o público-alvo
Todos os gestores afirmaram que suas instituições estavam instaladas em sede
própria, exceto a Jesus Criança que, conforme Cordeiro, a sede em que a instituição está
instalada foi cedida pela prefeitura municipal a partir de um comodato. O período deste
comodato é de 99 anos, contados a partir de junho de 2003. Segundo os dados
analisados, grande parte das instituições está localizada em bairros periféricos do
município, onde se concentram um elevado número de jovens e adolescentes sujeitos a
vários tipos de vulnerabilidades. Já Passos e Fernandes argumentaram não haver uma
razão específica pela instalação da instituição, uma vez que o espaço foi doado pela
prefeitura local. Pôde-se constatar que 4 entidades estão instaladas em bairros
periféricos do município, ficando claro que o objetivo das instituições é apaziguar
conflitos nestas localidades.
As entrevistas mostraram que as atividades pedagógicas de algumas instituições
sofreram adequações a partir do escopo das políticas públicas nacionais. Segundo as
gestoras dos CEIs Doce Infância e Espaço Criança, as adequações surgiram na mudança
da nomenclatura destas instituições, passando de creche para Centro de Educação
Infantil o que promoveu reordenamentos na prática pedagógica destas entidades.
Os gestores relataram que o perfil da clientela atendida pelas instituições são
predominantemente crianças, adolescentes e adultos provenientes de famílias das
camadas menos favorecidas, que possuem renda mensal estipuladas em até 3 salários
mínimos. Cordeiro afirmou que o perfil dos estudantes da Jesus Criança vem sofrendo
mudança. Argumentou que 60% dos alunos atualmente são de outras localidades do
município e que possuem uma condição econômica “um pouco melhor”.
Quanto ao número de atendimentos elaboramos uma tabela para melhor
apresentar os dados:
104
Instituição
Número de atendimento
Integração Social
130
Espírito Luz
120
Doce Infância
90
Espaço Criança
250
Diferenças
377
Jesus Criança
750
Total de atendimentos
1.717
Tabela 5: Número de alunos atendidos pelas instituições
Fonte: Entrevistas com os gestores
A instituição Espírito Luz no período de elaboração desta pesquisa estava inativa
devido a reformas de ampliação no prédio, porém a intenção da instituição era retornar
as atividades no mês de agosto de 2013, com este número de atendimento. Outro ponto
importante foi que os dados fornecidos pelo CEI Espaço Criança datam de 2012. Vale
frisar novamente que a administração desta instituição no momento da pesquisa estava
sob a responsabilidade da Prefeitura. Os gestores afirmaram não cobrar nenhuma taxa
dos envolvidos, pois possuíam o caráter filantrópico e portanto era proibido cobrar
qualquer recurso dos envolvidos.
Notou-se que o foco destas instituições são os bairros periféricos, em geral mais
populosos, com uma grande quantidade de crianças e jovens, proveniente de famílias
das camadas mais populares. O trabalho que estas entidades vinham desenvolvendo,
tenta superar um problema essencialmente encontrado em sociedades capitalistas:
conter as crises sociais das camadas mais exploradas. O Estado e as empresas, sabendo
deste risco, investem em instituições sociais de caráter assistencial, como estas aqui
investigadas, como forma de controlar as camadas mais vulneráveis, promovendo
políticas de apaziguamento de conflitos, que são medidas que não vão resolver a
situação da periferia, porém amenizam as desigualdades e os conflitos de classe.
Com relação aos projetos desenvolvidos pelas instituições, percebeu-se que o
foco principal das ações era a formação para o trabalho. De acordo com os
entrevistados, as atividades pedagógicas foram desenvolvidas no intuito de evitar
conflitos sociais, melhorando a qualidade de vida dos envolvidos, promovendo
educação, almejando uma preparação para a vida em sociedade. A Integração Social
desenvolve atividades voltadas para a cidadania. Para a Jesus Criança, de acordo com
105
Cordeiro: “as atividades pedagógicas, visam o crescimento humano [...] mas este
crescimento humano, precisa vir junto com ele possibilidades de melhorias de vida [...]
unindo trabalho, cidadania e a família”. Já na Espírito Luz, a intenção era fortalecer a
personalidade dos estudantes:
[...] justamente formar um bom e honesto cidadão no futuro, deixando claro
que a maior obrigação é da família, nós aqui, é só uma cooperação. Aqui é
um apoio que a gente dá neste sentido [...] evitar que eles desviem do
caminho certo, isto é, que eles não vão para o caminho das drogas ou então
para a violência né, pra bandidagem, mas que ele se torne, pegue o melhor
caminho e se torne um verdadeiro cidadão. (NORBERTO).
Os gestores relataram que nem as empresas nem o setor público
disponibilizavam materiais didáticos a serem utilizados nos trabalhos diários das
instituições, ficando a escolha e o preparo dos conteúdos a critério das entidades.
Porém, Marques disse que, esporadicamente, o Espaço Criança recebia material escolar
da prefeitura municipal.
Com relação ao referencial pedagógico adotado, foi possível perceber que as
instituições de formação para o trabalho não seguiam nenhum parâmetro específico.
Entretanto, as gestoras dos CEIs disseram que suas instituições seguiam o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI. Já o gestor da Diferenças não
conseguiu responder, pois não tinha conhecimento a fundo da proposta pedagógica da
instituição.
Os gestores relataram sobre as contribuições que os alunos adquiriam durante
seu processo educativo nas instituições. Rodrigues e Norberto argumentaram que os
alunos aprendiam valores que iriam levar para o restante de suas vidas: dar continuidade
nos estudos, ser um cidadão preparado, um bom trabalhador, alcançar maior
independência, qualidade de vida e melhora no relacionamento familiar. Já Cordeiro
não conseguiu relatar as contribuições que os alunos adquiriam na instituição, pois em
sua opinião há uma diferença entre o ensinar dos professores e o aprender dos alunos:
Com relação à contribuição pessoal dos alunos, eu acho que tem uma
diferença gritante entre o nosso trabalho, que é ensinar e a parte dos alunos
que é aprender, pois nem sempre eles vão conseguir atingir o nosso objetivo.
Muitos alunos não tiram o proveito necessário das nossas atividades
entendeu, eu não sei te responder porque a nossa proposta é uma, agora se ele
vai comprar a nossa proposta é outra coisa. (CORDEIRO).
106
Os gestores afirmaram, no geral, que o trabalho desempenhado pelas entidades é
de grande relevância, pois contribuía para a melhora do nível social e educacional de
Três Lagoas. Os gestores das instituições de formação profissional argumentaram que o
trabalho desenvolvido pelas instituições busca preparar os alunos para o mercado de
trabalho, o que contribuía para a diminuição do índice de desemprego no município,
além de contribuir para a diminuição dos conflitos sociais, pois diminuíam o tempo de
exposição dos alunos à marginalidade, a violência, devido às atividades ocorrerem no
contraturno escolar dos alunos.
Predominou nas falas dos gestores que uma das grandes contribuições das
instituições era na formação de trabalhadores para o mercado de trabalho. Não
queremos tirar o mérito, muito menos diminuir a importância destas instituições, porém
estes alunos são preparados para ingressarem em postos de trabalhos de baixo
rendimento. Dependendo da condição do trabalho, o futuro aluno irá perder cada vez
mais a motivação pelos estudos, diminuindo suas chances de alcançar melhores
condições de trabalho, reduzindo suas possibilidades de se tornar um trabalhador crítico.
Passos comentou que a maior contribuição da Diferenças era com relação à
inclusão social, pois muitas famílias, antigamente, escondiam as pessoas com
deficiência com medo do preconceito, de serem tratados como doentes e que atualmente
este preconceito vinha diminuindo. A instituição vem inserindo as pessoas com
necessidades educacionais especiais no mercado de trabalho, contribuindo para o
aumento da renda familiar, diminuindo o desemprego, além de muitos se tornarem
independentes, derrubando o preconceito, alcançando uma maior aceitação na
sociedade. Para Marques, o trabalho educacional do Espaço Criança contribuía para a
melhoria da sociedade, pois, segundo a gestora, a educação é a base estrutural de uma
sociedade:
Sem educação as pessoas não conseguem melhorar seu meio de vida. Então,
qualquer entidade que cuide da educação de crianças e jovens, com
responsabilidade, carinho, ciente da importância de seu trabalho está
possibilitando a melhoria da sociedade como um todo. (MARQUES).
Fernandes argumentou que as contribuições da Doce Infância seriam por realizar
um trabalho que seria de responsabilidade pública, o que diminui a demanda do setor
público em construir CEIs, além de ter aumentado o número de mulheres mães no
107
mercado de trabalho, uma vez que abrigam os filhos destas mulheres enquanto elas vão
para o trabalho. A posição de Fernandes nos chamou à atenção quando afirmou que o
trabalho da sua instituição surgiu para substituir a obrigação que seria do Estado. Esta
afirmação está correta, pois como discorremos nos capítulos anteriores, o sistema
capitalista atrelado aos preceitos neoliberais vem retirando paulatinamente a obrigação
do Estado em arcar com as políticas sociais, e estas 6 instituições investigadas possuem
suas bases alicerçadas na filantropia, pois viam a necessidade de se fazer algo que não
estava sendo assegurado, executado pelo Estado. Para compensar sua retirada, o Estado
subsidia com recursos financeiros os trabalhos destas entidades, porém o mais correto
seria o Estado assumir integralmente sua obrigação e não deixar sob a responsabilidade
da sociedade civil.
Rodrigues, sobre as contribuições da Integração Social, afirmou que além de dar
condições para que jovens e adultos se qualifiquem para o mercado de trabalho, ela se
preocupa muito com o nível educacional dos alunos. Segundo ela, os alunos refletiam
suas deficiências educacionais na instituição quando eram aplicados trabalhos
dissertativos, como redações e apresentação de trabalhos. A gestora se mostrou
indignada com os profissionais da educação que lecionavam para os alunos que
frequentavam a instituição. Em sua opinião, estes profissionais faziam vista grossa para
as deficiências dos alunos que acabavam repercutindo nos espaços em que eles
interagiam, como é o caso da instituição Integração Social.
O comentário de Rodrigues é muito pertinente, pois percebemos que a educação
pública escolar está cada vez mais sucateada, fruto de uma escola pública calcada na
dualidade estrutural educacional: produtiva para o capital, formando novos
trabalhadores e improdutiva para os estudantes (FRIGOTTO, 1989), negligenciando
conteúdos aos alunos, desmotivando-os a continuar na conclusão dos estudos e, quando
concluem os estudos, os conhecimentos adquiridos não os qualificam para ocupar os
centros de excelência ou os melhores postos de trabalho criando o que o capitalismo
mais preza: um exército de reserva para o setor empresarial. Soma-se a isso a falta de
concursos periódicos para professores, que poderia evitar a contratação de professores
menos experientes, melhorando o processo de ensino-aprendizagem. Porém o grande
problema da educação pública atualmente é a falta de investimento do Estado o que vem
acarretando grandes consequências à formação dos estudantes e à carreira dos
108
professores Na sequência é realizada a análise do último bloco de dados que investigou
as condições dos trabalhadores das instituições do setor educacional de Três Lagoas.
4.4 Condição dos trabalhadores das instituições investigadas
Perguntados sobre a relação com o voluntariado, os relatos dos gestores foram
diversos. Norberto afirmou que a Espírito Luz é oriunda de um grupo espírita, e que os
associados eram motivados a trabalhar pela caridade, a serem voluntários. Segundo ele,
existiam cargos que eram remunerados, entretanto a direção do grupo, em grande
medida era voluntária. Rodrigues disse gostar de trabalhar com voluntários, porém
afirmou que muitos se esquecem da sua condição e queriam receber pelo seu trabalho, o
que fez com que ela diminuísse seu interesse em trabalhar com eles. Disse trabalhar o
espírito voluntário com seus próprios alunos, o que segundo a gestora estava gerando
bons frutos.
Marques relatou que o Espaço Criança não estimulava o trabalho com
voluntários, pois os trabalhadores devem ser contratados pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, em número suficiente para a realização das tarefas. Já Passos disse que
a Diferenças não trabalhava com voluntários, pois quando existiam voluntários, eles
acabavam sendo efetivados. Já Fernandes descreveu que o trabalho do grupo de
voluntárias no Espaço Criança foi fundamental, pois as voluntárias compõem a direção
da instituição e, quando não tinham auxílio financeiro do setor público, eram as próprias
voluntárias com suas ações de levantar fundos que mantinham o trabalho filantrópico.
Já para Cordeiro a questão do voluntariado na instituição Jesus Criança era vista com
certo receio:
A questão do voluntariado, ela é complicada. O voluntário não pode ter laços
[empregatícios] e aí existe a CLT, existe uma questão assim: se você cria
uma obrigatoriedade de dia de horário ou de trabalho, isso se torna
caracterização de um vínculo empregatício. Então se existe este vínculo, ele
deixou de ser voluntário então se cria problema. Então numa obra social até
surgem pessoas com vontade de fazer um trabalho social, mas por conta deste
possível vínculo, a nossa instituição não estimula a participação de
voluntários. (CORDEIRO).
Notou-se através do comentário de Cordeiro que a direção da Jesus Criança tem
uma visão burocrática de gerência, pois analisando este argumento ao que tudo indica
que para se fazer uma caridade você explora o trabalhador. Na instituição existiam as
109
festas mensais, que acabavam recebendo apoio de voluntários e dos próprios
funcionários da instituição para sua execução, porém o perigo que retratou Cordeiro são
os voluntários que desejavam executar atividades diárias, ou semanalmente, o que
poderia acarretar num vínculo empregatício gerando encargos trabalhistas a instituição.
Quanto ao perfil dos profissionais que atuavam nas instituições, percebeu-se a
dualidade de níveis de formação, relativa à área de trabalho: para trabalhos que exigiam
principalmente a capacidade física, ou seja, menos uso do trabalho intelectual,
predominava-se a formação de nível fundamental e médio. Para trabalhos intelectuais
que exigiam principalmente a capacidade mental, ou seja, menos uso do trabalho
manual predominava-se a formação de nível técnico, graduados e pós-graduados. Todos
os gestores afirmaram que o número de funcionários estaria de acordo com a demanda
de trabalho exigido, pois foram contratados de acordo com a necessidade da instituição.
Com relação à existência de rotatividade do quadro de funcionários das
instituições, Passos argumentou não encontrar problema, porém outros gestores
afirmaram existir problema, devido às instituições filantrópicas não terem condições de
acompanhar os salários pagos no mercado de trabalho e também pelas condições de
trabalho oferecidas. Cordeiro relatou porque existe esta rotatividade na Jesus Criança:
Não, não se troca muito e quando troca vou te dizer os motivos: primeiro, nós
temos um desgaste muito grande de trabalho, porque nós somos uma obra
que ela trabalha de segunda a segunda, sendo que de segunda a sexta, ela
trabalha das 7 horas da manha às 10 horas da noite e de sábado a domingo ela
trabalha das 7 às 17 horas. Então este desgaste, principalmente dos
funcionários de final de semana, tem um desgaste físico do funcionário muito
grande. Então, o funcionário que trabalha em obra social ele precisa de uma
dedicação diferente de qualquer outro trabalho. (CORDEIRO).
Já Fernandes argumentou que além da rotatividade existente na instituição
ocorrer pelos baixos salários, havia muitos profissionais formados para poucos postos
de trabalho, o que desmotivava o profissional, sujeitando-o a encarar postos de trabalho
subalternos à sua formação para manter a sua subsistência:
110
Outra coisa também nessa rotatividade desses funcionários é porque acabam
se formando em pedagogia, e a dificuldade de se inserir no campo de
trabalho, porque tem assim na prefeitura, no início do ano tem aquele
processo seletivo, só que é muito difícil de entrar, acabam elas vindo com
pedagogia trabalhar como monitoras, ai arruma às vezes alguma coisa
melhor, que ganhe mais ai elas acabam saindo.[...] Agora tem duas pessoas
aqui, que são pedagogas que estão trabalhando como monitoras, quanto
tempo elas vão ficar aqui? Não é verdade? Então porque elas estão aqui,
porque elas não se formaram pra serem monitoras, elas se formaram pra ser
professoras, mas devido à dificuldade, que não é tão fácil assim, que você
fala assim: to formado to garantido, não é bem assim. (FERNANDES).
Após estes relatos, Rodrigues apresentou como deve ser o perfil dos
trabalhadores de entidades filantrópicas:
Começa pela questão financeira, então pra vir trabalhar numa entidade, a
primeira coisa, não pode ter apego na parte financeira, porque senão não
vem, o salário não compensa. [...] Então o perfil de entidade filantrópica, é
você gostar de mexer com gente. Se não gostar não adianta, você pode pagar
um monte de dinheiro, mas não vai ser aquele funcionário que você tá vendo
que tá tratando como se fosse ele que estivesse sendo tratado, sabe?
(RODRIGUES).
Os gestores da Espírito Luz, Doce Infância e Diferenças argumentaram não
existir dificuldades em encontrar profissionais com o perfil que a entidade procura,
entretanto os outros gestores disseram encontrar dificuldades. Marques afirmou não ser
fácil o processo de contratação de novos funcionários, uma vez que a absorção de mão
de obra educacional pela prefeitura local é grande. Geralmente, os que estão
desempregados são os que não conseguiram passar no concurso ou recém-formados,
sem experiência o que, segundo a gestora, prejudicava o trabalho na instituição.
Pôde-se observar uma contradição entre os comentários de Fernandes e de
Marques com relação à falta de postos de trabalho no setor da educação. Enquanto
Fernandes disse faltar postos de trabalho, o que facilitava encontrar profissionais para o
trabalho na Doce Infância, Marques afirmou ser difícil, uma vez que a qualidade dos
trabalhadores a disposição no mercado é baixa. Supomos que esta baixa qualificação
está ligada à facilidade ao ingressar num curso superior. Em Três Lagoas existiam
algumas instituições particulares que ministravam cursos de pedagogia com encontros
presenciais e também na modalidade à distância, que muitas das vezes os alunos
acabavam concluindo este curso sem o real interesse no trabalho, mas apenas para a
obtenção de um diploma de nível superior.
Muitos procuravam instituições privadas, pois a rotina de estudos era mais leve,
em comparação a rotina de estudos do curso nas instituições federais públicas. Nesta
111
perspectiva, a facilidade de ingresso no curso superior prejudicava a formação dos
futuros trabalhadores. As empresas privadas de ensino superior, com o foco
mercadológico acabavam diminuindo o ritmo de estudos durante a graduação, com o
intuito de não perder o cliente. Desta forma após a graduação, o graduado chocava-se
com a realidade e percebia que não tinha se identificado com a nova profissão.
Outro problema levantado por Rodrigues era que muitos trabalhadores visavam
mais a parte financeira e não o interesse pelo trabalho social. A realidade da instituição
Integração Social também foi sentida na instituição Jesus Criança. Conforme Cordeiro,
a contratação de novos funcionários também era difícil na instituição por conta, segundo
a gestora, da dedicação necessária do trabalhador, muitas vezes tendo que abrir mão da
sua família, dos seus afazeres para se dedicar ao trabalho:
Porque na realidade, o funcionário de obra social, ele não é funcionário só às
oito horas de trabalho, porque se você trabalha, o público que você atende e a
proposta que você tá fazendo de atendimento, ela é 24 horas entendeu, então
quer dizer, você tem que se dedicar. (CORDEIRO).
A partir destes dados pôde-se confirmar que o perfil dos trabalhadores de
entidades filantrópicas é como descreveu a gestora Rodrigues: tem que gostar de
trabalhar com pessoas, pois os salários são baixos, as condições de trabalho são
precárias e exploradoras. Além destes problemas é importante citar o perfil da clientela
atendida, que por ser de periferia apresentam diversas vulnerabilidades sociais, e o
trabalho exige mediações constantes de conflitos sociais muitas vezes estressantes, pois
é preciso trabalhar na base, com valores morais, éticos, afetivos, sugando todas as
energias do trabalhador. Em instituições deste porte, a demanda de trabalho é excessiva:
cada trabalhador exercia diversas funções, além de eventuais cobranças da direção,
jornadas de trabalho extensas, atividades em feriados, pontos facultativos e finais de
semana. O trabalho em instituições sociais acabava refletindo nas relações familiares
dos trabalhadores, trazendo graves problemas no âmbito social e na saúde do
trabalhador.
Após a análise dos dados através das 6 instituições investigadas na pesquisa, a
próxima seção objetivou trazer as conclusões do estudo, salientando como está calcado
o trabalho das entidades do terceiro setor no município de Três Lagoas.
112
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do objetivo desta pesquisa, que foi analisar o papel do terceiro setor na
política educacional brasileira e caracterizar o desenvolvimento das instituições públicas
não-estatais presentes em Três Lagoas-MS foi possível apresentar as conclusões
alcançadas durante o percurso de investigação desta pesquisa.
Pôde-se evidenciar que a política social do terceiro setor ganhou legitimidade a
partir do advento das políticas neoliberais no governo brasileiro. Sob a governança de
Fernando Henrique Cardoso, o terceiro setor ganhou credibilidade no cenário social
através do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado que defendeu a
transferência
do
setor
não-exclusivo
do
Estado
para
a
sociedade
civil,
desresponsabilizando o governo brasileiro com a área social. Seu sucesso à presidência,
Lula da Silva, deu continuidade ao processo de fortalecimento do terceiro setor.
Apesar das instituições públicas não-estatais no Brasil estarem crescendo notouse que Três Lagoas não acompanhou este crescimento, pois não foi identificada
instituições regularmente amparadas pela lei do terceiro setor (OSCIP n° 9790/99). Os
gestores afirmaram ainda não ter conhecimento de tal legislação, o que nos faz concluir
que esta legislação ainda não ganhou visibilidade no interior do Brasil, sendo mais
notável nos grandes centros. Percebeu- se que as instituições surgiram da motivação
particular de grupos que tinham como intuito ajudar as famílias em risco social, sendo
caracterizadas como entidades filantrópicas, sem fins lucrativos.
Os projetos educativo-pedagógicos desempenhados pelas entidades públicas
não-estatais em Três Lagoas visavam amparar os grupos mais vulneráveis deste
município, oferecendo acolhimento às crianças que os pais necessitavam trabalhar,
assistência as pessoas com necessidades educativas especiais, além de cursos de
formação profissional para jovens e adultos ingressarem no mercado de trabalho.
Pudemos observar que 3 instituições públicas não-estatais em Três Lagoas tinha
como foco educacional a formação para o trabalho. Estas entidades do município além
de dar uma qualificação rápida, não se preocupavam em promover uma educação crítica
da sociedade capitalista. O foco era na formação, na transmissão de conteúdos e
técnicas direcionadas para o trabalho com que concorre para arrefecer a classe
trabalhadora de eventuais descontentamentos com a situação da política social
brasileira.
113
Em geral, o público atendido por estas instituições eram as famílias mais
vulneráveis, localizadas nos bairros da periferia do município. Estas instituições, mesmo
que não diretamente, acabaram sendo uma ferramenta de grande valia ao capital
servindo como instrumento apaziguador de conflitos, pois acabavam silenciando as
massas exploradas pelo capitalismo, mascarando a latente desigualdade social em que
vive o trabalhador brasileiro.
Foi possível notar que as instituições públicas não-estatais do setor educacional
em Três Lagoas trabalhavam em sintonia tanto com o setor público, quanto com as
empresas. Com relação ao Estado, esta parceria ocorre desde a entrada da política
neoliberal no governo brasileiro. Apesar do neoliberalismo exigir cortes nas políticas
sociais, pôde-se notar que o Estado não se desobrigou totalmente da sua
responsabilidade pelo social. Ele financia o trabalho destas instituições, pois sabe que
seria de sua obrigação promovê-las. Com esta ajuda financeira, o Estado descentralizou
sua obrigação como gestor, transferindo à administração do trabalho as entidades
públicas não-estatais.
Pôde-se notar que as instituições filantrópicas em Três Lagoas, em sua maioria,
surgiram em dois períodos marcados historicamente: Entre os anos de 1970 a 1990,
marcado por um período crítico de políticas públicas sociais e a partir da década de
1990 com o advento das políticas neoliberais no Brasil. Em decorrência deste último
período, os gestores confirmaram a nossa hipótese, de que os recursos financeiros
começaram a surgir após os anos 90, devido a promulgação da Constituição Federal de
1988 e através da reforma do aparelho do Estado (1995). Desta forma, o Estado se
eximiu da obrigação de arcar com as políticas sociais, porém não totalmente, pois
concede as entidades subsídios fiscais e financeiros.
Com relação a parceira entre instituições públicas não-estatais em Três Lagoas e
as empresas observou que estas apoiavam as instituições não por mera identificação
com a causa social das entidades, e sim devido à obrigatoriedade destas em investir
recursos em ações sociais. Investiam em ações sociais para obterem abatimento do
imposto de renda, e também como política de compensação a danos ambientais, entre
outros, buscando mesmo que indiretamente lucrar com sua marca também no ambiente
social através do marketing empresarial. Acreditamos que o real interesse das empresas
em trabalhar em parceria com estas entidades em Três Lagoas era sempre o de almejar
114
lucros, fortalecendo sua marca através do apoio as instituições que já trabalhavam no
âmbito social.
Os gestores disseram que o trabalho de suas instituições contribuem para a
diminuição do desemprego no município, qualificando os alunos e também por
contratar funcionários para trabalharem em suas instituições. Isso nos levou à conclusão
de Ricardo Antunes (1999), de que mesmo sendo postos de trabalho precários, estas
instituições são uma alternativa efetiva e duradoura ao mercado de trabalho capitalista,
cumprindo um papel de funcionalidade ao incorporar parcelas de trabalhadores
desempregados pelo capital. Estas instituições reforçam as condições culturais e
subjetivas com as quais o Estado e mercado devem funcionar, defendendo os interesses
da lógica do capital. Tais movimentos sociais tentam apaziguar os conflitos e muitas
empresas conhecendo esta jogada apoiam certas iniciativas a fim de defender seus
interesses. São ações que acirram as desigualdades e ao mesmo tempo devem manter a
classe dominada em pacificação.
A pesquisa se comprometeu a responder várias outras questões, porém, nem
todas puderam ser respondidas devido a limitações de tempo e espaço: A primeira
lacuna foi não ter conseguido abordar nenhuma Organização não-governamental (ONG)
regularmente cadastrada e com esta nomenclatura, por não ter conhecimento deste tipo
de instituição no município que atuava no setor educacional. Outra lacuna do estudo
ficou por conta de não poder investigar instituições do terceiro setor amparadas pela lei
n° 9.790/99 pela sua inexistência no território da pesquisa. E por conta do tempo hábil
ainda disponível para a elaboração da pesquisa não foi possível analisar as 6 instituições
públicas não-estatais do setor educacional no seu cotidiano. Foi possível realizar apenas
uma caracterização destas instituições, porém como pôde ser notado a caracterização
destas entidades não prejudicou a execução do trabalho final.
Para futuros estudos, nos proponhamos analisar o cotidiano destas instituições
para encontrar novas pistas sobre o avanço das entidades públicas não estatais em Três
Lagoas, que não puderam ser respondidas neste estudo. Também temos como proposta
investigar se as instituições públicas não estatais em Três Lagoas têm ou não condições
de se licenciarem como entidades do terceiro setor.
Desta forma, concluímos este estudo afirmando que o debate dominante sobre o
terceiro setor tornou-se funcional ao processo de reformulação do padrão de resposta as
sequelas da questão social, propiciado no interior da estratégia neoliberal de
115
reestruturação do capital. Segmentando as lutas em setores distintos, como se o Estado
fosse o primeiro setor, o mercado fosse o segundo setor e a sociedade civil o terceiro
setor. (MONTAÑO, 2003). Assim, o sistema capitalista buscou esconder o verdadeiro
fenômeno do surgimento do terceiro setor: eliminar os direitos sociais garantidos sobre
forte pressão dos grupos sociais, mantendo os cidadãos alienados de seu processo de
exclusão social assegurando os lucros capitalistas.
Em suma, concluímos que não foi a crise do Estado-providência o que derivou
no crescimento do chamado terceiro setor. Este último faz parte do mesmo movimento
de transformação e (contra)reforma operada pelo neoliberalismo, sob o comando
hegemônico do capital financeiro. O crescimento do chamado terceiro setor foi
consequência direta e explícita do projeto neoliberal, simultaneamente com a redução
do gasto social do Estado, e a desobrigação do capital do financiamento da política
social.
116
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, Mário Aquino. Terceiro setor: o dialogismo polêmico. 2002. 350f. Tese
(Doutorado em Administração de Empresas). Escola de Administração de empresas de
São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 2002.
ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, Emir, GENTILI, Pablo.
(orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. 3. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 9-23.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez. 1995.
______ Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho.
São Paulo. Boitempo. 1999.
AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. 3.ed. campinas SP:
Autores Associados, 1994.
BARROS, Valter Mangini. Potencialidade sul mato grossenses. Campo Grande:
Oeste, 2006.
BEHRING, Elaine Rossetti. Política social no capitalismo tardio. 3.ed. São Paulo SP.
Cortez. 2007.
BRASIL. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Plano Diretor de
Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: 1995.
______, Lei nº 9637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades
como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção
dos órgãos e entidades que mencionam e a absorção de suas atividades por organizações
sociais, e dá outras providências.
Brasília, 1998. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm>. Acesso em 20 mai. 2011
______, Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, institui e disciplina o termo de parceiro, e dá outras providências.
Brasília, 1999. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm>.
Acesso em 20 mai. 2011
______, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de GestãoSEGES. Gestão pública para um Brasil de todos : um plano de gestão para o Governo
Lula
.
Brasília,
2003.
Disponível
em
<
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/081003_SEGES_Ar
q_gestao.pdf>. Acesso em 15 mar.2013
______. Ministério do Esporte. Uma Política Nacional de Esporte. Brasília. 2005.
Disponível em: <http://www.esporte.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2013.
______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Carta de Brasília sobre
Gestão Pública. Carta conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
117
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Administração (CONSAD) por
ocasião do congresso do CONSAD. Brasília, 2008. Disponível em: <http://
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/CONSADCarta.pdf
>. Acesso em 12 mar 2013.
DRAIBE, Sonia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social.
Tempo Social–USP. São Paulo. n.2. nov. 2003 Disponível em<
http://www.scielo.br/pdf/ts/v15n2/a04v15n2.pdf> Acesso em: 23 jun. 2011.
FALCONER, Andres Pablo. A promessa do terceiro setor: Um estudo sobre a
construção do papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão.
1999. 152f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo. São Paulo.
1999.
FALEIROS, Vicente de Paula. A reforma do Estado no período FHC e as propostas do
Governo Lula. In: ROCHA, Denise; BERNARDO, Maristela (orgs). A era FHC e o
Governo Lula: transição? Brasília. Instituto de Estudos Socioeconômicos. 2004. p. 3164
FERNANDES, Rubem César. Privado porém público: o terceiro setor na América
Latina. 3.ed. Rio de Janeiro. Relume Damará. 1994.
FERRAREZI, Elisabete Roseli. A Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor no
Brasil: a criação da lei das OSCIP (Lei 9.790/99). 2007. 308 f. Tese (Doutorado em
Sociologia). Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília. Brasília-DF. 2007.
FISCHER, Rosa. Estado, Mercado e Terceiro Setor: uma análise conceitual das
parcerias intersetoriais. Revista de Administração. São Paulo, n.1, jan/fev/mar 2005.
Disponível em < http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bd_articles/334_fis.pdf>.
Acesso em 19 jun 2012.
______, FALCONER, Andrés Pablo. Desafios da Parceria Governo Terceiro Setor.
Revista de Administração. São Paulo, n.1. jan/mar 1998. Disponível em <
www.rausp.usp.br/download.asp?file=3301012.pdf>. Acesso em 10 mai 2012.
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 3 ed. São Paulo:
Cortez, 1989.
______,O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. In:
Fazenda, Ivani (org.). Metodologia da pesquisa educacional. 6. São Paulo, Cortez,
2000. p. 71-89.
______, Educação e a crise do capitalismo real. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2003
GAMBOA, Silvio Ancízar Sanches. Epistemologia da Pesquisa em Educação,
Campinas, Praxis. 1998.
______, A dialética na pesquisa em educação: elementos de contexto. In: Fazenda, Ivani
(org). Metodologia da pesquisa educacional. 6.ed. São Paulo, Cortez, 2000. p. 95-98.
118
GENTILI, Pablo A. A. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: ______
(org.) Escola S.A. Quem ganha e quem perde no mercado educacional do
neoliberalismo. Brasília: CNTE. 1996. p. 9-16.
GIDDENS, Anthony. Reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da socialdemocracia. Rio de Janeiro: Record. 2000.
______, A terceira via e seus críticos. Rio de Janeiro: Record. 2001.
GOUNET, Thomas. Fordismo e Toyotismo: na civilização do automóvel. São Paulo,
Boitempo, 1999.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. 8. ed. São Paulo: Loyola, 1999.
IBGE. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2002.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
Disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/fasfil.pdf>.
Acesso em 02 jul 2013.
______, Censo Demográfico 2010. Informações Estatísticas de Três Lagoas-MS. 2010.
Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acesso em: 22 jul. 2012.
IANNI, Octavio, A sociedade global. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira. 1992.
KISIL, Marcos. Organização social e desenvolvimento sustentável: projetos de base
comunitária. In: IOSCHPE, Evelyn Berg. Terceiro setor: desenvolvimento social
sustentado. 2. ed. São Paulo. Paz e Terra. 2000. p. 131 – 155
KOSIK, Karel. O Mundo da Pseudoconcreticidade e a sua Destruição. Dialética do
concreto. 3.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra 1976.
KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a
educação do trabalhador. São Paulo: Cortez, Autores Associados, 1986.
______, Desafios teóricos-metodológicos da relação trabalho-educação e o papel social
da escola. In: FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e crise do trabalho. 2.ed. Petrópolis.
Vozes, 1998. p. 55-75.
MARTINS, André Silva. Estratégias burguesas de obtenção do consenso nos anos de
neoliberalismo da terceira via. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley. A nova pedagogia
da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. Xamã. São Paulo. 2005.
p. 127 – 174.
MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. São Paulo. Nova Cultural. 1996.
______, ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. 1.ed. São Paulo, Martins Fontes,
2001. p. 7-52
MELO, Adriana Almeida Sales de. Os organismos Internacionais na condução de um
novo bloco histórico. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley. A nova pedagogia da
119
hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. Xamã. São Paulo. 2005 p. 69
– 82
MELO, Marcelo Paula de. O chamado terceiro setor entra em campo: políticas públicas
de esporte no governo Lula e o aprofundamento do projeto neoliberal de terceira.
Licere, Belo horizonte, v. 10, n. 2, ago. 2007. Disponível em
<http://www.eeffto.ufmg.br/licere/pdf/licereV10N02_a6.pdf> Acesso em: 7 Abr de
2009.
MENDES, Luiz Carlos Abreu. Estado e Terceiro Setor: uma análise de aproximação.
RSP- Revista do Serviço Público. Brasília, n.3, jul/set 1999. Disponível em<
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2699 >.
Acesso em 19 jul. 2012.
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de
intervenção social. 2.ed. São Paulo. Cortez, 2003.
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 6.ed.
São Paulo. Cortez, 2010.
NEVES, Lúcia Maria Wanderley. A sociedade civil como espaço estratégico de difusão
da nova pedagogia da hegemonia. In:NEVES. Lúcia Maria Wanderley. A nova
pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo.
Xamã. 2005. p. 85 – 126.
OLIVEIRA, Regina Tereza Cestari de. Público não estatal: implicações para a escola
pública brasileira. In: PERONI, Vera Maria Vidal, BAZZO, Vera Lúcia, PEGORARO,
Ludimar, (orgs). Dilemas da educação brasileira em tempos de globalização
neoliberal: entre o público e o privado. 1.ed. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2006. p.
141-158.
PEREIRA, Renata Cristina; GOMES, Conceição Oliveira. O recente processo de
industrialização de Três Lagoas-MS. Revista Economia & Pesquisa, Araçatuba, n.6.
mar
2004.
Disponível
em
<http://www.feata.edu.br/downloads/revistas/economiaepesquisa/v6_artigo03_recente.p
df>. Acesso em 16 jul 2012.
PERONI, Vera Maria Vidal, Mudanças na configuração do Estado e sua influência na
política educacional. In: PERONI, Vera Maria Vidal, BAZZO, Vera Lúcia,
PEGORARO, Ludimar, (orgs). Dilemas da educação brasileira em tempos de
globalização neoliberal: entre o público e o privado. Porto Alegre: Editora UFRGS,
2006. p. 11-24.
______, A gestão democrática da educação em tempos de parceria entre o público e o
privado. Revista Pro-posições. Campinas, n. 02, mai/ago. 2012. Disponível
em<http://www.scielo.br/pdf/pp/v23n2/a03v23n2.pdf>. Acesso em 13 mar 2013.
______, ADRIÃO, Theresa. Reforma da ação estatal e as estratégias para a constituição
do público não estatal na educação básica brasileira. In: Reunião Anual da Associação
nacional de pós-graduação e pesquisa em educação, 27, 2004, Caxambu. Anais...
120
Caxambu:
ANPED.
2004.
p
1-17.
Disponível
em
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt05/t0521.pdf>. Acesso em 15 abr 2012.
<
______, OLIVEIRA, Regina Tereza Cestari de, FERNANDES, Maria Dilnéia
Espíndola. Estado e terceiro setor: as novas regulações entre o público e o privado na
gestão da educação básica brasileira. Revista Educação e Sociedade. Campinas, n.
108, out. 2009. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em 17 nov
2012.
SIMIONATTO, Ivete. Reforma do Estado ou modernização conservadora? O retrocesso
das políticas sociais públicas nos países do Mercosul. Arquivo Gramsci e o Brasil.
2000. Disponível em: <www.artnet.com.br/gramsci>. Acesso em: 20 mar. 2003.
SOARES, Laura Tavares Ribeiro. Ajuste neoliberal e desajuste social no América
Latina. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
SOUZA, José dos Santos. Trabalho, educação e sindicalismo no Brasil: anos 90.
Campinas SP. Autores Associados. 2002.
SUSIN, Maria Otília Kroeff. O público não-estatal: um estudo das creches comunitárias
em Porto Alegre. In: PERONI, Vera Maria Vidal, BAZZO, Vera Lúcia, PEGORARO,
Ludimar, (orgs). Dilemas da educação brasileira em tempos de globalização
neoliberal: entre o público e o privado. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2006. p. 119140.
VIEGAS, Terezinha Cristina. O aumento da frota veicular no município de Três
Lagoas – MS, no período de 2000 a julho de 2006: análise e diagnóstico dos possíveis
impactos ambientais causados. 2007. 47f. Dissertação (Mestrado em meio ambiente e
desenvolvimento regional) – Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da
Região do Pantanal – UNIDERP, Campo Grande-MS, 2007.
VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política social. 2.ed. São Paulo SP. Cortez, 2007.
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra o capitalismo: a renovação do
materialismo histórico. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003.
121
APÊNDICE 1
A POLÍTICA EDUCACIONAL DESENVOLVIDA PELO TERCEIRO
SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O (A) GESTOR(A) DA INSTITUIÇÃO
DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS
1. Nome do(a) gestor(a):
2. Sexo:
3. Formação profissional (graduação, pós-graduação):
4. Nome da instituição:
I- RELAÇÃO
ENTRE CRESCIMENTO DO TERCEIRO SETOR NO
BRASIL E EM TRÊS LAGOAS
1. Como foi o processo de fundação desta instituição?
2. Qual a caracterização jurídica desta instituição? A formalização jurídica desta
entidade foi alterada após a sua fundação? Por qual motivo?
3. A instituição mudou seu foco educacional para se adequar as exigências do setor
público ou a tendência do mercado de trabalho? Justifique
4. A instituição é cadastrada em algum órgão público?
5. O trabalho desta entidade surgiu a partir de qual necessidade? Foi uma
motivação particular dos fundadores ou uma necessidade do setor público e/ou
empresarial?
6. Ao longo dos anos após sua fundação, foi possível notar alguma diferença com
relação ao aumento de incentivos de ajuda a manutenção do trabalho nesta
122
entidade? A partir de que período (ano ou década) este estímulo financeiro pode
ser notado com mais freqüência?
7. Em sua opinião quais as causas que elevaram o número de entidades que
trabalham no setor educacional em Três Lagoas e no Brasil?
II- RELAÇÃO TERCEIRO SETOR, SETOR PÚBLICO E O EMPRESARIADO
1. A instituição recebe benefícios fiscais/ isenção de impostos? Qual (ais) em que
âmbito federativo, municipal, estadual ou federal?
2. A instituição possui algum convênio com o setor público? Em que órgão e que
tipo de convênio? Pode nos informar o valor do convênio?
3. Em sua opinião, o setor público investe no seu trabalho com qual objetivo?
4. Esta instituição possui algum vínculo com o empresariado? Pode nos informar
qual o tipo de recursos disponibilizados? Há alguma contrapartida dos parceiros
para conceder os recursos?
5. Em sua opinião, o setor empresarial vincula-se ao seu trabalho com qual
finalidade?
6. Há fiscalização, auditorias dos parceiros com relação aos investimentos
realizados nesta instituição?
7. A instituição consegue se manter com os recursos recebidos?
8. Existe concorrência entre as instituições com relação a busca de recursos,
alianças com a prefeitura, empresas ou entre novos alunos?
9. Quais são as maiores dificuldades que a instituição enfrentou ou ainda enfrenta?
10. Qual(is) os resultados que a instituição alcançou desde o início dos seus
trabalhos? Pode citar alguns exemplos?
11. Quais as metas da instituição não foram alcançadas e por quais razões?
12. Que metas a instituição tem ainda por objetivo alcançar?
III- A PROPOSTA PEDAGÓGICA E SUA RELAÇÃO COM O PÚBLICOALVO
1. Qual a motivação pela instalação da entidade neste bairro?
123
2. A sede em que esta instituição está instalada é própria? Como se deu o processo
de edificação deste prédio?
3. Qual o perfil da clientela que freqüenta a instituição?
4. Quantos alunos são atendidos pela instituição?
5. É cobrada taxa de manutenção dos alunos?
6. Que projetos educativos são desenvolvidos com o público?
7. As empresas e/ou o setor público fornecem algum material didático que precisa
ser executada pela entidade? Que tipo de recursos?
8. As atividades pedagógicas são formuladas com intuito de alcançar quais
objetivos?
9. Qual parâmetro curricular ou referencial que norteia as atividades pedagógicas
na instituição?
10. Quais são as contribuições pessoais adquiridas pelos envolvidos através do
projeto educacional desenvolvido nesta instituição?
11. Quais as contribuições sociais deste projeto para a diminuição dos conflitos
sociais e do desemprego no município?
12. De que maneira o trabalho educacional desenvolvido nesta instituição contribui
para melhorar o nível social e educacional do município?
IV-CONDIÇÕES DOS RECURSOS HUMANOS
1. Como é a relação da instituição com o voluntariado? Existe algum incentivo por
parte desta instituição? Justifique
2. Quantos funcionários trabalham na instituição e qual a formação destes
funcionários?
3. O número de funcionários que a instituição possui é ideal para a execução das
atividades? Justifique
4. Há muita rotatividade de recursos humanos na entidade? Se houver a que motivo
justifica?
5. Como é o processo de contratação de novos funcionários? É fácil encontrar
profissionais
com
o
perfil
que
a
instituição
procura?
Justifique
124
APÊNDICE 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu ______________________________________________________________
fui convidado (a) a participar desta pesquisa de Dissertação de Mestrado, intitulada: “A
política educacional desenvolvida pelo terceiro setor no município de Três LagoasMS”, que tem por objetivo investigar a constituição do terceiro setor em Três Lagoas”.
Fui informado (a) que minha participação consistirá em responder, voluntária e
gratuitamente, perguntas em entrevistas identificadas apenas por um código.
Fui esclarecido (a) que tudo que disser poderá ser utilizado na pesquisa e em
publicações com absoluto sigilo da minha identidade e das pessoas de quem falarei.
Declaro que o pesquisador que me entrevistou leu e esclareceu todas as minhas
dúvidas deste termo e quanto à minha participação na pesquisa, deixando claro que só
assinasse este termo se me sentisse livre para participar e sabendo que terei liberdade
para responder ou não às perguntas, ou para parar de respondê-las quando quisesse.
Concordo em participar desta pesquisa e assinarei este termo em três vias, sendo
que uma ficará comigo, outra com o pesquisador e a terceira com o orientador da
pesquisa, o Prof. Dr. Hajime Takeuchi Nozaki.
Fui informado(a), ainda que caso necessite de maiores esclarecimentos, poderei
ligar para o telefone (67) 3522-0674 e falar com o Leandro Dias Gomes, autor desta
pesquisa, ou poderei ligar para o telefone (67) 3509-3400 para falar com o orientador
Hajime. Poderei também ligar para o telefone (67) 3345-7187 e procurar algum
representante do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS).
Declaro que recebi todas as informações acima e que participarei desta pesquisa
de forma livre e esclarecida.
Três Lagoas,_________de_______________________de 2013
_____________________________________
Assinatura do (a) Entrevistado (a)
____________________________________
Assinatura do Pesquisador