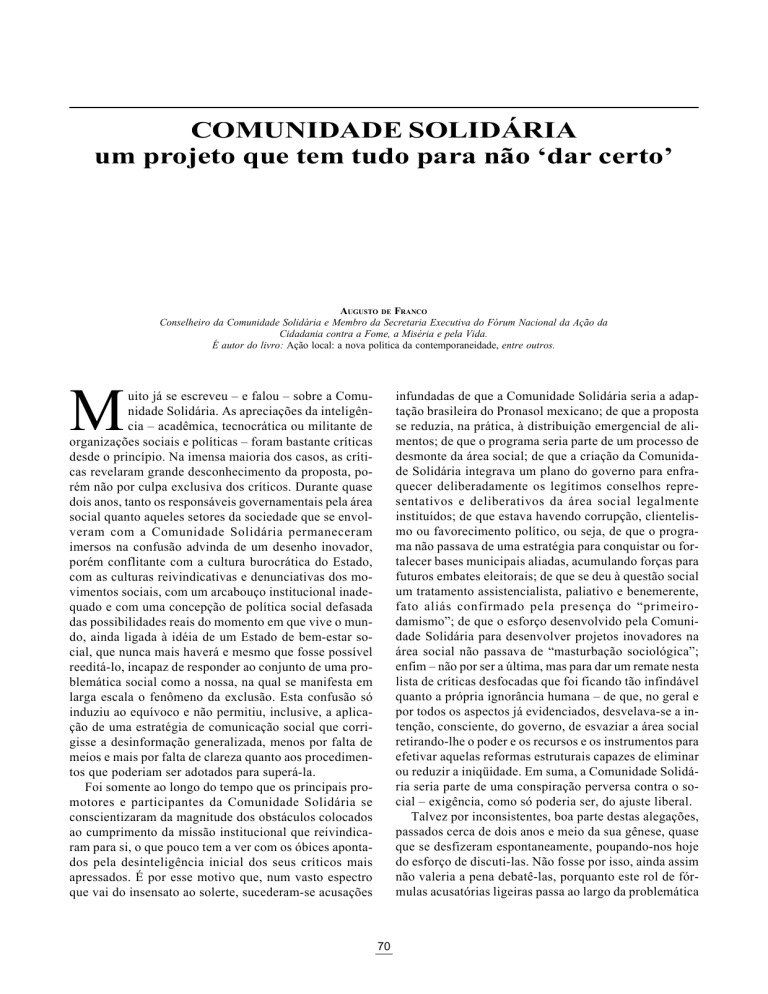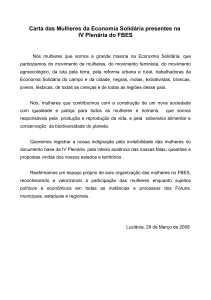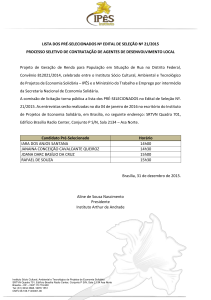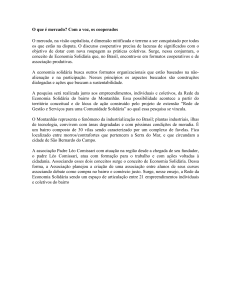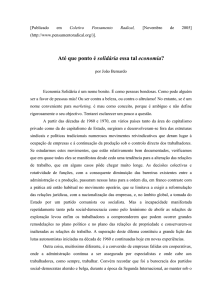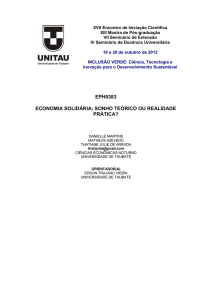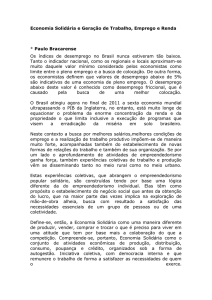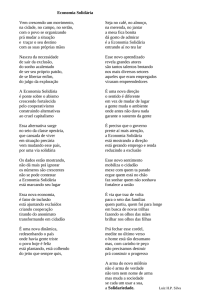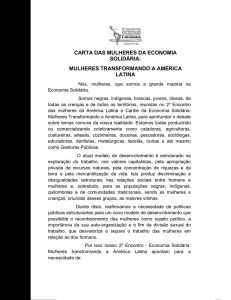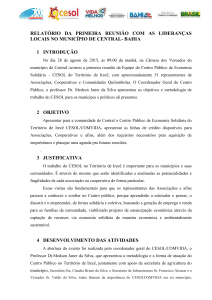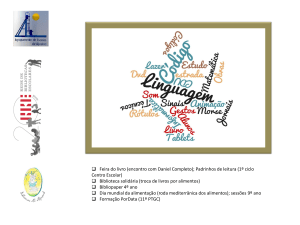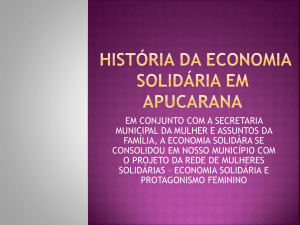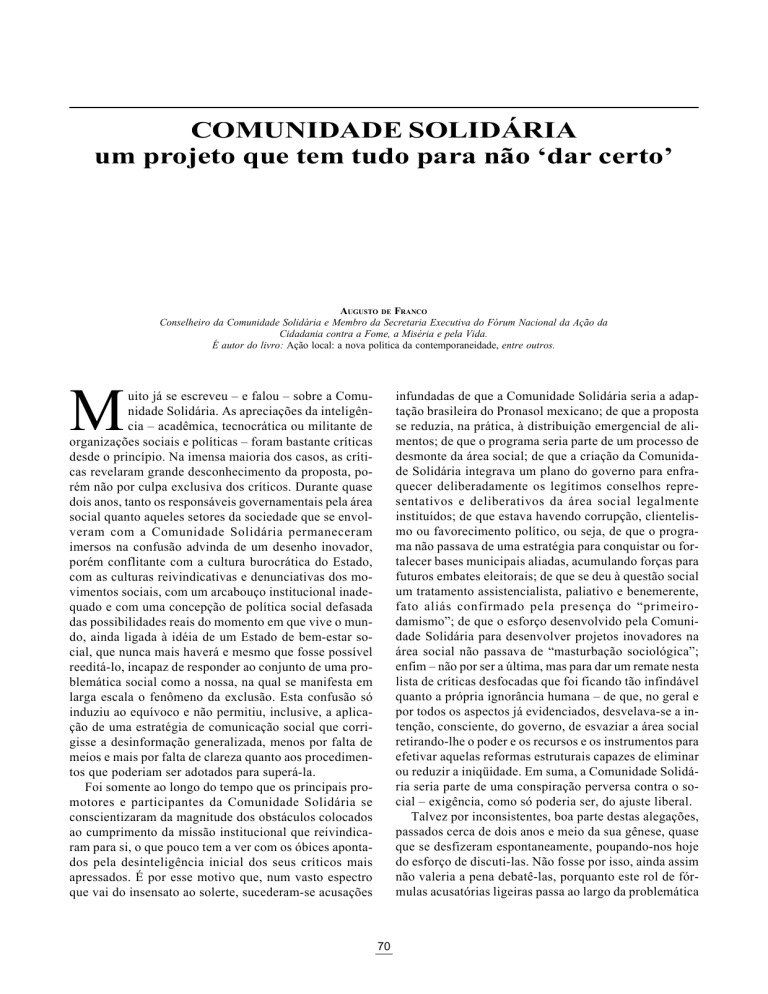
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(3) 1997
COMUNIDADE SOLIDÁRIA
um projeto que tem tudo para não ‘dar certo’
AUGUSTO DE FRANCO
Conselheiro da Comunidade Solidária e Membro da Secretaria Executiva do Fórum Nacional da Ação da
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.
É autor do livro: Ação local: a nova política da contemporaneidade, entre outros.
M
infundadas de que a Comunidade Solidária seria a adaptação brasileira do Pronasol mexicano; de que a proposta
se reduzia, na prática, à distribuição emergencial de alimentos; de que o programa seria parte de um processo de
desmonte da área social; de que a criação da Comunidade Solidária integrava um plano do governo para enfraquecer deliberadamente os legítimos conselhos representativos e deliberativos da área social legalmente
instituídos; de que estava havendo corrupção, clientelismo ou favorecimento político, ou seja, de que o programa não passava de uma estratégia para conquistar ou fortalecer bases municipais aliadas, acumulando forças para
futuros embates eleitorais; de que se deu à questão social
um tratamento assistencialista, paliativo e benemerente,
fato aliás confirmado pela presença do “primeirodamismo”; de que o esforço desenvolvido pela Comunidade Solidária para desenvolver projetos inovadores na
área social não passava de “masturbação sociológica”;
enfim – não por ser a última, mas para dar um remate nesta
lista de críticas desfocadas que foi ficando tão infindável
quanto a própria ignorância humana – de que, no geral e
por todos os aspectos já evidenciados, desvelava-se a intenção, consciente, do governo, de esvaziar a área social
retirando-lhe o poder e os recursos e os instrumentos para
efetivar aquelas reformas estruturais capazes de eliminar
ou reduzir a iniqüidade. Em suma, a Comunidade Solidária seria parte de uma conspiração perversa contra o social – exigência, como só poderia ser, do ajuste liberal.
Talvez por inconsistentes, boa parte destas alegações,
passados cerca de dois anos e meio da sua gênese, quase
que se desfizeram espontaneamente, poupando-nos hoje
do esforço de discuti-las. Não fosse por isso, ainda assim
não valeria a pena debatê-las, porquanto este rol de fórmulas acusatórias ligeiras passa ao largo da problemática
uito já se escreveu – e falou – sobre a Comunidade Solidária. As apreciações da inteligência – acadêmica, tecnocrática ou militante de
organizações sociais e políticas – foram bastante críticas
desde o princípio. Na imensa maioria dos casos, as críticas revelaram grande desconhecimento da proposta, porém não por culpa exclusiva dos críticos. Durante quase
dois anos, tanto os responsáveis governamentais pela área
social quanto aqueles setores da sociedade que se envolveram com a Comunidade Solidária permaneceram
imersos na confusão advinda de um desenho inovador,
porém conflitante com a cultura burocrática do Estado,
com as culturas reivindicativas e denunciativas dos movimentos sociais, com um arcabouço institucional inadequado e com uma concepção de política social defasada
das possibilidades reais do momento em que vive o mundo, ainda ligada à idéia de um Estado de bem-estar social, que nunca mais haverá e mesmo que fosse possível
reeditá-lo, incapaz de responder ao conjunto de uma problemática social como a nossa, na qual se manifesta em
larga escala o fenômeno da exclusão. Esta confusão só
induziu ao equívoco e não permitiu, inclusive, a aplicação de uma estratégia de comunicação social que corrigisse a desinformação generalizada, menos por falta de
meios e mais por falta de clareza quanto aos procedimentos que poderiam ser adotados para superá-la.
Foi somente ao longo do tempo que os principais promotores e participantes da Comunidade Solidária se
conscientizaram da magnitude dos obstáculos colocados
ao cumprimento da missão institucional que reivindicaram para si, o que pouco tem a ver com os óbices apontados pela desinteligência inicial dos seus críticos mais
apressados. É por esse motivo que, num vasto espectro
que vai do insensato ao solerte, sucederam-se acusações
70
COMUNIDADE SOLIDÁRIA: UM PROJETO QUE TEM TUDO PARA NÃO ‘DAR CERTO’
realmente enfrentada pela Comunidade Solidária, da mesma forma como deixa de captá-la o novo discurso crítico
centrado na insuficiência. Diz-se agora que tudo o que
foi feito – vá lá – pode ter sido útil e em alguns casos até
mesmo inovador, mas insuficiente. A revista Veja, na sua
edição de 18 de junho de 1997, exemplifica bem a nova
postura crítica: num “país (que) ainda tem 19 milhões de
analfabetos (...) o Comunidade Solidária atinge menos de
10.000 deles”. Uma vergonha! A esse último tipo de objeção, mais atual, não se poderia escusar uma resposta
também atual – mas o que talvez redunde inútil. Vá-se lá
dizer-lhes que, por exemplo, a “Alfabetização Solidária”
(um programa inovador promovido pelo Conselho da
Comunidade Solidária) é um projeto-piloto, um novo
software que até agora foi testado de propósito em pequena escala para, depois de avaliado, ser expandido progressivamente a uma escala capaz de atender às efetivas
demandas sociais, como, aliás, já começa a ocorrer, pulando de uma dezena para centenas de milhares de
alfabetizandos. Retrucarão estes críticos que isso é um
preciosismo intelectual, de alguém que não tem sensibilidade para captar as urgências sociais, imaginando que
basta vontade política de priorizar a solução do problema, despejando recursos financeiros para ações massivas
de alfabetização, sem saber que, neste caso como em vários outros, se não alterarmos o modo pelo qual os recursos são gastos e não modificarmos o desenho dos programas, estaremos realimentando sistemas que simplesmente
não funcionam.
Porém qual é, afinal, a problemática realmente enfrentada pela Comunidade Solidária? Decorridos 28 meses da
sua criação, cabe uma resposta mais substantiva a esta
questão.
O Conselho e o chamado Programa da Comunidade
Solidária constituem tentativas de promover uma nova
relação entre Estado e sociedade para o enfrentamento
da fome, da miséria, da pobreza e da exclusão social e
uma nova racionalização da atuação do Estado na área
social. Porém, talvez nunca tenham sido apresentados,
de forma assim tão explícita, os pressupostos conceituais que fundamentam a missão institucional da Comunidade Solidária, que podem ser resumidos nas três
formulações seguintes:
- a chamada questão social no Brasil não será resolvida
unicamente pelo Estado. A ação do Estado nessa área,
conquanto necessária, imprescindível mesmo, é insuficiente. Portanto, os principais problemas sociais do país não
poderão ser enfrentados sem a parceria com a sociedade;
Estado não conseguirá adotar uma nova racionalidade que
evite o mal-aproveitamento dos recursos;
- o enfrentamento da pobreza requer convergência e integração das ações. Nenhum resultado ponderável, em termos de melhoria efetiva das condições de vida das populações marginalizadas, poderá ser obtido apenas por
decisão e no plano abstrato da União e dos estados federados, sem que se faça convergir as ações para promover
o desenvolvimento integrado local.
Esses pressupostos colocam a parceria com a sociedade, a articulação intra-estatal e a convergência e integração das ações como novos desafios, para a política social. Ao se colocar tais desafios, a Comunidade Solidária
enfrenta dificuldades de grande magnitude, cuja explicitação pode revelar a problemática global que a envolve.
A primeira dificuldade diz respeito às resistências da cultura burocrática do Estado e das culturas reativas dos movimentos sociais brasileiros de caráter setorial ou corporativo.
Com algumas exceções, os governos, em geral, ainda têm
uma idéia impressionista e negativa, inspirada pela mídia,
ou decorrente de contatos desarmônicos com setores corporativos, mantidos em passado distante ou recente, das possibilidades da participação cidadã. Assim, nas instâncias de
governo, vigora uma impressão geral segundo a qual: a) a
sociedade não está preparada para participar, como protagonista, das políticas públicas de combate à pobreza. Observa-se aqui a vigência de uma visão ultrapassada, segundo a qual o público ainda é considerado sinônimo de estatal
(ou monopólio do Estado); b) a sociedade não pode compartilhar da construção das condições políticas para tomar e
implementar decisões (isto é, da governança) a não ser através de seus representantes eleitos para o Legislativo e para o
Executivo. São desconhecidos aqui os limites das formas representativas tradicionais que, se devem ser mantidas, fortalecidas e aperfeiçoadas, não excluem outras formas participativas pelas quais se aportam novos recursos, necessários
e fundamentais (que o Estado não possui) para dar um outro
impulso ao desenvolvimento; c) a sociedade é encarada predominantemente como uma instância crítica, sempre de oposição ao governo, como um fator que atrapalha o bom andamento dos programas oficiais ou que contribui para desgastar
a sua imagem política dentro e fora do país. Deixa-se de captar
aqui o imenso potencial criativo que jaz em repouso nas esferas mercantis e não-mercantis da sociedade, adotando-se
um parti pris defensivo em relação às organizações sociais.
Destarte, os contatos dos governos com as organizações sociais ainda são cercados de cuidados, para evitar “problemas” e “confusões” que possam prejudicar de qualquer modo
o “bom funcionamento” das instituições.
Evidentemente, diversos setores sociais organizados
contribuíram para que se formasse, dentro das instâncias
de governo, a impressão descrita anteriormente, o que
- uma intervenção eficiente do Estado na área social exige
articulação entre as diversas ações que são empreendidas.
Sem esta articulação, intra-estatal, dos diversos órgãos governamentais, nos – e entre os – três níveis de governo, o
71
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(3) 1997
gerou simetricamente, na sociedade civil, um clima de
desconfiança e de suspeição em relação a tudo o que vem
do governo. Estes preconceitos, de ambas as partes, são o
resultado de uma velha política que ainda é praticada tanto
pelo Estado quanto por boa parte das organizações sociais. Todavia, começam a surgir no país novos movimentos (latu sensu) que procuram escapar da velha polarização situação-oposição e superar a idéia arcaica de que as
mudanças que visam melhorar a vida das pessoas estão
condicionadas à destruição de algum inimigo supostamente responsável por toda a iniqüidade. Por outro lado, notase também uma crescente abertura das instâncias governamentais para a parceria com a sociedade, nos âmbitos
local, regional e nacional, seja através dos conselhos, seja
através da implementação de programas descentralizados
e integrados que exigem a conjugação de esforços com
outros atores não-estatais. Foi unicamente graças a essa
abertura que pôde ser criada e mantida em funcionamento a Comunidade Solidária.
A segunda dificuldade refere-se ao formato institucional inadequado do sistema de organizações governamentais encarregadas da área social que só favorece à desconexão, ao paralelismo e à superposição, à fragmentação
das políticas públicas e à privatização clientelista, empresarial e corporativa do Estado, além de criar todo o tipo
de entraves burocráticos, dificultar a alocação e a liberalização oportuna de recursos orçamentários e financeiros,
reduzindo a capacidade administrativa do governo. Ademais, a divisão atual em ministérios e secretarias setoriais
cria feudos políticos e permite a organização de verdadeiras quadrilhas, o que não favorece a valorização da
dimensão interfacial em cada setor, a priorização das políticas inter-setoriais e a emersão de uma nova institucionalidade transetorial. Foi a partir dessa visão que a Comunidade Solidária colocou entre seus objetivos o de
promover a articulação entre diferentes níveis de governo, visando a melhoria da gestão dos programas governamentais, selecionados em função do seu impacto positivo sobre as condições de vida da população mais pobre.
A terceira dificuldade relaciona-se à própria concepção de política social. Embora o âmbito próprio da Comunidade Solidária seja o do enfrentamento da miséria e
da pobreza, diante do fenômeno da exclusão, mesmo uma
atuação restrita a este âmbito acaba polarizando todo o
campo de ações de proteção e promoção social que são
desenvolvidas quer pelo Estado quer pela sociedade e
questionando a validade de uma política social que não
seja, ao mesmo tempo, uma política de desenvolvimento
– questão que ainda está para ser resolvida, inclusive no
plano teórico.
Com efeito, ainda permanece sem resolução a questão
do encontro das políticas sociais com as políticas de
desenvolvimento (econômico). A política social continua
carecendo de um estatuto próprio. Pensa-se, habitualmente, que as questões sociais serão resolvidas em decorrência do chamado crescimento econômico (com a conseqüente geração de mais empregos e distribuição da renda).
Porém, os fatos não ocorrem dessa forma, pelo menos não
num país com as características do Brasil. O fenômeno
da exclusão brasileira apresenta características próprias,
ligadas, por exemplo, a aspectos raciais, de gênero, etários, de saúde, da miséria, que resistem a investimentos
sociais convencionais. Portanto, é necessário desenvolver políticas sociais específicas de inclusão com caráter
de promoção (e não apenas de proteção social) capazes
de enfrentar as questões da feminilização da pobreza, da
herança histórica de apartação da cidadania dos afrodescendentes, da desqualificação profissional de jovens e da
exclusão de idosos, portadores de deficiência e doentes
crônicos das atividades produtivas e das atividades socialmente significativas. Num país onde se manifesta o
fenômeno da exclusão em larga escala, com profundas
desigualdades sociais e regionais e com áreas resistentes
à emancipação através das políticas universais clássicas,
se a política social não se confundir com uma política de
desenvolvimento, esta tenderá a reproduzir formas assistenciais – sempre necessárias, não há dúvida –, mas que,
no limite, acabam “se alimentando da pobreza” ao se concentrarem na compensação (ou correção) das defasagens
de inserção produzidas pelo chamado “modelo econômico” ou advindas da herança das desigualdades historicamente constitutivas da nação. Em outras palavras, a política social passa a ser uma política sobre os efeitos da
exclusão, em seus diversos aspectos, ficando, por conseguinte, sujeita a ser acusada de não atingir as “causas estruturais” da iniqüidade. A geração e a reaplicação de novos softwares de políticas públicas e de novos “modelos”
socioprodutivos, que consigam escapar da contradição
apontada anteriormente, exigem a ação local integrada e
convergente, envolvendo os três níveis de governo, setores empresariais, organizações não-governamentais e comunidade local. O encontro das políticas sociais com aquelas de desenvolvimento – ou melhor, a co-incidência destas
políticas – deve se dar, necessariamente, no âmbito local,
se se quiser potencializar soluções alternativas na direção da conquista de modos de vida mais sustentáveis, não
baseados predominantemente na (impossível) universalização do emprego e na (limitada) capacidade de atração
de capitais. Só no âmbito local torna-se possível concretizar as múltiplas parcerias entre Estado, mercado e sociedade civil, capazes de multiplicar os recursos disponíveis no sentido de produzir resultados ponderáveis na
melhoria integral das condições de vida das populações
marginalizadas. Mesmo que não tenha sido, explicitamen-
72
COMUNIDADE SOLIDÁRIA: UM PROJETO QUE TEM TUDO PARA NÃO ‘DAR CERTO’
te, com base nesta compreensão que a Comunidade Solidária decidiu focalizar as ações em favor das áreas e populações mais necessitadas, ela é a que responde pelos
fundamentos da orientação adotada.
Mas há ainda uma última – e potencialmente fatal – dificuldade, que diz respeito ao tempo. É óbvio que nenhum
dos desafios mencionados anteriormente pode ser superado
no curto prazo, na duração do mandato de um governo, constituindo tarefa talvez para mais de uma geração. Na melhor
hipótese, em menos de 20 anos, ou antes de 2020 – para usar
um marco temporal que está se consolidando como horizonte
estratégico no Brasil e em outros países do mundo – dificilmente se conseguirá observar os efeitos da superação de tais
desafios em termos da integração massiva dos excluídos. Isso
significa que, por mais que avance no desempenho da sua
missão institucional, sempre se poderá dizer que a Comunidade Solidária não “deu certo” enquanto dezenas de milhões
de brasileiros continuarem marginalizados da cidadania – e
do mercado e da propriedade e da política e da cultura – e
não tiverem acesso satisfatório aos recursos da vida civilizada moderna.
Esta última dificuldade coloca a questão da sustentabilidade política – quer dizer, da continuidade daquelas
políticas de longo prazo – diante da alternância democrática do poder. Tal questão não foi – e nem poderia ser –
resolvida pelo governo federal, muito menos pela Comunidade Solidária (embora o seu Conselho venha procurando contribuir nesta direção através do exercício da
interlocução política, que visa construir progressivamente consensos sobre temas centrais de uma agenda social
para o país, como será visto mais adiante). Ela exige um
entendimento estratégico amplo, um verdadeiro pacto social em torno de prioridades, medidas, instrumentos e
procedimentos de ação que devem ser mantidos para além
dos mandatos dos governantes. As dimensões deste artigo, entretanto, não permitem um tratamento adequado
deste tema tão crucial – matéria, aliás, para uma verdadeira reforma da política nas repúblicas e nos governos
representativos modernos.
Examinando objetivamente o quadro de dificuldades apresentado anteriormente, poder-se-ia concluir que a Comunidade Solidária tem tudo para não “dar certo”. Como não é
um projeto que possa ser implementado centralizadamente,
nem unicamente a partir do Estado, nem sujeito às dinâmicas convencionais da negociação sob pressão com grupos
organizados para defender interesses particularistas, sofre,
ao mesmo tempo, a oposição de todos os estatismos e
corporativismos que ainda vicejam na sociedade brasileira.
Ao procurar se desvencilhar do clientelismo, da política de
balcão e de um assistencialismo que, ao fim e ao cabo, se
nutre da pobreza e a reproduz, conta com a resistência, dentro do que já se chamou de “aparelho de Estado”, de todos
os setores aos quais não interessa a mudança de uma prática
que sempre utilizou a política social como uma moeda de
troca e de promoção política, sobretudo naquelas ações voltadas para o atendimento das populações que não dispõem
de meios para prover suas necessidades básicas. Por último,
não se enquadra nos marcos teórico-programáticos da declinante “Estatal-Democracia” – curiosamente chamada de
Social-Democracia, uma vez que sempre se concentrou na
ocupação e na reforma de velhas instituições estatais, sem
ousar inaugurar uma nova institucionalidade pública a partir da Sociedade Civil. Entretanto, esta nova institucionalidade, à qual se adequaria o desenho inovador da Comunidade Solidária, ainda não existe e sua construção não poderá
se dar da noite para o dia. Em suma, a Comunidade Solidária é uma proposta francamente à frente do seu tempo e que
precisa, para se realizar, de um tempo que não possui. Por
isso não pode “dar certo”. Inexplicavelmente, porém, ela vem
avançando. Exemplos disso são alguns resultados obtidos.
No que se refere à atuação do Conselho da Comunidade Solidária, a apresentação de resultados é problemática, porque pode desinformar mais do que esclarecer, caso
não fique explícito o que ele realmente faz. Para resumir,
o Conselho da Comunidade Solidária busca, fundamentalmente, contribuir para a convergência de esforços entre Estado e sociedade, do ponto de vista tanto político
quanto de projetos concretos de desenvolvimento social.
Sob o prisma político, o Conselho vem realizando, desde
meados de 1996, rodadas de interlocução com o objetivo
de construir uma agenda mínima de consenso sobre prioridades, medidas, instrumentos e procedimentos de ação
social a ser adotados quer pelo governo (ou por outras
instâncias do “primeiro setor” – o Estado), quer por organizações da sociedade (do “segundo setor”, lucrativo –
o mercado; e do “terceiro setor”, não-lucrativo – a sociedade civil). Até o momento, foram realizadas quatro rodadas de interlocução – sobre Reforma Agrária; Renda
Mínima e Educação Fundamental; Segurança Alimentar
e Nutricional; e Criança e Adolescente –, envolvendo
centenas de interlocutores governamentais, empresariais
e sociais e gerando tanto consensos de natureza mais
programática (identificando, 24 prioridades) quanto encaminhamentos concretos (traduzidos em cerca de 80 propostas de medidas), cuja implementação vem sendo acompanhada por Comitês Setoriais formados por membros do
Conselho. Ainda para 1997 estão programadas mais duas
rodadas de interlocução política sobre Alternativas de
Ocupação e Renda e Marco Legal (regulatório das relações entre o Estado e o Terceiro Setor). Tudo deverá resultar, no final do ano, numa síntese preliminar de Agenda Mínima Social para o Brasil.
Por trás desse esforço de interlocução política há uma
determinada visão estratégica que foi sistematizada há
73
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 11(3) 1997
mais de um ano pelos membros do Conselho e que poderia ser resumida nos quatro pontos seguintes:
- existe um “outro lado da moeda”, ou seja, é possível a
convivência de uma política de estabilidade da moeda com
uma política social antiexcludente. Mas para que os efeitos sociais das medidas antiinflacionárias possam criar
condições para um efetivo e adequado enfrentamento da
exclusão brasileira, é necessário que Estado e a sociedade negociem um “real” projeto de desenvolvimento para
a área social, que estabeleça uma nova relação do econômico com o social, na qual este último ganhe atenção semelhante à conferida ao primeiro;
- o reconhecimento da necessidade e da insuficiência do
Estado deve apontar para a busca de uma sinergia Estado-mercado-sociedade civil como caminho para reverter
a realidade da exclusão social;
- para tornar disponível a quantidade necessária de recursos do Estado e da sociedade no enfrentamento da miséria e da pobreza, é preciso desencadear um amplo movimento nacional nesta direção – talvez das proporções de
um new deal –, capaz de dinamizar potenciais que existem, mas que estão adormecidos;
- esta ampla mobilização nacional exige uma solução
política: um entendimento estratégico entre parcela significativa dos principais atores das esferas do Estado, do
mercado e da sociedade civil sobre a importância a ser
dada à questão social e sobre as prioridades e medidas
capazes de traduzir em ação concreta tal atenção.
Do ponto de vista das ações concretas de desenvolvimento social, o Conselho vem implementando, em parceria com o governo, empresas e organizações da sociedade civil, projetos inovadores com o objetivo de gerar
novas abordagens, novas rotinas, novos padrões de atuação e novos modelos de relacionamento que permitam a
reaplicação, em escala mais ampla, dos programas que se
mostrarem bem-sucedidos. Deste ponto de vista, o papel
inovador do Conselho é o de desenvolver experimentos,
testados inicialmente como pilotos, que, uma vez avaliados coletivamente, possam ser realizados na escala necessária para atender às demandas efetivas da sociedade.
Em especial, encontram-se neste processo de transição,
de experiências-piloto para uma escala mais abrangente
de atuação, quatro projetos inovadores, cuja experimentação tem revelado grande potencial de generalização de
novas formas de enfrentamento de problemas sociais de
modo mais eficiente, participativo e descentralizado, envolvendo sempre uma nova relação de parceria Estadosociedade: alfabetização solidária; capacitação de jovens,
universidade solidária; e promoção do voluntariado. Esta
“operação do piloto à escala”, pouco compreendida até
agora, nada tem a ver com políticas assistencialistas e
compensatórias, e só por total desconhecimento ou máfé poderia assim ser confundida. “Do piloto à escala” significa, por exemplo, que um programa bem-sucedido de
capacitação de jovens, que hoje atenda a milhares de pessoas, poderá, amanhã, atingir centenas de milhares e, depois, quem sabe, alguns milhões.
Também não é fácil falar das realizações da parte governamental da Comunidade Solidária, coordenada pela
sua Secretaria Executiva. Em primeiro lugar porque não
é a Comunidade Solidária que promove, banca ou realiza
diretamente os programas – ela apenas prioriza, articula
e estimula a sua convergência em certas áreas escolhidas
a partir de critérios objetivos, fornecidos pela combinação de indicadores de pobreza e indigência. Por trás desses resultados, há um imenso trabalho de organização que
dificilmente se torna visível, existe uma rede de entidades governamentais e não-governamentais, da qual participam interlocutores ministeriais, estaduais e municipais,
autoridades e lideranças municipais, instituições do Terceiro Setor, etc. Assim, apresentar apenas os resultados
numéricos obtidos dificulta a compreensão da proposta
porque, ao invés de revelar, de certo modo oculta o verdadeiro trabalho, quase subterrâneo, da Comunidade Solidária, na articulação entre diferentes níveis de governo
para a melhoria da gestão dos programas selecionados e
na focalização das ações visando a potencialização do seu
impacto. Em segundo lugar, porque a apresentação de
números favoráveis tem sempre um sabor de discurso
oficial, “chapa-branca” – e por isso mesmo inconfiável
ou desconfiável diante da prática manipuladora de nossos governos em passado distante ou recente. Números,
ademais, sempre podem ser questionados – embora neste
caso não o estejam sendo concretamente, quer dizer, com
a contestação de números alternativos, inclusive pela falta de instrumentos de verificação independentes, o que
não deixa de indicar o amadorismo e o despreparo das
oposições sociais e políticas que existem no país. Podese, em terceiro lugar, não gostar dos números apresentados, seja porque são “ruins” ou “pequenos”, isto é, por
demais insuficientes diante da magnitude das carências,
seja porque são “bons” ou “grandes”, atestando o acerto
das ações e com isso fortalecendo politicamente o governo sob cuja responsabilidade tais ações foram empreendidas. Neste último caso, a “lógica” perversa, mas ainda
vigente, da relação política oposição-situação recomenda questionar os números – não tanto os “maus”, mas
sobretudo os “bons”. Esta “lógica” diz que não se pode
reconhecer como boa nenhuma iniciativa que parta do
inimigo político, para não fortalecê-lo, porque, se forem
atestados os bons resultados do inimigo, perderá contundência o discurso eleitoral futuro, invariavelmente baseado na exposição dos maus resultados do governo findante.
74
COMUNIDADE SOLIDÁRIA: UM PROJETO QUE TEM TUDO PARA NÃO ‘DAR CERTO’
Por todos esses motivos, torna-se quase inóquo apresentar números. No entanto, eles estão aí. E a menos que sejamos todos uns farsantes e falsificadores, devem ser levados em conta numa avaliação desse inexplicável
desempenho da Comunidade Solidária.
Todos os programas selecionados pela Comunidade
Solidária aumentaram a sua cobertura. O combate à desnutrição materno-infantil saltou de 250 municípios atendidos, beneficiando 500 mil pessoas em 1994, para 802
municípios, atingindo 1 milhão e 200 mil mães e crianças
em 1996, o que contribuiu para reduzir 45% da internação hospitalar por desnutrição de crianças menores de cinco
anos. O número de agentes comunitários de saúde, que em
1994 era de 29 mil profissionais atendendo 17 milhões de
pessoas, passou para 34,5 mil em 1995, atendendo 20,5
milhões de pessoas, e para mais de 44 mil em 1996, atendendo a 26 milhões de pessoas. Em 1996, cerca de 550
mil famílias foram beneficiadas pelos programas de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários (não
existem dados comparativos porque o programa foi criado em 1996, o mesmo ocorrendo com outros dados fornecidos a seguir). A merenda escolar foi assegurada, no biênio 1995-96, para 33 milhões de alunos das escolas públicas
e filantrópicas de ensino fundamental durante cerca de 160
dias letivos – 60% a mais do que em 1994. Em 1995, foram distribuídos 3 milhões de cestas de alimentos em 525
municípios, enquanto em 1996 este número atingiu 7,5
milhões, atendendo 1 milhão e 500 mil famílias em 1.094
municípios, comunidades indígenas e acampamentos de
sem-terra. Em 1995, o transporte escolar foi levado a 316
municípios, sendo que, em 1996, mais de 624 municípios
receberam esse serviço. Em 1996, 1 milhão e 400 mil crianças dos municípios mais pobres receberam cestas de saú-
de do escolar (contendo creme dental, escovas, óculos,
etc.). Cestas de material escolar (kit aluno/professor/escola) foram distribuídas para 265 municípios, em 1995, e
para 827 municípios, em 1996, nas capitais foi implantado um programa de ação preventiva para diagnosticar, tratar e acompanhar alunos com problemas de saúde, atendendo a cerca de 100 mil escolares da 1a série do 1o grau.
Em 1996, foi implantado um programa de fortalecimento
da agricultura familiar, com a concessão de 650 milhões
de reais de créditos a pequenos agricultores. Na área urbana, um programa de geração de emprego e renda concedeu, em 1995, 173 milhões de reais em créditos a pequenos e médios empreendedores, enquanto em 1996
foram concedidos 440 milhões de reais. Na área rural, foram aplicados, em 1996, 883 milhões de reais, permitindo
a criação e a manutenção de 175 mil empregos. Além disso, 1 milhão e 200 mil trabalhadores foram qualificados e
requalificados profissionalmente em todo o país.
Tudo isso é muito pouco se comparado aos carecimentos sociais básicos da população brasileira. Porém, só por
milagre se conseguirá fazer com que, em mais 18 meses
de trabalho que restam da atual gestão federal, os índices
atinjam os níveis requeridos pelas efetivas demandas da
sociedade. Portanto, deste ponto de vista – poupando-nos
da náusea de ter que ouvir, daqui a alguns meses, mais
esta obviedade retumbando como se fosse uma grande
denúncia –, já se deve concluir, por antecipação, que a Comunidade Solidária não “dará certo”. E também porque, talvez, esta não seja a discussão mais relevante daqui para frente
e sim uma outra: a de saber se ela está ou não está “no caminho certo”. Uma resposta positiva a esta questão deveria
obrigar política e eticamente os próximos governos a assegurarem a sua continuidade.
75