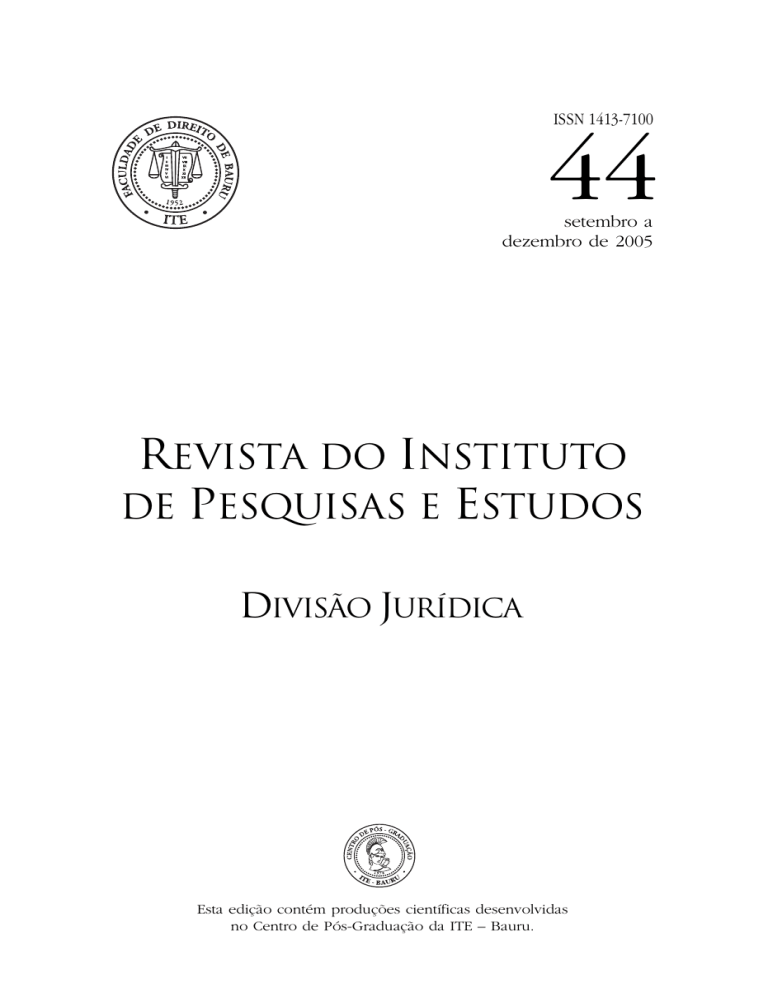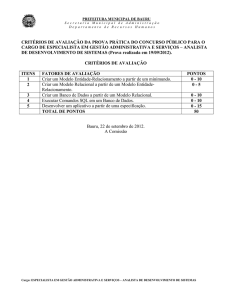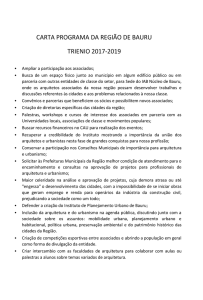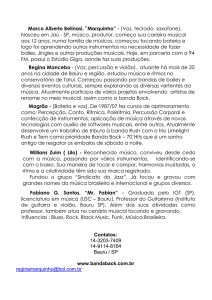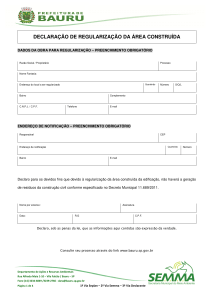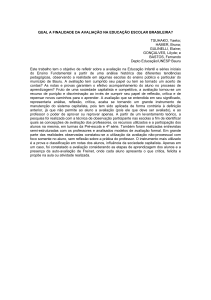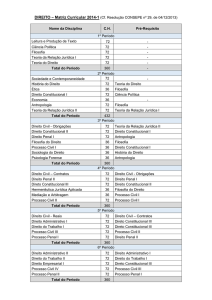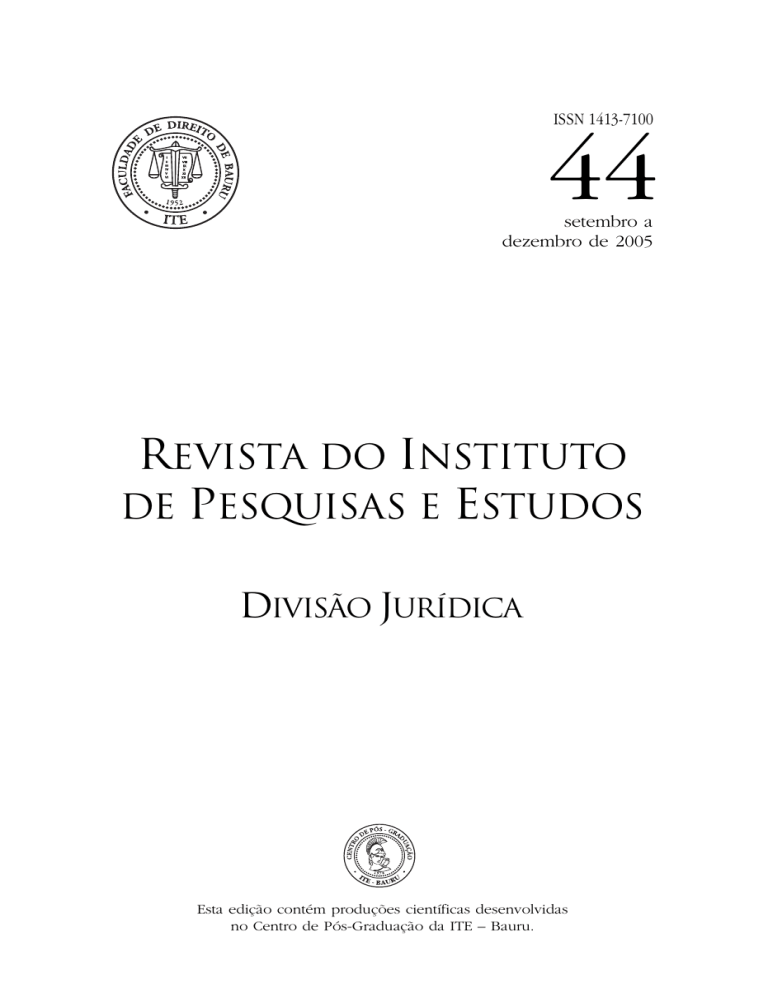
ISSN 1413-7100
44
setembro a
dezembro de 2005
REVISTA DO INSTITUTO
DE PESQUISAS E ESTUDOS
Divisão Jurídica
Esta edição contém produções científicas desenvolvidas
no Centro de Pós-Graduação da ITE – Bauru.
REVISTA DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS (DIVISÃO JURÍDICA)
Faculdade de Direito de Bauru,
Mantida pela Instituição Toledo de Ensino (ITE).
Edição – Nº 44 – setembro a dezembro de 2005
EDITE EDITORA DA ITE
Praça 9 de Julho, 1-51 – Vila Falcão – 17050-790 – Bauru – SP – Tel. (14) 3108-5000
CONSELHO EDITORIAL
Carlos Maria Cárcova, Flávio Luís de Oliveira, Iara de Toledo Fernandes, Luiz Alberto David Araujo, Luiz Antônio
Rizzato Nunes, Luiz Otavio de Oliveira Rocha, Lydia Neves Bastos Telles Nunes, Maria Isabel Jesus Costa
Canellas, Pietro de Jesús Lora Alarcón, Roberto Francisco Daniel, Rogelio Barba Alvarez, Thomas Bohrmann.
SUPERVISÃO EDITORIAL
Maria Isabel Jesus Costa Canellas
COORDENAÇÃO
Bento Barbosa Cintra Neto
Solicita-se permuta
Os textos são de inteira responsabilidade de seus autores
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos : Divisão Jurídica.
Instituição Toledo de Ensino de Bauru. -- n. 1 (1966) – . Bauru
(SP) : a Instituição, 1966 v.
Quadrimestral
ISSN 1413-7100
1. Direito – periódico I. Instituto de Pesquisas e Estudos. II.
Instituição Toledo de Ensino de Bauru
CDD 340
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos n. 44 p. 1-754 2005
ÍNDICE
Apresentação
Maria Isabel Jesus Costa Canellas
11
COLABORAÇÃO DE AUTORES ESTRANGEIROS
Relativismo epistemológico (Berstein, RJ “Beyond objectivism and relativism)
19
Carlos María Cárcova
The acquisition of nationality in Greece. Legal and political aspects
Dimitris Christopoulos
27
COLABORAÇÃO DE AUTORA NACIONAL NO EXTERIOR
Michel Troper
Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira e Silva
67
DOUTRINA
Em defesa da revisão obrigatória das sentenças contrárias à Fazenda Pública
José Carlos Barbosa Moreira
79
Falso testemunho no procedimento do júri
Antonio Carlos da Ponte
89
É possível a construção de uma hermenêutica constitucional emancipadora
na pós-modernidade?
Paulo Magalhães da Costa Coelho
113
Do Direito à Filosofia. A construção dialética da mentalidade social
Roberto Francisco Daniel
129
O julgamento de atos de terrorismo pelo Tribunal Penal Internacional
Fernanda Ruiz & D. Freire e Almeida
139
Descumprimento da transação penal e detração
Marcelo Gonçalves Saliba
157
Princípio da anualidade ou da prévia autorização orçamentária X Princípio
da anterioridade do exercício
169
Francisco Alves dos Santos Júnior
A força normativa das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde
sobre a EC 29/2000
Marcílio Toscano Franca Filho & Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca
187
Emenda constitucional nº. 45/2004 – Uma ligeira visão
Francisco Antonio de Oliveira
199
O sigilo bancário e o direito à privacidade – constitucionalidade da
lei complementar nº 105
Paulo Henrique de Souza Freitas & Fernanda Eloísa Trecenti
209
Da tutela antecipada nas possessórias fundadas na posse velha
Clito Fornaciari Júnior
241
A reparação do dano e a suspensão condicional do processo
Fabio Machado de Almeida Delmanto & Leo Lopes de Oliveira Neto
251
A parte especial do Código Penal brasileiro frente à criminalidade na informática
263
Nelson Burin Neto
A assistência social brasileira e portuguesa: um estudo comparativo
Egli Muniz
281
PARECER
Regime Geral dos Servidores Públicos e especial dos Militares – Imposição
Constitucional para adoção de regime próprio aos Militares Estaduais –
Inteligência dos artigos 40, § 20, 42 e 142, § 3.º, inciso X, do texto supremo
– Parecer.
Ives Gandra da Silva Martins
307
ASSUNTO ESPECIAL
Investigando a parentalidade
Maria Berenice Dias
331
Súmula 309: um equívoco que urge ser corrigido!
Maria Berrenice Dias
341
O direito fundamental à tutela jurisdicional alimentar
Flávio Luís de Oliveira
345
A alteração do regime de bens autorizada judicialmente: como proceder
para que ela produza efeitos?
Lydia Neves Bastos Telles Nunes
369
Desburocratização do divórcio conversão. Projeto de Lei que prevê a conversão automática da separação judicial definitiva em divórcio, decretada
judicialmente, após decorrido o prazo legal
Maria Isabel Jesus Costa Canellas
379
A responsabilidade parental conjunta após a dissolução do casamento
Ney Lobato Rodrigues, Aline Panhozzi & Suéllen S. Marcelino Marques
393
O valor do afeto para a dignidade humana nas relações de família
Cleber Affonso Angeluci
403
O amor como fundamento legitimador do Direito
Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo
417
NÚCLEO DE PESQUISA DOCENTE
Direito de acrescer e substituições testamentárias
Ricardo da Silva Bastos
429
NÚCLEO DE PESQUISAS E INTEGRAÇÃO
A inclusão social das pessoas portadoras de hanseníase
José Luiz Ragazzi, André Mendonça Gebara, Priscila Bettoni Ballalai,
Rita de Cássia Ezaias
457
A integração holística da saúde no direito pátrio
Ney Lobato Rodrigues, Kethleen Schoolten, Suéllen S. Marcelino Marques
473
Reflexões sobre a cirurgia plástica nos portadores de síndrome de down
como fator de inclusão social
José Luiz Ragazzi, André Mendonça Gebara, Priscila Bettoni Ballalai,
495
Rita de Cássia Ezaias
Presunção de inocência no processo
Cláudio Henrique Pereira Gimael
509
NÚCLEO DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA - NIPEC
Argüição de descumprimento de preceito fundamental
Pesquisadora: Ana Luiza Sabbag Decaro
Orientador: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
535
O acesso à justiça na visão popular
Pesquisadora: Raquel C. Alves
Orientadora: Professora Ms. Rossana T. Curioni
547
Poluição eletromagnética. Sua normatividade e o princípio da precaução
Pesquisador: Luiz Henrique Martim Herrera
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
555
Os criminosos da era da informação
Pesquisador: José Augusto Zen Ferri
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
571
Meio ambiente e os impactos das reações químicas industriais
Pesquisadora: Silvana Viana
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
581
Vinhoto. Responsabilidade pelo dano ambiental
Pesquisador: Alexandre Luiz da Silva Felipe
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
593
Lixo urbano
Pesquisadora: Veridiana Simonetti Bacelar
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
601
Publicidade abusiva no Código de Defesa do Consumidor
Pesquisadora: Nathalia Gentil Tanganelli
Orientador: Professor Ms. Silvio Carlos Álvares
Co-orientadora: Juliana Pereira de Almeida Álvares
609
Central de atendimento ao consumidor
Pesquisadora: Anna Carolina de Miranda
Orientador: Professor Doutor José Luiz Ragazzi
619
A união homoafetiva e seus aspectos jurídicos
Pesquisadora: Juliana Salate Biagioni
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
627
Adoção: aspecto jurídico e social
Pesquisadora: Francine Mitie Tanaka
Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro
Co-orientadora: Giselle Yurie Tanaka
639
DIREITO DAS MINORIAS
Reflexões sobre os direitos humanos no mundo muçulmano
Hidemberg Alves da Frota
651
ATIVIDADE DE RELEVO
Rumos do direito eletrônico. IV Congresso Mundial de Direito e Informática
Colaboração: Mário Antônio Lobato de Paiva
683
CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Acesso à justiça
Edson Thomas Ferroni
701
A não-aplicação da medida provisória no direito tributário:
afronta ao princípio da segurança jurídica
Daniela Gentil Zanoni
703
O direito fundamental de resposta
José Mauro Progiante
705
Coisa julgada, segurança jurídica e justiça no sistema normativo brasileiro
Edimara Sachet Risso
709
O papel do estado brasileiro na tutela ambiental das águas superficiais
Kathleen Scholten
713
A citação no direito processual civil brasileiro sob o enfoque constitucional
das garantias do processo
Ana Cecília Marques Faria
715
O conteúdo jurídico do inciso XXXV do artigo 5º. da Constituição Federal,
o direito à prestação da tutela jurisdicional
Roberto Arthur David
719
O princípio constitucional do dever de fundamentar as decisões judiciais no
processo civil
Célio Vieira da Silva
721
A ação de investigação de paternidade e a dignidade da pessoa humana
Márcio Gavaldão
723
Aspectos jurídicos das uniões homoafetivas
Deborah Cristiane Domingues de Brito
725
A eutanásia e a tutela jurídica do direito à vida
Adriana Tayano Fanton
727
A formalização dos tratados internacionais de direitos fundamentais à luz da
Constituição de 1988
Jamile Gonçalves Calissi
729
Trabalho escravo contemporâneo no Brasil: uma faceta da crise de ineficácia dos direitos sociais consagrados no atual texto constitucional
Olga Curiaki Makiyama Sperandio
731
O sistema constitucional de proteção da criança ante a publicidade
Fabiana Junqueira Tamaoki
735
As penas de interdição temporária de direitos e o direito
constitucional ao trabalho
José Carlos Carneiro de Oliveira
737
A definição de autoridade coatora no mandado de segurança
João Roberto Casali da Silva
739
As comunidades indígenas e a constituição:
direitos fundamentais indígenas
Fernanda Eloísa Trecenti
741
A ação popular como instrumento de cidadania
José Canrobert Rocha de Araújo
743
O falido e as garantias constitucionais da privacidade e da intimidade
Luiz Célio Bucceroni
745
Contornos constitucionais do direito à moradia: o direito a um lugar
Sérgio Luiz Ribeiro
747
Os limites do direito de informação jornalística no direito brasileiro
Luiz Henrique Parisi
751
INFORMAÇÕES AOS COLABORADORES
753
APRESENTAÇão
Em boa hora vem a lume a edição n. 44 da RIPE – Revista do Instituto de
Pesquisas e Estudos – Divisão Jurídica – da ITE. Este número comemorativo é
nossa “homenagem ao fundador” porque saúda, de modo especial, o nascimento do saudoso Reitor e a Instituição Toledo de Ensino, pelo seu 55.º aniversário
de fundação.
Mais uma vez nos encontramos para refletir sobre a caminhada da
Instituição... sobre a trajetória do homem que vem escrevendo a sua história. E
o futuro de nossas Faculdades depende desse homem-viagem, em processo permanente, porque esse é o sinal da vida. O significado da vida é isso, criação continuada, construção que se reconstrói a cada momento, em fidelidade à intenção fundacional.
25 de outubro de 1901: na alvorada de um século ainda cheio de promessas, nasceu Antônio Eufrásio de Toledo. Sobre sua trajetória, seu filho,
Professor Mauro Leite Toledo, em um artigo publicado, escreveu: [conforme
o original]
Não é um lamento. Não é desabafo. É uma reflexão.
U’a mensagem de fé.
Aos alunos atuais da Faculdade de Direito de Bauru. À legião
de alunos que por ela passou. Aos meus filhos. Ao meu pai.
Quicquid fit cum virtute.
Fit cum gloria
Ela foi feita com virtude, com arte, com amor. E a glória tem
advindo do brilho dos profissionais que vem formando. [...]
Em mim, fala alto, [...] mais a urgência da constatação de uma
obra que vi nascer. Uma obra que foi a razão de ser e de existir
dos meus pais. Uma obra, cuja força será medida por sua capacidade de recuperação, uma obra que, visitada em agosto de
1954, pelo Dr. Flamínio Fávero, catedrático de Medicina Legal
da USP, mereceu dele um artigo publicado na Folha da Manhã
(SP), do dia 29, do mesmo mês.
Nele, o visitante que proferira palestra, observa:
(...)
O prédio, construído especialmente, já tem prontas três alas com
nove salas de aula, salas para administração, auditório, biblioteca etc... Há um pormenor que não posso omitir e que logo
me impressionou. A construção da fachada foi deixada
12
faculdade de direito de bauru
para o fim. Ainda não se fez. É que a Escola não quer ser
de ‘fachada’, mas uma casa de ensino honesto e rigoroso,
de cultura, de civismo, de plena pregação e compreensão
dos deveres. [grifamos]
(...)
Portanto, aos alunos atuais, transcrevo um pensamento poético, porém, verdadeiro: “É inverno. A terra se cala e dorme; só
na aparência está morta. Mas ela repousa, recupera-se, e no
silêncio de sua neblina, no frio de suas noites sem estrelas, ela
nos sussurra palavras de esperança, de uma primavera em um
futuro bem próximo”.
À legião de ex-alunos, convido para uma visita espiritual à
velha casa. Percorram seus corredores sóbrios, circulem pelo
pátio interno. Apurem os ouvidos e abram o coração. Ouçam...
Vozes e risos ainda surpreendem. Vidas. Lições. Dever cumprido. Testemunho de amor. Responsabilidade. Tudo vive em cada
um de vocês,
[...] pois, em vocês a Faculdade de Direito de Bauru vive; através de vocês, ela fala.
Aos meus filhos, a confirmação dos valores, bebidos desde o
berço. Temos, pela escolha de seu avô, o destino das águias. A
majestade do vôo não implica ausência de riscos. Aos riscos,
respondemos com coragem.
Ao meu pai
Magnífico Reitor Antônio Eufrásio de Toledo.
Descansa. Nós estamos aqui. Formaste Cavaleiros que continuam na busca do Santo Graal que, neste caso, representa a
preservação da Escola, do Nome, da Dignidade.
Descansa. Um dia, muito breve, nós te ofereceremos o Cálice
Sagrado e, com ele, brindaremos juntos o êxito da Instituição.
[conforme o original] ( Jornal da Cidade. Bauru, 30 de maio de
1999, Geral, p. 8).
Infere-se do texto transcrito, que a figura humana do Dr. Antônio
Eufrásio de Toledo transcende às suas realizações, mesclada de forma indissociável à sua obra: pública e reconhecida em variadas cidades e diferentes
Estados de nosso País.
Suas palavras são o testemunho de uma vida e um testamento para as gerações futuras, como documentado em uma carta escrita em 1970 para o filho
Márcio, revelando sua dimensão de homem e pai.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
13
Márcio, meu filho...
Talvez só Deus o saiba, seja esta uma mensagem de quem já se
encontra no princípio do fim, ou talvez no fim de uma vida que
foi vivida de sonhos e anseios, onde o sacrifício não nos abateu,
as dificuldades não diminuíram o meu ideal, as decepções não
me afastaram do caminho que tracei, e os amargos dias foram
por mim vividos pensando em deixar para vocês um NOME, traduzido numa OBRA que vocês deverão concluir.
Fui um Homem que realizou, que fez, que trabalhou, que viveu a
vida que o destino lhe reservou, que muitas gerações dela se valerão, e se recordarão do que pudemos fazer. Já fui moço como você.
Já tive sonhos vazios que vivem no meu pensamento. Sofri muito.
Passei privações. Fui humilhado. Estive preso. Conheço como poucos a vida. Reagi em tempo. Não me deixei levar por idéias vazias,
compreendi que, na liberdade, estava meu destino.
Voltei-me para o trabalho que engrandece, que enobrece, que faz
do homem uma criatura útil aos seus semelhantes. Parti do
nada, tenho comigo a decidida vocação de realizar. Deveria lhe
dizer o que disse, podendo você aceitar ou não minhas palavras.
Como Pai ou Amigo. Como amigo ou como homem, simplesmente como homem experimentado. Guarde, se merecer, estas
minhas palavras para que um dia você melhor me julgue. Pense
por você, pelo seu futuro. Analise os homens com os olhos da realidade. Julgue com ponderação, com o equilíbrio, com o bom
senso. Medite um instante e depois decida.
Não se preocupe em me responder, pois uma resposta envolve
compromissos, e estes devem ser tomados por você e para você
mesmo. Entendo que ainda não completei minha missão, e
mais, entendo que a morte deve me encontrar como sou, como
quero ser, como devo ser, trabalhando sempre, sempre acreditando no Brasil, crendo nos moços.
Com um abraço, aqui fica quem Deus lhe reservou para ser na
vida, seu pai, assim como Ele nos deu, você como meu filho.
A Instituição Toledo de Ensino despontou como projeto educacional no
dia 21 de abril de 1950. Desde então, no constante trabalho do dedicado edu-
14
faculdade de direito de bauru
cador, abria e estruturava novos cursos que pudessem ampliar as áreas do
conhecimento humano, nas quais os jovens estudantes de sua Instituição viriam
atuar e contribuir.
A marca registrada de sua evolução continua sendo, no presente, assim
como em suas origens, o trabalho constante em busca de aprimoramento da
qualidade e atualização. Nesse sentido e, dentre a variedade de opções, um elemento, no entanto, pela sua peculiaridade dentro da realidade brasileira, oferece-nos as condições ideais para nossa reflexão neste número da RIPE. Se não,
analisemos:
O ensino jurídico para o século XXI, segundo Portaria do MEC, exige formação humanística, técnico-jurídica e prática, senso ético-profissional, associado
à responsabilidade social, com compreensão da causalidade, finalidade das normas jurídicas e da busca constante da libertação do ser humano e do aprimoramento da sociedade. Exige, ainda, capacidade de apreensão, transmissão crítica
e produção criativa do Direito, aliada ao raciocínio lógico e à consciência da
necessidade de permanente atualização.
Para atingir tais objetivos, o bacharelando precisa adquirir e/ou desenvolver
as habilidades de leitura e compreensão de textos e documentos, interpretação e
aplicação do Direito; a pesquisa e utilização da legislação, doutrina e jurisprudência; produção criativa do Direito; correta utilização da linguagem etc.1
Perante tais propostas e para atingir todos esses objetivos, decidindo pela
qualidade, a ITE inaugurou novos cursos, reformulando toda a infra-estrutura,
aprimorando, reformando e ampliando os serviços ao acadêmico, tais como:
quadra poliesportiva, centro de convivência, laboratórios de informática, auditório, jardins internos, todas as salas de aula, sala de videoconferência, cartório
e escritório jurídico.
A Faculdade de Direito, fundada em 25 de outubro de 1951, e a de
Educação Física são as mais antigas da ITE. Não obstante, apesar de tradicional,
o método de ensino do curso de Direito é bastante moderno. Um exemplo é o
Núcleo de Prática Jurídica, no qual os alunos têm a possibilidade de aplicar o
aprendizado teórico através de atividades práticas como audiências e júris simulados. Para tanto, o Núcleo conta com um CARTÓRIO e um FORUM Acadêmico,
cujas instalações dispõem de todos os recursos necessários para a formação profissional que o atual mercado de trabalho exige.
Os acadêmicos também têm à disposição o Escritório de Aplicação de
Assuntos Jurídicos, o Núcleo de Atividades Complementares, o Núcleo de
Iniciação à Pesquisa Científica, o Núcleo de Pesquisas e Integração, o Núcleo de
Pesquisa Docente, a Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Divisão
Jurídica (RIPE), os Juizados Especiais.
1
JORNAL FADISC: Informativo Interno da Faculdade de Direito de São Carlos, Editorial, abr./maio, 99, ano 2, nº2.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
15
Neste volume, merecem destaque especial os projetos de Iniciação
Científica dos alunos pesquisadores dos variados Núcleos de Pesquisa Centífica,
inscritos e aprovados pela comissão organizadora do 2º. Congresso Iteano de
Iniciação Científica, realizado no período de 09 a 11 de maio do ano em curso.
Enriquecem, igualmente, nossa REVISTA, as produções científicas desenvolvidas no Centro de Pós-Graduação e em seu Núcleo de Pesquisas e
Integração, fruto dessa integração entre os Professores-Tutores, todos eles,
Doutores, Mestres ou Mestrandos, que trabalham com esses jovens estudantes
do curso de Graduação, selecionados através de concurso público.
O Centro de Pós-Graduação iniciou suas atividades em 1978, com o intuito de aprimoramento do corpo docente da ITE e como instrumento de aproximação dos profissionais da região com o meio acadêmico. Possui cursos de PósGraduação Stricto Sensu e Lato Sensu.
Ademais, a articulação do curso de Mestrado com o ensino de graduação
e a pesquisa desenvolve-se através do já referido, Núcleo de Pesquisas e
Integração, que objetiva o despertar para a importância da investigação científica. Os estudos científicos e pesquisas desenvolvidos no Curso de PósGraduação, credenciado pela CAPES, que tem como tema central “Sistema constitucional de garantia de direitos” são publicados nas edições da RIPE e em variadas obras e periódicos do País.
Ao cabo de mais um ano de atividades, este volume 44 da Revista do
Instituto de Pesquisas e Estudos da ITE – Divisão Jurídica – à guisa de comemoração, é dedicada ao seu fundador e à sua obra e, por essa razão especial,
apresenta um perfil também especial e diferenciado, pela qualidade dos artigos
apresentados e pela amplitude do número de docentes colaboradores e alunospesquisadores, tanto do Curso de Pós-Graduação como da Graduação, principalmente aqueles pertencentes aos variados Núcleos de Pesquisa Científica. No
mesmo sentido, os trabalhos produzidos pelos nossos ilustres pesquisadores
convidados, de outras Instituições de Ensino, nacionais e estrangeiros, oferecem
temas inéditos, enriquecidos pela contemporaneidade e o interesse jurídico.
Objetivando uma releitura do novo estatuto civil brasileiro, a seção especial oferece matéria atualíssima, envolvendo aspectos polêmicos ou inovadores,
frente à nova visão do Direito de Família no século XXI.
A heterogeneidade de temas apresentados não retira o brilho da produção
da Revista. Pelo contrário, entendemos que aí se encontra o desafio do Direito,
de uma maneira geral, no século XXI e, coincidentemente, é nisso que reside
exatamente o interesse maior dos leitores e colaboradores.
Por fim, recolhendo os gemidos dos homens e da criação inteira, poderemos inserir nossa Instituição no “saber universal”, fazendo uso de uma linguagem simbólica. Assim, estaremos tematizando essa polifônica sinfonia dos corpos sacrificados que buscam provar as reais capacidades intelectuais humanas, a
16
faculdade de direito de bauru
exigir novos olhares para os debates que possam dar conta de compreender,
finalmente, a pessoa humana plena, o cidadão. Portanto, ao proclamar a esperança de redenção da vida, nesta última edição da RIPE, referente ao ano 2005,
cada aniversário se torna um renascer.
Outubro de 2005
Maria Isabel Jesus Costa Canellas
Colaboração de
autores Estrangeiros
Relativismo epistemológico
(Berstein, RJ “Beyond objectivism and relativism)
Carlos María Cárcova
Professor Titular Ordinário de Filosofía del Derecho e Director Del Instituto de Investigaciones
Juridicas “Ambrosio L. Gioja” de la Faculdad de Derecho da Universidad de Buenos Aires (UBA).
Palabras-clave: Filosofía de la modernidad, conocimiento científico, el absolutismo y el
relativismo cognitivo, debate epistemológico, la verdad, la racionalidad humana.
La filosofía de la modernidad se desarrolla marcada cartesianamente por la
búsqueda incesante de un fundamento absoluto para el conocimiento científico.
Se afirma que con Hegel se expresa esa búsqueda como culminación de una
racionalidad totalizante y totalizadora. (No pocos autores han sostenido que esa
racionalidad totalizante fue usada como fundamento por los totalitarismos del
siglo XX, en especial por el nazismo).
Se trataba de encontrar un fundamento de carácter cognitivo único, fijo,
invariable y seguro. Esta tendencia, que sigue presente en la filosofía de nuestra
época, comienza a ser audazmente confrontada por la aparición de un autor
como Nietszche quien, en cambio, exaltó los beneficios de lo múltiple, de lo
abierto, de lo incierto, esto es, de una razón plural.
¿Qué es la verdad?, se preguntaba este pensador (“Sobre la verdad y la
mentira en sentido extramoral”) y se respondía:
una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismo; en resumidas cuentas una suma de relaciones humanas realzadas, extrapoladas y adornadas, poética y retórica-
20
faculdade de direito de bauru
mente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de
las que se ha olvidado que lo son, metáforas gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son
ahora consideradas como monedas, sino como metal.
De modo que la verdad se presenta ahora con el mismo estatuto de la ficción. Ya no será más adecuatio rei ad intelectum, sino aquella interpretación de
los hechos o de la realidad, que resulte favorecedora de la vida.
Por cierto, este relativismo cognitivo aparece como una teoría más realista, pero ofrece más desasosiego, en cuanto representa menor seguridad.
Cuando la explicación científica, cualesquiera fueran sus presupuestos, avanzó
sobre el mundo encantado de los mitos y de las fábulas establecidas por centurias, no produjo menor grado de inseguridad, porque obligó a los hombres a
modificar drásticamente sus representaciones del mundo.
Contemporáneamente, la confrontación entre los modelos del absolutismo y
el relativismo cognitivo sigue estando presente en el desarrollo del debate epistemológico. Pero el papel dominante que durante buena parte del siglo XX tuvieron
las tradiciones objetivistas, se ha visto conmovido por la heterodoxia de algunos de
sus representantes y por la relevancia crítica de algunos de sus oponentes.
En este texto que en lo sustancial recoge con afán divulgatorio los estudios
de J.R. Berstein expuestos en “Beyond objectivism and relativism”- Blackwell,
Oxford, 1987- haremos esquemáticas referencias a unos y otros.
PETER WINCH Y LAS SOCIEDADES “OTRAS”
Como es conocido, este autor fue el introductor de la filosofía del segundo Wittgenstein en el campo de las ciencias sociales y, particularmente, de la
sociología. Inscribió sus tesis en la corriente del comprensivismo epistemológico y siguiendo las ideas de Alfred Schutz, reivindicó como concepto central el de
“proceso de socialización”, pero básicamente el de socialización lingüística. La
realidad era susceptible de ser comprendida, porque los hombres compartían
un juego de lenguaje desde el cual tal realidad se mentaba. La nota polémica la
introduce nuestro autor, cuando en su texto “Comprendiendo la Sociedad
Primitiva” (“Understanding a primitive society, 1964) sostiene su idea de inconmensurabilidad. Sostiene allí que los juegos del lenguaje, productores de sentido, son necesariamente contextuales e históricos y ello determina un problema
en relación con la posibilidad de realizar objetivamente, juicios morales acerca
de acciones que se desarrollan en los marcos de una cultura diferente.
La interacción humana no puede aprehenderse sino existe un lenguaje
común, pues el lenguaje no puede adquirirse sin adquirir al mismo tiempo
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
21
conocimiento acerca de las “formas de vida” con él asociadas y, ciertamente,
como lo prueban hoy las luchas político-militares del mundo global, puede existir inconmensurabilidad de las formas de vida.
A pesar de todo, Winch no se reivindica a sí mismo como un relativista,
porque entiende que es posible vencer las barreras que suponen las diferencias
culturales, a través del diálogo tolerante entre distintas concepciones de la vida.
La cuestión es que no puede soslayarse la complejidad que está radicada en la
precaria objetividad con que el intérprete de una cultura que no es la propia,
pueda observar y comprender una cultura otra, es decir, distinta. Desde el punto
de vista de Winch, debe rechazarse la idea, cara a la tradición positivista, de que
el conocimiento supone la existencia de matrices prefijadas y ahistóricas. Al contrario, éste debe considerarse como contextual, situado y abierto, en el marco de
un lenguaje y una forma de vida determinados. Y esta idea vale para todo conocimiento, aún el de las ciencias naturales. En su polémica con Jarvie, autor que
reivindica la tradición objetivista y externalista del conocimiento, Winch afirma
que la realidad extralingüística existe, pero subraya la importancia de la pregunta acerca de cómo se llega al conocimiento de esa realidad y cómo se aíslan,
además, nuestras propias convicciones y representaciones ideológicas. El positivismo ha ignorado siempre el papel jugado por los factores ético-prácticos, tanto
como el hecho de que, sin comunicación, no es posible conocer la realidad.
Comprender una cultura será, pues, entender y dar cuenta de su sentido,
al interior de la sociedad que la genera. Para ello, es preciso descartar la superioridad acrítica de la cultura propia, esto es, descartar todo etnocentrismo y
recorrer el camino del diálogo y los intercambios de experiencias comunes,
generando una sabiduría práctica fundada, en una razón práctica.
GADAMER: OTRA ONTOLOGÍA
Hans Gadamer (“Verdad y Método”, 1960) es un continuador del pensamiento comprensivista propio de la tradición alemana iniciada por Dilthey. Este
autor opone a la ilimitada expansión del pensamiento positivista y cientificista el
mérito de una hermenéutica que reivindica los logros de la filosofía práctica aristotélica, de la tradición medieval que culmina en Vico y de aspectos de la fenomenología y el pensamiento de Heiddeger. Gadamer pone en crisis el legado
cartesiano y sus dualismos clásicos (mente-cuerpo; sujeto-objeto; naturalezasociedad; etc.) y, con ello, la búsqueda obsesiva de un fundamento único y la reivindicación del método matemático ejercitado por una razón abstracta, universal y exenta de contingencias históricas. Según Gadamer, Descartes se apoya en
una errónea concepción del ser y, particularmente, del ser en el mundo, lo que
acarrea también, consecuencias erróneas epistémicas y metódicas. De modo que
el autor centra su crítica en una cuestión de naturaleza ontológica. Según él, el
22
faculdade de direito de bauru
modo de ser y actuar de los seres humanos no puede comprenderse ni interpretarse si se excluye la consideración de fenómenos tales como el arte y los juegos. Siendo la realidad dinámica solo es posible entenderla auténticamente a través de un proceso hermenéutico que no implica relativismo sino la posibilidad
de diferentes interpretaciones, respecto de las cuales es posible distinguir a unas
como mejores que las otras. Dicho de otro modo, solo es posible acceder a lo
real a través de los sujetos, es decir, que nuestro ser en el mundo consiste en ese
proceso subjetivante. Un proceso con diversas etapas; en la primera, estamos en
el nivel de la precomprensión, básicamente fundada en el prejuicio. Junto a ella
juegan los elementos heredados de la tradición y de la autoridad que se legitiman a través de intercambios dialógicos. Conocer implica construir ese círculo
hermenéutico que supone la inexistencia de datos brutos. Nuestros puntos de
partida siempre son datos interpretados o construidos, por ello, no hay ciencia
exenta de valores, pues siempre encontraremos una dimensión práctico-histórica del conocimiento. Ciertamente los horizontes interpretativos pueden ser diferentes pero deben hallarse abiertos a otros horizontes interpretativos y consecuentemente, con capacidad para cambiar y fusionarse entre sí. Y esos horizontes tienen como hábitat natural el lenguaje. De allí la centralidad epistémica que
el mismo posee.
La verdad pasará a ser así, en este contexto, no un dato previo, externo e
inmutable sino el resultado de un proceso hermenéutico. Verdad es para
Gadamer “lo que puede ser argumentativamente válido para la comunidad de
intérpretes”.
Winch y Gadamer integran con Dilthey, Weber, Schutz y Davidson, entre
muchos otros, la pléyade de representantes de la corriente comprensivista.
Pero otros autores más próximos a la tradición explicativista se han separado de sus expresiones más ortodoxas. Por ello han se los denomina frecuentemente como post-empiricistas.
THOMAS KUHN Y LA INCONMENSURABILIDAD DE PARADIGMAS
Como es muy conocido, en su ya clásica obra ”La estructura de las revoluciones científicas” (1962), este autor produjo una fuerte conmoción al interior
de la tradición explicativista, que ya el falsacionismo popperiano había iniciado
con anterioridad. Con Kuhn se modifican radicalmente aquellas concepciones
que veían en la ciencia un largo proceso acumulativo e incesante de lucha del
hombre contra la ignorancia y la superstición. La novedad es que ahora la evolución científica no se concibe ya como un continuo progresivamente más
amplio y consistente sino, al contrario, como una ruptura, una caída, una superación de un cierto modelo explicativo al interior de una rama del conocimiento y su reemplazo por otro que lo contradice y lo supera. En realidad, la idea que
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
23
desarrolla Kuhn con tan apreciable, éxito no es totalmente novedosa. En la tradición francesa, Gastón Bachelard, veinte años antes, había mostrado (luego lo
reafirmaría Popper) que la ciencia avanzaba solo cuando conseguía refutar un
conocimiento tenido hasta ese momento por válido. De allí el nombre de su primer libro, denominado “Filosofía del No”. También Bachelard desarrolla el concepto de “ruptura epistemológica” con connotaciones que lo homologan con el
de “revolución científica” utilizado por Kuhn. Volviendo a éste último: él sostiene la idea de que la ciencia está constituída por visiones paradigmáticas o por
paradigmas, más tarde (“La tensión esencial”) las denominará matrices explicativas y ellas serían el conjunto de principios entramados, lógicas de funcionamiento y prácticas científicas, propias de un determinado momento histórico.
Podemos hablar así, por ejemplo en el campo de la física, de un paradigma
copernicano y más tarde de un paradigma newtoniano y más tarde de un paradigma relativista, del big bang, de las estructuras disipativas, etc. La vigencia y
sustitución de los paradigmas se materializa en etapas diferentes que nuestro
autor caracteriza. Así, puede hablarse de una visión preparadigmática, que corresponde al momento donde no existen acuerdos firmes y claros en la comunidad científica, acerca del mejor modelo capaz de dar cuenta de un cierto sector
de la realidad del mundo (por ejemplo, el del mundo de la física). A esa primera etapa seguiría la de un paradigma que ha conseguido tornarse dominante,
porque ha terminado por ser reconocido universalmente. En ese momento, existe lo que Kuhn llama una etapa de “ciencia normal”. Pero la continua observación y experimentación termina por alcanzar experiencias refutatorias que se
constituyen poco a poco en “anomalías del modelo”. Cuando estas anomalías
son considerables, aparece un momento que es propio de la ciencia extraordinaria, es decir, un momento en donde hay lucha de paradigmas (vg.
Newton/Einstein). Ese es un momento de incompatibilidad y de inconmensurabilidad de los paradigmas. Hasta que nace un nuevo paradigma dominante y se
reconstituye el modelo de ciencia normal.
Pero el dato que escandalizaría a un positivista ortodoxo es que desde el
punto de vista de Kuhn, el tránsito de un paradigma a otro no está siempre fundado en términos racionales. Media también lo que él denomina “conversión”.
Es decir, cambios en los valores y en las visiones sociales que implican deliberación y elección de finalidades, al mismo tiempo que racionalidad. Esto ocurre,
claro está, al interior de una comunidad científica y de sus prácticas sociales,
jugando en ese proceso un rol fundamental, la socialización educativa de sus
integrantes.
Naturalmente, estos criterios conmueven al pensamiento tradicional, tanto
como su noción de inconmensurabilidad. Sin embargo, dicen los kuhneanos,
deben distinguirse tres conceptos diferentes: incompatibilidad, inconmensurabilidad e incomparabilidad. Las teorías son compatibles cuando no existen entre
24
faculdade de direito de bauru
ellas contradicciones lógicas. Son, en cambio, inconmensurables cuando no contamos con un lenguaje neutral que permita comparar cada una de sus conclusiones y consecuencias punto por punto. Sin embargo, este modo de presentar
las cosas no incurre en un relativismo radical, porque afirma que de cualquier
manera las teorías, en general, son comparables siempre y susceptibles de juicios racionales de preferencia.
De todas maneras la ruptura de Kuhn con la tradición objetivista es moderada, si se la compara con las del más audaz de sus colegas a quien nos referimos en el punto siguiente.
PAUL FAYERABEND Y EL MÉTODO ANARQUISTA
Las ideas de este singular pensador se divulgan en los años setenta, básicamente a través de su trabajo denominado “Contra el método” y de un libro
posterior que tituló “Por qué no Platón”. Se trata de un polemista filoso e inteligente en buena medida desacreditado por su fuerte perfil crítico.
Sostiene la idea de que junto con las metodologías tradicionales debe contarse, al mismo tiempo, con otras que contengan el error como ingrediente.
Su argumento es que la historia misma de las ciencias muestra que buena
parte de los más importantes descubrimientos es producto de fallas metódicas,
de desviaciones experimentales o de meras casualidades. La ciencia trasmitida ha
simplificado y adulterado los procesos realmente acaecidos, impregnándolos de
una lógica racionalista. Sin embargo, como dice Bunge, no hay teorías sino hombres que teorizan. No debe pues prescindirse de elementos no racionales en el
desarrollo del pensamiento científico. La ciencia no puede entenderse sin referencia a valores, por eso, él instala el principio del “todo vale”. En otros términos, ciertos procedimientos inusuales y sorpresivos pueden terminar echando
luz y aportando claridad mayor, inesperada y gratamente. Por ésta razón propone, por ejemplo, incorporar procedimientos contrainductivos, que resultarían
de introducir en el marco investigativo hipótesis no consistentes con teorías ya
establecidas o con hechos ya establecidos. Otra sugerencia es la de implementar
procesos de “proliferación”, inventando teorías inconsistentes con los denominados paradigmas normales.
Siguiendo la saga de Stuart Mill, sostiene que una metodología pluralista
resultará útil no sólo para el avance del conocimiento sino también para el de
nuestra propia individualidad. La sociedad capaz de encarar estas prácticas será
una sociedad de hombres auténticamente libres. Cada refutación de lo ya establecido, nos permitirá abrirnos a conocimientos nuevos y devolverá a nuestras
mentes libertad y espontaneidad que son sus propiedades más preciadas. Se
muestra abierto a la filosofía de Hegel porque entiende que ella invita al cambio
y a la interconexión entre conceptos y hechos, sujeto y objeto, etc., lo que recu-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
25
sa nuestras parálisis habituales. El autor reniega de todo dogmatismo y se afirma
como un relativista entusiasta al afirmar:
La ciencia no tiene la prerrogativa del conocimiento, ni siquiera del conocimiento paradigmático. La ciencia es conocimiento
tanto como lo son los mitos, los cuentos de hadas, las tragedias,
los poemas épicos y otras creaciones de filiación no científica. A
veces, éstas últimas son las únicas explicaciones disponibles que
hacen justicia a la complejidad de los fenómenos. No existen
ciencias en el sentido de los racionalistas. Sólo hay humanidad.
RICHARD RORTY: DE LA REPRESENTACIÓN A LA CONVERSACIÓN
La obra fundamental de Rorty, publicada en 1979, se denomina “La filosofía y el espejo de la naturaleza”. Este importante filósofo norteamericano, de
enorme predicamento en el pensamiento contemporáneo, influenciado por el
pragmatismo de James y de Dewey, se presenta como un deconstruccionista
antiobjetivista.
Desde su perspectiva, la tradición moderna de la epistemología
(Descartes, Locke, Kant), ha quedado embretada en la metáfora de la representación. Se trata de una idea que concibe a la mente humana como un gran espejo en el que se proyectan diversas representaciones de la realidad, algunas exactas y otras no, pudiendo todas ellas estudiarse a través de métodos puros, formales, no empíricos. En consecuencia, para ese punto de vista que él critica, lo
que denominamos conocimiento científico debe asimilarse a una representación
exacta de lo real.
Pero Rorty, siguiendo la saga de James y de Nietszche, no cree que la cultura deba basarse en un fundamento único y fijo. Comparte así, visiones como
las de Wittgeinstein, Heidegger y Dewey, todos los cuales no pretenden desarrollar un modelo alternativo al del objetivismo explicativista, sino trastocar radicalmente los marcos de referencia del debate. Se trata en expresión de Rorty, de
pasar del “discurso epistemológico” al “discurso hermenéutico”, con lo cual
renunciaríamos al incumplible ideal de fijeza, en aras de seguir pensando.
Desde Dewey, la verdad aparece como la “justificación social de la creencia”. En esa misma línea, Sellars y Quine, sostienen que la justificación de un
cierto conocimiento no consiste en una relación entre palabras y objetos, sino
en la conversación y la práctica social.
Desde luego, un esquema como este demanda comprender y compartir
los juegos lingüísticos, productores de sentido, para dar continuidad conversacional a la experiencia cognitiva. De este modo, la racionalidad humana se sitúa
en dimensiones ampliadas.
26
faculdade de direito de bauru
La filosofía de nuestra época, aquella que alude a la condición posmoderna del conocimiento o al pensiero devole, se despliega con acentos plurales,
paradójicos y complejos, con el fin de entender las experiencias cognitivas.
Con estos planteos y los que provienen de los desarrollos de la teoría lingüística en relación con las prácticas de producción de sentido, por una parte, y
por la otra, los que aportan las teorías sistémicas con su arsenal sofisticado de
insumos provenientes de la neurociencia, la biología, la cibernética de segundo
orden, etc. El panorama de la epistemología actual se ha complejizado y al
mismo tiempo enriquecido, de manera notable y seguramente proficua.
C. M. Cárcova.
Marzo, 2005
The acquisition of nationality in Greece.
Legal and political aspects
Dimitris Christopoulos
Lecturer at the Department of Political Science and History of the Panteion University.
Master in Law - Univ. Strasbourg.
Doctor in Law - Univ. Amiens - France.
Keywords: The Greek nationality, structural contradiction of the model, social integration of migrants, non-Greeks, ius sanguinis principle.
1. ‘GENOS’: THE KEY CONCEPT OF GREEK NATIONALITY
Greek nationality law is based on the principle of origin Ius sanguinis, i.e. the
automatic acquisition of the father’s nationality at birth, irrespective of where the child
was born, is already identified since 1856, in the first article of the Code of Greek
Nationality: ‘The child of a Greek male or female acquires Greek nationality at birth.’1
The most significant intersection ever registered in the Greek nationality
law is the addition, in 1984, of the word ‘Greek female’ to the previous article,
following the modernisation of the provisions of the Greek Civil Code with
regard to the implementation of gender equality.
The Greek term for nationality is ithageneia. The term ithageneia is deeply
etched on Greek history, as it refers to the comprehensive character of the orthodox genos (descent). One may define as genos, the religious community of the
rebel orthodox population within the Ottoman Empire, who in the course of the
19th century, is gradually transformed into the Greek nation.
1
And even earlier, as we are going to examine in the relevant chapter, in the so-called
‘Revolutionary Constitutions’ of the 1820s.
28
faculdade de direito de bauru
Differentiating between national and foreigner, the law of Greek nationality draws, in regard to the individual’s descent, the additional distinction
between member of the greek-orthodox genos, that is, homogenis and the person of different descent, of another genos, that is, allogenis. This additional distinction between the two categories of homogenis and allogenis, is under a continuous historical and political negotiation: the most exciting aspects of the history of Greek nationality are related to this negotiation.
In Greece one meets all possible types of combination of the above-mentioned different meanings. In the firm image of the Greek national-homogenis,
appears the revealing exception of the national-allogenis, which refers to persons
belonging to minorities in Greece or to naturalized foreigners. The rule of foreigner allogenis carries the exception of the foreigner homogenis, i.e. the Greek
of Diaspora, who is either member of a Greek minority abroad or emigrant.
The rule for acquiring Greek nationality at birth is followed by two regulations relating to persons who, while not having been born with Greek nationality, wish to acquire it. The procedure for acquiring nationality by foreigners is
the naturalisation procedure, which foresees very strict deadlines and preconditions, including a ten years permanent lawful residence in the country before the
naturalisation application is submitted. The second procedure is the one of
nationality definition for persons who manage to prove before the competent
Greek authorities that, not only they are of Greek descent but that they actually
‘behave as Greeks’, as mentioned in the relevant circulars for the implementation of the law. The use of the term ‘definition of nationality’ shows that, according to the Greek law, a determining feature of this act consists in the fact that the
parts meeting all the prerequisites, i.e. Greek descent and national consciousness, exist as such before the procedure of the nationality definition. The administration simply ascertains the existence of the certain prerequisites.
According to a Ministerial Circular of 1960:
‘Irrespective of the historical origin of the content of the term(s), it is necessary to point out that the Ministry, in its interpretation of the terms ‘homogenis’ and
‘allogenis’, did not consider as unique criterion the racial origin of the individual.
On the contrary, in compliance with the opinion of the Nationality Council and the
relevant opinions in the field of theory, the Ministry had always accepted that the
main criterion for the distinction between homogenis and allogenis is the national
consciousness. (…) The racial origin or the national descent of the individual does
not define on its own the sense of homogenis and allogenis, but constitutes subsidiary element for appreciation in the specific judgment.’2
2
Cf. Ministry of Interior, Circular 412, 19.12.1960 ‘Regarding the meaning of the terms ‘homogenis’ and ‘allogenis’ within the Greek Code of Nationality’. Forty years later, in another circular of the Ministry of Interior providing relevant guidelines to the authorities with regard to
the application of a new law, we read that an homogenis foreigner is a person not having the
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
29
Greek legal order uses the term homogenis to define the non-Greek citizen of Greek ethnic origin. As this composite word describes, homogenis is a
person who makes part of the same genos (descent), thus of the same nation,
while he is a citizen of another country. The principle that lies behind the legal
status of homogenis is that the individual is of Greek descent. However – and
surprisingly enough - what is decisive is his ‘Greek national consciousnesses’.
The latter is defined as the link with the Greek nation in terms of common language, religion and traditions. In this sense, and if the argument is examined in
its extreme version, an individual may be considered and recognized as homogenis, even if he has no Greek origin through a blood parentage. Greek national
consciousness would suffice. However, in practice this is never the case. The
norm is that the criteria of origin and consciousness are either employed cumulatively or the ethnic origin criterion prevails. As we are going to see later, the
administration requires a case-by-case examination, in order to determine a
sense of belonging and an ethnic membership.
At the same time that recourse to the subjective political criterion related
to a national is used, in order that homogenis foreigners can acquire Greek
nationality, it is also possible to exclude from the nationality status those Greeks,
who the authorities believe that do not share a Greek national consciousness. In
the course of the Greek history of the 20th century, the main target groups of
nationality withdrawals have been the Greek left dissidents, as well as individuals belonging to national minorities. The history of Greek nationality has a separate lengthy chapter in legislation and practices for withdrawal of nationality
from minorities up to 1998, and from Greek communists, up to 1974.
The number of nationality acquisitions in Greece depends absolutely on
whether the person concerned is homogenis or not. The number of naturalisations is extremely low. It is rather indicative that, during the last twenty-five
years, less than 15,000 allogenis foreigners have been naturalised. This number
includes all potential categories of persons applying for Greek nationality, i.e.
spouses of Greek nationals, individuals born and brought up in Greece whose
parents did not acquire the Greek nationality, and finally, migrants and refugees.
Only if one takes in consideration that the last decade, the country increased its
population of ten million by one million foreigners, one may able to conceive
the problem.
On the contrary, the time required for homogeneis to acquire nationality is
much faster. In this population, we include the Greek Pontians (‘Efkseinos Pontos’
in Greek is the Black Sea) from former Soviet Union, most of whom acquired
Greek nationality but, on the contrary, belonging to the Greek nation. In other words, it has
to do with a foreigner with links to the Greek nation, in terms of language, religion, common
tradition and customs. All this criteria characterise someone as homogenis’ (? 94345/14612/35-2001).
30
faculdade de direito de bauru
nationality though summary procedures during the last decade, as well as all persons being able to prove before the authorities their Greek descent and acquire
nationality though the definition procedure. The numbers of homogeneis that
acquired the Greek nationality via the definition procedure may be estimated to
hundred thousands, without however having access to any statistical data.
At the end of the cold war, Greek nationality enters the most critical ever
decade in its perturbed history. During this decade, changes on the political
scene of Eastern Europe created a considerable migration and so-called ‘repatriation’ inflow towards the country. These new phenomena challenge radically the
self-perception of Greek nationhood and consequently the dominant nationality policies. Nevertheless, the end of the cold war cannot completely erase the
heritage passed down from the sad remnant of nationality withdrawal, which
dominated the state policy until the last decade of the 20th century.
The first decade of the 21st century shows a more lively activity on behalf of the
Greek state, bringing in new laws pertaining to Greek nationality with considerably
more new circulars for the their application. The successive regulations and adjustments illustrate the reluctance and (to a certain extent) reasonable difficulty of the
Greek administration to handle in a realistic manner the new challenges.
The new Code of Nationality, which passed at the end of 2004 (Law 3284),
abstains from introducing any new perception that would meet the current challenges. It only offers a legally comprehensive systematisation of the previous regulations and a timid renovation of stereotyping views that traditionally have been
dominating the relevant legislation and administrative discourse.
It seems however inescapable: ‘changing the boundaries’ (Bauböck, 1994:
199) of the Greek nationality is already in the agenda.
2.
HISTORICAL DEVELOPMENT
2.1. Greek nationality: from the subordination to the orthodox genos to
the participation in the Greek state
As of 1864, Greek Constitutions have been using the term ‘quality’ of being
Greek3, illustrating in an apt way the differentiating functions of the nationality
concept.
The focus of Greek nationality on the principle of origin and ius sanguinis
runs through the major part of its course in an invincible way. Nonetheless, it
has experienced a fundamental exception, which is tracked down at the origin
3
Cf. retrospectively article 4, par. 3 of the Constitution 1975-86-01, 7, par. 2 of the Constitution
of 1968, 3 of the Constitution of 1952, 4 of the draft Constitution of 1958, 6 of the
Constitution of 1927, 5 of the Constitution 1925, 3 of the Constitutions 1991 and 1864, where
reference is made to the ‘qualifications’ of Greek citizens set out by the laws.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
31
of its history. This is not of surprise. The new established - under revolutionary
law - state, had to create its people in a certain way. Its jurisdiction over persons
living in the land where Greek sovereignty lies, constitutes maybe the safest criterion, at a first phase. To the extent that the struggle for the nation building of
the revolted Greeks is yet at initial stage, the element of land is in search of the
most apposite –in a political sense- alliance with religious faith. ‘Greek people
are the Christian residents of a state, which has been founded following revolution’ (Dimoulis, 2001:96). At the same time, the Constitution of Epidaurus of
1822 provides for two additional categories, ‘non-autochthonous’ (i.e. people
coming from beyond the country’s borders) and ‘foreigners’, who desire to
become naturalised.4 The ‘non-autochthonous’’ people are Christians, nonindigenous, while ‘foreigners’ are western philhellenes.
Following a year, the sui generis combination of ius soli and ius religionis, which determines Greek citizens according to pro-national criteria, is abandoned by the Constitution of 1823. The later maintains the force of the territorial prerequisite for the acquisition of Greek nationality;5 it introduces though for
the first time the element of language, as a prerequisite for the acquisition of
nationality by the non autochthonous population, who now have to ‘speak
Greek as their mother tongue’ [the Greek text uses the term ‘father tongue’]
(par. b). The term ‘foreigners’ is succeeded by the related term ‘non-nationals’,
as well as the conditions for their naturalisation are set out for the first time.
These consist in the five years residence on the territory, accompanied cumulatively by the possession of ‘immovable property’ and the non-perpetration of
criminal offences during the stay (par. l). Alternatively, ‘great valour and the
important services to the homeland’s needs, inclusive morality, constitute sufficient rights for naturalisation’.
The term ‘Greek citizens’ public law’ appears for the first time in the
Constitution of Trisina of 1827 and continues to exist until the Constitution of
1952. The political, civil and social rights recognised to Greeks constitute expression of an ideotypic democratic principle of conferring the status of national,
included in the Constitution’s section under the term: ‘Greek citizens’ public
law’ (Kokkinos, 1997:83). This principle is based on the contradiction, which
runs through the Greek nation-building and, consequently, the law on nationality: at the moment that political sovereignty is pointed out as guarantee of the
4
5
Section B ‘On the General Rights of the residents of the Greek Territory’, par. b: ‘The indigenous residents of the Greek Territory that believe in Jesus Christ are Greek, and enjoy without
any difference all political rights (…) par. d. The people coming from out of the country’s borders that will reside or sojourn in the Greek territory are equal to the autochthonous residents
before the law. par. e. The Administration has to be concerned with the issuance of a law on
naturalisation of foreigners that desire to become Greek.’
Symbolically enfeebled, since the ‘residents of the Greek territory’ of the title of the relevant
Section B of the Constitution of 1822 give their place to ‘Greeks’ in 1823.
32
faculdade de direito de bauru
all the ‘Greeks’ Rights’ without any discrimination on the basis of descent, the
status of Greek national is conferred according to ethno-cultural criteria (Liakos,
2002:63-79). The Constitution of 1827 brings in an entire Section ‘On nationalisation’ and paves the way for ius sanguinis: ‘Greek is: (…) whoever is born on
foreign territory by a Greek father’ and not simply Greek speaking, as it was provided for earlier.
The Constitution of 1832 proceeds now with an extremely detailed regularisation of the prerequisites relating to Greek nationality (article 13), reflecting
a particular political co-habitation of all possible criteria for the acquisition of
nationality (ius soli, ius religionis, ius sanguinis) It introduces, for the first time
in the Greek constitutional history, a provision, that sets out in detail the reasons
for nationality withdrawal (article 15). Finally, the Constitution of 1844 cites the
Laws entitled to define the ‘attributes’ of the Greek citizens. From that time on,
all the constitutional instruments of the country adopt this practice.
During that period, Greeks from all different parts of the Ottoman Empire,
the so-called ‘non-autochthonous’ start arriving in the newborn republic. The
issue with respect to the rights and privileges of this population in the new established state is a purely socio-economic conflict between the old inhabitants of the
territory and the newcomers. The famous hostility between autochthonous and
non-autochthonous Greeks concerns mainly the conflict for the laters’ position in
the state apparatus (Dimakis, 1991). This has resulted though in the contest of the
Greek quality of the new comers by the autochthonous Greeks and has encouraged claims for their exclusion from the status of Greek nationality.
The first law on Greek nationality has been promulgated in 1835 and signals the regulatory transition towards the law of origin.6 It has been maintained
in force until 1856, when the Civil Law has passed. The provisions of the Civil
Law on nationality have survived for an entire century; they have been maintained in force even following the promulgation of the Civil Code of 1946, until
the promulgation of the first Code of Greek Nationality in 1955. It is of interest
to underline that, currently, most of its provisions remain in force and apply on
the persons, who have been born prior to the date of promulgation of the Code
of Greek Nationality, in 1955.
In the course of this century, the rule of nationality is identified in the following formulation: ‘Greek is whoever has been born by Greek father’ (article
14ªof the Civil Law), which, while confirming the absolute prevalence of ius sanguinis, introduces gradually exceptions in favour of ius soli as to adopted or
born out of wedlock children or as to individuals of unknown nationality that
6
A transitional provision sets out that Greek is whoever has acquired nationality in line with
the prior systems, refers expressly to the nationality acquisition by philhellenes, while- from
that point on- the law focuses on father’s nationality (I. Georgiadou, 1941:9).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
33
are born on the Greek territory. These persons acquire the Greek nationality, in
deviation of ius sanguinis.
2.2. From the first expansion of the Greek state to its territorial integration
This period is launched with the promulgation of Civil Law, it goes on with
the first territorial expansion of the Greek state to the north through the annexation of the regions of Thessaly-Arta and, subsequently, of other territories and
ends with the territorial integration of Greece through the annexation of
Dodecanese, in 1947. These successive changes have rendered the law of Greek
nationality one of the most unapproachable and unreadable parts of Greek legislation. The territorial re-adaptations and major political evolutions, which have
taken place in the course of the hundred years that went by until the adoption
of the Code of Greek Nationality (1856-1955), have been leaving continuously
their traces to the relevant legislation. This resulted in that the relevant provisions are characterised by absolute inconsistency, incomprehensiveness and segmentation. The consecutive amendments of these provisions have rendered
Greek legislation on nationality an almost inaccessible regulatory volume, which
has been causing confusion to its implementers, as well as to contemporary
scholars.
The international treaties, which accompany the expansion of the Greek
state, include rules on the nationality of the persons that reside in these regions,
in a manner that is either binding or optional under a series of prerequisites. The
successive annexations of new lands to the Greek territory have always had two
main impacts: as to homogenis, the impact was the massive automatic acquisition of the Greek nationality. As to the remaining Ottoman subjects, the impact
was the provision of a sufficient time limit of residence in the Greek state, the
elapse of which signalled their obligation to migrate: unless they would baptise
according to the orthodox rite. An eloquent example of collective incorporation
is provided for in the Treaty of 1881 between Greece and the Ottoman Empire
following the annexation of Thessaly-Arta, which leaves a time limit of three
years for the persons that will maintain the Ottoman nationality to leave the
country.7 The Treaty of 1881 does not distinguish between homogenis and allogenis, something that has resulted in the collective incorporation of all persons,
who desired to acquire Greek nationality, without any differentiation.
Nonetheless, it has not been possible that the issue of the nationality of the
Ottomans of Thessaly be definitively settled by the convention of 1881. The presence of many Ottomans that have remained in Greece, as they had opted for the
7
The Treaty has been ratified by the Law ??? on 11/3/1882, Official Gazette, Issue no 14 of 13
March 1882, p.59 (Georgiadou, 1940:99).
34
faculdade de direito de bauru
Greek nationality, was a pending matter that has been regulated under extremely unfavourable terms for the Greek state, following the military defeat from the
Ottomans in 1897. In line with the new peace treaty, the Muslim residents of
Thessaly that had acquired Greek nationality under the terms of the convention
of 1881, are given anew the right to opt for the Ottoman nationality. This time,
they maintain the possibility to remain in Greece or even to return to Greece, in
the case that they had been forced to flee Greek land following 1881.8 This historically ‘asymmetrical’ right of Muslims will not last but only some years more,
since the imminent annexation of a major part of Macedonia and, later on, of
Thrace, will reiterate the status of 1881. From then on, the right of residence on
the Greek territory exists only for the persons that opt for the Greek nationality, while it is provided for that the Ottoman subjects have a time limit of three
years to leave the Greek land, unless they would decide to baptize and acquire
the Greek nationality.9
The regime of collective incorporation through free option of nationality,
which has been implemented by virtue of the prior treaties, makes the territorially expanding Greek state face a novel problem. The traditional divergence
between autochthonous and non-autochthonous populations recedes, giving its
place to the counterpoint between homogenis and allogenis, which starts now
to run through the history of Greek nationality. Within this framework, the use
of the term ‘homogeneia’ and, more over, the conferment of the status of
homogenis has played the role of guiding the Greek irredentist aspirations to its
neighbouring countries.
Additionally, the quality of ‘homogenis’ justified discriminatory results in
favour of persons under the so-called status, within or without the Greek territory. The heritage of the Ottoman millet, i.e. the self-governed religious community in the Ottoman Empire, certainly ensured a series of guarantees for the
attribution of this definition. These guarantees were rather instable though, for
–as time progresses- the Macedonian landscape reminds always more an ethnic
moving sand. It is though crucial to underline that the continuous reciprocation
of the administrative practice as to the conferment of the status of homogenis (or
allogenis) between ‘racial origin’ and ‘national conscious’, which -as mentionedare identified even nowadays, originate from the substantially pro-national character of certification of the Greek genos. The certification of an Albanian Muslim,
a Turk Muslim or of a Jewish as allogenis was rather easy for the Greek authorities, on the basis of the criterion of exclusion from the orthodox genos. The sit8
9
Peace treaty between Greece and the Ottoman Empire of 22 November 1897, which has been
ratified by the law ????? on 6 December 1897, Official Gazette, Issue no 181, of 6 December
1897, p. 497.
Treaty between Greece and the Ottoman Empire of 1/14 November 1913, which has been ratified by the Law 79, Official Gazette, Issue no 229 of 14 November 1913, p. 809.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
35
uation though became perplexed, when it came to the orthodox populations
that the impetus of the Greek nation had not managed to assimilate. This concerns mainly the Bulgarian-Macedonian population of the New-Lands and -to a
lesser extent- the Aromanians-Vlachs.
In line with the Neuilly Peace Treaty between the Allied and Associated
Powers and Bulgaria10 and the Convention between Greece and Bulgaria on mutual and voluntary migration of the either-side minorities, which had mainly a binding effect for the persons that were to be exchanged (Michailides, 2003:135), an
important part of slave-speaking population has lost the Greek nationality, given
that leaving Greek land brings about loss of the Greek nationality by the acquisition of the Bulgarian one and vice-versa (article 5). The same measure of collective
incorporation and exclusion of nationality has been enacted in accordance with
the Lausanne Treaty for the obligatory exchange of populations between Greece
and Turkey. According to a decision of the Mixed Committee for Exchanges of the
League of Nations, its scope has been even extended to the exchangeable populations that resided abroad and had been naturalised there prior to the exchange.11
The Convention on nationality between Greece and Albania, signed in 1926,12
includes provisions with respect to collective incorporation. The later has provided for the recognition of Greek nationality to former Ottoman subjects that had
been born in Albania, but had acquired the Greek nationality prior to the establishment of the Albanian state in 1913. Besides, it gave to the residents of Western
Thrace, who had emigrated in that region from Albania, the possibility to opt for
the Greek or the Albanian nationality.
In conclusion, a potential decoding of the foundational choices at the period that covers the long-lasting historical scene from the expansion to the territorial integration of the Greek state, should take account of the two key concerns
of the legislation or administrative practice, as well as an increasing awkwardness of the later.
The first key concern is related to the ethno-cultural fortification of the
persons meeting the criteria of Greek nationality. At the same time though, gen10 14/27 November 1919, which has been ratified by the Law 2433, Official Gazette of 23 July
1920, Issue no 162, p.1615. The treaty provides for the compulsory automatic acquisition of
the Greek nationality by the Bulgarian citizens that were settled in Western Thrace before
1913. In that way, the ipso jure acquisition of nationality concerned exclusively the former
Ottoman subjects of the annexed part that had acquired the Bulgarian nationality under the
Treaty of Istanbul, in 1913. The Bulgarians that had settled in the region following 1913 would
not be in a position to acquire the Greek nationality, unless they had the Greek government’s
authorisation.
11 Decision No 22 of 9 May 1924 of the Mixed Committee of the League of Nations. In that way,
the emigrants that visited Greece were treated as Greek on the part of the administration, so
that their enlistment is claimed. The situation ended in 1949, when, in terms of the related
Mandatory Law 2280, their foreign nationality has been retroactively recognised.
12 13 October 1926, ratified by the Law 3655 on 13 October 1928.
36
faculdade de direito de bauru
erous concessions to other persons that Greek legislation subordinates to the
status of allogenis are tracked down. These persons either were initially related
to the revolution or have resorted in Greece seeking protection as refugees, like
the Armenians and Circasians.13 The Constitution of 1927 provides for the acquisition of the Greek nationality ‘without any other stipulation’ as to the monks of
Mount Athos. The certain provision is maintained to date.14 Besides, there are
identified in the legislation in force surviving facets of the honoris causa naturalisation regarding foreigners ‘that have offered superior services to Greece or
the naturalisation of whom may serve an utmost interest of Greece’.15
The second key concern of the Greek administration, as the later is
expressed through its respective legislations on collective incorporation,
absolutely coincides with the related strategies of the neighbouring countries,
which aimed at the definitive purge of potential internal enemies, i.e. national
minorities. From that time on, the relative provisions of the population compulsory exchange treaties constitute a regrettable principle in international law,
which has been intensively criticised by the Greek scholars in international law
of that period (Seferiades, 1928:328).
The increasing discomfort of the state as to nationality is related to the
Greek emigration overseas. The law of 1856 provided for the loss of Greek
nationality in case of naturalisation abroad. Given that, as of the end to the 19th
century, the augmenting flow of emigrants has as destination states, in which ius
soli is implemented (USA, Australia, Canada), the legislation which stipulated
the exclusivity of the Greek nationality resulted in its loss by the children of
thousands of Greek emigrants to these states. In 1914, the Greek legislation hastens to redress the situation. Not only this movement has caused paradoxical situations, since a large part of this population did not desire to breach their bonds
with Greece. What’s more, it has been judged as detrimental to the nation, since
it deprived the country of soldiers in a rather demanding historical juncture
(Georgiadou, 1940:76). Law 120/1914 rules that, from that time on, an authorisation of the Greek government will be required for the loss of Greek nationality. Such provision still exists. As a rule, the Greek emigrants that have acquired
foreign nationalities at birth following 1914 did not require the Greek government’s authorisation. Therefore, they were maintaining Greek nationality, as
well, in their virtue of Greeks’ children. This is the first massive sample of acquisition of dual nationality in the Greek history.
13 Article 5 of the Decree of 12 August 1927 ‘on ratification and amendment of the Legislative
Decree of 13/15 September 1926 ‘on amendment of provisions of the Civil Law’.
14 Cf. article 105, par. 1 of the Constitution in force.
15 Cf. article 17, par. 1,b of the Code of Greek Nationality.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
37
2.3. Nationality during the Cold War
The period, which schematically commences with the integration of
Dodecanese in Greece16 and the end of Civil War in 1949, extending to the period of Cold War brings out as certifying feature the withdrawal of nationality.
This is a sanction that the Greek state reserves for the citizens regarded as enemies. In the course of the first century of the Greek state’s existence, it is difficult to conceive a comprehensive ideology, which channels in a rigid way the
strategies of Greek nationality. During the period of Cold War the policy related
to nationality is marked by a foundational facet: the endeavour made by any
means by the Greek state, in order to purge the persons that it considers ‘unworthy’ to be Greek. At the same time, the state demonstrates its extreme reluctance
to accept the acquisition of the Greek nationality on the part of Greek citizens,
who belong to the Greek minorities in Albania and Turkey and have definitely
returned to Greece, in order that the population size of the specific minorities
are maintained reinforced. Moreover, the Greek state demonstrates – in a paradoxical way, attributed to its already mentioned awkwardness- an extremely
thrifty face towards any other category of Greeks of Diaspora, who desire to
acquire the Greek nationality. This cautious practice against the naturalisation of
the Greeks homogenis abroad was also visible in the case of the foreign spouses
and the families of Greek nationals, as well. As we are going to examine later, this
policy is going to start changing hesitantly at the end of the 20th century.
Certainly, the measure of withdrawal of nationality has not been launched
at that period17 nor has it been exclusively related to the stemming national enemies and political dissidents as it have been mainly implemented in the course
of the certain period.18 The Civil War though, constitutes a point of intersection
in the modern history, following which the measure of withdrawal of nationality has taken massive dimensions. The citizens of whom nationality is with16 The Italian citizens that were residing in Dodecanese on 10 June 1940 and their children that
have been born subsequently acquire ex lege the Greek nationality, in accordance with a law
(517/1948), which has been issued for the implementation of the Paris Treaty between the
Allies and Italy.
17 As already mentioned, in the course of rather unpredictable years for a new-established state,
even the Constitution of Trisina of 1827 had provided for the loss of nationality. The article
29 thereof stipulates that ‘any autochthonous or naturalised Greek residing in the Greek territory and enjoying citizen’s rights that desires to resort to the protection of a foreign force ceases to be Greek citizen’.
18 As a rule, loss and withdrawal of the Greek nationality (regulated by the articles 17-21 of the
Code of Greek Nationality) incur due to the acquisition of a foreign nationality and the
expressed intent of the person, due to the assumption of service in a foreign state or due to
adoption by a foreigner. It is of importance though to underline that even the expressed intent
of renunciation of the Greek nationality, in the case that the person has been naturalised
abroad without prior authorisation, does not bind the Minister of Interior to conduct the act
of withdrawal.
38
faculdade de direito de bauru
drawn belong to two categories: they are either communists or members of
minorities.
This practice has been launched by a Decree of 1927,19 in the contents of
which we identify for the first time a rule, which is responsible for the regrettable
publicity of the Greek law of nationality until our days. ‘Allogenis Greek citizens,
who have fled Greek soil and have no intention to return, lose the Greek nationality. Minor children that emigrate with them lose also the Greek nationality at
the same time that their parents do. Constituting a real fact, the intention not to
return is presumed from any relative fact, (…). The Minister of Foreign Affairs’
examines the intention not to return, as well as any element related to this article ad hoc’. By high ranking administration’s officials, it is admitted though, that
this way of loss of nationality, ‘does not constitute a worth-establishing institution in a political sense.(…) However, in a practical sense, it serves a national
need of highest importance’ (Georgiadou, 1940:82). The transformation of article 4 of the Decree of 1927 to article 19 of the Code of Greek Nationality in 1955,
its regulatory fortification by means of the Constitution of 197520 and its remain
into force until 1998, persuade by far for its utmost national importance.21
As of 1940, there was not even need for the potential target of the relative
legislation to be allogenis,22 while in the course of the German occupation, the
collaborationist government adopts a new rule, that introduces the ‘unworthiness’ of someone to have the quality of Greek citizen as a reason for withdrawal
of nationality.23
The festive inauguration of this regrettable period as to Greek nationality
during the years of Cold War has taken place in 1947 with the Resolution ??/1947
of the Fourth Revisionary Parliament ‘on withdrawal of the Greek nationality
from persons that are acting against the nation abroad’, which has been maintained in force even following the enactment of the Code of Greek Nationality and
has ceased to be in force in 1962, without retroactive impact though.24 During the
years 1947-1949, the measure has been put into practice for over 56,000 Greeks
19 Decree of 12 August 1927 on the ratification and amendment of the Legislative Decree ‘on
amendment of provisions of the Civil Law’, 13/15 September 1926.
20 The transitional provision 111 par. 6 provides for the article’s force until its abolishment by
law.
21 The target group of the legislation on nationality withdrawal from ‘allogenis’ that belong to
minorities is gradually being differentiated: at a first stage, the main victims of withdrawal of
nationality are ethnic Macedonians. In the following, and mainly after the facts leading to the
shrinking of the Greek minority of Istanbul and the invasion of the Turkish armament in
Cyprus, the measure is targeted against the Turkish minority of Thrace.
22 Mandatory Law 2280/1940 (Extensively in: Kostopoulos, 2004:56).
23 The term ‘unworthiness’ appears in the Law 580/1943 during the occupation period and is, in
a very particular way, maintained in force after liberation, by virtue of a decision of the
Ministerial Council in 1946.
24 With the article 1 of the Legislative Decree 4234/23.7.1962 ‘on regulation of issues concerning
the country’s safety’.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
39
that have departed for Eastern Europe (Centre of Planning and Economic
Research, 1978:46), among whom there were a respectable number of SlavMacedonians (Kostopoulos, 2000:219). Using formulations and procedures that
are similar to the ones of the Italian fascist or to the German nazi principle of withdrawal of nationality, the Greek administration proceeds with en mass withdrawals
of nationality under summary proceeding until the new Constitution of 1952 is
put into force (Alivizatos, 1979:490).
However, even following the abolishment of the Resolution ???, Greek legislation still disposes a safest arsenal for the withdrawal of nationality from ‘the
persons who are acting or have acted against the nation’ abroad. The only
–obviously fictitious- difference is that withdrawal of nationality is not binding
any more, but at the administration’s discretion.25 In fact, the dictatorship regime
does not need to invent new regulations, but only to reinforce the imposition of
the already applicable law towards all directions by virtue of its own
Constitutional Act.26
Upon restoration of democracy, the persons from whom nationality had
been withdrawn, in compliance with the dictatorship’s Constitutional Act
acquired it anew.27 The reacquisition though concerned only the persons from
whom nationality had been withdrawn according to the regime’s
Constitutional Act and not the ones from whom nationality had been withdrawn by normal regulatory means provided at the Code of Nationality, during the dictatorship. These provisions under article 19 and 20 of the Code,
are, in any case, kept on being implemented even following the restoration of
democracy. It worth noticing that a transitional provision of the Constitution
of 1975 stipulates that ‘Greeks, from whom nationality has been by any way
withdrawn until the commencement of the Constitution’s implementation,
reacquire it following judgement rendered on the part of specific committees
composed of judges, according to the law’. However nor such committees
have ever convened nor a related law has been issued to date (Grammenos,
2003:202). In an attempt to limit the administration’s discretion on issues
related to nationality withdrawal, the new constitution after the dictatorship
provides that ‘withdrawal of nationality is permitted if the Greek national
undertakes service contrary to the state interests in a foreign country, under
the conditions and procedures prescribed by law.’28
25 In line with the article 20, par. 2 of that time (currently 17) of the Code of Greek Nationality.
26 Cf. article 1 of the Constitutional Act ?/67 of the Constitutional Act of the regime ‘on withdrawal of nationality of the persons acting against the nation and on the confiscation of their
property’.
27 Article 10 of the Constitutional Act of 5/8-7/8/1974.
28 Art. 4, par.3, al. 2b of the Constitution. The norm implementing the constitutional provision
is found in article 17 (till 2004, article 20) of the Nationality Code.
40
faculdade de direito de bauru
What is indicative of the delay with which the history of Greek nationality
follows the evolutions of the overall political history, is that the Resolution of the
Fourth Revisionary Parliament of 1947 is expressly abolished not earlier than in
1985.29 Even the first socialist government of 1981 does not examine the possibility of the reacquisition of nationality and repatriation of the Slav-Macedonian
political refugees. The express exclusion from repatriation of the persons that
are not ‘Greeks as to genos’ constitutes currently the sole instrument in force
that recognises, though exclusion, the existence of Slav-Macedonians in the
country.30
Since all other ways of withdrawal of nationality have been abolished or
enfeebled, the period following the downfall of the colonels’ regime (19671974), is the period of the distressing domination of the article 19 of the Code
of Greek Nationality. According to the later ‘it may be judged that allogenis that
have fled Greek land without intention to return lose the Greek nationality’. As
already mentioned, the article has been abolished too later, in 199831, following
rising international condemnation and after having accomplished the ‘utmost
national objective’ for which it has been put into implementation. According to
the administration itself, the persons that have lost Greek nationality as of the
time that the article has been put into force, in 1955, until its abolishment
amount to 60,000.32 The practice of nationality withdrawal from members of
minorities had as an objective to make bleed, in terms of population, the minority of Thrace. This fact, combined with the important migratory flow towards
Turkey and Western Germany has resulted in the population’s maintenance at
levels, which were similar to those existing at the period of the Lausanne Treaty
(appreciatively 100.000).
At the time that Greek administration demonstrates its most repugnant
face towards the persons that (it considers that) constitute a threat, it is also
proved to be inefficient to conduct negotiations ‘as mother-land’, in order to
maintain the Greek nationality in Turkey. It compensates though for this inefficiency through an expression of generosity towards Greeks coming from
Turkey: it subordinates the persons from whom the Turkish nationality has
been withdrawn to an extremely particular status of nationality, according to
29 By article 9 of the Law 1540/1985 ‘on regulation of the properties of political refugees’.
30 Joint Decision 106841/1983 of the Ministers of Interior and Public Order on ‘Free repatriation
and granting of Greek nationality to political refugees’, in accordance with which ‘all Greeks- as to
genos- that have resorted abroad as political refugees in the course of the Civil War 1946-1949 and
because of it, may freely return to Greece, even if their nationality had been withdrawn.’
31 By the article 9 of the Law 2623/98. Given that the abolishment of article 19 had no retroactive impact, the procedure for the re-acquisition of Greek nationality falls under the procedure
with respect to the naturalisation of allogenis’.
32 According to a non-registered document of the Ministry of Interior, Public Administration and
Decentralisation addressed to the National Commission for Human Rights, dated 18 June 2003.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
41
which the provision of a Greek passport was not equivalent to the conferment
of national’s status.33 This situation resulted in that a scant, non receptive of
calculation but not negligible either, number of persons that are subject to
these categories of homogenis still remain under this sui generis hostage.
During the decades under discussion, the Greek state’s stance is clear ‘no
Greek nationality for the homogenis’. The Greek state prefers to subordinate
homogenis to this status of semi-nationality, in order to maintain statistically
alive the Greek minority in Turkey, which is growing weaker because of the
harsh Turkish policies.
At the end of the seventies the issue of Tsigans’ statelessness is settled.
An immeasurable number of them had never acquired the Greek nationality,
due to hindrances that the Greek state has attached to the ‘Tzigans reluctance to cooperate with the competent Authorities’.34 At the end of this
decade the thriving percentage of Tsigans have the Greek nationality,
through an innovative for the Greek reality procedure of implementation of
ius soli. Tsigans have been considered as persons of non-definable nationality that have been born in Greece and have consequently acquired ex lege the
Greek nationality.35
33 The Ministerial Council, right after the fall of the regime of colonels, according to a decision
classified as ‘Top Secret’ ‘Issuing of special passports of homogenis to non Greek citizens from
Turkey and North Ipirus Act No 22, 1/3/1976’ has affirmed that «taking in consideration: that
many homogenis that have been deprived of their normal passports [from the countries of
origin] meet abroad insurmountable difficulties for their transfer, their residence and their
right to work, that their naturalisation is not possible and that the passport does not always
constitute full prove of citizenship, but refutable presumption of citizenship, decides: to provide Greek passports, the acquisition of which does not give the Greek citizenship: … (a) to the
homogenis from Turkey deprived from their Turkish citizenship. (b) The homogenis from
Turkey residing in Greece more than five years without Turkish passport». Given that the
hardship encountered by any stateless citizen abroad seems absolutely reasonable, the haste of
the Greek law-makers to identify that the naturalisation of these persons is not possible and at
the same time to provide them a Greek passport, which does not grant them Greek nationality generates questions, at first stage. The well-known passport of the Homogenis of Turkey and
Albania (O.T.A.) establishes a third category of persons that move between the status of citizen and the status of foreigner or stateless person. In line with the same Ministerial Decision,
homogenis from Albania have been subject to the same status, as well. However, the prerequisite of non-possession of the Albanian nationality did not exist for them, for the Albanian regime has never used en masse the measure of withdrawal of nationality, as the Greek or the
Turkish ones did.
34 General Order 212 of the Ministry of Interior, dated 20.10.1978, on ‘Regularisation of nationality of the Tsigans residing in Greece’. Cf. also the General Order 81 of the above-mentioned
ministry, dated 12.3.1979.
35 Pursuant to the second paragraph of the 1st article of the Code of Greek Nationality, according to which: ‘…2.The Greek nationality is acquired at birth by any person that is born in the
Greek territory, if this one does not acquire at birth a foreign nationality or is of unknown
nationality.’
42
3.
faculdade de direito de bauru
CURRENT INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS
3.1 General modes of acquisition of citizenship
3.1.1 Acquisition of citizenship by the Greek mother
As it has already been mentioned, the most important modification of the
law of Greek nationality to date has taken place in 1984 by virtue of the Law 1438
‘on amendment of provisions of the Code of Greek Nationality and of the law on
birth certificates’. The Law has entailed major changes concerning the nationality status of Greek women, who have been given the right to transfer their
nationality to their children for the first time in the Greek history. This law put
into practice in the field of nationality the constitutional stipulation of 1975 for
gender equality. The main amendments that are to be cited are the following:
a) The generalisation of nationality acquisition as to the persons that have
been born either by a Greek father or mother. It is to be mentioned, that
up to then, only the children that were born out of wedlock or the father
of whom was stateless acquired the nationality of a Greek mother.
b) The reduction of the time limit for coming of age for the persons that
desire to become naturalised, that is from 21 to 1836 years, according to
the new Civil Code.
c) The establishment of civil marriage as existent according to a prior law
1250/1982, since, until then, the non-orthodox marriage of a Greek
man to a foreign woman excluded his children from Greek nationality.
d) The establishment of the principle of independency or individuality of
nationality; until that time, the existing principle was the one of acquisition of nationality by marriage. The Greek law proceeds with a radical
reform, in line with which ‘marriage does not entail the acquisition or
loss of Greek nationality’. This provision abolished the previous ones,
according to which a Greek woman that was married to a foreigner man
would lose Greek nationality, unless she declared prior her adverse
intent; reversely, a foreign woman that was married to a Greek man
would acquire automatically the Greek nationality, unless she had prior
declared that she did not have such intent.
An extreme zeal though, stemming from the political atmosphere of the
first governance of the country by a socialist party has lead in that the Greek lawmakers have interpreted in the most inflexible way the principle of independence of women’s nationality, which has been instituted in its absolute sense. As
a result, the spouses of Greek citizens have been for many years subordinated to
36 According to the article 127 of the Civil Code, as amended by the Law 1329/1983.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
43
the same status as the other persons that had submitted a naturalisation application, without disposing any comparative advantage by reason of their marriage
to a Greek man for the acquisition of the Greek nationality. This illogical situation is remedied no earlier than in 1993, when it has been ruled that ‘marriage
to a Greek person is taken into consideration, as well’ in the administration’s
judgement on the naturalisation application.37 Only in 1997,38 the Greek law provides for the naturalisation possibility of the foreign spouses of Greeks by
excluding the prerequisite of a certain period of prior stay in the country, in the
case that a child has been born within the certain wedlock. This generosity will
not last long, since the new Code of Nationality that has passed at the end of
2004 adds to the prerequisites for naturalisation of the spouses the lawful residence for three years in the country.39
In fact, the intention of the law-maker in 1984, that is, the retrospective
settlement of issues related to the nationality of the Greek women and their children, has not been expressed in a complete way. In that context, the law of 1984
provides for a transitional period until the end of 1986 for the implementation
of the provisions related to the acquisition of nationality both for the children
that were born and for the women that had been married before its promulgation (8.5.1984). In the course of these two and a half years, Greek women and
children that desired to acquire the Greek nationality could do so, if they submitted a relevant declaration to the Greek authorities. Many people though had
never been informed that such an exclusive deadline had been institutionalised,
which had as a result that the time-limit lapsed inactively for many of the eligible persons. Seventeen entire years have been needed for the promulgation of
the Law 2910/2001 and for the abolishment of the non-realistic and profoundly
severe time-limit that was stipulated by the law of 1984 in order for the relevant
provisions to become of diachronic nature and exist in the future without time
limits. This resulted in a striking rise of the number of nationality definitions
from 2001 on. This rise remains though invisible, since the Greek authorities do
not maintain even an elementary statistical representation of cases of nationality acquisition under this procedure.
Until the early nineties this omission was not so important, given that the
acts of nationality definition were scant. The fall of the regimes of Central and
Eastern Europe, though, has made the country face unanticipated situations. An
important number of persons, that had, in the meantime, acquired the nationalities of socialist states, find the opportunity not only to travel to Greece, which
they had registered in their historical family memory as the ancestral country,
37 By article 32 of the Law 2130.
38 By article 12, par. 2 of the Law 2503.
39 Cf. article 5, par. 2a of the Law 3284.
44
faculdade de direito de bauru
but also to claim lawfully the Greek nationality. As it has been colourfully
expressed, all of a sudden, ‘everybody looks for his Greek ancestor’ (Baltsiotes,
2004b:316). This goes for the descents of second or third generation of the emigrants to the USA, Australia and Canada, who are gradually discovering the comparative advantages offered by a nationality of an EU member-state, either by
returning to Greece or –mainly - without. If we add to these, large numbers of
persons, the so-called ‘home-comers’ from the former USSR (to whom reference
will be made in the following), it is clear that the nineties will make Greek
nationality face new challenges, before which it has to trace anew the principle
co-ordinates of its route.
3.1.2 The (non) naturalisation policy
It has pertinently been stressed that ‘the non-naturalisation of allogenis
foreigners constitutes a structural state perception, which is punctually followed’ (Baltsiotes, 2004ª:93). The rates of naturalisation of these people are
extremely low: indicatively, as of 1985 until the end of 2003 less that 13,500 people have acquired the Greek nationality. These rates are dramatically law: something less that 4,500 hundred people have been naturalised, as of 1985 until
1997. After the possibility of naturalisation of spouses has been institutionalised,
in deviation of the generally applicable rule of the stay for ten years in the country, the rates are over-doubled.
In 2001, the Greek state - aiming to impede the rise of naturalisation applications, given that a decade had passed since an important number of immigrants had
arrived in the country - establishes40 the obligation to pay a naturalisation fee of 1,467
Euros, with a view to repulsing the anticipated rise of naturalisation applications.41
The prerequisites of prior residence in the country are gradually and continuously increased. As of its commencement, the Greek law on nationality stipulated as necessary prerequisite the residence in the country for three years following the submission of the naturalisation application. This changes in 1968
and the prerequisite of residence in the country for eight years prior to the submission of the application is alternatively added. In line with the law of 1993, the
three years prior become five and the eight years become ten. Finally, in 2001,
the prerequisite of residence in the country following the submission of the
application is abolished. The endeavour is obvious: to achieve the greatest possible fortification against the increasing potential naturalisation applications.
However, Greece of the eighties starts gradually to acquire the attributes of
40 By the article 58 of the Law 2910/2001.
41 A year later, homogeneis are exempted from the obligation to pay the naturalisation fee, under
an amending provision (by the article 21, par. 3 of the Law 3013/2002).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
45
a modern developed capitalist society, in which inflow the first immigrants,
mainly from Lebanon, Pakistan and Egypt. Besides, the phenomenon of mixed
marriages becomes statistically visible. The nationality policy is reinforced in
terms of regulations, in order to face in a defensive way the attack, which it considers that it undergoes. By object though, nationality policy cannot remain passive towards the overall evolutions of society modernisation and state democratisation, which are undertaken mainly by the first socialist government as of
1981. The following -only apparently- paradox is tracked down: on the one
hand, as a rule, the regulatory prerequisites for the acquisition of Greek nationality become stricter; on the other hand, politics practically inaugurate hesitantly an elementary opening at the early eighties. This opening, which is furthered
in the course of the nineties, does not suffice to change the profoundly phobic
way, in which any foreigner that desires to acquire the Greek nationality is perceived: as a menace to be for the national homogeny. In the past, this fear was
extended even to Greek homogeneis, emigrants or political refugees. It was in a
fainthearted way maintained that since these persons had abandoned Greece,
the State owed nothing to them.
The country abstains from the ratification of any international instrument
that could introduce ruptures to the absolutely rigid way, in which the relevant
policy is conducted. It is obvious that a potential ratification of the European
Convention on Nationality of 1997 on the part of Greece would not leave
untouchable nor the profound discriminatory treatment between homogenis
and allogenis as to the issue of nationality acquisition (Papassiopi-Passia,
2004:36) nor a series of restrictions existing in the Greek legal order against naturalised foreigners. These restrictions, being mostly of symbolic than substantial
nature, are indicative of the already mentioned phobia.42
3.1.3 The main mode of nationality withdrawal: article 19 of the previous Nationality Code
All the above-mentioned elements integrate part of the strategies of a
nationalist authoritarianism, which have been implemented in the country during the major part of the 20th century -mainly after the civil war- as well as they
42 Pursuant to the article 4, par. 4 of the recent Civil Servants’ Code (Law 2683/1999) ‘whoever
acquires the Greek nationality by naturalisation, may not be appointed as civil servant before
one year passes from the acquisition’. In the specific case, the period of one year has replaced
the one of five years, which was the rule in the previous Code of 1977. A relevant restriction,
of a three years period this time, concerns specifically the civil servants of the Ministry of
Foreign Affairs (article 53 of the Ministry’s Regulation), as well as court clerks (article 2, par.
2 of the Law 2812/2000). Finally, it is to be mentioned that a provision of 1977 ruling that ‘allogenis that have acquired the Greek nationality may not be appointed as notaries’, has been abolished only in 2000 (article 19, par. 1 of the Law 2830/2000).
46
faculdade de direito de bauru
constitute part of the position of Greece in the nearest geo-political environment
of the cold war Balkans. It is not exaggeration to claim that only during the eighties Greece encounters for the first time systematically the issue of acquisition of
Greek nationality by foreigners. Until then, the Greek administration was familiarised with another practice, which it exercised with particular fervour: the
practice of nationality withdrawal. As already mentioned, the measure of nationality withdrawal has reached the peak of its regrettable renown, in the course of
the cold war. As of the sixties it is addressed against the members of the Turkish
minority in Thrace, an ongoing practice until 1998. It was only then, that the
infamous article 19 of the Code of Greek Nationality stipulating the withdrawal
of nationality in the case that someone left the Greek soil without having intention to return has been abolished.43
Article 19 had reasonably come in for the disapproval of the country’s legal
environment (Sitaropoulos, 2004) due to its obviously unconstitutional nature. The
Greek Constitution provides for the possibility of Greek nationality withdrawal ‘only
in case that somebody has voluntarily acquired another nationality or in case he has
assumed a service against the national interests’.44 At the beginning of the nineties
the pressure put on Greece by international organisations, such as the Council of
Europe and the OSCE for the abolishment of this article is reinforced. However, as it
results from the minutes of relevant discussions at the Parliament, this article has
been abolished only when it has been deemed that, if it continued being into force,
it would create more problems that the ones it had already resolved (Anagnostou,
2005). The article has been abolished, without this having a retrospective effect.
Should the persons, from whom nationality had been withdrawn in the specific
mode, desire to acquire nationality anew, they have to follow the mode of naturalisation of allogenis foreigners, without being subject to any different regulation. The
issue of nationality reacquisition is rather indifferent for the majority of sixty thousand people, from whom nationality has been withdrawn in that mode, given that
had no more any link with Greece. There exists though a part of people that - most
paradoxically - settle in Greece. The unreasonable scheme of people ‘that have left
Greek soil without having intention to return’ and still remain in Greece is explained
by the unrehearsed, arbitrary and maladroit way, in which the specific provision has
been implemented, a fact that entailed a frequent communication hardship between
the Greek authorities. In Thrace, there remain at present less than thousand stateless persons of advanced age, members of minorities, who are still waiting to find
justice (Kostopoulos, 2003:73). These persons constitute the remainders of a regrettable and very close past of the history of Greek nationality.
43 By the article 9 of the Law 2623/1998.
44 Article 4, par.3 of the Constitution 1975/1986/2001.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
47
3.2 Special categories and quasi citizenship
3.2.1 The procedure of ‘definition’ of the Greek nationality for
homogenis
Nationality acquisition through the procedure of definition has proved to
be an extremely important legal instrument at the disposal of the Greek administration, so that it could separate the possibility of nationality acquisition by
homogenis from the extremely stricter prerequisites for naturalisation.
Definition is based on a sui generis procedure of reacquisition of the Greek
nationality from an individual’s ascendant, even in the case that the later has
passed away. The absolutely absurd scheme of nationality (re)acquisition from a
dead person may be partly justified by the religious devotion that the Greek
authorities demonstrate to the law of origin; however, it does not stop being a
particular and rather macabre scheme. The objective of this procedure is to
ascertain a continuous sequence of origin between a certain ancestor that was
bearing the Greek nationality and the person that requires for the nationality to
be granted in his virtue of legal beneficiary on the basis of ius sanguinis. Quite
often, this procedure is equivalent to nationality acquisition of whole – one or
more – families, provided that it is proved that a certain antecedent - e.g.
great–grand father - once used to be a Greek citizen. Given that the provisions
that put into practice the principle of gender equality in 1984 had been implemented retrospectively, the right to acquire the Greek nationality may be established, in the case that the Greek origin exists from the mother’s side, as well.
However, it may not remain unnoticeable that there is not even an article
in the Code of Greek Nationality defining clearly the exact content of the procedure of nationality definition. Albeit it is stipulated that the competent authority
to issue the confirmatory acts for the definition is the Secretary General of the
Region (article 21), it does not result from any provision what exactly ‘definition’
is or which are the related necessary prerequisites. Of course, this deficiency
could not be attributed to an imperfection of the law, but rather to the law-makers’ conscious option to exclude the procedure of nationality definition from
transparent legal limitations. This procedure is covered in due detail in the relevant circulars of the Ministry of Interior addressed to its services. The reason
that dictates the filling of this particular legislative ‘lacuna’ by the executive
power’s regulatory acts is rather related to the content of the foundational quality on which the whole system of definition is based. That is the status of
homogenis. The answer to the question ‘who are the Greek homogenis?’ has
some historical constants, but a series of variables, as well (Christopoulos &
Tsitselikis, 2003a, 87-89). The historical constant and limit is the subordination
to the orthodox genos: homogenis may be only Christian orthodox. The variables
48
faculdade de direito de bauru
are mainly related to a series of deviations that the historical conjuncture dictates
to the administration according to the international or domestic circumstances.
The terms ‘homogenis’ and ‘allogenis’ are not defined as a strict legal category,
but rather as an ideologically integrated category, which, in so being, disposes
flexibility and may change according to the conjuncture (Baltsiotes 2004ª: 88).
In this framework, their meaning is under continuous negotiation and confidential administrative consultation. As a rule, the homogeneis are the Greeks as
to origin, who dispose Greek consciousness, as well. The relevant case law of the
Council of State concludes to the same point, while examining the meaning of
(reverse to homogenis Greek), ‘allogenis’.45 This decision clarified two issues. In
the first place, participation in the Greek nation is not determined on the basis
of ethnic origin alone, in the sense that non-ethnic Greeks may participate provided they assimilate. Secondly, a Greek national consciousness and a non-Greek
identity are mutually exclusive (Stavros, 1996: 119). A delineated definition of
homogenis could satisfy the needs of a given historical-political conjuncture, but
would not be apposite to satisfy the respective needs of another moment
(Tsioukas, 2005:6). In this sense, the perturbed history of Greek nationality
could not bear a static definition of homogenis, in accordance with the letter of
which, homogenis are the citizens of certain countries or residents of certain
regions that are of Greek descent. One of the numerous indicative examples is
the following: Vlachs that migrated to Romania during the twenties and thirties
constituted one of the target groups par excellence of the first legislative instrument on withdrawal of the Greek nationality from Greek allogenis. During the
nineties, the certification of an Albanian citizen as of Vlach origin by the Greek
consulate of Korce in South Albania constitutes a necessary prerequisite, in
order that (s)he is given the Specific Identity Card of Homogenis (Christopoulos
& Tsitselikis, 2003:33). This card proves belonging to the Greek ethnicity before
the authorities and offers residence and working permit as well as full access to
special benefits for social security, health and education. (Tsitselikis, 2004: 7).
In a few words, on the legal basis of the status of Greek nationality definition, one would predictably cite that the right to the Greek nationality is based
on the birth by a direct ascendant that is or used to be (when alive) Greek citizen. It is not necessary that the ascendant had ever activated his access to Greek
nationality. Consequently, a sort of dormant nationality is established, which
is typically entrenched, when the person proves that his ascendant had been registered in the rolls of a Municipality or Community of the Greek State. In brief,
45 ‘Allogenis Greek citizens of non-Greek descent are those whose origin, whether distant or not,
is from persons coming from a different nation and who, by their actions and general conduct
have expressed sentiments confirming the lack of a Greek national consciousness, in a way that
[shows that] they cannot be considered as having assimilated into the Greek nation.’ Decision
57/1981.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
49
the legal basis of Greek nationality consists in the registration in the rolls of a
Municipality or a Community of the Greek state. The related ‘municipal roll certificates’ constitute the legal presumption of Greek nationality and may be issued
by the competent authorities (Municipalities/Communities) following the submission of an application by the interested parties either at the Greek
Consulates, if they live abroad, or directly, if they have come to the country. The
registration of the parents’ marriage, as well as of the interested party’s birth in
the rolls of the Municipality or Community of the Greek state constitute a prerequisite for the issuance of the related certificates.
The homogeneis that are in a position to produce such certificates concerning their ascendants follow the trouble-free and flexible procedure of definition for the acquisition of Greek nationality. In the adverse case, they have to
follow the ordinary naturalisation procedure, but they are exempted from the
prerequisite of ten years lawful prior residence in the country, which exists for
the other foreigners.
Another element that differentiates the definition of Greek nationality from its
acquisition by naturalisation lies in the authorities that are competent to issue the
related decision. While naturalisations have always fallen within the mandate of the
Ministry of Interior and the related investigation has always fallen within the mandate of the respective Directorate of Nationality of the Ministry, the competence for
the nationality definitions is particularly decentralised. As of 1995,46 the competence
for the issuance of acts for nationality definition is transferred to the Prefects of the
country, while the related investigation remained to the Ministry’s central services.
In 199847 the entire procedure, as well as prior investigation is transferred to the
Regions’ Services. The Secretary General of the Region signs the decision for the
acquisition of nationality. The very large number of definition applications that have
been submitted during the nineties mainly explains this decentralisation initiative.
Although it corresponds to a certain need, many objections have been expressed, if
and to which extent the Regions’ services are sufficiently staffed, in order to face the
really complicated questions that arise during the investigation with respect to
nationality definition (Grammenos, 2003:152-155).
It is though to be mentioned that a series of cases of investigation for
nationality definition remain unofficially within the mandate of the central services of the Ministry of Interior, by reason of the particular ‘national significance’
that they present. This fact demonstrates the lack of trust -which is many times
reasonable- in the related judgement of the Regions.48 These cases refer to:
46 By the article 9 of the Law 2307.
47 By the article 1 of the Law 2648.
48 In that context, if the regional authorities have evidence that the person requiring the acquisition of nationality belongs to certain population groups, they forward the file to the competent Directorate of Definition of the Ministry of Interior.
50
faculdade de direito de bauru
a) Turks of Thrace who have lost the Greek nationality in varying ways during the past.
b) Slav-Macedonian political refugees who have not been considered
‘Greeks as to the genos’ and had not reacquired the Greek nationality
upon their repatriation, according to the related ministerial decision of
the first socialist government on ‘Free repatriation and conferment of
the Greek nationality to political refugees’.49
c) The so-called ‘fugitives’ to Bulgaria. These were mainly members of
minorities of Bulgarian descent that have fled Greek soil from the end
of the Second Balkan War until the outburst of the civil war and have
been directed to Bulgaria.
d) The Albanian Muslims of Thesprotia (Chams) that have been forced by
the Greek National Army to leave towards Albania in the summer of
1944, the nationality from whom had been withdrawn in a legally contestable mode by simple erasing from the municipality rolls.
e) The Aromanian-Vlachs who have begun to migrate to Romania as of
the twenties.
f ) Greek-Armenians, who after being persecuted in Turkey during the twenties, have directly migrated to the Republic of Armenia of the ex-USSR.
g) Greek Jews, who have begun to migrate to the land of the future Israel,50
even before the beginning of the Second World War.
3.2.2 The Greek Pontian ‘home-comers’ from former USSR
The sweeping changes that have been brought on by the end of the cold
war regarding the population map of the country go beyond the previous extent.
According to the estimations of the Greek Government, almost 180,000 Pontian
‘home-comers’ from USSR countries reside permanently on the Greek territory.
As of the end of 2003, almost 125,000 persons have acquired the Greek nationality, mostly in line with the definition procedure. According to the General
Secretariat for Home Comers of the Ministry of Macedonia-Thrace, the majority
of the homogeneis from former USSR come from Georgia (52%), Kazakhstan
(20%), Russia (15%), Ukraine (2%) and Uzbekistan (2%) (Ministry of MacedoniaThrace, 2000: 51). Homogeneis that have not desired to acquire the Greek
nationality, mainly in order not to lose their former one,51 have been provided
the Specific Identity Card of Homogenis.
49 Joint Ministerial Decision 106841/29.12.1982 of the Ministers of Interior and Public Order.
50 Under the Act 621 of the Ministerial Council of 1949, Greek, Armenians and Jews were losing
the Greek nationality through the provision of an one way travel document towards Israel and
USSR, after having declared in writing that they did not desire to return to Greece (Cf.
Baltsiotes, 2004ª :90-92 and Kostopoulos, 2003:55).
51 It is to be mentioned that the Nationality Code of Ukraine and Georgia provide for the loss of
nationality in case of acquisition of another one.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
51
The use of term ‘home-coming’ by the Greek state for the Pontians coming
from the states that succeeded USSR, mainly Georgia and Kazakhstan, as well as
for the Greeks of Marioupolis of Ukraine (mainly) is neither ideologically neutral
nor pragmatically valid. It originates from an illusionary past, which has been
created rather by the expectance to escape poverty than by one to return to the
home country. In addition, these people have never left Greece, in order to
come back to it. It is characteristic besides, that the persistence of the Greek state
to call them ‘homogeneis of Pontian origin’ or ‘Greek-Pontians’ cannot weaken
the familiarisation that the Greek public opinion has with the term ‘RussianPontians’, which is rather derogatory.
The Greek state has proved to be extremely generous towards these people. It has granted the Greek nationality under specific regulatory provisions, by
means of the new summary mode of acquisition, which it calls later ‘specific naturalisation’,52 ‘in deviation of any general or specific provision that prescribed
the submission of a series of supporting documents’.53
It is not exaggeration to say that during the nineties the phenomena of
acquisition of the Greek nationality by people that were merely in a position to
submit a solemn declaration and a birth certificate were not rare. As a rule, the
Greek consulates in the successor Republics of USSR were issuing the so called
‘repatriation visa’ to Greece and subsequently, the interested parties were
addressed to the competent Prefectures, in the department of the country where
they wanted to settle. There, they were claiming the definition of their nationality, as well as their registration in the municipal rolls. The procedure was summary and extremely vulnerable to corruption phenomena, which are tracked
down either at the Greek consulates or at the several registry offices of former
USSR that were certifying the person’s Greek origin. At the end of 2003, the
Council of State had already revoked numerous nationality acquisitions, on the
grounds that the required documents were false.54 As of the early nineties, the
Greek public opinion regards this mode of nationality acquisition rather with
depreciation, naming it hellenopoiisis (‘Greek-making’). The two big political
parties argue concerning the lawfulness of the procedure and they accuse each
other that the hellenopoiisis aim at the electoral reinforcement of each government. The conviction though that the Pontians ‘new-refugees’ (according to the
official terminology) are neither Pontians nor new-refugees is diffuse at the mass
media and the Greek public opinion. It is maintained that, in their major part,
they are immigrants from USSR, who just were looking for a new working envi52 Circular ?7914/6330/2.3.2000 of the Ministry of Interior on ‘Acquisition of the Greek nationality by homogenis of ex-USSR’.
53 Circular 28700/11333/26.5.1993 of the Ministry of Interior on ‘Notification of provisions of
the Law 2130/1993’.
54 The revoked nationalities were 2,152 out of 124,813 acquisitions.
52
faculdade de direito de bauru
ronment and who acquired the Greek nationality under extremely inequitable
procedures. However valid or stereotyping this widespread perception is, it is
structured on an existing social substratum of contradictions. The rate of integration of the Pontian ‘home-comers’ in the labour market and in the Greek society, in general, is rather disappointing and certainly much lower than the respective rate of the other immigrants in Greece. The acquisition of the Greek nationality and a series of social benefits that the Greek state has foreseen in favour of
these people55 are not enough to decrease the great distance in terms of mentality and other habits, which separate people that used to live in some of the
most undeveloped Republics of the former USSR from their new co-citizens.
Law 2130/1993 has also introduced the possibility for homogeneis to become
naturalised abroad through the submission of a relevant declaration to the Greek
consul of the country of their residence. The consul’s report is the crucial document upon which the judgment was based. In the relative circular for the implementation of this provision it is once more stipulated that the key element that certifies the status of homogenis is not only or not mainly the ‘racial origin’, but principally the ‘national consciousness’, which the consul is called to identify by means
of a series of methods that constitute rather violation of the interested parties’ private life.56 In any case, this regulation was aiming at the facilitation of homogeneis
that could not produce a document certifying their registration in the consular registries or a soviet document certifying a registered nationality. It is mentioned however, that the number of persons that have acquired the Greek nationality in that
mode is rather small (Tsioukas, 2005: 8), while the improprieties that had been
tracked down and admitted in the course of these ten years made the Greek state
proceed with a new regulation on the whole57 aiming expressly now at the ‘avoid55 An exhaustive inventory of these facilitations and benefits is included in: Argyros (1996:81313) and concern the establishment of private schools of Greek language and reception
groups, registration in universities under favourable terms, free of charge provision of health
care, favourable provisions as to their appointment to public posts, housing programmes, customs exemptions etc.
56 The most interesting part of this circular consists in the elements, which - according to the
Greek administration - demonstrate lack of national consciousness. Once it is accepted that it
is not possible to designate exhaustively elements of such kind, the following are indicatively
set out: a) the non registration of these persons in the consular registries, b) the non observance of their obligations towards the Greek consular authorities and the breach of any contact with them for a long period of time, c) the absence or non-participation in national and
other manifestations regarding Greece or other issues of overall national interest abroad, d)
the acquisition of a foreign nationality, e) the use by them of foreign passports for several travels, f) the voluntary military service at the armed forces of a foreign country, g) the long lasting interruption of any contact with Greece, h) the lack of relatives that are Greek citizens and
reside in Greece or the breach of any contact with them, i) the total ignorance of the language, history and civilisation of Greece, k) the participation in organisations and manifestations
that undermine national issues etc’, Circular of the Ministry of Interior ?32090/10643.
57 By the Law 790/2000 and consequently by its amendment by the Laws 2910/2001 and
3013/2002.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
53
ance of phenomena of acquisition of the Greek nationality by non-homogenis’.58
The key feature of the novel framework, which more or less is still in force and
which aims at the regularisation of the chaos existing until then, is the establishment of a specific consular commission, which interviews the interested persons, in
order to identify if they have right in being recognised as homogenis. The report of
the consular commission is conveyed to the Region, in which the person desires to
settle, where another specific commission renders an opinion. It is worth-mentioning that, according to the law, a member of this commission ‘is obligatorily appointed by the most representative homogenis association in the Region’ (article 15 of
the Code of Greek Nationality). The presence of such a representative in the commission is indicative of how important is the role that the associations of Pontians
and North-Epirots59 have played in the overall procedure of ‘home-coming’ from exUSSR and migration of the homogenis from Albania.
3.2.3 The fluid status of the Greeks from Albania
The greatest part of migrants that came in Greece during the nineties
is Albanians. According to the National Census of 2001, Albanian immigrants represent more than half of the total of immigrants in Greece and
amount to half a million.60 According to credible information of the Ministry
of Public Order, the persons out of this total to whom the status of homogenis has been conferred, in line with the relevant Ministerial Decision, 61
amounts to 200,000. The exact number is not known, since the Ministry of
58 Cf. Circular ? 79174/10913/18, 17.3.2000 of the Ministry of Interior on the ‘Acquisition of the
Greek nationality by homogenis of the ex-USSR. Therefore, ‘the commissions judgment
should equally take into consideration whether the person really shares the tradition of
Hellenism of ex-Soviet Union, is familiarised with the Greek customs, the way of life as it has
been formed in the place of residence of Greeks in these countries, speaks the Greek language or the Pontian dialect etc’.
59 The Greek Albanians are referred to in public and everyday life discourse, as ‘North Epirots’,
thus inhabitants of ‘North Epirus’. This region of Southern Albania has been traditionally contested between Greece and Albania. It should be underlined that this place name is commonly used in Greece and accepted by all political actors, as well as by the large public. So, their
‘public adjective’ puts emphasis on the fact that they exist as such, only in relation to the territory - which they have ‘abandoned’ coming in Greece. A great portion of the South Albanian
territory, in principle sometimes larger than the one inhabited by the Greek minority there,
has been traditionally the object of Greek claims right from the interwar period and especially at the Treaty of Paris, after the end of the Second World War. The term ‘North Ipirus’
implied then a territorial continuity between the northwest department of Greece that is called Ipirus and its northern part, which -even claimed by Greece- remained in Albania. Today,
however, the use of the term VoreioIpirotes (from Northern Ipirus) lost its irredentist content
and is often used by the Albanians themselves (Christopoulos &Tsitselikis, 2003).
60 According to the census results, 443550 of the declared 796713 immigrants are Albanians
(Pavlou, 2004:373), while it is validly calculated now that their number has increased by
almost two hundred thousand, reaching one million (Baldwin-Edwards, 2005:4).
61 4000/3/10-??/2001.
54
faculdade de direito de bauru
Public Order refuses to publicise it, invoking ‘reasons of national security’
(Baldin-Edwards, 2005:2).
It has to be clarified that the critical issue here is the strategic choice of
absolute refusal of the Greek state to allow the acquisition of the Greek nationality by the Greeks from Albania. The reason lies in the fear that the possible
acquisition of the Greek nationality may possibly entail the withdrawal of the
Albanian nationality and consequently, to the definitive historical extinction or
statistical death of the Greek minority in Albania. The Albanian Constitution does
not prohibit dual nationality. Nonetheless, a major deficit in terms of trust traces
the Greek-Albanian relations. Given that in both states there survives – always
more marginally, indeed - an open irredentist speech against each other, the
endeavour for bilateral settlement, which has been intensified in the summer of
2002, with a view to concluding a bilateral agreement between Greece and
Albania, was not successful. Ever since, the issue is pending, but the complaints
within the population of North-Epirots still exist.62
The only categories of Albanian nationals that have lately started to acquire
the Greek nationality have been the former holders of passports of homogenis
from Turkey and Albania only in 1999, and as of 2001, the persons that were in
a position to prove that an ascendant of them has had the Greek nationality in
the past.63 In 1998, the provision of a Specific Identity Card of Homogenis ‘to the
Citizens of Albania that are of Greek descent and live in Greece’64 has been dic62 In fact, the Greek state is before an impasse stemming from the incredibly large number of people
from Albania that have been given the Specific Identity Card of Homogenis. While, as said before,
the number of Greek Albanians cannot exceed hundred thousand people, even according to the
most Greek-oriented statistical assessment (against sixty thousand that Albania recognises), the holders of these Cards amount, as already mentioned, to double number. At this point, one may suppose many things as to the motives of this policy to provide the Homogenis Identity Card to a large
number of Christian Orthodox Albanians who have migrated to Greece. The only certain thing is
that the prospective that these people acquire the Greek nationality causes a certain discomfort.
63 Until recently, there were people, descents of Greek minority families of Albania that have been
born in the Greek territory during the 40s, 50s and 60s; these people continued to have the
Albanian nationality, albeit they had no bonds at all with Albania nor had they ever visited it. We
refer the group of persons that has been examined above, the ‘quasi stateless people’, according to
the afore-mentioned Ministerial Decision of 1976 (cf. supra footnote 33). Before the Second
World War, the borders between Greece and Albania were open. Many individuals were moving
from Greek to Albania either due to family bonds or due to professional or other living activities.
So, at the decisive moment, after the Second World War, they did not expect the abrupt political
decision of the Albanian government to close the borders with Greece. This resulted in that an
important part of persons have been enclosed in Albania. These people managed to leave for the
first time no earlier than in 1990. The same has happened, in the reverse way, for many members
of the Greek minority of Albania that have been enclosed in Greece. These people have started to
acquire the Greek nationality only in 1999, while until then, they had been subordinated to the
particular status of semi-citizenship, along the lines of the Secret Ministerial Decision of 1976.
64 It is to be mentioned that for the Greek law the proof of the person’s Greek origin is sufficient
and national consciousness is not examined at all, as it happens as a rule with the other cases
of homogenis; this confirms overtly the flexible nature of the quality of homogenis, which has
been already analysed.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
55
tated in the place of conferment of the Greek nationality. These Identity Cards
are provided by the police authorities that conduct the related investigation, in
order to ascertain the person’s Greek origin. The Identity Cards are of three
years validity; they are renewable and are granted to the spouses and descents
of homogeneis, as well.
This brief description demonstrates in the clearest way that there exists a
double standard policy as regards the acquisition of nationality by the Greek
homogenis. This policy has created numerous problems, since the Greek state
does not take account of the genuine will or capacity of these people to be integrated in the Greek society in none of the criteria for the granting (or not) of the
Greek nationality. The only criteria that have been put into practice constitute
the fruit of obvious - although rarely admitted - political choices, mainly in the
name of inter-state relations or of the ‘national commitment towards Greek
brothers’. These criteria, though, generate obvious injustices, inequalities and
impasses, which the Greek state has not yet managed to encounter.
3.3 The Greek law on nationality as an exceptional normative framework
The Greek nationality law is par excellence a normative framework of multiple exceptions from the rules governing the relations between administration
and individuals. These exceptions derive from two provisions of the Code of
Greek Nationality. According to art. 8, par.2 of the Code, ‘the decision rejecting
the naturalisation application is not entitled to vindication’, whereas, as a general constitutional principle, all-unfavourable to the individuals administrative
acts, should be fully justified. The second provision prescribes that the articles
of the Code of Administrative Procedure concerning the deadline for the administration’s obligation to reply to the citizens’ requests do not bind the administration ‘in cases related to acquisition, recognition or reacquisition of the Greek
nationality».65 From the first exception above, derives, in principle, the non-subordination of administrative acts or omissions related to nationality to any
jurisdictional control. From the second exception above,66 derives the general
exception from any obligation to respond to individuals addressing in scripto
65 Cf. art. 31 of the Code. The general deadline given by the Code of Administrative Procedure
(L. art. 5, par.4 of Law 2690/1999) is sixty days.
66 This is excused by ‘work pressure’. On the matter, we may draw attention to the relevant circular of the Ministry of Interior, according to which ‘the obligation of the public service to respond to the applicants within the time laid down by law, is not valid when it comes to issues
related to Greek nationality. The necessity of such a regulation is obvious, since, for the above
mentioned issues much bigger time for investigation and collection of data is requested, in
order to be in position to examine the applications.’ Cf. Circular ?.32089/10641, 26.5.1993
‘Notification of provisions of the Law 2130/1993 on amendments of the articles of the Code
of Greek Nationality and instructions for their implementation’.
56
faculdade de direito de bauru
their demands to the administration. These two exceptional characteristics are
the main reasons behind the extremely poor case law of the Greek administrative justice, on issues related to nationality loss or acquisition.
Without overstating the case, it is obvious that this regime of multiple
exceptions dominating the Greek nationality law limits in a flagrant way, the possibility of effective jurisdictional remedies and judicial control. Behind this legal
regime, lies the consolidated view of the Greek administration that all tangible
issues related to nationality do not pertain to the exercise of human rights and
freedoms, but to the field of exercising sovereignty and protecting state interests. The limited jurisprudence of the State Council, the country’s highest
administrative court, does not take any distances from the above-mentioned
position. Therefore, it comes as no surprise that its case law is inexistent in cases
of nationality acquisition and marginal in cases of nationality withdrawals.67
This perception, which is not a Greek inspiration or novelty, has largely
contributed to the formation of a systemic maladministration mentality of the
Greek authorities as to issues pertaining to nationality. This mentality is founded on two pillars. The first is a peculiar administrative orality. The second is an
unlimited exercise of discretionary power in issues related to nationality loss
and acquisition. The exception from the general terms provided by the Code of
Administrative Procedure offers to the administration the possibility, interpreted
in the broader possible way, to keep in the archives the naturalisation applications for years and years, even decades. The fixed answer that is orally given by
the Ministry’s servants to the applicants is that ‘your file is under examination’.
On the relevant issues, the discretionary power of the administration is, strictly
speaking, endless. It is also indicative that the first administrative document
inviting the Ministry’s staff not to abuse this discretion is the latest circular
issued for the implementation of the new Nationality Code, only in January
2005.68
We’ve mentioned equally a ‘peculiar administrative orality’: in February
16th 2005, the caretaker Minister of Interior assigned by the socialist government
before the 2004 elections, declared in a conference: ‘When I took over my post,
67 Such judicial decisions concern mainly the undue implementation of the former article 19 of
the Code of Greek Nationality (Kostopoulos, 2003: 64). A specific decision of the Council of
State that is worth-mentioning is a very recent one (603/2003) which revokes the nationality
withdrawal that was not notified in due time to the individual. In the light of the principle of
the so-called ‘protected confidence’ of the citizen to the administration, the act of nationality
withdrawal was revoked on the grounds that it is not permitted to the administration to surprise the individual who lives for thirteen entire years, believing that he was a Greek national
by birth.
68 ‘It is reasonable that concerning simple nationality issues, when there is no need for investigation and when the civil servant has all the documents needed, the acts of the administration
will be immediate, the applicant will be informed on due time and there will be no abuse of
the provision in question». Circular of the Ministry of Interior ?/102744/2709, 28.1.2005.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
57
I requested an official briefing on nationality issues, where I first heard about an
oral instruction of the former Minister. The instruction was to not to proceed
with any naturalisations of people from the Balkans …’ (Alivizatos N., 2005).
This orality has much more to do with the content of cardinal distinction
‘homogenis-allogenis’, on which finds legal grounds the differentiated treatment
of foreigners as to issues pertaining to nationality acquisition. One of the invariable components of the Greek nationality law, from its origins, is that the recognition of the homogenis virtue to a foreign national constitutes a presumption
for his privileged treatment as far as the nationality acquisition is concerned.
Nevertheless, as we have already pointed out, the virtue of homogenis is
extremely loose, dictated by what the Greek authorities consider as necessity,
interest or threat at that right moment. The result is that the policy of nationality acquisition or loss is much less depended on the law, but more on the
Ministry’s circulars and, even more, on the will and the (obvious or obscure)
motives of political leaders or high ranking administrative officials.
This phenomenon of de facto reversal of the hierarchy of legal norms – the
circulars obtaining greater legal significance than the law as such – is not
unknown to the Greek administration. However, it is self-evident that the larger
the discretionary power of the administration is, the wider the normative framework covered by the ministerial circulars is. One extreme, but indicative case is
that of the Common Ministerial Decision on ‘ definition of nationality of homogeneis of pontian origin from USSR’,69 which inaugurates in the beginning of the
nineties the acquisition of Greek nationality for the Pontian ‘home-comers’
based on a summary procedure. This decision that gave the green light to more
than hundred thousands nationality acquisitions for the first time in the Greek
history after the population exchanges of 1923, has been actually contra legem
until 1993. At the time of its issuance, the mandatory law of 1940, which practically prohibited the nationality acquisition of this population, was still in force.70
As a footnote of the story, the law of 1940 has been abolished, three years after.71
4.
CONCLUSIONS
The juncture of migration
The issue of nationality has never kept busy public dialogue in Greece. That
can be easily detected at all different levels: the state, the civil society, as well as
the Greek literature in the field of legal and political science. There are reasons
69 24755/6.4.1990.
70 Cf. article 11 and 12 of the Mandatory Law 2280/1940.
71 By article 23 of L. 2130/1993.
58
faculdade de direito de bauru
for that. The Greek state never felt safe enough to address nationality matters,
considering the issue as par excellence a ‘nationally sensible’ issue, according to
a very widespread term of the Greek public discourse. The Greek society, on its
part, never felt incline to bother with nationality matters, considering -to a certain
extent reasonably- that it is not concerned. The only occasion, on which issues
related to nationality come in the full blaze of publicity, was the case of nationality acquisitions by the Greek Pontians of the former USSR. These nationality
acquisitions however, have preoccupied the public opinion more as a scandal of
clientelism against governments that ‘make Greeks’,72 in order to collect votes
than as an issue related to the Greek identity. Finally, the Greek academia has very
little to demonstrate as products of its intellectual preoccupation with nationality. With the exception of a very limited literature emanating from the field of private international law (Passia, 2004) and from former high-ranking civil servants
of the Nationality Directorate of the Ministry of Interior (Grammenos, 2003), the
Greek legal or political science or sociology has a very limited contribution to the
relevant research. Issues such as ‘active’, ‘civic’ or ‘social’ citizenship preoccupying recently the policies and literature of other countries in the European Union,
in Greece are simply irrelevant (?sitselikis, 2004: 14).
The problem that the Greek policy faces with issues related to nationality loss
and acquisition at the outset of the 21st century is for sure related to the highly
defensive and phobic way, in which the Greek State deals with migration to the
country. In our days, it is a common assumption that ‘[I]t took more than five years
for the Greek government to realise that immigrants were there to stay and the new
phenomenon could not be managed only through stricter border control and massive removal operations’ (Triantafyllidou, 2005: 5). As it has been aptly put by a
leading NGO in the field of human rights: ‘the Greek legislator (…) copes with
migration, at the best of times, as a historical accident, and at the worst, as a crime.’73
Additionally, from the first year of its operation, the Greek Ombudsman has pointed out that ‘[a]s in other European countries, the insistence of the Greek law on ius
sanguinis’(the so-called blood principle) is the source of many problems (…), not
only for foreigners of non-Greek descent what settle permanently in Greece with
the intention to integrate into Greek society or acquiring Greek citizenship, but also
for individuals of Greek descent seeking to acquire Greek citizenship or to have
their citizenship recognized, as well as by stateless persons and persons of indeterminate citizenship’ (The Greek Ombudsman, 1999: 28).
The fact that already at the end of the 20th century the ius sanguinis principle starts to be influenced by residence based modes of nationality acquisition
72 As stressed before, the pejorative term widely used for the nationality acquisitions of PontianGreeks is the one of hellenopoiisis i.e. ‘Greek-making’.
73 Hellenic League for Human Rights, Press Release 12/2000 on the occasion of the adoption of
the new legislation on migration. Cf. www.hlhr.gr.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
59
in its birthplaces of Central Europe, does not seem to bother up to now the
Greek authorities. The new Nationality Code, which has been adopted by the
Greek Parliament at the end of 2004, does not even slightly move towards the
direction of adopting specific rules for the nationality acquisition by individuals
born and living in Greece. The result is that their naturalisation procedure is
subject to the same - in practice stricter – rules from the generally applicable
ones. For the foreign parents of children born in Greece, the lapse of a ten year
period suffices, while for the children born in the country, the precondition for
their naturalisation remains the coming of majority age (i.e. eighteen years),
unless, of course, they acquire nationality as unmarried minors, through their
parents’ naturalisation. We are talking, therefore, about an obviously introvert
and weak-spirited legislative development: one (more) lost chance towards a
perceptive and far-sighted planning, disengaged from out-of-date views and
obsolete methods, at least as far as human rights standards are concerned.
The Code has passed en bloc without any prior public consultation with
relevant bodies, with the absolute majority of votes of the two big political parties. It is rather indicative that the Code has been elaborated by the Ministry of
Interior during the previous socialist government and has been brought into
Parliament and passed - without the slightest amendment - by the new conservative government.74
The historical legacy
The various different aspects of issues related to nationality loss or acquisition
dates to the routes of the Modern Greek state foundation. This model of state foundation is based in an ideotypical composition of political sovereignty through the
recognition of rights and freedoms to all Greeks, without any discrimination, on
the one hand, and accession to nationality through the recognition of certain
ethno-cultural characteristics, according to the juncture’s priorities, on the other.
However, the above-mentioned model is going through a structural crisis due
to the political conflict between the left and ‘nationalist state’ (ethnikofron kratos)
which dominated the Modern Greek political scene in course of a major part of the
20th century. In the longwinded culmination of this conflict – from the beginning of
the civil war till the end of the dictatorship (1946-1974) - the Greek state went as
far as to consider that the Greek communists are not (worthy to be) Greeks, and
therefore, as such, are not entitled to the Greek nationality.
74 The Code was voted down by the two political parties of the left, the Communist Party and
the Left Coalition, the MPs of which expressed serious objections particularly regarding the
naturalisation fees of 1,500 euros, as well as the general strict preconditions of the naturalisation procedure. None of them however, contested the fundamental regulatory categories and
concepts of the Greek nationality law, such as the preferential treatment to the homogenis, etc.
60
faculdade de direito de bauru
Within this conflict, the Greek state has been threaten and triumphed, not
by achieving a consensus, but by forcing the subordination of the majority of the
Greek people. Besides the par excellence internal enemy personalised until
1974 by the Left, there remain still considerable relics of national minorities, perceived collectively as the Trojan Horses of neighbouring nationalisms and irredentisms. If the fall of the dictatorship in 1974, displaces for good the weight of
the enemy’s perception from the communists to the individuals belonging to
minorities, the appearance of a million migrants (particularly from Albania) in
the last decade of the 20th century, supplies historically well-known suspicions.
‘What will happen with a new Albanian minority in Greece?’ is a common but
often unmentionable fear.
Henceforth, the inertia of the previous attitudes is such, that the Greek
state and society still consider themselves under a continuous state of threat,
even if such threat would not arise from a dispassionate view of things.
4.3 Imperfect Greek Jacobinism
Following the tradition of 1789, the Greek polity is indelibly sealed by a
classical pattern of Jacobinism. Belonging to this polity signals the suppression
of any mediatory body between the state and the individual with the sole exception of (one) nation ( Wallerstein, 2003: 655). Nevertheless, the Greek
Jacobinism is imperfect (Christopoulos, 2004: 359-361). If the traditional type of
this ideology wants the nation to be the exclusive mediator between state and
individual, its Greek particular version has an additional pretension: the interference of the (orthodox) genos.
The Greek political community resorts to assimilation strategies, because
it cannot conceive non-assimilated members. That is the essence of the country’s
policy towards minorities all along the 20th century. However, the Greek political community cannot conceive that some individuals are in position to be assimilated and, therefore, potentially entitled to the Greek nationality. To put it simply: everybody can become French, so long as (s)he is inspired by the ideals of
the French revolution, nation, etc. For the Greek perception, the Turk cannot
become Greek, unless he is converted to Christianity.75
Concluding, we would argue that the above-mentioned Greek model presents the symptoms of a definitive historical exhaustion. The major challenge of
its redefinition is already mature. The reason for this is the recent massive migration phenomenon towards the country. The structural contradiction of this
75 That has been the case for a considerable number of Muslims in the newborn Greek State in
the 19th century: in order to acquire the Greek nationality and reside in Greece, they were
christened.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
61
model lies in that, on the one hand, it regards assimilation as an absolute condition for the social integration of migrants, while, on the other hand, it obstinately refuses the Greek nationality to the overwhelming majority of these people, in the name of the pro-national and static category of the orthodox genos.
In other words, the adherence in the rights oriented 1789 ideology is undermined by a purely ethno-cultural, ontological perception on the foundation of
the political community. Of course, that is no Greek particularity. ‘National citizenship – as an ideology and as an institutional practice – has always embodied
both of these components’ (Soysal, 1996:17).
The Greek nationality in the threshold of the 21st century finds itself before
new tormenting dilemmas: for the first time in its adventurous history, in quest
of brave inclusion strategies of non-Greeks.
That is its inescapable juncture.
BIBLIOGRAPHY
Alivizatos N., (1979) Les Institutions Politiques à Travers les Crises 1922-1974, Paris:
Librairie Générale de Droit et Jurisprudence.
Alivizatos N., (2005) Keynote speech, Conference organized by the Hellenic League for
Human Rights: «History and Juncture of the Greek Nationality », Athens, February, 2005.
Anagnostou D., (2005) ‘Deepening Democracy or Defending the Nation? The
Europeanisation of Minority Rights and Greek Citizenship’ [Forthcoming in West
European Politics, Spring 2005].
Argiros A., (1996) The Legal Regime of Home-comers, Athens: National Foundation for
the Rehabilitation of Homogenis and of Greeks Abroad [in Greek].
Baldwin-Edwards M., (2005) Statistical Data on Immigrants in Greece, Athens:
Mediterranean Migration Observatory.
Baltsiotes L., (2004a) ‘Nationality in the Cold War’ in Christopoulos D.& Tsapogas M.,
1953-2003: Human Rights in Greece from the End of the Civil War till the End of the
Change of Regime’, 81-98, Athens: Kastaniotis publishing [in Greek].
Baltsiotes L,. (2004b) ‘Nationality and Naturalisation in Greece of Migration’ in
Christopoulos D. & Pavlou M., (ed.) Greece of Migration, 303-337, Athens: Kritiki publishing [in Greek].
Bauböck R., (1994) ‘Changing the Boundaries of Citizenship. The Inclusion of
Immigrants in Democratic Polities’ in Bauböck R., (ed.) From Aliens to Citizens –
Redefining the Status of Immigrants in Europe, (199-232) European Centre Vienna:
Avebury.
Centre of Planning and Economic Research (KEPE) (1978), The population of Greece,
Evolutions and assessments, Report of the Population Committee, Athens.
62
faculdade de direito de bauru
Christopoulos D.& Tsitselikis C. (ed.) (2003), The Greek Minority of Albania, Athens:
Kritiki publishing [in Greek].
Christopoulos D. & Tsitselikis C., (2003a) ‘Impasses in the Treatment of Minorities and
Homogenis in Greece’ Jahrbücher für Geschichte und Kultur Sudosteuropas 5/2003: 8193.
Christopoulos D., (2004) ‘Nationality in the Era of Migration’ in Christopoulos D.&
Tsapogas M., 1953-2003: Human Rights in Greece from the End of the Civil War till the
End of the Change of Regime’ 99-109, Athens: Kastanioti publishing [in Greek] .
Dimakis I., (1991) The Regime Change of 1843 and the Issue of Autochthonous and
Eterochthonous Populations, Athens: Themelio publishing [in Greek].
Dimoulis D., (2001) ‘Zwischen Frankreich und Deutschland. Volk, Staatsangehörigkeit
und Staatsbürger im Griechischen Öffentlich-Rechtlichen Denken des 19. Jahrhunderts’
In Kassimatis G.,& Stolleis, M.,(Hg.) Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre.
Griechisch-deutsche Wechselwirkungen, 87-137, Frankfurt: Klostermann.
Georgiadou I., (1941) The Greek Nationality, Athens [in Greek].
Grammenos S., (2003) The Law of Greek Nationality, Athens: Karanastasi publishing [in
Greek].
Kokkinos G., (1997), ‘The Greek Constitutions and Nationality (1844-1927)’ in Mnimon
19: 78-89 [in Greek].
Kostopoulos T., (2000) The Forbidden Language, Athens: Black List publishing [in
Greek].
Kostopoulos T., (2003) ‘Nationality Withdrawals: the Dark Side of Modern Greek
History’ in Synchrona Themata 83: 53-75 [in Greek].
Liakos A., (2002) ‘Identitta e Cittadinanza nella Grecia Moderna’ in Sorba C.,(ed),
Cittadinanza. Individui, Diritti Sociali, Collettivita nella Storia Contemporanea, 6379, Rome: Publicazione degli Archivi di Stato.
Michailides I., (2003) Displacements of slav-speaking populations (1912-1930). The war
of statistics, Athens: Kritiki publishing [in Greek].
Ministry of Macedonia – Thrace (2000) The Identity of Home-comers Homogenis from
the ex-Soviet Union, Thessaloniki [in Greek].
Pantelis A.& Koutsoubinas S., Gerozissis T., (ed.) (1993) Texts of Constitutional History,
volume I, Athens: A. Sakkoulas publications [in Greek].
Papassiopi-Passia Z., (2004) Law of Nationality, Thessaloniki: Sakkoulas publications [in
Greek].
Pavlou M., (2002) ‘Greek State Policy from ‘Irredentism’ to ‘Home-coming/Immigration’:
The Case of two Repatriated Kin Minority Groups», in European Commission for
Democracy through Law, The Protection of Minorities by their Kin-state, 195-208.
Strasbourg: Council of Europe publishing.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
63
Pavlou M., (2004) ‘Annex’ in Christopoulos D. & Pavlou M., (ed.) Greece of Migration,
367-402, Athens: Kritiki publishing [in Greek].
Seferiades G., (1928),‘L’Échange de Populations» in Recuiel des Cours de l’Académie de
Droit International, IV 307-439, La Haye
Sitaropoulos N., (2004) ‘Freedom of Movement and the Rights to a Nationality v. Ethnic
Minorities: The Case of ex Article of the Code of Greek Nationality’, European Journal of
Migration and Law 6: 205-223
Soysal Y., N., (1996) ‘Changing Citizenship in Europe. Remarks on Postnational
Membership and the National State’, in Cesarani D. & Fulbrook M. (ed.), Citizenship,
Nationality and Migration in Europe, 17-29, London: Routledge
Stavros S., (1996) ‘Citizenship and the Protection of Minorities’ in Feather Stone K.&
Yfantis K. (ed.), Europe in Change – Greece in a Changing Europe, 117-128, Manchester:
Manchester University Press.
The Greek Ombudsman (1999) Annual Report 1998, Athens: National Printing House
[and in http://www.synigoros.gr/en_annual_1998.htm]
Tsioukas G.,(2005) ‘Homogeneia and Nationality’, paper presented at the Conference
‘History and Juncture of the Greek Nationality’ organized by the Hellenic League for
Human Rights, Athens, 16 February 2005 [in Greek].
Tsitselikis K., (2004) ‘Citizenship in Greece: Present Challenges for Future Changes’, in
www.kemo.gr
Wallerstein I., (2003) ‘Citizens All? Citizens Some!’ The Making of the Citizen,
Comparative Studies in Society and History, Volume 45/4: 650-679.
colaboração de autora
nacional no exterior
Michel troper
Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira e Silva
Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Pós-Graduação em Filosofia do Direito, Universidade de Paris, Panthéon Assas.
Atualmente, passou a integrar o quadro docente da ITE, como
Professora de Sociologia da Faculdade de Direito de Bauru.
Table des Matières: 1. Introduction - 2. Kelsen et Troper - 2.1 Systèmes: dynamiques et statiques - 3. La Théorie Réaliste de Troper - 4. L´interprétation - 5. Jurisprudence: Source du Droit
- 6. Hiérarchie des normes - 6.1. La Constitution - 7. L' incompatibilité entre justice constitutionnelle et démocratie - 8. Michel Troper et la séparation des pouvoirs - 9. Bibliographie.
Mots-clés: Théorie de Michel Troper, un disciple de Kelsen, le positivisme, systèmes normatifs, la séparation des pouvoirs.
1.
INTRODUCTION
Ce travail a comme but étudier les différents aspects de laThéorie de
Michel Troper.
Michel Troper a été professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, jusqu’à
2003 quand il a retraité, où il a dirigé le Centre de Théorie du Droit et il a aussi
été membre de l’Institut Universitaire de France. Il a assuré également un enseignement régulier à l’Académie européenne de théorie du droit de Bruxelles et a
été invité en qualité de visiting professor dans plusieurs universités étrangères,
notamment à Chicago (University of Chicago), New York (Cardozo School of
Law), Boston (Boston College). Michel Troper a été Président fondateur de la
SFPJ (Société Française de Philosophie Politique et Juridique) et parmi ses publi-
68
faculdade de direito de bauru
cations nous devons sousligner: Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF
(coll. Léviathan), 1995; Le droit, la théorie du droit, l’État, Paris, PUF(coll.
Léviathan), 2001 ; La philosophie du droit, Paris, PUF (Que Sais-je?), 2002 ;
Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2003 (avec Francis HAMON), 27ème édition.
A Nanterre, il a enseigné théorie générale du droit et philosophie du droit
et les thématiques les plus constants dans ses travails sont épistémologie juridique, théorie de l’interprétation et histoire constitutionnelle française. En France
il est un philosophe très reconnu, mais malheureusement au Brésil il n’a pas
beaucoup d’études sur ses thèses donc je espère que ce travail puisse l’aider a
devenir celebre au Brèsil.
Ainsi, il nous faudra impérativement écrire sur: l’influence de Kelsen, l’interprétation, l’hiérarchie des normes, la séparation de pouvoirs, parmi d’autres sujets.
Dans les pages suivantes, nous allons nous apercevoir que Troper est un
disciple de Kelsen, car sa théorie s’approche beaucoup de la théorie
Kelsenienne, ainsi comme de sa critique dans plusieurs aspects.
2.
KELSEN ET TROPER
Kelsen et Troper sont positivistes, ils ont la même conception de la relation du droit avec l’État et de quelques points de la Théorie Politique, comme
enseigne Charles Leben dans son article nommé “Troper et Kelsen”.1 Seulement,
le positivisme serait capable de décrire l’organisation accomplie du pouvoir.
Kelsen et Troper avaient comme objectif élaborer une théorie du droit et
de l’État, ayant comme modèle les sciences empiriques. Ce qui prouve que pour
Troper la théorie de Kelsen avait encore des défauts, des imperfections, consiste dans le fait, qu’il s’est mis à élaborer une nouvelle théorie.
Charles Leben démontre que Troper, au moment d´élaborer sa théorie,
maintient deux points des troncs de la théorie de Kelsen: la primauté du concept juridique de l´État sur tout autre concept; et la thèse de l´unité du droit et
de l´État, et conséquemment, l´analyse de l´Ètat comme un ordre juridique.2
Selon Troper l´un de graves défauts de la théorie de Kelsen, c’est que la
même a le but de construire une science du droit empirique, tout en décrivant
un objet qui n’est pas empirique. La science kelsenienne ne serait pas capable
de vérifier si ses propositions sont vraies ou fausses, puisque les normes, qui
sont l’objet de la science du droit kelsenien classique, consistent dans les faits,
dans les significations des actes de volonté, ce qui revient à dire, qu’elles ne peuvent pas être vérifiées.
1
2
Charles Leben. Troper et Kelsen. Revue Française de Théorie, de Philosophie et de Culture
Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 13/29.
Charles Leben. Troper et Kelsen. Revue Française de Théorie, de Philosophie et de Culture
Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 16.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
69
Kelsen s’est aperçu de cette imperfection et il a commencé, alors, à décrire la norme comme une commande, toutefois quand la norme décrit seulement
un fait juridique, sa science devient scientifique, mais d’autre part, selon Troper,
elle devient sociologique.
L’objet de la science de Troper ne sont pas les normes, ce sont les discours
et les raisonnements juridiques des organes d’application du droit, ce qui confère à sa science un objet strictement juridique et passible de vérification,
comme le prouve Charles Leben.3
2.1 Systèmes: dynamiques et statiques
La manière de structuration des ordres juridiques représente un autre
point de désaccord entre Kelsen et Troper.
Deux types de systèmes normatifs peuvent structurer l’ordre juridique: les
dynamiques et les statiques. Dans les systèmes dynamiques, les normes sont
valables uniquement, si elles sont instituées d’après la procédure prévue par les
normes supérieures, indépendamment de leur contenu; tandis que dans les systèmes statiques, elles sont valables d’après leur contenu.
Dans les systèmes statiques les normes peuvent être déduites les unes des
autres, alors que dans les systèmes dynamiques, elles peuvent être produites les
unes selon les autres. Afin d’avoir une unité dans le système statique il faut
découvrir celle qui a été la première norme, tâche qui se montre infaisable. Dans
le système dynamique, une norme ne sera valide que si l’on considère comme
valide une norme précédente et supérieure capable de déterminer la création
de cette même norme et de lui accorder sa validité.
Troper soutient l´idée que Kelsen considère comme dynamique le système juridique, alors que Troper soutient l’idée d’après laquelle, le système juridique peut être parfois dynamique ou statique.
Charles Leben et Pierre Brunet4 ont objectivent démontré que Kelsen n´a
pas conçu un système uniquement dynamique, ce qui nous mène à la conclusion que la théorie troperienne ne contredit pas la kelsenienne.
Les systèmes juridiques modernes sont parfois statiques et parfois dynamiques, dans la mesure où les décisions sont justifiées, c’est-à-dire, selon leur
conformité avec les normes supérieures, et selon les termes de verité et d´autorité. Par conséquence, les États modernes constituent un ordre juridique statique et dynamique, ce qui préserve l´unicité du concept de l´État et du droit,
laquelle est soutenue pour Kelsen ainsi que pour Troper.
3
4
Charles Leben. Troper et Kelsen. Revue Française de Théorie, de Philosophie et de Culture
Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p.21.
Pierre Brunet. Michel Troper et la “theorie” generale de l´État. Revue Française de Théorie,
de Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 87/110.
70
3.
faculdade de direito de bauru
LA THÉORIE RÉALISTE DE TROPER
L´une des principales caractéristiques de la science réaliste, comme le
souligne Olivier Jouanjan,5 c´est qu´elle est distincte de son objet, ce qui lui
permet de le décrire comme une réalité objective, n´ayant pas le but ni de le
modifier ni de le juger. L´objet élu à être décrit c´est le droit positif.
Troper propose alors, une utilisation différente du terme rationaliste par
rapport à ceux qui comprennent que le droit est obligatoire puisqu’il est posé
conformément à la raison. Considère-t-il que la rationalité représente une qualité de la démarche, pas de l´objet, c´est-à-dire qu’il appelle rationnel ceux qui
utilisent la raison, même si cette utilisation abouti à la conclusion d’après laquelle le droit n’est pas rationnel.
La théorie réaliste de l´interprétation, créée par Michel Troper, suppose
que la norme a comme origine l´interprétation du juge, comme nous verrons
plus loin d’une manière plus détaillée.
4.
L´INTERPRÉTATION
Professeur Philippe Raynaud6 éclaircit que, selon Troper, l´interprétation
est un acte de volonté, pas de connaissance. C´est-à-dire, que le pouvoir
d´interpréter est un pouvoir de création, et non pas seulement de découverte
du droit, donc, l´interprétation des lois par le juge est un acte de volonté et non
pas uniquement un acte de connaissance.
Professeur Stéphane Rials7 met aussi en évidence cet aspect de la théorie
de Troper, tout en observant, que selon cet auteur, l´interprétation n´est pas un
acte de connaissance susceptible d´être apprécié en termes de verité, étant
donné qu’il s’agit d’un acte de volonté, ce qui revient à dire, que son résultat
serait efficace ou inefficace, vrai ou faux.
L´interprète établi la signification d´un texte de forme discrétionnaire,
l´objet de l´interprétation n´est pas une norme, mais un texte. Les textes du
droit n´auraient aucun sens avant d´être interprétés, l´interprète est donc libre
de choisir une interprétation parmi plusieurs autres qui traitent d´un même
texte. On n´interprète pas une norme, néanmoins, c´est l´interprétation qui
donne origine à la norme. Avant l´interprétation, il n´y a pas de norme. L´inter5
6
7
Olivier jouanjan. Une interprétation de la théorie réaiste de Michel Troper. Revue Française
de Théorie, de Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 39.
Philippe Raynaud. Philosophie de Michel Troper. Revue Française de Théorie, de
Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 3/12.
Stéphane Rials. La démolition inachevée. Michel Troper, l´interpretation, le Sujet, et la survie
des cadres intellectuelles du positivisme néoclassique. Revue Française de Théorie, de
Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 55.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
71
prétation consiste à choisir une signification, c´est-à-dire, choisir une norme, et
ce choix-là représente un acte de volonté. Donc, l´interprétation crée les normes et, en les créant, crée-t-elle le droit.
La norme en vigueur est celle dont le sens a été établit par une interprétation authentique. Selon Troper, l´interprétation authentique est celle réalisée
par les juges de la Cour Suprême, n´étant pas susceptible à quel changement
qui soit. Par contre, Kelsen soutient que l´interprétation authentique est celle
réalisée par le législateur. Cette pensée troperienne peut aboutir au gouvernement des juges, ce que représente l´une des critiques à cette théorie.
L´interprétation non authentique est un avis subjectif dépourvu de valeur
juridique, et seulement l´interprétation authentique est capable de créer la
norme valide. La validité de l´interprétation ne dépend pas de son contenu,
mais de l´organe qui l´impose, donc il n´existe pas de vraie ou de fausse interprétation, au contraire ce qui existe c’est une interprétation valide ou invalide.
Cette conclusion peut être considérée comme un obstacle à la théorie de Troper,
étant donné qu’uniquement la théorie passible d´être analysée comme vraie ou
fausse, peut être considerée scientifique.
L´interprétation d´un texte rendu par la Cour Suprême en jugeant un cas
concret oblige les cours inférieures à suivre la même interprétation.
Pourquoi la loi ne peut-elle pas être considérée comme un texte qui contient une interprétation authentique de la Constitution, puisque la décision de
la Cour est considérée l´interprétation de la loi? On n’interprète pas une norme
puisque celle-ci est une signification d´un acte de volonté. Interpréter consiste
à donner un significat et on ne peut pas donner un significat d´un significat.
Certes, le juge sait qu´il doit appliquer le droit en suivant la volonté du
législateur, parce que, si ses décisions sont contradictoires ou incohérentes, on
pourrait mettre en question leur legitimité. Cette idée-là aboutit à une théorie
réaliste et proche à Hobbes, lequel croyait que l´interprétation doit être fondée
sur la volonté du législateur, nonobstant, avoue-t-il, que le juge possède un certain pouvoir de création du droit.
Bref, l´interprétation a pour object un texte, pas une norme; émane-t-elle
de tous les organes d´application du droit, toutefois, uniquement l´interprétation rendue par la Cour Suprême est authentique, puisque celle-ci crée une
norme générale qui doit être suivie par les cours inférieures.
Professeur Stéphane Rials8 éclaircit qu´il y aurait deux formes d´appréhender l´interprétation de la cour supérieure: miraculeusement ou en interprétant ce que la première avait déjà interprété.
8
Stéphane Rials. La démolition inachevée. Michel Troper, l´interpretation, le Sujet, et la survie
des cadres intellectuelles du positivisme néoclassique. Revue Française de Théorie, de
Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF: Paris, 2003, p. 49/86.
72
5.
faculdade de direito de bauru
JURISPRUDENCE: SOURCE DU DROIT
La théorie troperienne met en évidence le fait que le juge représente une
source du droit, vu que la norme est créée lors de son interprétation du texte
juridique.
Pourtant, ce ne sont pas tous les juges qui créent le droit, mais seulement
les juges du dernier ressort, car les interprétations authentiques sont celles rendues par ces mêmes juges, ce qui fait que seulement ces interprétations-là possédent des effets juridiques permanents.
Toutefois, Kelsen soutenait que le juge ne créait que des normes individuelles, selon la théorie réaliste de Troper, le juge crée aussi des normes générales, ce qui peut être vérifié dû au fait que les cours inférieures doivent suivre
l´interprétation des cours supérieures.
6.
LA HIÉRARCHIE DES NORMES
Troper soutenait que si l´interprétation est une étape essentielle de
l´émission des normes, on peut en conclure que l´étude de l´interprétation
commande celui de l´hiérarchie des normes et pas l´inverse. C´est l´interprétation qui apporte des conséquences à l’hierarchie, comme l’a mis en évidence
S. Rials9.
Aux yeux de Troper, différentement de Kelsen, l´existance juridique
d´une norme législative ne s’origine pas de sa conformité à la Constitution, mais
si de l´interprétation du juge. C´est-à-dire, que la norme supérieure n´impose
pas le contenu de l´inférieure, nonobstant c’est elle qui habilite l’autorité à le
faire. La question de l´apparition des autorités n´est pas simple à être resolue
selon Troper, étant-elle “toujours un simple fait”.
La validité d´une norme n’advient pas de sa conformité à la norme supérieure, mais si de l´activité des organes compétents capables de donner interprétation authentique.
Quand Troper affirme que la validité de la norme n’advient pas du procès
de production des normes inférieures, il ne veut pas dire que l´hiérarchie soit à
l’inverse, ni que l´interprétation de la loi soit supérieure à celle-là de la
Constitution. Entre deux textes, il n´y a pas de rélation de hierarchie, lequel
n´existe seulement que entre le contenu ou la signification des ces textes.
C´est l´auteur de la norme inférieure qui confère l´interprétation de la
norme supérieure. Il faut que le policier interprète la décision du tribunal afin
9
Stéphane Rials. La démolition inachevée. Michel Troper, l´interpretation, le Sujet, et la survie
des cadres intellectuelles du positivisme néoclassique. Revue Française de Théorie, de
Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 70.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
73
d´appliquer la loi, mais celle-ci n´est pas une interprétation authentique, une
fois qu´elle peut être modifiée. Donc, la pyramide de Kelsen n´est pas inversé,
critique souvent imputée à la théorie de Troper.
6.1 La Constitution
Au départ, la théorie réaliste touche la manière dont on pense la
Constitution, puisque le Professeur Troper est catégorique en affirmant que la
Constitution n´est pas obligatoire, ce que bouleverse le monde juridique. Il
n´est pas aussi d´accord que seulement la Constitution fixe et intangible garantirait la liberté politique, une fois que l´interprétation du texte peut être modifiée par le juge, puisque c´est lui qui interprète le texte constitutionnel.
C´est le juge qui décide ce que doit être nommé Constitution et ce que sera
son régime juridique. Le pouvoir à décider ce qui est obligatoire ou pas appartient au
juge. Professeur Troper considère le juge constitutionnnel comme étant un interprète authentique, colegislateur et constituant. Colegislateur, dû à sa propre tâche, qui
est celle de déterminer le sens de la norme et constituant dans la mesure qu´il établi la signification de la Constitution afin de décider si autorise-t-elle une certaine loi.
Telle théorie cause de conséquences à l’hierarchie des normes. Or, si la
Constitution n’est pas obligatoire, elle n’a pas le même sens qu’elle a pour nous,
car la loi ne serait moins obligatoire que la Constitution. Dans ce sens, la théorie troperienne, malgré la soutenance de la pyramide de Kelsen, a échouée.
On pourrait affirmer l’existance d’une hiérarchie d’interprète, dans laquelle, les interprètes inférieurs ne pouvaient pas mettre en question l’interprétation rendue par les interprètes authentiques.
La théorie troperienne démontre qu’il peut y avoir une autre manière à
penser la Constitution.
Une autre question intéressante a rapport avec les coutumes. Selon la
théorie réaliste, seulement ce qui a le status de norme lié à l`interprétation du
juge est capable d’obliger, et, donc, les coutumes ne seraient pas obligatoires, ils
n`avaient pas d’importance juridique. Tel affirmation est cohérente par rapport
à la théorie réaliste, mais peut-elle être considerée une absurdité par des autres
théoriciens du droit. Savigny, père de l’école historique, n’admettrait jamais tel
interprétation, puisqu’il soutenait que les lois et les coutumes avaient le même
degré d’importance, étant donné que l’un pourrait soit modifier, soit déroger
l’autre. L’un des aspects le plus critiqués par Savigny en ce que concerne la codification, était le fait des codes modernes avaient la faculté de supprimer la puissance des coutumes. Ainsi, ce qu’est entièrement cohérent à la philosophie troperienne peut être considéré comme étant une absurdité par des autres théories, en démontrant que toute théorie a la possibilité d’être sérieusement critiquée. Quelle que se soit la théorie, elle n’est pas irréfutable.
74
faculdade de direito de bauru
7.
INCOMPATIBILITÉ ENTRE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET
DÉMOCRATIE
S’agit-il d’une thèse troperienne de considérable importance analysée par
Riccardo Guastini.10
Troper déclare que la justice constitutionnelle est incompatible avec la
démocratie, ce qu’au départ peut sembler une absurdité, mais, comme nous
essayerons de démontrer, telle thèse est compatible avec la théorie créée par lui.
Troper explique que si le peuple est souverain, ce qui d’ailleurs représente l’un des principes de la démocratie, il exerce un pouvoir illimité, ce qui exclut
le contrôle de constitutionnalité.
La souveraineté populaire pourrait être identifiée avec le pouvoir législatif
du Parlement ou avec le pouvoir constituant.11
Si l’on identifiait la souveraineté avec le pouvoir législatif du Parlement, la
justice constitutionnelle contredirait la souveraineté populaire, puisque le juge
constitutionnel en authorisant ou en empêchant la promulgation d’une loi, participe-t-il à la création de cette même loi, comme l’explique Riccardo Guastini.
Dans la démocratie, la fonction législative ne doit pas être exercée par le juges,
mais au contraire par les élus.
Poursuite-t-il que si l’on identifie la souveraineté populaire avec le système, dans lequel le peuple est le dernier titulaire du pouvoir constituant, la justice constitutionnelle contredirait aussi la souveraineté populaire, puisque le
juge constitutionnel crée la Constituition en interprétant les textes édictés par le
pouvoir constituant.
Riccardo Guastini remarque que, si la théorie réaliste de l’interprétation
présuppose que la norme ait pour origine l’interprétation du juge, même avant
le contrôle de constitutionnalité, c’est le juge qui crée la norme, ce que serait
incompatible avec la souverineté populaire, une fois que le peuple n’a pas élu
les juges avec le but de l’exercice de tel rôle.
La contradiction existante entre la démocratie populaire et la justice constitutionnelle s’explique parce que cette dernière découle du principe de la séparation des pouvoirs et pas de la démocratie populaire. La liberté politique serait obtenue par la séparation des pouvoirs et pas par un contrôle de constitutionnalité.
Dans une véritable démocratie, les normes seraient créées par le peuple
ou par ses élus, mais cette affirmation fait partie d’une fiction juridique puisqu’elle n’existe nulle part, selon Riccardo Guastini, ainsi que les systèmes nommés démocratiques seraient des systèmes de compétition de l’élite.
10 Ricardo Guastini. Michel Troper sur la function juridictionelle. Revue Française de Théorie,
de Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 111/122.
11 Ricardo Guastini. Michel Troper sur la function juridictionelle. Revue Française de Théorie,
de Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 118.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
8.
n.
44
75
MICHEL TROPER ET LA SÉPARATION DES POUVOIRS
Olivier Beaud analyse la thèse de doctorat de Michel Troper : « La séparations des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française ».12 L’auteur commence à observer que le contenu de la thèse est plus vaste que son titre peut le
démontrer, une fois que la thèse s’agit de la séparation des pouvoirs, cependant,
elle s’occupe aussi de la doctrine constitutionnelle, de l’histoire de la pensée
politique, du rapport entre la théorie et la pratique en droit et de plusieurs
autres sujets; néanmoins, la période analysée est limitée à la période révolutionnaire.
Troper comprend que la séparations des pouvoirs n’a pas de contenu clair,
permettant plusieurs interprétations de la même expression. Il essaye donner à
la séparation des pouvoirs une interprétation plus juridique que philosophique.
La théorie troperienne réduit le principe de la séparation des pouvoirs au
fait, qu’une même autorité ne doit pas exercer toutes les fonctions de l’État. Il
s’agisserait d’un principe négatif, puisqu’il n’aurait pas le but de faire la distribution des compétences, mais seulement celui de remarquer qu’une même persone ne devrait pas exercer toutes les fonctions.
Le côté négatif de tel principe c’est qu’il ne reçoit pas de fortes critiques
par les autres théoriciens. On critique, par ailleurs, la forme dont les compétences sont distribuées.
Troper explique que la séparation des pouvoirs garantit la liberté tant que
respectée, mais d’après lui, ne possederait-elle aucun mécanisme afin de garantir son efficacité.
Affirme-t-il encore que la manière de confectionner le droit expliquerait le
partage des fonctions de l’État. Donc, la théorie de la séparation des pouvoirs
varierait selon les nécessités de chaque époque. Observe-t-il que seulement la
foction legislative est vraisemblablement juridique, puisqu’elle consisterait à
régler la création de la norme du droit.13
L’auteur réfute encore la thèse de la séparation des pouvoirs dont la doctrine classique attribue à Montesquieu. Troper affirme que Montesquieu n’a pas
crée une théorie avec des organes spécialisés et indépendents, dans laquelle chaque organe, d’une manière indépendante, doit-il exercer une fonction juridique
de l’État, sans intervenir dans l’exercice des autres fonctions. Cette thèse aurait
seulement été élaborée beaucoup plus tard.
De cette manière, en analysant quelques aspect de la théorie réaliste du
Professeur Michel Troper, nous espérons avoir mis en évidence qu’il a formulé
12 Olivier Beaud. Michel Troper e la séparation des pouvoirs. Revue Française de Théorie, de
Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 149/171.
13 Olivier Beaud. Michel Troper e la séparation des pouvoirs. Revue Française de Théorie, de
Philosophie et de Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003, p. 149/171
76
faculdade de direito de bauru
une thèse audace et originale, laquelle montre sa liberté de pensée et prouve
que malgré avoir été disciple de Kelsen et de Charles Eisenmann, il a créé une
théorie très différente de celles de ses maîtres et, même par plusieurs aspect,
crtique-t-il les théories qui l’ont inspirées.
9.
BIBLIOGRAPHIE
RIALS, Stéphane (org.). Michel Troper. Revue Française de Théorie, de Philosophie et de
Culture Juridiques, n. 37, PUF:Paris, 2003
doutrina
Em defesa da revisão obrigatória das sentenças
contrárias à Fazenda Pública*
José Carlos Barbosa Moreira
Professor da Faculdade de Direito da UERJ.
Desembargador (aposentado) do TJRJ.
Palavras-chave: Sentenças contrárias, Fazenda Pública, natureza jurídica, revisão obrigatória, veementes críticas, princípio da razoabilidade.
1. As sentenças contrárias à Fazenda Pública ficam obrigatoriamente sujeitas à revisão em segundo grau ? agora, com as restrições introduzidas pela Lei nº
10.352, de 26.12.2001, que, modificando o art. 475 do Código de Processo Civil,
excluiu a incidência da regra:
a) sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de
valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos, bem
como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor (atual § 2º do art. 475);
b) quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal
ou do tribunal superior competente (atual § 3º do art. 475).
*
O artigo do ilustre Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA foi, gentilmente, encaminhado para publicação na RIPE, pelo Professor Ms. PAULO HENRIQUE SILVA GODOY, respeitado mestre desta Faculdade de Direito de Bauru – ITE.
80
faculdade de direito de bauru
A redação do § 2º não é um primor de elegância e precisão. Fala em “dívida ativa do mesmo valor” para referir-se à dívida ativa (expressão, por sinal, já
de si criticável, embora usual) de valor não superior ao limite fixado na primeira parte; melhor se diria “dívida ativa de valor não superior àquele limite”,
ou “ao mesmo limite”. A rigor, poderia ser mais sucinto o dispositivo e, provavelmente, não o é por ter querido acompanhar à risca o perfil redundante do
caput. Com efeito, alude-se aí, no inciso I, à sentença “proferida contra a União,
o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações
de direito público”, e no inciso II a “que julgar procedentes, no todo ou em
parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública” ? com superposição ao menos parcial, já que, se movida a execução fiscal por qualquer das
entidades arroladas no inciso I, bastaria este para cobrir a hipótese de procedência dos embargos.
Deixemos de lado, porém, questões desse gênero e concentremo-nos na
regra da obrigatoriedade da revisão. Dela, advirta-se, só nos ocuparemos aqui na
extensão a que ficou reduzida, no Código, após a eliminação, também por força
da Lei nº 10.352, da outra hipótese prevista no texto primitivo, a saber, a da sentença que invalidasse o casamento (antigo inciso I do art. 475).
2. Cuidadosa investigação histórica, feita por estudioso de grande autoridade, concluiu que o instituto lança raízes no antigo processo penal português,
e que sua consagração no processo civil brasileiro remonta ao art. 90 da Lei de
4.10.1831.1 Ele aparecerá mais tarde na Consolidação das disposições legislativas
e regulamentares concernentes ao processo civil, de 1876 (obra do Conselheiro
RIBAS), art. 1.526, o qual faz remissão aos arts. 964, 966, 1.048 e 1.091; destes,
interessa em particular o art. 1.048, relativo às “causas fiscais”, e nomeadamente ao caso de sentença que excedesse a alçada do juiz e fosse contrária à Fazenda
Pública.
No período republicano, ao tempo da dualidade de competência para
legislar sobre direito processual, cabe exemplificar com o art. 1.445, nº 3, do
Código de Pernambuco (Lei nº 1.763, de 16.6.1925), atinente à “sentença proferida contra a Fazenda estadual ou municipal”. Recebeu o instituto o Código
nacional de 1939, no art. 822, parágrafo único, nº III, concernente às sentenças
“proferidas contra a União, o Estado ou o Município” (os outros incisos diziam
respeito a matérias diferentes). Leis extravagantes também o consagraram, v.g. o
Dec.-lei nº 3.365 (Lei das Desapropriações), no art. 28, § º, em termos restritos,
com referência à sentença que fixasse o preço da desapropriação “em quantia
superior ao dobro da oferecida”, e a Lei nº 1.533, de 31.12.1951, no tocante à
sentença concessiva de mandado de segurança (art. 12, parágrafo único).
1
ALFREDO BUZAID, Da apelação ex officio no sistema do Código do Processo Civil, S.
Paulo, 1951, págs. 23 e segs. (espec. 30) e 32/4).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
81
O Anteprojeto de novo Código de Processo Civil, redigido pelo mesmo jurista a que acima se aludiu e publicado em 1964, pretendeu abandonar a orientação
tradicional. Procurou o autor justificar a guinada no item 34 da Exposição de Motivos
apresentada ao Ministro da Justiça, com argumentos que, a seu tempo, se examinarão. Viria, contudo, a mudar de opinião ele próprio: o projeto encaminhado em
1972 ao Congresso Nacional, durante sua gestão como Ministro da Justiça, no art.
479, retomava o fio da tradição, sujeitando à revisão obrigatória em segundo grau a
sentença “proferida contra a União, o Estado e o Município” (inciso II) e a que julgasse “improcedente a execução de dívida ativa da Fazenda Pública” (inciso III). A
dicção, neste, era manifestamente atécnica, visto que não há lugar, na execução, para
julgamento de improcedência: a sentença de que se queria falar era a que julgasse
procedentes os embargos à execução fiscal coisa bem diversa. O defeito subsistiu no
art. 475, nº III, do Código de 1973,2 mas foi corrigido pela Lei nº 10.352.
3. Antes de passarmos ao tópico central deste trabalho a saber, à tentativa
de justificar-lhe o título, diremos duas palavras sobre questão que fez derramar
muita tinta, máxime sob o estatuto de 1939, mas que, a nosso ver, sempre teve
sabor exclusivamente acadêmico e está de todo superada. Trata-se da controvérsia sobre a natureza jurídica da revisão obrigatória.
As leis anteriores ao vigente estatuto processual costumavam empregar, ao
propósito, a expressão “apelação necessária ou ex officio”: assim, textualmente,
o art. 822, caput, do Código de 1939. Ela se opunha à “apelação voluntária”, e a
seu respeito estabeleciam os textos que o próprio juiz a interporia na sentença
(cf. o dispositivo citado, fine).
As óbvias dessemelhanças entre essa figura e a da denominada “apelação
voluntária” levaram muitos a sustentar que não se cuidava de verdadeiro recurso. Mas a longa discussão travada ao propósito padecia de vício radical. Partiam
os críticos de um conceito apriorístico de recurso; e, como a “apelação necessária” não se enquadrava em tal conceito, negavam-lhe foros de cidadania no terreno recursal. Havia aí patente inversão metodológica: tinha-se de partir, ao contrário, da sistemática legal, para, à luz dela, construir o conceito de recurso.
Tomamos a liberdade de reproduzir aqui trecho de obra escrita há quase quarenta anos, mas representativo, ainda hoje, do nosso pensamento: “Não há
nenhum céu de puras essências, onde se logre descobrir um conceito de recurso anterior ao que revela o sistema da lei. (...) Recurso, para o jurista brasileiro,
há de ser tudo aquilo (e só aquilo) que o direito brasileiro considera recurso e
como tal disciplina”.3 Análogas observações, diga-se de passagem, aplicam-se
2
3
Os comentadores não deixaram de assinalar a impropriedade: vide, por exemplo, ERNANE
FIDÉLIS DOS SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, t. I, Rio de Janeiro,
1980, pág. 349.
BARBOSA MOREIRA, O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis, Rio de Janeiro,
1968, pág. 10 (grifos do original).
82
faculdade de direito de bauru
atualmente aos embargos de declaração, a que alguns se obstinam em negar
índole recursal, a despeito da nítida opção (boa ou má, como se queira) do legislador de 1973, que assim deles tratou.
O que se podia legitimamente discutir era a conveniência, de lege ferenda, de
manter a configuração tradicional da revisão obrigatória, ou de dar-lhe feição diversa. Optou o vigente código, e ao nosso ver andou bem, pelo segundo termo da
alternativa. Agora, de lege lata, é insustentável a inclusão da figura entre os recursos. A descabida alusão do texto primitivo à “apelação voluntária da parte vencida”
(como se outra espécie houvesse) no então parágrafo único do art. 475, era simples
cochilo,4 que a Lei nº 10.352 em boa hora corrigiu: a redação do atual § 1º fala de
“apelação”, tout court e ninguém se enganará sobre o objeto da referência.
4. Vamos, então, ao principal. A obrigatoriedade do reexame em segundo grau
das sentenças desfavoráveis à Fazenda Pública tem sido alvo de reiteradas e veementes críticas, feitas por diferentes ângulos, e algumas por vozes de grande autoridade.
De vez em quando, por ocasião dos trabalhos preparatórios de alguma das constantes reformas do estatuto processual, surgem propostas de eliminação do instituto.
Convém passar em revista os argumentos que se têm brandido para combatê-lo:
a) Os incisos do art. 475 relativos às mencionadas sentenças seriam incompatíveis com o princípio constitucional da isonomia, por darem tratamento privilegiado a uma classe de litigantes;5
b) A obrigatoriedade da revisão constitui “estranhíssima peculiaridade do
direito processual civil brasileiro, desconhecida em ordenamentos
europeus de primeira linha”;6
c) Inclui-se o instituto entre “certos marcos autoritários da ditadura getuliana”, herdados do “estatuto precedente”, e “de visíveis moldes fascistas porque obsessivamente voltados à tutela do Estado”;7
4
5
6
7
Inconsistente o argumento que do mero adjetivo “voluntária” quis tirar PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil (de 1973), t. V, Rio de Janeiro, 1974,
pág. 215: “Portanto, há a apelação de ofício, porque se fez implícita a referência, uma vez
que se adjetivou a outra espécie de apelação (apelação voluntária). Se há apelação voluntária,
há necessária ou de ofício” (grifado no original). Também SERGIO BERMUDES,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, S. Paulo, 1977, pág. 129, permaneceu fiel,
sob o estatuto de 1973, à classificação “apelação voluntária ? apelação necessária”.
Assim, por exemplo, ADA PELLEGRINI GRINOVER, Os princípios constitucionais e o processo civil, S. Paulo, 1975, págs. 42 e segs.; ROGÉRIO LAURIA TUCCI ? JOSÉ ROGÉRIO
CRUZ E TUCCI, Constituição de 1988 e processo, S. Paulo, 1989, pág. 56; ORESTE NESTOR
DE SOUZA LAPRO, Duplo grau de jurisdição no direito processual civil, S. Paulo, 1995, pág.
171; CÂNDIDO DINAMARCO, A reforma da reforma, S. Paulo, 4ª ed., 2002, pág. 127; JOSÉ
ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, Lineamentos da nova reforma do CPC, S. Paulo, 2002, págs. 46/8.
CÂNDIDO DINAMARCO, ob. cit., pág. 126. Segundo ORESTE NESTOR DE SOUZA
LAPRO, ob. cit., pág. 169, “trata-se de instituto sem parâmetros na legislação comparada” ;
abona-se o autor com passagem de ALFREDO BUZAID, ob. cit. na nota nº 1, supra, pág. 7
(“instituto sem correspondência no direito comparado”), todavia escrita mais de meio século atrás e, conforme se demonstrará, desatualizada.
CÂNDIDO DINAMARCO, ob. cit., pág. 126.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
83
d) Os interesses da Fazenda são suficientemente defendidos em juízo
pelos procuradores das entidades públicas;8
e) A supressão da obrigatoriedade aliviaria consideravelmente os tribunais,9 contribuindo, presume-se, para diminuir a excessiva demora dos
processos.
5. A autoridade dos críticos e o respeito intelectual que inspiram estão a
exigir que se analisem com atenção os argumentos acima expostos em resumo.
Passamos a examiná-los um por um:
a) Já é cediça e dispensa demonstração a tese de que isonomia não significa
tratamento sempre absolutamente igual, mas tratamento igual na medida da igualdade e desigual na medida da desigualdade. Em suma: o critério decisivo é o da
igualdade substancial, e não o da igualdade formal. À Fazenda Pública atribuem-se
prerrogativas, como a de prazos mais longos (ex.: art. 188 CPC), “em obediência ao
princípio da igualdade real e proporcional, que impõe tratamento desigual aos
desiguais, a fim de se atingir a igualdade substancial”.10 Ela não pode ser equiparada a um litigante qualquer, dada a natureza dos interesses que representa.
Voltaremos ao ponto na análise do argumento indicado sub c.
Acrescentem-se a latere duas observações. Primeira: sendo o advento do
Código anterior ao da atual Constituição da República, a rigor não se deveria
falar em inconstitucionalidade, mas em revogação dos indigitados incisos do art.
475 pela Carta de 1988; a isso se objetará, porém, que a Constituição precedente (de 1969), sob a qual entrou em vigor o diploma de 1973, também consagrava o princípio da isonomia (art.153, § 1º), de modo que o vício seria originário.
Segunda: a esta altura, é puramente acadêmica a increpação: antes e depois da
Carta de 1988, os tribunais brasileiros têm aplicado tranqüilamente, com certeza milhares de vezes, as disposições em foco,11 e não consta sequer que a respectiva vigência ou validade haja sido formalmente impugnada perante eles.
Estamos, pois, diante de ius receptum, a cujo respeito só de lege ferenda vale a
pena contender.
8
ALFREDO BUZAID, ob. cit., pág. 57 (onde se agrega menção ao Ministério Público, que todavia exerce no processo, ao menos em nossos dias, funções distintas, inconfundíveis com a proteção dos interesses da Fazenda).
9 ALFREDO BUZAID, ibid.
10 As palavras transcritas são de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ob. cit., pág.33, que porém
tacha de excessivo o favorecimento da Fazenda no sistema do Código de 1973 e, como se averbou (nota 5, supra), inclui a revisão obrigatória das sentenças contrárias àquela entre os excessos condenáveis.
11 O Superior Tribunal de Justiça, v.g., incluiu na Súmula de sua jurisprudência predominante a
proposição “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à
Fazenda Pública” ? a qual, obviamente, pressupõe o reconhecimento da vigência e validade dos
textos em questão. De modo mais direto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proclamou
que “o art. 475, inciso II, do Código de Processo Civil foi recepcionado pela vigente
Constituição Federal” (Súmula, nº 10).
84
faculdade de direito de bauru
b) A obrigatoriedade do reexame, nos casos que aqui interessam, não
constitui peculiaridade do ordenamento brasileiro.12 É certo que não a consagram as mais conhecidas legislações processuais civis européias. Mas parece
supérfluo obtemperar que um instituto não pode ser condenado apenas por não
o adotarem essas legislações: do contrário, teríamos de expurgar do nosso sistema jurídico, por exemplo, o mandado de segurança, sem correspondente
exato em nenhuma delas. Mais de um código estrangeiro torna necessária a revisão das sentenças contrárias aos entes públicos; entre eles, figura o colombiano,
de 1970 (art. 386, 1ª parte),13 reconhecidamente um dos mais bem feitos e progressistas da América Latina.
Por outro lado, a inexistência de disposição análoga às do art. 475 pátrio
nas leis processuais européias de maneira alguma significa que aqueles ordenamentos dêem ao Poder Público, quando litiga, tratamento igual ao de qualquer
outro litigante. A verdade é bem outra: o tratamento varia, sim, conquanto por
formas diferentes, algumas até mais radicais que a visada pela crítica. Basta ver
que diversos ordenamentos europeus, indubitavelmente “de primeira linha”,
chegam a subtrair à Justiça comum, em regra, os litígios em que seja parte a
Administração Pública, para confiá-los a outro conjunto de órgãos, que não integram necessariamente o mecanismo judicial e podem fazer parte do próprio
aparelho administrativo.
Exemplo clássico é o “contencioso administrativo” francês, cujos órgãos
são ligados à Administração Pública e não se situam no âmbito da Justiça stricto
sensu. O órgão de cúpula é o Conseil d’État, não a Cour de Cassation. Não estamos diante de mera separação formal: o processo, lá, assume fisionomia própria,
tem características que nitidamente o distinguem do processo judicial: por
exemplo, nele, tradicionalmente, o princípio da publicidade não vigora nos mesmos termos que em juízo.14 Tal diferenciação resulta justamente da presença da
Administração Pública na condição de parte.15 A doutrina, expressis verbis, nega
12 Já há vários anos denunciamos o equívoco, exemplificando, no artigo intitulado Juízo de retratação e reexame obrigatório em segundo grau e inserto na Sétima Série dos Temas de Direito
Procesual, S.Paulo, 2001, págs. 87 e segs. (o trecho relevante está na pág. 91).
13 Eis o texto, na redação dada pelo Dec. nº 2.282, de 1989, que modificou ligeiramente a anterior: “Las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados” (consulta é a denominação espanhola do instituto).
14 No dizer de DEBBASCH, Contentieux administratif, 2ª ed., Paris, 1978, pág. 16, cuida-se de
uma “procédure semi-secrète”. Cf. PERROT, Institutions judiciaires, 5ª ed., Paris, 1993, págs.
529/30 (em tonalidade um tanto crítica). A situação modificou-se em parte nos últimos tempos: vide VINCENT ? GUINCHARD ? MONTAGNIER ? VARINARD, Institutions judiciaires,
7ª ed., 2003, pág. 210. Continua a tratar-se, no entanto, de um procedimento “dans une certaine mesure, interne”: TROTABAS ? ISOART, Droit public, 24ª ed., Paris, 1998, pág. 299.
15 DEBBASCH, ob. cit., pág. 18, reconhece abertamente que o processo do contencioso administrativo “est influencé par la présence dans l’instance d’un justiciable public”.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
85
que seja total a igualdade entre o particular e a Administração; e aponta exemplos da diversidade de tratamento. Entre eles mencionam-se: a exigência, feita
àquele, mas não a esta, para conseguir que o Conseil d’État suspenda a execução da sentença apelada, de provar que a execução imediata acarretaria conseqüências dificilmente reparáveis; e o prazo mais longo de que dispõe a
Administração, em certos casos, para apelar.16 Outro exemplo, ainda: na audiência, concede-se maior latitude ao “commissaire du gouvernement” do que ao
particular (ou a seu advogado) para sustentar suas razões.17
Semelhante é o ordenamento italiano, onde existe igualmente separação
entre a Justiça ordinária e a chamada “Justiça administrativa”. Em matéria de direitos subjetivos, propriamente ditos, aquela é competente mesmo que o direito do
particular se dirija contra o Poder Público; mas há a vasta massa dos denominados
“interesses legítimos”, a cujo respeito se exclui a competência da Justiça comum e
se outorga o poder de decidir aos tribunais administrativos regionais e, em instância superior, ao Consiglio di Stato.18 Também a Espanha tem aparelho especial para
o exercício da jurisdição no terreno do contencioso administrativo; regula a matéria a Lei nº 29, de 13.7.1998.19 Na Alemanha, há nada menos de três sistemas distintos do comum, para o processo e julgamento de litígios com o Poder Público: a
Verwaltungsgerichtsbarkeit (jurisdição administrativa), a Finanzgerichtsbarkeit
(jurisdição financeira) e a Sozialgerichtsbarkeit (jurisdição social),20 cada qual regida por uma lei própria.
À vista de tudo isso, não parece espelhar a realidade a idéia de que o ordenamento brasileiro, por causa de disposições como as do art. 475, nºs. I e II, do Código
de Processo Civil, atropele indevidamente o princípio da isonomia. Com maior exatidão, até se poderia dizer que são menos intensas, em confronto com as de outros
sistemas jurídicos, as atenuações que ele impõe aí à regra da igualdade formal.
c) Dizer que o instituto sob exame é herdado do “estatuto precedente” é
enunciar meia verdade. Já se registrou, com base em autorizada exposição, que
sua consagração no processo civil brasileiro data de 1831. Ele subsistiu por
tempo superior a um século, ao longo das várias etapas subseqüentes de nossa
história, no Império e na República. Não constituiu inovação do Código de
1939, que se limitou a receber herança àquela altura mais que centenária.
Enxerga-se nele um dos “marcos autoritários da ditadura getuliana”. Mas,
primo, insista-se, ele vem de muito mais longe: do início da quarta década do
16 VINCENT GUINCHARD MONTAGNIER VARINARD, ob. cit., págs. 185/6.
17 CHAPUS, Droit administratif général, t. 1, 5ª ed., Paris, 1990, pág. 558.
18 Sobre a repartição da função jurisdicional entre a Justiça ordinária e a Justiça administrativa,
extensamente, NIGRO, Giustizia amministrativa, Bolonha, 1976, págs. 143 e segs.
19 Vide RAMOS MÉNDEZ, El sistema procesal español, 5ª ed., Barcelona, 2000, pág. 422.
20 O art. 95, (1), da Grundgesetz enumera os órgãos de cúpula dos diversos sistemas. Sobre a divisão dos mecanismos da Justiça, em termos gerais, vide, na literatura mais recente, ROSENBERG SCHWAB GOTTWALD, Zivilprozessrecht, 16ª ed., Munique, 2004, págs. 60 e segs.
86
faculdade de direito de bauru
século XIX! Além disso, é falsa a premissa implícita de que tem feição autoritária
toda e qualquer medida legislativa tomada em período ditatorial ou semiditatorial. Não tiveram necessariamente tal caráter as reformas da ZPO alemã posteriores à ascensão dos nazistas ao poder.21 Acerca de uma delas, a de 1933, que
entre outras coisas introduziu o dever de veracidade para as partes e reforçou
no juiz os poderes de esclarecimento e direção do processo, assinala estudo
recente que suas raízes mergulhavam em trabalhos preparatórios da época da
Constituição de Weimar e que a orientação nela adotada permaneceu inalterada
mesmo depois de 1945.22 Os pontos cardeais dessa reforma ? aceleração, concentração, imediação, dever de veracidade, eliminação de superadas regras formais sobre prova ? não suscitam objeção alguma do ponto de vista do Estado de
direito.23 Analogamente, já se demonstrou, em termos amplos e persuasivos,24 o
erro dos que atribuem ao Código de processo civil italiano de 1940 inspiração
essencialmente fascista.
Um dos traços salientes do Código brasileiro de 1939 consistiu, sem dúvida, no aumento dos poderes do órgão judicial. A tanto se reduz o seu “autoritarismo”. A alusão, que se lê na Exposição de Motivos do Ministro Francisco
Campos, ao regime do chamado “Estado Novo” e, em particular, à “restauração
da autoridade”, por ele pretensamente efetuada, não passa de ornamento retórico, explicável à luz das circunstâncias.25
Causa especial perplexidade, na crítica ao art. 475, a referência aos “visíveis moldes fascistas”, a propósito da revisão obrigatória das sentenças contrárias à Fazenda Pública instituto de que, entretanto, nenhum antecedente se
aponta, como cumpria, na legislação imposta à Itália pelo fascismo. Tais “moldes” seriam fascistas porque “obsessivamente voltados à tutela do Estado”. Mais
correto, parece-nos, é ver no dispositivo em foco instrumento de tutela do patrimônío público. Não quer a lei, à evidência, que a Fazenda Pública saia sempre
vitoriosa quando litiga contra particular: essa, sem dúvida, seria idéia absurda ?
fascista ou não. Quer a lei, porém, que a Fazenda Pública só fique vencida depois
que o pleito se submeta a dois exames, em primeiro e em segundo graus de
21 Com razão adverte POPP, Die nazionalsozialistische Sicht einiger Institute des Zivilprozess- und
Gerichtsverfassungsrechts, Frankfurt-am-Main ? Berna ? Nova Iorque, 1986, pág. 7, contra o
equívoco de supor que fosse “tipicamente nacional-socialista” toda lei surgida entre 1933 e
1945.
22 BÖHM, Processo civile e ideologia nello stato nazionalsocialista, trad. ital. de Marinelli, in Riv.
trim. di dir. e proc. civ., vol. LVIII (2004), pág. 639. Cf., já antes, POPP, ob. cit., pág. 11.
23 POPP, ob. e lug. cit. na nota anterior.
24 Pela autorizada e insuspeita voz de TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi,
Bolonha, 1980, págs. 255 , 281 e segs., espec. 286/8.
25 Pode-se afirmar a seu respeito, mutatis mutandis, o que afirma TARUFFO, ob. cit., pág. 287, das
proclamações contidas na Relazione do Ministro Grandi, pertinente ao código italiano de 1940:
“Clausole di stile apposte per esigenze politiche contingenti, o tentativi di rivendicare al fascismo
aspetti della riforma che in realtà non sono affatto il frutto specifico dell’ideologia fascista”.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
87
jurisdição; quer dizer: quando haja maior certeza de que é tal o resultado justo.
Semelhante idéia, ao contrário da outra, nada tem de absurdo; e ajunte-se que
continuaria a nada ter de absurdo ainda que houvesse figurado no ideário fascista: o mérito ou demérito de uma idéia não se afere pela origem, senão pela
substância. Pouco importa saber quem a pôs em circulação, ou quem a defende:
importa apenas saber se ela, em si, merece defesa.
A proteção do patrimônio público, frise-se, é objetivo a ser perseguido sob
regime político democrático não menos que sob qualquer outro regime. De
resto, há no direito brasileiro instrumentos processuais forjados em tempos
insuspeitos de “autoritarismo” e claramente destinados a essa proteção. Basta
citar o exemplo da ação popular, contemplada na Constituição de 1946 em termos inequívocos: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação
ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos
Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista”. Seria francamente despropositado aludir a “moldes fascistas” a respeito desse instituto.
d) Se os interesses da Fazenda são ou não são suficientemente defendidos
em juízo pelos procuradores das entidades públicas é questão sobre a qual só
seria lícito enunciar proposição categórica à vista de dados estatísticos, que não
existem. Em todo caso, afigura-se provável que seja correta a resposta afirmativa; nesse sentido deporia sem hesitar o autor destas linhas, com base na experiência que teve durante os anos em que ocupou os cargos de procurador do
antigo Estado da Guanabara (depois, do Estado do Rio de Janeiro) e de desembargador do TJRJ.
Concedido que, em regra, os procuradores da Fazenda se mostrem diligentes no exercício de suas funções, disso não se deduz a impossibilidade de
que algum deles, por este ou aquele motivo, deixe de interpor apelação contra
sentença desfavorável. Será hipótese rara, mas não inconcebível. Pois bem:
acode a tais casos a regra do art. 475 que, para isso, foi editada. E não se precisa dizer mais.
e) Sustentar que a supressão da revisão obrigatória acarretaria grande
redução na carga de trabalho dos tribunais, observe-se, desde logo, é contrariar
logicamente o argumento que se acaba de analisar. Com efeito: se é verdade que,
as mais das vezes, os procuradores apelam, então os tribunais terão mesmo, as
mais das vezes, que reexaminar a causa, independentemente do disposto no art.
475. Ninguém pode utilizar simultaneamente ambos os argumentos, sob pena
de contradizer-se a si próprio.26
Admitida como mais provável a hipótese da interposição do recurso, é forçoso concluir que pouca repercussão prática terá a eliminação da obrigatorieda26 Assim, salvo engano, ALFREDO BUZAID, ob. cit., pág. 57, conclusões b e d.
88
faculdade de direito de bauru
de do reexame ex art. 475. A causa subirá ao tribunal por força da apelação da
Fazenda Pública, e em nada ficará simplificado o itinerário em segundo grau. O
órgão ad quem não terá diminuído seu trabalho, nem poderá desincumbir-se
dele com maior rapidez. Por conseguinte, em vão se esperará que a mudança
produza conseqüências sensíveis no panorama atual, em matéria de duração dos
processos.
6. É hora de recapitular e resumir. A obrigatoriedade do reexame em
segundo grau das sentenças contrárias à Fazenda Pública não ofende o princípio
da isonomia, corretamente entendido. A Fazenda não é um litigante qualquer.
Não pode ser tratada como tal; nem assim a tratam outros ordenamentos jurídicos, mesmo no chamado Primeiro Mundo. O interesse público, justamente por
ser público, ou seja, da coletividade como um todo é merecedor de proteção
especial, num Estado democrático não menos que alhures. Nada tem de desprimorosamente “autoritária” a consagração de mecanismos processuais ordenados a essa proteção. O instituto de que se cuida, em particular, não nasceu sob
inspiração ditatorial, e é arbitrário, tanto do ponto de vista histórico quanto do
ideológico, atribuir-lhe caráter “fascista”.
A Lei nº 10.352 estabeleceu duas restrições à incidência do art. 475 do
Código de Processo Civil. A primeira (§ 2º), relacionada com o valor, não suscita objeção séria: é aceitável que se procure barrar, em certa medida, a subida de
causas pouco significativas aos tribunais de segundo grau. Convém ressalvar
que, a admitir-se como provável a interposição da apelação pelo procurador da
entidade pública, essa restrição não deve influir muito na realidade forense. A
segunda (§ 3º) reflete a tendência generalizada, constante nas reformas recentes
da legislação processual, à valorização da jurisprudência, mesmo independentemente da adoção da chamada “súmula vinculante”. É fenômeno que tem aspectos positivos e outros menos; não caberia aqui discutir a questão ex professo.
Um ponto, ao nosso ver, resta firme: a inconveniência de eliminar o art.
475 em qualquer reforma futura do estatuto processual. Restrições podem ser
admissíveis, e eventualmente dignas de aplauso, desde que justificadas no plano
da razoabilidade. A supressão pura e simples, em que pese a críticos muito qualificados, constituiria grave erro.
Julho de 2004
Falso testemunho no procedimento do júri
Antonio Carlos da Ponte
Promotor de Justiça e Vice-Diretor da Faculdade de Direito da PUC-SP.
Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP.
Professor de Direito Penal dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP.
Professor do Curso de Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino de Bauru (ITE).
Palavras-chave: Procedimento do Júri, princípios processuais, judicium accusationis,
judicium causae, falso testemunho, quesito especial, prisão em flagrante delito.
1.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Dentre as formas procedimentais existentes no processo criminal brasileiro, a do júri é, do ponto de vista estrutural, a mais moderna, pois atende
de maneira mais eficaz aos princípios – ou regras orientadoras, na definição
de LAURIA TUCCI1 – do contraditório, da audiência, da oralidade, da imediação, da concentração, da identidade física do juiz e da publicidade dos atos.
Atende ao princípio do contraditório, uma vez que as partes discutem, sob os
olhos atentos dos jurados e em igualdade de condições, as provas que vão
sendo produzidas.
Quanto ao princípio da audiência – definido por FIGUEIREDO DIAS2
como a “oportunidade conferida a todo participante processual de influir, atra1
2
LAURIA TUCCI, Rogério. Princípio e Regras Orientadoras do Novo Processo Penal Brasileiro.
Rio de Janeiro, Forense, 1986.
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Processual Penal. Coimbra, Editora Coimbra, 1974. p.
153.
90
faculdade de direito de bauru
vés de sua audição pelo tribunal, no decurso do processo” –, está evidente que
o procedimento do júri atende-o de maneira mais efetiva e abrangente que os
outros procedimentos existentes.
De igual maneira, com relação ao princípio da imediação, pois o ritual de
produção e discussão das provas desenrola-se sob os olhos e fiscalização direta
do juiz e dos jurados, sem qualquer tipo de intermediação.
Ocorre, todavia, que dentre todos os princípios processuais que são atendidos pelo procedimento do júri, destacam-se o da oralidade, da concentração,
da identidade física do juiz e da publicidade dos atos, por motivos evidentes. É
que o júri é um modelo de audiência que, dada sua configuração, apresenta verdadeira imunidade congênita às deturpações que os princípios da oralidade,
concentração e identidade física do juiz vêm sofrendo no cotidiano forense.
Não seria sequer imaginável, por exemplo, que as partes, no júri, substituíssem suas razões orais por memoriais. Nem se pensaria que o Juiz Presidente
pudesse valer-se de algum prazo para entregar sua sentença ao escrivão. Trata-se
de deturpações que, seja no processo civil,3 seja no processo criminal, acabam
por anular os princípios da oralidade e da identidade física do juiz e às quais o
procedimento do júri é verdadeiramente imune.4
O procedimento escalonado do júri apresenta duas fases distintas: o judicium accusationis e o judicium causae. Iniciado com a decisão de recebimento da petição inicial acusatória, terá encerramento com o trânsito em julgado da
sentença proferida pelo Juiz Presidente, nos termos do artigo 492 do Código de
Processo Penal.
Pelas próprias particularidades e peculiaridades atinentes à instituição do
Júri, dependendo da fase em que se encontrar o processo e verificada a ocorrência do crime de falso testemunho, diferentes encaminhamentos podem vir a
ser adotados.
A primeira fase, denominada judicium accusationis, tem encerramento com a decisão de pronúncia (art. 408) transitada em julgado, correndo daí a segunda fase – judicium causae – que estará
finda com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juiz
Presidente na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.5
3
4
5
MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil: O acesso à Justiça e os Institutos
Fundamentais do Direito Processual. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993. p. 66.
GARCEZ RAMOS, João Gualberto. O Júri como Instrumento de Efetividade da Reforma Penal.
Revista dos Tribunais, ano 83, jan. 1994. v. 699, p. 286.
MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento Questionários. 7.ed. Malheiros, 1993. p. 57.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
2.
n.
44
91
JUDICIUM ACCUSATIONIS
O judicium accusationis é a fase preliminar da formação da culpa, na qual
a imputação é declarada provável, delimitando-se e fixando-se a res in judicium
deducta, posto que ao mesmo tempo em que a acusação é declarada admissível
em tese, também lhe é delimitado o campo de atuação. Em seu desenvolver, a
atenção do juiz e das partes objetiva centralmente a análise da adequação típica
proposta pela petição inicial (denúncia ou queixa – art. 41 do CPP) entre o
campo da imputação (descrição circunstanciada de uma conduta) e a classificação penal (previsão, na lei repressiva penal, de conduta como ilícita).6
A informação, instrução ou formação da culpa é a parte preliminar do processo criminal ordinário, a série de atos autorizados pela lei por meio dos quais o juiz competente investiga, colige todos os esclarecimentos, examina e conclui que o crime existe ou não, e no caso afirmativo quem é o indiciado como autor
dele ou cúmplice.7
O Sumário da Culpa tem seu desfecho com a pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Dependendo do encaminhamento adotado pelo
órgão judiciário, poderá ser determinada a apuração imediata ou não de eventual
crime de falso testemunho praticado, conforme será demonstrado a seguir.
2.1 Pronúncia
Discute-se, na doutrina e jurisprudência, se a expressão “sentença”, a que
se refere o parágrafo 3º do artigo 342 do Código Penal, diz respeito, nos processos da competência do Tribunal do Júri, à pronúncia (artigo 408, parágrafo
1º, do Código de Processo Penal) ou à decisão final. Como bem observa o eminente Desembargador EMERIC LEVAI, “se o vocábulo significa sentença definitiva é possível a retratação extintiva da punibilidade após o referido despacho;
caso contrário, a decisão é preclusiva da retratação”.8
De há muito, MANZINI já alertava que o despacho de pronúncia não é preclusivo da retratação útil,9 que poderá ser efetivada até o julgamento em plená6
7
8
9
MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Procedimento do Júri e “Habeas Corpus”. In: “Justiça
Penal - Críticas e Sugestões”, v. 5, Centro de Extensão Universitária, Jaques de Camargo
Penteado, coord. Revista dos Tribunais, 1997. p. 100.
PIMENTA BUENO, J. A. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro. 1950, n. 127, p.
267-268.
LEVAI, op. cit., p. 94.
MANZINI, op. cit., p. 729.
92
faculdade de direito de bauru
rio, nos casos da competência do Tribunal do Júri. Lastreado em tal posicionamento, BENTO DE FARIA sustenta que o despacho de pronúncia não é preclusivo da retratação útil.10
Por sua vez, GALDINO SIQUEIRA esposa a tese que a retratação deve ocorrer antes do primeiro julgamento ou decisão que dirime a controvérsia.11
A decisão de pronúncia, considerada por boa parte da doutrina como decisão interlocutória de natureza mista, apesar de seus reflexos no jus libertatis do
acusado, limita-se a declarar a admissibilidade da acusação, sem maiores incursões sobre o mérito da imputação. Nada impede, por isso, que a testemunha
mendaz ou reticente, ouvida no judicium accusationis, retrate-se ainda nessa
fase preparatória, ou na fase subseqüente – judicium causae –, ao depor no plenário do julgamento se para tal foi arrolada pela parte interessada, no libelo ou
na respectiva contrariedade.
Há julgados que defendem a tese de que a retratação pode ser operada
inclusive por carta, devidamente ratificada por termo nos autos.12
A sentença, a que se refere o artigo 342, parágrafo 3º, do Código Penal, é
a que decide a causa e entrega a prestação jurisdicional, ao passo que a sentença de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não tem esse caráter, mas tão-somente adequar a acusação e submeter o acusado ao julgamento
popular.
É o próprio MANZINI a apontar a sentença penal como a forma que assume a decisão do juiz, quando ele esgota sua jurisdição, segundo sua própria
competência funcional, acrescentando que a sentença penal pronunciada em
seguida aos debates é sempre definitiva, não no sentido de que seja, em cada
caso, o último provimento jurisdicional possível, mas no de que define, isto é,
conclui o juízo, no grau em que é pronunciada.13
Ademais, em processos da competência do Tribunal do Júri, a causa
somente é julgada ou sentenciada ao receber a decisão do Conselho de
Sentença. A pronúncia, assim, nada mais é do que decisão de natureza provisória, meramente processual, dirigida à indagação de requisitos mínimos para a
submissão do feito a julgamento pelo júri e pela qual ninguém é condenado ou
absolvido; ou na apertada síntese de CANUTO MENDES DE ALMEIDA,
um juízo de acusação, operação jurisdicional diversa do juízo
da causa. Não declara que o ato examinado é passível de punição, mas decide, no caso, da legitimidade de se instaurar ação
penal. Assentando sobre elementos probatórios comuns aos do
10
11
12
13
BENTO DE FARIA, op. cit., p. 181.
SIQUEIRA, Galdino. Tratado de Direito Penal. 2.ed. José Konfino Editor, 1951. v. IV, p. 623.
HC nº 3.739/78, julgado pelo TJRJ, Rel. Des. Cláudio Vianna de Lima, in RT, 526/427.
MANZINI, op. cit., 1932. v. IV, p. 401-405.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
93
futuro e possível julgamento criminal propriamente dito, a pronúncia não lhe esgota, nem lhe diminui, todavia, o conteúdo.
Não determina o fundamento condenatório ou absolutório, mas
apenas o fundamento acusatório. Suas premissas são, como o
juízo da causa, a lei e um fato concreto; mas, enquanto a lei que
este aplica exprime o direito de punir, a pronúncia declara, tãosó, o direito de acusar; e, ao passo que o fato sobre que recai o
juízo da causa é o pretenso crime ou contravenção, o fato que a
pronúncia aprecia é a existência de prova do pretenso crime,
quanto baste legalmente para justificar uma ação penal.14
O despacho saneador, no processo civil, situa-se no ponto em que, solenemente, se reconhece o objeto da lide. A pronúncia, por sua vez, no processo
penal, faz a adequação e delimita o objeto da acusação ante o Júri. Em ambos se
decide se o processo dever ou não prosseguir.
A decisão de pronúncia cobre conteúdo de despacho saneador, aspecto
que o Código de Processo Penal evidencia ao estabelecer, dentre as hipóteses de
apelação contra decisões do Júri, que as nulidades atacáveis, estando encerrada
a segunda etapa procedimental, são somente aquelas posteriores à pronúncia
(letra a, inc. III do art. 593), valendo dizer que as anteriores pela pronúncia transitada em julgado são tidas como sanadas.15
Com o preceito do artigo 342, parágrafo 3º, do Código Penal, o que o
legislador quis foi estimular o restabelecimento da verdade, ensejando escorreita prestação jurisdicional, que somente tem lugar, no procedimento especial
apontado, com a apreciação da controvérsia pelos jurados, visto que a decisão
de pronúncia possui caráter estritamente processual, não adentrando no mérito
da causa.
2.2 Impronúncia e Absolvição Sumária
A impronúncia consubstancia-se em decisão de conteúdo processual, de
natureza nitidamente declaratória.
Na impronúncia, há sentença declaratória da não procedência
da denúncia, uma vez que se não provou ser o réu suspeito da
prática do fato delituoso que lhe foi atribuído, ou porque se não
demonstrou a existência do fato delituoso, ou porque se não fir14 CANUTO MENDES DE ALMEIDA, Joaquim. Ação Penal - Análises e Confrontos. São Paulo,
Revista dos Tribunais. 1938. p. 101.
15 MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Procedimento do Júri e “Habeas Corpus”. p. 101.
94
faculdade de direito de bauru
mou, de maneira convincente, a probabilidade de ser o réu o
autor do crime.
Sem que o fato típico fique provado, e a autoria imputada ao
réu se tenha por provável, inadmissível a acusação contra este:
daí a sentença de impronúncia, como decisão declaratória de
inadmissibilidade do jus accusationis.16
Com a impronúncia, o acusado fica liberto dos vínculos que o prendiam à
instância do processo condenatório, visto que ela “nada decide em definitivo em
favor do réu, o qual apenas é absolvido da instância, podendo o processo ser
repetido, no caso de novas provas, enquanto o crime não prescrever”.17
Já a absolvição sumária é sentença de mérito que, depois de confirmada,
tem força de coisa julgada. Nela, o juiz declara a improcedência da denúncia, por
também ser improcedente a pretensão punitiva, fazendo com que a instrução a
ela precedente ganhe adjetivação de integral.18
A diferença entre a impronúncia e a absolvição sumária está em
que a primeira é simples absolutia ab instantia e a segunda absolutio ab causa.
Com a impronúncia, encerra-se o juízo da formação da culpa e
a instância do processo penal condenatório, porque não há lastro para a acusação; na absolvição sumária, encerra-se o processo e a ação penal, porque a pretensão punitiva deduzida na
acusação é improcedente.
No tocante aos elementos integrantes do crime, a impronúncia é sentença que só incide sobre o fato típico, enquanto que a absolvição
sumária é decisão sobre todos os fatores constitutivos do crime: o
juiz declara provado o fato típico, mas absolve o réu, ou por ausência de antijuridicidade, ou por ausência de culpabilidade.
Na impronúncia, a falta de prova do crime, como fato típico, tira
qualquer consistência à denúncia, porquanto sem o corpus delicti
não pode haver acusação em plenário. Na absolvição sumária, malgrado haja ‘corpo de delito’ ou comprovação do fato típico, não
pode o réu ser punido, pois o fato não se apresenta como penalmente ilícito, ou então, deve ser tido como não culpável.19
16 FREDERICO MARQUES, José. A Instituição do Júri. Saraiva, 1963. v. I, p. 237.
17 MOURA BITTENCOURT, Edgard de. A Instituição do Júri. Livraria Acadêmica - Saraiva &
Cia., 1939. p. 90.
18 MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento Questionários. 7.ed. Malheiros, 1993. p. 68.
19 FREDERICO MARQUES, José. A Instituição do Júri, p. 242-243.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
95
Quando, ao invés da pronúncia, o Juiz da Vara Auxiliar ou Preparatória
do Júri proferir sentença terminativa do feito, absolvendo sumariamente ou
impronunciando o réu, competir-lhe-á decidir sobre a eventual instauração
de inquérito policial para apuração de falso testemunho; visto que tais provimentos possuem verdadeira carga decisória, mormente o primeiro, que põe
termo ao processo.
2.3 Desclassificação
A decisão de desclassificação resulta da alteração jurídica do fato, na hipótese de convencimento, por parte do magistrado, da ocorrência de crime diverso do descrito na denúncia ou queixa e estranho à competência do Tribunal do
Júri. Diante de tal ocorrência, os autos deverão ser remetidos ao juízo singular
competente, para que a instrução seja complementada.
Em ocorrendo situação que justifique a desclassificação, caberá ao Juízo
para o qual for remetido o feito, no momento oportuno, isto é, quando da prolação da sentença, analisar a ocorrência ou não de eventual falso testemunho.
Somente na hipótese positiva, deverá requisitar a instauração do competente
inquérito policial.
3.
JUDICIUM CAUSAE
O juízo da causa caracteriza-se como verdadeiro momento procedimental
da fase de conhecimento dos processos da competência do Júri, não podendo
ser apontado como nova instância. Sua tarefa jurisdicional será confrontar o
pedido acusatório com a situação real dos fatos em que se alicerça.
Na definição de FREDERICO MARQUES,
é o julgamento de mérito do pedido; e como na formação da
culpa não se decide sobre o mérito, e sim sobre a admissibilidade do direito de acusar, o judicium propriamente dito no processo penal do Júri está situado no ‘juízo da causa’.20
O judicium causae efetiva-se, derradeiramente, no próprio julgamento em
plenário, pois é nesse momento que será decidida a lide em si, isto é, o objeto
do processo.
20 FREDERICO MARQUES, José. A Instituição do Júri. p. 262.
96
faculdade de direito de bauru
3.1 Colheita da Prova Testemunhal no Procedimento do Júri
O Direito Processual Penal, a despeito de sua autonomia, possui estreitas
relações com outros ramos do direito, notadamente com o Direito Penal, a quem
dinamiza, e com o Direito Constitucional, que lhe serve de alicerce.
A Constituição Federal de 1988, a exemplo da Carta de 1967, garante aos
acusados em geral o respeito incontinenti aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente nos processos da competência do Tribunal do Júri, em
que a defesa também deve ser exercida em sua plenitude.
A colheita da prova testemunhal, em se tratando de crimes da competência
do Tribunal Popular, segue na primeira fase o sistema presidencial; na segunda fase,
tal método não é acolhido em sua inteireza, consoante se depreende da análise
conjunta dos artigos 212, 467 e 468, todos do Código de Processo Penal.21
Em se tratando dos métodos de colheita da prova testemunhal, HÉLIO
TORNAGHI aponta os dois principais adotados pelas legislações, em geral, a
saber: 1º) “o do exame direto, proveniente do Direito antigo (altercatio) e próprio do sistema acusatório”; 2º) “o do exame judicial, originário do Direito
medievo e próprio do sistema inquisitório”.22
No primeiro método, segundo o mencionado autor, a prova testemunhal
vai sendo produzida à medida que a parte apresenta a acusação ou a defesa. No
segundo, a inquirição da testemunha ocorre a cargo do juiz.
Os artigos 467 e 468 do Código de Processo Penal permitem concluir que,
na segunda fase do procedimento do júri, principalmente quando do julgamento em plenário, é adotado um sistema intermediário misto, fruto da fusão parcial dos apontados. Nesse sistema, embora as partes não indaguem as testemunhas à medida que sustentem a acusação ou defesa, diretamente formulam suas
perguntas às pessoas ouvidas, contrariando, assim, o sistema presidencial adotado pelo Livro I do estatuto processual penal.
Possuem caráter especial os artigos 467 e 468, em relação ao artigo 212, de
caráter nitidamente geral; prevalecendo, portanto, sua aplicação, de acordo com
o princípio da especialidade. Constitui regra hermenêutica assente, contudo,
que a lei não possui palavras inúteis. Dessa forma, se o legislador fez inserir no
21 Artigo 212 do Código de Processo Penal: “As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que
as formulará à testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra já respondida”.
Artigo 467 do mesmo diploma legal: “Terminado o relatório, o juiz, o acusador, o assistente e
o advogado do réu e, por fim, os jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as testemunhas de acusação”.
Artigo 468 do Estatuto Processual Penal: “Ouvidas as testemunhas de acusação, o juiz, o advogado do réu, o acusador particular, o promotor, o assistente e os jurados que o quiserem,
inquirirão sucessivamente as testemunhas de defesa”.
22 TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. 9.ed. Saraiva, 1995. v. 1, p. 422.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
97
texto do artigo 212 do Código de Processo Penal que as perguntas dirigidas às
testemunhas “serão requeridas ao juiz” e não o fez nos artigos 467 e 468, tornase forçoso concluir que, com tal opção, permitiu o questionamento direto no
Tribunal do Júri.
Partilham do entendimento esposado, ESPÍNOLA FILHO,23 MAGALHÃES
NORONHA,24 MIRABETE,25 ADRIANO MARREY, ALBERTO SILVA FRANCO, RUI
STOCO,26 ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO27 e HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO, para quem
a inquirição da testemunha em plenário, depois de ouvida pelo
Juiz Presidente, será feita diretamente pela acusação, pelo assistente, pelo defensor e por fim pelos jurados, tanto que, ao contrário do artigo 212 que diz que as perguntas são requeridas ao
juiz, o artigo 467, tratando da instrução em plenário, não dá
referência à mediação do magistrado.28
23 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 3.ed. Freitas Bastos.
v. IV, p. 433.
24 MAGALHÃES NORONHA, E. Curso de Direito Processual Penal. 18.ed. Saraiva, 1987. p. 271.
25 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 7.ed. Atlas, 1997. p. 515.
26 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e Prática do Júri. 6.ed. Revista
dos Tribunais, 1997. p. 313.
27 MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à Prova no Processo Penal. Revista dos
Tribunais, 1997. p. 152-153.
No que se refere aos sistemas de colheita da prova testemunhal, esclarece o autor apontado que
“...nos ordenamentos continentais, se prevê, como regra, a inquirição da testemunha pelo juiz,
que não só formula as perguntas que entende pertinentes, mas também afere a admissibilidade das indagações pretendidas pelas partes, dirigindo-as ao depoente (sistema presidencial); na
tradição anglo-americana a testemunha é colocada em contacto direto com as partes, sendo
inquirida inicialmente por quem a arrolou (direct examination) e, em seguida, submetida ao
exame cruzado (cross examination) pela parte contrária, método que, como visto, é considerado uma garantia fundamental da correção do julgamento.
Na técnica do cross examination evidenciam-se as vantagens do contraditório na coleta do
material probatório, uma vez que após o exame direto abre-se à parte contrária, em relação à
qual a testemunha é presumidamente hostil, um amplo campo de investigação; no exame cruzado, é possível fazer-se uma reinquirição a respeito dos fatos já abordados no primeiro exame
(cross examination as to facts), como também formular questões que tragam à luz elementos
para a verificação da credibilidade do próprio depoente ou de qualquer outra testemunha
(cross examination as to credit)... No Brasil, o Código de Processo Penal, ao disciplinar a prova
testemunhal, estabelece que as perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à
testemunha...(art. 212), mas ao tratar do procedimento perante o plenário do Júri, certamente pela influência do modelo inglês, determina que ...o juiz, o acusador, o assistente e o advogado do réu e, por fim, os jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as testemunhas de acusação (art. 467), repetindo a disposição, apenas com alteração na ordem de inquirição para as
testemunhas da defesa (art. 468). Há, portanto, uma diversidade de métodos de inquirição: nos
procedimentos comuns, e também na fase preparatória do júri, vigora o sistema dito presidencial; na instrução plenária do Tribunal do Júri há espaço para a inquirição direta e cruzada pelas próprias partes”.
28 MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri- Procedimentos e Aspectos do Julgamento Questionários. 7.ed. Malheiros, 1993. p. 130-131.
98
faculdade de direito de bauru
Em sentido contrário, a propugnar pela adoção no Tribunal do Júri do artigo 212 do Código de Processo Penal, em sua inteireza, encontram-se FREDERICO MARQUES,29 TOURINHO FILHO30 e VICENTE GRECO FILHO.31
Antes mesmo do advento do atual Código de Processo Penal, ao comentar
os artigos 63 e 64 do Decreto-lei nº 167, de 5 de janeiro de 1938, que dispunha
sobre a inquirição de testemunhas no plenário do Tribunal do Júri, assinalava
MAGARINOS TORRES que
as testemunhas são inquiridas primeiro pelo juiz, a seguir pela
parte que as arrolou, e afinal pela adversa, podendo os jurados
também lhes fazer perguntas.
Não é plausível esse encargo attribuido ao presidente, que póde
estar alheio ás circumstancias do facto, tendo sido obrigado a dar
attenção a outras coisas de sua funcção administrativa, muito
embora já se inteirasse do caso pelo resumo inicial das próvas, que
fôra obrigado a fazer. Mas então, si elle não se limita a mandar
que a testemunha narre tudo o que saiba, geralmente será esteril
a sua intervenção, porque das minucias só conhecem bem as proprias partes, ás quaes realmente devem ser deixadas.
A lei applicou o systema dos juizes singulares. Mas, no Jury, o criterio melhor seria o de confiar ás proprias partes a inquirição,
para que fossem directamente aos pontos controvertidos e de
interesse para a causa. Era o que antigamente recommendava a
lei e GALDINO SIQUEIRA consignava sem criticas (Curso de
Processo Criminal, 2ª edição, 1917, nº 288, pg. 216). Era o criterio legal no Estado do Rio de Janeiro, (vede OLDEMAR PACHECO,
Manual do Jury, 1931, p. 28). É o que se praticava no Districto
Federal de 1929 a 1938. E sempre foi o idéal da Justiça no Jury
(vêde RAOUL DE LA GRASSERIE, L’Evolution, p. 47).
Póde acontecer que a testemunha seja produzida unicamente
para informar sobre circumstancia minima, ou apenas sobre a
conducta anterior do réo; sendo assim obrigado o advogado ou
promotor a fazel-a explicar só conhecer de oitiva cada um dos
outros factos referidos ás perguntas do juiz, que assim vêm a significar méra perda de tempo.32
29 FREDERICO MARQUES, José. A Instituição do Júri. Saraiva, 1963. v. I, p. 293.
30 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 2.ed. Saraiva,
1997. v. 2, p. 87.
31 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. Saraiva, 1991. p. 205-207.
32 MAGARINOS TORRES, Antônio Eugênio. Processo Penal do Jury no Brasil. Livraria Jacintho,
1939. p. 432.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
99
Indubitavelmente, a inquirição direta da testemunha em plenário mostrase medida mais acertada e necessária para a melhor aferição do valor do depoimento pelos jurados que não possuem, a tal respeito, a mesma experiência do
juiz singular; na inquirição direta, o jurado, que é juiz, observa melhor a testemunha ao inquiri-la, bem como quando ela é inquirida pelas partes. Por sua vez,
esclarece a psicologia que a dilação entre a formulação da pergunta e a correspondente resposta pode conduzir à elaboração racionalizada do informe, com a
conseqüente modificação da verdade dos fatos. Todavia, entende a jurisprudência que o indeferimento por parte do Juiz Presidente da inquirição direta, por
jurado ou pelas partes, não constitui nulidade,33 em que pese o disposto no artigo 564, Inciso IV, do Código de Processo Penal.
Conforme observa CANUTO MENDES DE ALMEIDA,34 o desafio, no processo penal, consiste em compatibilizar-se o contraditório, com a garantia da
ampla defesa, e o poder-dever inquisitório, afeto ao juiz com a prevalência da
verdade material. Exige-se, assim, tomando-se por base a própria natureza da
prova testemunhal, a observância de certas cautelas contra a malícia, a falibilidade das expressões individuais, fontes de erros, enganos e contradições, capazes de comprometer a obra da Justiça. No que concerne às perguntas formuladas diretamente pelos jurados, desconhecedores das normas instrumentais do
processo, o Juiz Presidente deverá estar atento e orientá-los no sentido de que
preservem a incomunicabilidade exigida no julgamento popular.
No exame da literalidade das disposições especiais e da construção do código, como sistema, demonstrou-se não ter surgido,
por descuido, gratuidade, extravagância ou equívoco, o proce33 “No plenário do júri as partes poderão inquirir diretamente as testemunhas, mas não se anula
o julgamento por terem sido reperguntadas por intermédio do juiz” (TJSC - AC - Rel. Marcílio
Medeiros - RT 446/463).
“O juiz entendeu que as testemunhas produzidas em plenário deveriam ser inquiridas na
forma prevista no artigo 212 do CPP, não tendo permitido que as partes lhes dirigissem reperguntas senão por seu intermédio. Enxerga aí o recorrente cerceamento à acusação. Todavia, se
a regra foi observada sem discriminações, evidentemente, se a acusação sofreu cerceamento,
também o sofreu a defesa. A verdade, porém, é que a aplicação da regra do art. 212, acima citado, às inquirições feitas no plenário do júri não caracteriza nulidade prevista na lei. E, embora o ilustre Espínola Filho entenda que aí as partes e os jurados podem dirigir perguntas diretamente às testemunhas, certo é, também, que o juiz tem o dever de policiar os trabalhos, recusando as perguntas que não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra
já respondida. Para tanto, evidentemente, deverá ele mesmo formular perguntas às testemunhas, quer sejam das partes, quer sejam dos jurados” (TJSP - AC - Rel. Thomaz Carvalhal RJTJSP 1/199).
“No plenário do júri as partes poderão reinquirir diretamente as vítimas e as testemunhas, mas
não se anula o julgamento por terem sido reperguntadas por intermédio do Juiz” (TJSP - AC
- Rel. Bruno Netto - RT 694/325).
34 CANUTO MENDES DE ALMEIDA, Joaquim. Princípios Fundamentais do Processo Penal.
Revista dos Tribunais, 1973. p. 23.
100
faculdade de direito de bauru
dimento singular estabelecido para a inquirição perante o Júri.
Pelo contrário, o enfoque lítero-sistemático da lei e o tom nitidamente teleológico da norma convencem, à plenitude, de ter
animado o legislador o propósito de marcar um passo à frente,
no rumo de uma forma menos imperfeita de obtenção do testemunho, qual seja a da inquirição sem intermediário.35
Questão não menos tormentosa se apresenta quanto à oitiva em plenário
de testemunha arrolada pela outra parte que, quando do julgamento, desiste de
seu depoimento.
Alguns autores esposam a tese de que, em face do disposto no artigo 404
do Código de Processo Penal, as partes poderão desistir do depoimento de qualquer das testemunhas arroladas ou deixar de arrolá-las, concluindo-se que se
trata de uma faculdade da própria parte, contra a qual não pode a parte contrária se insurgir. A ressalva que se faz é justamente que, se o juiz entender conveniente ouvi-la, poderá fazê-lo, mas a parte contrária não poderá insurgir-se contra a dispensa de testemunha que não arrolou. Em se tratando de testemunha a
ser ouvida em plenário, deve o presidente consultar os jurados, antes de deferir
a dispensa.36
Há, porém, respeitosa argumentação em sentido totalmente contrário,
defendendo que, no caso de desistência de testemunha arrolada para depor no
plenário do Júri, a parte contrária deverá ser necessariamente consultada, visto
que ela poderá ter interesse em ouvir a indigitada testemunha. Caso não ocorra
a mencionada consulta e desde que o competente protesto seja consignado na
ata dos trabalhos, referida omissão poderá ocasionar a nulidade do julgamento.
A segunda corrente apontada encontra simpatia de boa parte da jurisprudência,37 de ESPÍNOLA FILHO e de ARY AZEVEDO FRANCO, para quem
35 ROCHA VIEIRA, Euzébio Cardoso da. Da Inquirição Direta da Testemunha pelas Partes perante o Júri. Porto Alegre, Revista do Ministério Público, v. 1, jan./jun. 1973. p. 173.
36 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Questões Processuais Penais Controvertidas. 2.ed. Sugestões
Literárias, 1979, p. 337-338.
37 “A desistência de testemunhas em Plenário, arroladas por qualquer das partes, só pode ser validamente deferida e homologada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri quando concordantes os jurados e aquiescendo, ainda que tacitamente à parte contrária” (STF - HC - Rel. Celso
de Mello - RT 656/362).
“Os arts. 467 e 468 do CPP consagram o direito da parte contrária, bem como dos jurados, à
inquirição das testemunhas presentes à sessão de julgamento, pelo que a dispensa não pode ser
efetivada se uma ou outra quiserem perguntá-las” (TJSP - Rev. - Rel. Márcio Bonilha - RT
454/371).
“Nulidade - Desistência de declaração da vítima e de inquirição de testemunha de defesa em
Plenário - Oposição da acusação não considerada - Novo julgamento ordenado: ‘Embora arroladas pela defesa, não pode o magistrado, a requerimento desta, dispensar as testemunhas e
vítima que deveriam depor em Plenário, sem antes obter a concordância da parte contrária e
dos jurados’” (TJSP - AC - Rel. Carvalho Filho - RT 496/285).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
101
lícito é às partes, ao juiz e aos jurados, dispensar a inquirição
das testemunhas, que serão ouvidas, se quiserem as pessoas que
referimos, certo sendo, entretanto, que, desde que uma só das
pessoas indicadas queira, a testemunha, ou as testemunhas, hão
de ser ouvidas.38
Razão assiste ao segundo posicionamento exposto, uma vez que a prova
testemunhal não se destina a uma das partes no processo, mas sim à apuração
do acontecido, ou seja, à busca da verdade real. A própria sistemática do julgamento efetivado pelo Júri abona referido entendimento, uma vez que a presença física e o comportamento desenvolvido pela testemunha quando do desenvolvimento dos trabalhos em plenário não passam desapercebidos à arguta
observação do corpo leigo, responsável pelo deslinde da causa. Nada melhor à
solução da controvérsia do que o contato com as partes e as pessoas envolvidas
que tomaram conhecimento ou presenciaram os fatos.
3.2 Última Oportunidade para Retratação nos Processos da
Competência do Tribunal do Júri
Nos processos da competência do Tribunal do Júri, a retratação pode operar-se tanto na fase da formação da culpa (Sumário da Culpa), como na sessão
plenária de julgamento, quando a testemunha poderá ser novamente ouvida; só
que, desta feita, perante o juízo natural da causa.
Não produzindo a sentença de pronúncia efeitos de mérito, o
momento para a testemunha se retratar, nos precisos termos do
“A dispensa de testemunha é um direito natural das partes, mas não absoluto. Há a considerar
que os arts. 467 e 468 consagram o direito da parte contrária, bem como dos jurados, à inquirição das testemunhas presentes à sessão de julgamento, pelo que a dispensa não pode ser efetivada, se uma ou outros quiserem fazer-lhes perguntas” (TJSP - AC - Rel. Nélson Fonseca RT 444/316).
“Não se depara com menor irregularidade na inquirição da testemunha arrolada pela defesa e
que compareceu ao ato processual, não obstante o pedido de dispensa. Não se pode aceitar,
nesse capítulo, que a dispensa constitua direito absoluto da parte. Como bem lembrou o venerando acórdão revidendo, reportando-se ao magistério de Espínola Filho, ‘os arts. 467 e 468
consagram o direito da parte contrária, bem como dos jurados, à inquirição das testemunhas
presentes à sessão de julgamento, pelo que a dispensa não pode ser efetivada, se uma ou outros
quiserem perguntá-las’. De resto, o próprio Presidente do Tribunal do Júri pode determinar a
inquirição de testemunhas em Plenário, de ofício (J. Frederico Marques, O Júri no Direito
Brasileiro, 1955, p. 287-290), não acarretando qualquer invalidade ao julgamento. Ao contrário, a providência somente poderá trazer melhores esclarecimentos aos jurados” (TJSP - AC Rel. Márcio Bonilha - RJTJSP 24/468).
38 FRANCO, Ary Azevedo. O Júri e a Constituição Federal de 1946. 2.ed. Revista Forense, 1956. p.
148.
102
faculdade de direito de bauru
artigo 342, parágrafo 3º, do Código Penal, é aquele que antecede a decisão final da causa pelos jurados.39
Situação peculiar, no entanto, é aquela em que a testemunha que faltou
com a verdade em plenário é mantida incomunicável nas dependências do
Forum, e após o término dos debates resolve retratar-se. Inusitada situação,
sequer cogitada pelo legislador, demanda solução rápida, equânime e condizente com os princípios que regem o julgamento popular.
Dissolver o conselho de sentença, em tal hipótese, seria atentar contra as
peculiaridades do julgamento popular, perder todo o trabalho até então realizado, além de obstar a retratação da testemunha mendaz, causa extintiva da punibilidade, expressamente consagrada em lei. Não bastassem as conseqüências
apontadas, os artigos 473 e 478 do Código de Processo Penal permitem aos jurados a solicitação de novas diligências depois de concluídos os debates ou até
mesmo a reinquirição de testemunhas, sob pena de nulidade.
Em ocorrendo a situação indicada, é de bom alvitre que o juiz, depois da
retratação efetivada, conceda às partes tempo suplementar, para que elas possam discorrer sobre a nova prova produzida, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório.40 Efetivada tal providência e encontrando-se os jurados habilitados a julgar a causa, aí sim deverão ser encaminhados à sala secreta
para o julgamento.
4.
JÚRI E FALSO TESTEMUNHO – FORMULAÇÃO DE QUESITO ESPECIAL
Como é sabido, quesitos são perguntas formuladas pelo Presidente do Júri
aos jurados, sobre o fato criminoso e demais circunstâncias essenciais ao julga39 Apelação Criminal nº 124.484-3, Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, rel. Des. João Morenghi, j. 13.12.93, v.u. . Boletim do IBCCrim, junho, 1994, p.
55.
40 Analisando o artigo 478 do Código de Processo Penal, o Professor Hermínio Alberto Marques
Porto faz as seguintes observações: “No rol de diligências pleiteáveis pelos jurados quando
indagados se estão habilitados a julgar (art. 478, caput), pode estar a reinquirição de testemunhas, expressamente admitida pelo art. 473 e sem restrições quanto à fonte da iniciativa (o Juiz
Presidente, as partes, ou os jurados); pleiteada, então, pelo jurado, a reinquirição de testemunha, ou a realização de acareação (art. 229), a prova nova, que chega aos autos quando já
encerrados os debates, merece, para asseguramento do princípio constitucional do contraditório, ser apreciada pelas partes, competindo ao Juiz Presidente, à frente de tal circunstância
que também pode ter sido motivada por requerimento das partes ou por determinação sua
(Inciso XI do art. 479), reabrir os debates, se assim desejado pelas partes que têm o direito, sob
pena de cerceamento, de manifestação, antes da decisão final, sobre prova nova, ficando ao critério do Juiz Presidente a determinação do tempo para novas alegações orais pela acusação e
pela defesa, tempo este que não mostra conveniência ultrapasse aquele destinado à réplica e à
tréplica” (Hermínio Alberto Marques Porto. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento Questionários. 7.ed. Malheiros, 1993. p. 127-128).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
103
mento, e por meio das quais os jurados decidem a causa. FIRMINO WHITAKER41
classificava-os em legais,42 elaborados de ofício pelo Juiz Presidente do Júri, e
voluntários,43 aqueles solicitados pelas partes.
As fontes obrigatórias dos quesitos são o libelo e as teses argüidas pela
defesa técnica em plenário. Todavia, em atendimento a requerimento de
alguma das partes, podem ser formulados quesitos especiais, como o que
trata da ocorrência ou não do crime de falso testemunho verificado no curso
do processo.
Se o falso testemunho foi praticado ao longo do processo da competência do
Tribunal do Júri, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 211 do Código de
Processo Penal, o depoimento apontado como mendaz deverá ser analisado pelo
Conselho de Sentença que, em resposta a quesito especial formulado pelo Juiz
Presidente, deverá afirmar ou infirmar a ocorrência do delito apontado. É recomendável que o quesito especial seja o último a ser votado, após todos os demais,
visando com tal precaução, a evitar de todas as formas, que a convicção dos jurados
acerca da testemunha seja revelada prematuramente.44
Tratando-se de causa de natureza penal, em face da causa especial de
aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 342 do Código Penal, é conveniente que o quesito formulado seja desdobrado.45
É de observar-se que, com base nas próprias peculiaridades do Tribunal do
Júri, a indagação ao corpo leigo sobre a ocorrência ou não do crime de falso testemunho deve ser formulada após requerimento de alguma das partes e não em
razão de deliberação do Juiz Presidente que, certamente, ao agir de tal forma,
41 WHITAKER, Firmino. Jury. 6.ed. Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia. 1930. p. 186-187.
42 Os quesitos legais são aqueles pertinentes a autoria e materialidade, letalidade ou lesividade,
qualificadoras do crime, circunstâncias agravantes, cumulados com aqueles sobre circunstâncias que atenuam a pena.
43 Os quesitos voluntários da defesa compreendem aqueles pertinentes ao plano da defesa no julgamento, ou seja, dizem respeito às teses defensivas apresentadas em plenário.
44 “O reconhecimento pelo Conselho de Sentença de que alguma testemunha, ouvida em
Plenário, prestou falso depoimento, dar-se-á após a votação dos quesitos, em consulta especial
feita aos jurados” (TJSP - AC - Rel. Carvalho Filho - RJTJSP 13/487).
45 Em obra datada de 1934, quando tinha vigência a Consolidação das Leis Penais, o então
Promotor Público, Ericio Alvares de Azevedo Gonzaga, já alertava para a necessidade de desdobramento de quesitos, em se tratando do crime de falso testemunho.
Com efeito, assinalava o mencionado autor que “em casos de crimes de testemunho falso, previsto no artigo 261 da Consolidação das Leis Penais, no artigo primeiro do libelo, articular-seá o ato (de depôr afirmando ou negando determinado fato) principal praticado pêlo réu; no
artigo segundo se exporá a circunstáncia de haver o réu prestado compromisso de dizer a verdade como testemunha; no artigo terceiro, se dirá que a circunstáncia afirmada ou negada pêlo
réu era essencial do fato especificado que ia ser apreciado pêlo juiz ou Tribunal; em quarto
artigo se dirá que a afirmação prestada pêla testemunha era falsa, segundo se verificar de circunstáncia especificada; em quinto artigo se exporá a natureza da cáusa, si civil, si criminal; e,
em sexto artigo, si se tratar de cáusa criminal, que o depoimento prestado ou foi para se obter
a condenação, ou para se obter a absolvição do réu”. (Ericio Alvares de Azevedo Gonzaga.
Libelo-Crime, Livraria Acadêmica, 1934. p. 256).
104
faculdade de direito de bauru
estaria acenando para a tese que lhe parecesse mais plausível e, conseqüentemente, influindo de modo reprovável na decisão popular.
Caso atue ex officio, o Juiz Presidente poderá estar inquinando o julgamento de nulidade absoluta, ocorrida posteriormente à pronúncia.46 Contudo, a
respeito de tal delicada questão, encontram-se diferentes posicionamentos tanto
na doutrina, como na jurisprudência.
HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO, analisando a quem compete a
iniciativa de proposição do quesito especial acerca do crime de falso testemunho, defende a tese de que
a determinação da apresentação é do Conselho de Sentença,
através de votação de quesito especial e dando atenção ao artigo 488, evidenciando a previsão não ter a lei processual penal
entendido o jurado como figura estática fora do momento da
votação do questionário, tanto que também pode consultar os
autos (artigo 482), pedir esclarecimentos (artigo 478 e seu parágrafo único) e a indicação de fonte de prova citada nos debates
(parágrafo único do artigo 476), inquirir testemunhas (artigos
467 e 468). A forma de exteriorização da decisão de encaminhamento da testemunha à autoridade policial, e não há outra,
estará representada na votação majoritária de quesito especial,
ficando também com o Conselho de Sentença a iniciativa pelo
levantamento da questão, o que então é de ser feito por jurado,
descabendo a entrega da iniciativa às partes ou ao Juiz
Presidente, assim porque, de um lado, a matéria é pela lei especificamente relacionada com o Conselho de Sentença, e, de
outro, a iniciativa pelas partes, que têm interesse em pontos que
possam refletir na apreciação do mérito, mostra improbidade,
enquanto a iniciativa deve ser vedada ao Juiz Presidente que
não tem a incumbência de valorar, salvo em exemplos de desclassificação, as provas.
46 Ao analisar a matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo posicionou-se da seguinte forma: “Júri - Nulidade - Defeituosa redação do questionário - Inocorrência - Pergunta aos
jurados indagando se a testemunha que depôs em plenário prestou falso testemunho Afirmação de sua parte - Circunstância que não viciou o julgamento - Preliminar repelida Inteligência do artigo 488 do CPP: Sempre que em plenário for ouvida testemunha, deverá o
Presidente do Júri, após a votação dos quesitos, consultar os jurados se ela infringiu ao artigo
342 do CP, consulta que deverá ser feita por meio de cédulas. Se a maioria dos jurados entender que sim, deverá o Presidente do Júri apresentá-la imediatamente à autoridade policial,
para a instauração de inquérito policial, fazendo-a vir à presença do Tribunal novamente e
dando-lhe ciência da decisão dos jurados a esse respeito” (TJSP - AC - rel. Des. Dirceu de Mello
- RT 583/330).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
105
Serve considerar que a estudada previsão da lei é criticável, e
bem poderia – por ser o Conselho de Sentença entidade leiga, e
que deve ter resguardadas exteriorizações que possam vulnerar,
ainda que em reflexos retroativos, o sigilo da votação – ficar a
iniciativa, após o trânsito em julgado da sentença, nas mãos do
Juiz Presidente.47
Defendem entendimento em contrário, ADRIANO MARREY, ALBERTO
SILVA FRANCO e RUI STOCO, ao sustentarem que
... caberá a qualquer das partes (aquela prejudicada pela subversão da verdade – e somente ela) requerer o Juiz Presidente
formule ao Conselho de Sentença um quesito especial... Esse quesito será o último da série a ser votada pelo júri. Sendo afirmativa a resposta, o Juiz Presidente, na sentença, determinará, nos
termos dos artigos 40 e 211, parágrafo único, do CPP, sejam
extraídas peças para a instauração de ação penal contra a testemunha reputada falsa.48
Já ARY AZEVEDO FRANCO é partidário da posição segundo a qual, “nos
processos julgados pelo Júri, sempre que, em plenário, for ouvida testemunha,
deverá o presidente do Júri, após a votação dos quesitos, consultar aos jurados
se a testemunha infringiu o artigo 342 do Código Penal, consulta que deverá ser
feita por meio de cédulas, e, se a maioria entender que a testemunha praticou a
infração, deverá o presidente do Júri fazer apresentar a testemunha imediatamente à autoridade policial para a instauração do inquérito, fazendo-a vir à presença do Tribunal novamente, e, dando-lhe ciência da decisão dos jurados a esse
respeito, fazê-la conduzir à presença da autoridade policial, de modo que, doravante, a testemunha que houver sido inquirida em plenário, deverá aguardar na
sala que lhe é destinada, o final do julgamento”.49
Dadas as peculiaridades do Tribunal do Júri, a melhor solução aponta para a
iniciativa da parte prejudicada, que deverá requerer a elaboração do quesito especial. Afirmada a ocorrência do crime de falso testemunho, a testemunha mendaz, ao
término do julgamento, deverá ser apresentada à Autoridade Policial para a lavratura do competente auto de prisão em flagrante delito. Tal conclusão, embora possa
parecer radical para alguns, é a que decorre da preocupação com a isenção do julgamento popular e, sobretudo, com a efetiva aplicação da lei penal.
47 MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento Questionários. p. 132-133.
48 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui, op. cit., p. 313.
49 FRANCO, Ary Azevedo.Código de Processo Penal. 5.ed. Revista Forense, 1954. v. 1, p. 274.
106
faculdade de direito de bauru
Um Estado, que se intitula Democrático de Direito, não pode conviver de
forma passiva com a mendacidade, mormente quando esta é exteriorizada em
um Tribunal Popular, representante maior do anseio de Justiça de nosso povo.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O Processo Criminal Brasileiro. 4ª ed. Rio
de Janeiro, 1959. v. II.
ALTAVILA, Jayme de. A testemunha na história e no direito. 1ª ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1967.
ALTAVILLA, Enrico. Psicologia Judiciária. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra,
1958. v. 1 e 2.
AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 1984. v. 2.
–––––– Comentários ao Código de Processo Civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
v. IV.
ANTONIONI, Filippo. La Falsa Testimonianza Nella Teoria Generale Del Falso.
Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1957.
ASSIS TOLEDO, Francisco de. Princípios Básicos de Direito Penal. 5.ed. São Paulo:
Saraiva, 1994.
AZEVEDO GONZAGA, Erício Alvares de. Libelo-Crime. Livraria Acadêmica, 1934.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. O Poder Discricionário e o
Jurisdicional. Malheiros Editores, 1992.
Controle
–––––– Curso de Direito Administrativo. 10.ed. Malheiros Editores, 1998.
BATTISTELLI, Luigi. A Mentira nos Tribunais. Trad. Fernando Miranda. 1.ed.
Coimbra Editora, 1963.
BENTO DE FARIA, Antonio. Código Penal Brasileiro Comentado. Rio de Janeiro:
Distribuidora Récord, 1959. v. VII.
–––––– Código de Processo Penal. Rio de Janeiro: Distribuidora Récord Editora, 1960.
v. I.
BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva
Franco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. v. III.
BICUDO, Hélio Pereira. O falso testemunho - Problemas que suscita. In: Revista
“Justitia”, v. 8, 1952 (janeiro/março).
BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 4.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1997.
BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 4.ed. Rio de Janeiro, Forense, 1984. Tomo 1º.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
107
CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro.
Livraria Editora Freitas Bastos, 1942. v. II.
CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de. Da Prova no Processo Penal. 2.ed. São
Paulo: Saraiva, 1987.
CANUTO MENDES DE ALMEIDA, Joaquim. Ação Penal - Análises e Confrontos. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1938.
–––––– Princípios Fundamentais do Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1973.
CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el Proceso Penal. Trad. espanhola. EJEA. 1950.
v. IV.
–––––– Teoria General del Delito, Madrid, 1952.
CARRARA, Francesco. Programma Del Corso Di Diritto Criminalle; parte speciale. Tip.
di Canovetti, Lucca, 1881. v. V.
–––––– Opusculos de Derecho Criminal. Trad. José J. Ortega Torres e Jorge Guerrero.
2.ed. Bogotá: Editorial TEMIS, 1978. v. III.
CARVALHAL, Thomaz. O Tribunal do Jury. São Paulo, Empreza Graphica da “Revista
dos Tribunaes”, 1935.
CHAUVEAU, Adolphe & HÉLIE, Faustin. Théorie du Code Pénal. Paris, Marchal et
Billard, Ed. Cosse, 1872. v. IV.
CHIARADIA NETO, F. A Pronúncia e sua Natureza. In: São Paulo: Revista dos Tribunais,
1960. v. 301.
CORDEIRO GUERRA, João Baptista. A Arte de Acusar. 1.ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1989.
–––––– O Júri no Passado e no Presente: Sugestões para o Futuro.
19/7, Porto Alegre: Ajuris, jul. 1980.
COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 4.ed. São Paulo: Saraiva,
1996.
–––––– Curso de Direito Penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1992. v. 3.
COVELO, Antônio Augusto de. Ensaio da Teoria sobre os delitos contra a Justiça. In:
Congresso Nacional do Ministério Público, 1., São Paulo, 15 a 30 de junho de 1942.
anais. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943. v. 5.
CRUZ FERREIRA, Luiz Alexandre. Falso Testemunho e Falsa Perícia. Belo Horizonte: Del
Rey, 1998.
CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal; parte especial. BOSCH, 14. ed., Barcelona:
Casa Editorial, 1975. v. I, tomo II.
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 3.ed. Edição Renovar, 1991.
108
faculdade de direito de bauru
DEMERCIAN, Pedro Henrique & MALULY, Jorge Assaf. Juizados Especiais Criminais Comentários. Aide, 1996.
DINIZ, Maria Helena. As Lacunas no Direito. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
–––––– A Ciência Jurídica. 3.ed. Saraiva, 1995.
DRUMMOND, J. Magalhães. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense,
1944. v. IX.
DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique & SCARANCE FERNANDES, Antônio. Estupro –
Enfoque Vitimológico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v.653.
ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. Freitas
Bastos, 1945. v. II, III e IV.
–––––– Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 4.ed. Borsoi, 1954. v. V.
FARINELLI, Lucy. Em Torno do Delito de Falso Testemunho. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1974. v. 470
FERREIRA, Zoroastro de Paiva. Psicologia do Testemunho. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1981. v. 551.
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Processual Penal. Coimbra: Editora Coimbra,
1974.
FIGUEIREDO FERRAZ, Ester de. A co-delinquência no Direito Penal Brasileiro.
Bushatsky, 1976.
FLORIAN, Eugenio. De Las Pruebas Penales. Temis Bogotá, 1969. tomo II.
FONTECILLA, Rafael. El Concepto Jurídico Del Delito y sus Principales
Problemas Tecnicos, 1936.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. 4.ed. Rio de Janeiro, Forense, 1984,
Parte Especial. v. II.
FRANCO, Ary Azevedo. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, Forense, 1960. v. I e
II.
–––––– O Júri e a Constituição Federal de 1946. 2.ed. São Paulo: Revista Forense, 1956.
FREDERICO MARQUES, José. Elementos de Direito Processual Penal. 2. ed. São Paulo:
Forense, 1965. v. I, II e III.
–––––– A Instituição do Júri. São Paulo: Saraiva, 1963. v. I.
–––––– O Júri e sua Nova Regulamentação Legal. São Paulo: Saraiva, 1948.
–––––– Da Competência em Matéria Penal. São Paulo: Saraiva, 1953.
–––––– Manual de Direito Processual Civil. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 1984. v. II.
GARCEZ RAMOS, João Gualberto. O Júri como Instrumento de Efetividade da Reforma
Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 83, jan. 1994. v. 699.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
109
GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 4.ed. Max Limonad, 1971. v. I, tomo I.
GARRAUD, René. Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français. Paris : L.
Larouse, 1901. v. V.
GÓMEZ, Eusebio. Tratado de Derecho Penal. Compañia Argentina de Editores, 1941.
tomo V.
GORPHE, François. La Critica Del Testimonio. Trad. Mariano Ruiz Funes. 5. ed. Madrid:
Reus, 1971.
GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. Saraiva, 1991.
–––––– Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984. v. 2.
GRISPIGNI, Filippo. Diritto Penale Italiano. Milão, Giuffrè, 1952.
–––––– L’Evento come Elemento Costitutivo del Reato. In: “Annali di Diritto e
Procedura Penale”, 1934.
HAWARD, Lionel R. C. Alguns Aspectos Psicológicos da Prova Testemunhal. Trad.
Leila de Morais Knight. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, 1964. v. 5.
HOEPPNER DUTRA, Mário. A Evolução do Direito Penal e o Júri. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1974. v. 460.
HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. IX.
–––––– Novas Questões Jurídico-Penais. Rio de Janeiro, Nacional de Direito, 1945.
–––––– Extinção da Punibilidade em face do Novo Código Penal. Rio de Janeiro:
Revista Forense, 87/595.
IRMÃO, José Aleixo. Grandezas e Misérias do Júri. Cupolo Ltda., 1968.
JESUS, Damásio E. Direito Penal - Parte Geral. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 1993. v. 1.
–––––– Direito Penal - Parte Especial. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1994. v. 4.
–––––– Código Penal Anotado. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
–––––– Código de Processo Penal Anotado. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 1989.
–––––– Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luís. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Losada, 1951. tomo
III.
–––––– Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires, Losada: 1970. v. VII.
KARAM, Maria Lúcia. Competência no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997.
LAURIA TUCCI, Rogério. Princípio e Regras Orientadoras do Novo Processo Penal
Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
LEVAI, Emeric. Retratação Penal. Rio de Janeiro: Separata da Revista Forense, v. 284.
110
faculdade de direito de bauru
LEVENE, Ricardo. El Delito de Falso Testimonio. 2.ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,
1962.
LINS E SILVA, Evandro. A Defesa Tem a Palavra. 3.ed. Aide, 1991.
LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Alemão. Trad. José Hygino Duarte
Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C., 1899. tomo II.
LOZZA, Ricardo. Artigo 467 do CPP – Breves Considerações sobre a Produção da Prova
Testemunhal no Tribunal do Júri. Revista de Processo, 1994. v. 19.
LYRA, Roberto. Direito Penal Normativo. Rio de Janeiro: José Konfino, 1975.
–––––– A Expressão mais simples do Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976.
MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
Prova no
Processo Penal. São
MAGALHÃES NORONHA, E. Direito Penal. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 1986. v. 4.
–––––– Curso de Direito Processual Penal. 18.ed. Saraiva, 1987.
MAGARINOS TORRES, Antônio Eugênio. Processo Penal do Jury no Brasil. Livraria
Jacintho, 1939.
MAGGIORE, Giuseppe. Derecho Penal – Parte Especial – Delitos en Particular.
Bogotá: Temis, 1955. v. III.
MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A Lógica das Provas em
Trad. Paolo Capitanio. Bookseller, 1996. v. I.
Matéria Criminal.
MANFREDINI, Mario. Manuale di Diritto Criminale. Roma, 1932.
MANZINI, Vicenzo.Tratatto di Diritto Penale Italiano. Torino: UTET, 1950. v. V.
MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri – Procedimentos e Aspectos do Julgamento
– Questionários. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
–––––– Procedimento do Júri e “Habeas Corpus”. In: Justiça Penal – Críticas e
Sugestões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. v. 5.
–––––– Aspectos do Julgamento pelo Tribunal do Júri. Revista “Justitia”,
1968. v. 30.
–––––– Tribunal do Júri. Procedimento. Sala Secreta. In: Processo Penal e
Constituição Federal. São PauloL Acadêmica, 1993.
MARREY, Adriano et alii. Teoria
Tribunais, 1997.
e Prática do Júri. 6.ed. São Paulo: Revista dos
MARSICH, Piero. Il Delitto Di Falsa Testimonianza. Padova, CEDAM, 1929.
MASSARI, Eduardo. Lineamenti del Processo Penale, 1934.
MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Barcelona: Ariel, 1962.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
111
44
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 8.ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1965.
MENDES JÚNIOR, João. O Processo Criminal Brazileiro. Rio de Janeiro: Laemmert &
Cia., 1901.
MELLO JÚNIOR, Vicente de Moraes. O Questionario do Jury – Estudo Theorico e
Pratico. Empreza Graphica Limitada, 1930.
MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho Penal. Trad. José Arturo Muñoz, Madrid:
Revista de Derecho Privado, 1949. v. II.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 13.ed. Atlas, 1998. v.1.
–––––– Manual de Direito Penal. 10. ed. Atlas, 1996. v. 3.
–––––– Código de Processo Penal Interpretado. 4. ed. Atlas, 1996.
–––––– Processo Penal. 7. ed. Atlas, 1997.
–––––– Juizados Especiais Criminais. Atlas, 1997.
MOURA BITTENCOURT, Edgard de. A Instituição do Júri. São Paulo: Livraria Acadêmica
- Saraiva & Cia., 1939.
MUÑOS CONDE, Francisco. Derecho Penal. 5.ed., Sevilla, Publicaciones
Universidad de Sevilla: Parte Especial, 1983.
NASSIF, Aramis. Júri – Instrumento da Soberania Popular. Livraria
1996.
de La
do Advogado,
PACHECO, Oldemar. Manual do Jury, 1931.
PEDROSO, Fernando de Almeida. Falso Testemunho: Anotações de Direito e
Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. v. 688.
PESSINA, Enrico. Elementi di Diritto Penali. Napoli, 1885. v. 3.
PIMENTA BUENO, J. A. Apontamentos
1950.
sobre
o
Processo
Criminal Brasileiro.
PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes de Mera Conduta. 3.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1975.
–––––– A Oratória perante o Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. v. 628.
PRADO, Luiz Regis. Falso Testemunho e Falsa Perícia. 2.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1994.
–––––– Código Penal Anotado e Legislação Complementar. PRADO, Luiz Regis &
BITENCOURT, Cezar Roberto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
QUINTANO RIPOLLÉS, A. Curso de Derecho Penal. Madrid: Revista
Privado, 1963. v. II.
ROCHA, Pinto da. O Jury e a sua Evolução. Ribeiro & Maurillo, 1919.
de Derecho
112
faculdade de direito de bauru
ROCHA VIEIRA, Euzébio Cardoso da. Da Inquirição Direta da Testemunha pelas Partes
perante o Júri. Porto Alegre: Revista do Ministério Público, 1973. v. 1.
SABINO JÚNIOR, Vicente. Direito Penal, Parte Especial. 1.ed. Sugestões Literárias,
1967.
SANTORO, Arturo. Manuale de Diritto Penale. Torino, UTET, 1962. Tomo II.
SERRANO NUNES JÚNIOR, Vidal & DAVID ARAÚJO, Luiz Alberto. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998.
SIQUEIRA, Galdino. Tratado de Direito Penal. 2.ed. José Konfino Editor, 1951. v. IV.
–––––– Curso de Processo Criminal, 2.ed., 1917.
SOLER, Sebastian. Derecho Penal Argentino. Buenos Aires: Tipográfica
Editora Argentina, 1951. v. V.
SOUZA, Aélio Paropat. Quesitos do Júri no Direito Sumular. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1992. v. 679.
TORNAGHI, Hélio. Instituições de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 1978,
v. 4.
–––––– Curso de Processo Penal. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1.
TÔRRES DE MÉLO, Carlos Alberto. A Soberania do Júri – Elemento Essencial à Própria
Instituição. Revista do Ministério Público Fluminense, 1971. v. 2.
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva,
1995. v. 3.
–––––– Processo Penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 2.
–––––– Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 1 e 2.
VÉRON, Michel. Droit Pénal Spécial. 4.ed. Masson, 1994.
VICENTE DE AZEVEDO, Vicente de Paulo. Curso de Direito Judiciário Penal. São
Paulo: Saraiva, 1958. v. II.
XAVIER DE AQUINO, José Carlos G. A Prova Testemunhal no Processo Penal
Brasileiro. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán; parte general. Trad. Juan Bustos Ramirez e
Sergio Yánes Pérez. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1976.
WESSELS, Johannes. Direito Penal; parte geral. Trad. Juarez Tavares. Porto Alegre:
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1976.
WHITAKER, Firmino. Jury. 6.ed. São Paulo: Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., 1930.
É possível a construção de uma hermenêutica
constitucional emancipadora na
pós-modernidade?
Paulo Magalhães da Costa Coelho
Juiz da 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Mestre e Doutor em Direito do Estado pela PUC-São Paulo.
Professor de Direito Administrativo da FACAMP - Faculdades de Campinas .
Professor do Curso Ductor - Centro de Estudos Jurídicos de Campinas.
Professor de Filosofia do Direito do Curso de Pós-Graduação em
Direito Constitucional da Instituição Toledo de Ensino.
Palavras-chave: Pós-modernidade, razão, concretização axiológica, hermenêutica jurídica, dessacralização da norma, interdisciplinaridade.
A pós-modernidade – a sociedade tecnológica e pós-industrial de nossos
dias, que sucede à “modernidade”, vista por Hegel como o fim da história pela
objetivação do “Espírito absoluto” em decorrência do processo evolutivo da
razão – caracteriza-se por ser uma sociedade de informação, de informações
banalizadas e superficiais. Pós-modernidade na qual se anunciou, ainda uma vez,
o fim da história, a morte das ideologias e das utopias igualitárias.
O consumo, nas sociedades tecnológicas pós-industriais do Primeiro
Mundo, substitui a Deus, a Marx, às idéias de liberdade e igualdade.
Para Luis Roberto Barroso,
O discurso acerca do Estado atravessou, ao longo do século XX,
três fases distintas: a Pré-Modernidade (ou Estado Liberal), a
Modernidade (ou Estado Social) e a Pós-Modernidade (ou
114
faculdade de direito de bauru
Estado Neoliberal). A constatação inevitável, desconcertante, é
que o Brasil chega à Pós-Modernidade sem ter conseguido ser
liberal nem moderno. Herdeiros de uma tradição autoritária e
populista, elitizada e excludente, seletiva entre amigos e inimigos – e não entre certo e errado, justo ou injusto -, mansa com
os ricos e dura com os pobres, chegando ao Terceiro Milênio
atrasados e com pressa.1
Para alguns, a sociedade pós-moderna é a sociedade sem classes, a sociedade das massas.
Se, de um lado, assiste-se ao surgimento do Estado neoliberal, avesso às intervenções, que se sacraliza, ainda uma vez, o mercado, nem por isso se tornam menos
aguda as aflições humanas. Antes ao contrário, se desagregam países, sociedades,
coletividades e individualidades imersas numa crise sem precedentes.
A razão iluminista, inspirada no logos grego está em questão. Também o
Estado fruto dessa razão iluminista não consegue atingir seus fins.
O Estado do bem-estar social implementado nos países do primeiro
mundo vê-se inviabilizado na periferia. Desmoronou também a utopia dos regimes socialistas do Leste Europeu.
Uniu-se à fragmentação cotidiana o desespero.
Estamos órfãos da história, das ideologias e das utopias, segundo os arautos do Estado neoliberal.
Mas ao contrário do que sustentam aqueles que vêem o fim da história, a
sociedade sem classes, o fim das ideologias, a pós-modernidade não se expressa
para além da história humana.
Se a razão iluminista está em crise e o materialismo histórico não pode ser
considerado o único instrumento de análise da pós-modernidade, nem por isso
pode ser desprezado como método para a compreensão das sociedades capitalistas pós-modernas.
Como pondera Luis Roberto Barroso,
Sem enveredar por um debate filosófico feito de sutilezas e complexidades, a verdade é que a crença iluminista no poder quaseabsoluto da razão tem sido intensamente revisitada e terá sofrido pelo menos dois grandes abalos. O primeiro, ainda no século XIX, provocado por Marx; e o segundo, já no século XX, causado por Freud. Marx, no desenvolvimento do conceito essencial
à sua teoria – o materialismo histórico - assentou que as cren1
Luis Roberto Barroso, “Fundamentos Teóricos e Filosóficos no Direito Constitucional Brasileiro”
in Estudo de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva, p. 26.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
115
ças religiosas, filosóficas, políticas e morais dependiam do trabalho, na forma como estas se constituem em cada fase da história econômica. Vale dizer: a razão não é fruto de um exercício
da liberdade de ser, pensar e criar, mas prisioneira da ideologia,
um conjunto de valores introjetados e imperceptíveis que condicionam o pensamento, independentemente da vontade.
O segundo abalo veio com Freud. Em passagem clássica, ele
identifica três momentos nos quais o Homem teria sofrido duros
golpes na percepção de si mesmo e do mundo à sua volta, todos
desferidos pela mão da Ciência. Inicialmente com Copérnico e a
revelação de que a Terra não era o centro do Universo, mas um
minúsculo fragmento de um sistema cósmico de vastidão inimaginável. O segundo com Darwin, que, através da pesquisa
biológica, destrói o suposto lugar privilegiado que o Homem
ocuparia no âmbito da Criação e provou sua incontestável
natureza animal. O último desses golpes – que é o que aqui se
deseja enfatizar – veio com o próprio Freud: a descoberta de que
o Homem não é senhor absoluto sequer da própria vontade, de
seus desejos, de seus instintos. O que ele fala e cala, o que pensa,
sente e deseja, é fruto de um poder invisível que controla o seu
psiquismo: o inconsciente.
É possível, aqui, enunciar uma conclusão parcial: os processos
políticos, sociais e psíquicos movem-se por caminhos muitas vezes
ocultos e imperceptíveis racionalmente. Os estudos de ambos os
pensadores acima – sem embargo de amplamente questionados
ao longo e, especialmente, ao final do século X – operaram uma
mudança profunda na compreensão do mundo. Admita-se, assim,
que a razão divida o palco da existência humana pelo menos com
esses dois outros ( f )atores: a ideologia e o inconsciente.2
Embora questionada racionalmente, a razão conserva, ainda, dois fundamentos apontados por Luis Roberto Barroso,3 a saber, o ideal de conhecimento
e o potencial de transformação.
A crise da razão iluminista é também a crise do positivismo, seus principais
postulados – a ciência como verdadeiro conhecimento, descritiva, fundada na
separação entre sujeito e objeto e imune a preconceitos metafísicos e à universalidade do método - revelaram-se absolutamente insuficientes.
2
3
Luis Roberto Barroso, “Fundamentos Teóricos e Filosóficos no Direito Constitucional Brasileiro”
in Estudo de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva, p. 27-28.
Ibidem, p. 28.
116
faculdade de direito de bauru
No plano da ciência jurídica, o positivismo postulava uma “ciência pura”,
baseada na norma, no interior de um sistema lógico-dedutivo, depurado de
quaisquer outras preocupações.
Operou-se, destarte, o desprezo pelo ideal de justiça em favor da segurança jurídica.
Essa postura metodológica que vicejou e, ainda hoje, prepondera na prática dos juristas, levou a conseqüências trágicas para a humanidade, como se viu
ao demonstrar-se que todos os crimes do nazismo foram produzidos no interior
da legalidade então vigente.
Também o jusnaturalismo não foi capaz de dar respostas aos dramas
humanos na história.
Nascido e fundado na razão, como crítica à visão do mundo medieval, o
jusnaturalismo, que pregava a existência de direitos supralegais e independentes do Estado e a serem exercidos até mesmo em face dele, teve papel fundamentalmente progressista.
A proposta fundamental do jusnaturalismo – a de que o homem possui
direitos suprapositivos -, que se impõe até mesmo como limitação aos poderes do Estado -, conquanto a-histórica, constituiu-se em fundamental alicerce
filosófico das revoluções liberais burguesas e das conquistas das garantias
jurídico-políticas, absolutamente essenciais em qualquer regime político.
Mas, consolidado o ideário político da burguesia, a dimensão progressista
do jusnaturalismo viu-se traída.
Cuidava-se, agora, de consolidar esse ideário, fazer crer que era ele da humanidade e não apenas de uma classe social, de deter a força motriz da história.
O triunfo do jusnaturalismo é, também, dialeticamente o seu ocaso, a sua
superação, como anota Luis Roberto Barroso:
O Positivismo Filosófico foi fruto de uma idealização do
conhecimento científico, uma crença romântica e onipotente
de que os múltiplos domínios da indagação e da atividade
intelectual pudessem ser regidos por leis naturais, invariáveis,
independentes da vontade e da ação humana. O Homem chegará à sua maioridade racional e tudo passará a ser Ciência:
o único conhecimento válido, a única Moral, até mesmo a
única Religião. O Universo, conforme divulgado por Galileu,
teria uma linguagem matemática, integrando-se a um sistema
de leis a serem descobertas, e os métodos válidos nas Ciências
da Natureza deveriam ser estendidos às Ciências Sociais.
As teses fundamentais do Positivismo Filosófico, em síntese simplificadora, podem ser assim expressas:
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
117
1.a Ciência é o único conhecimento verdadeiro, depurado de
indagações teológicas ou metafísicas, que especulam acerca de
causas e princípios abstratos, insuscetíveis de demonstração;
a Ciência é o único conhecimento verdadeiro, depurado de
indagações teológicas ou metafísicas, que especulam acerca de
causas e princípios abstratos, insuscetíveis de demonstração;
o conhecimento científico é objetivo: funda-se na distinção entre
sujeito e objeto e no método descritivo, para que seja preservado de opiniões, preferências ou preconceitos;
o método científico empregado nas Ciências Naturais, baseado
na observação e na experimentação, deve ser estendido a todos
os campos do conhecimento, inclusive às Ciências Sociais.
O Positivismo Jurídico foi a importação do Positivismo
Filosófico para o mundo do Direito, na pretensão de se criar
uma Ciência Jurídica, com características análogas às Ciências
Exatas e Naturais. A busca de objetividade cientifica, com ênfase na realidade observável, e não na especulação filosófica,
apartou o Direito da Moral e dos valores transcendentes. Direito
é norma, ato emanado do Estado com caráter imperativo e
força coativa. A Ciência do Direito, como todas as demais, deve
fundar-se em juízos de fato, que visam ao conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que representam uma tomada
de posição diante da realidade. Não é no âmbito do Direito que
se deve travar a discussão acerca de questões como legitimidade e justiça.
O Positivismo comportou algumas variações e teve seu ponto
culminante no Normativismo de Hans Kelsen. Correndo o risco
das simplificações redutoras, é possível apontar algumas características essenciais do Positivismo Jurídico:
a aproximação quase plena entre Direito e norma;
a afirmação da estabilidade do Direito – a ordem jurídica é
uma e emana do Estado;
a completude do ordenamento, que contém conceitos e instrumentos suficientes e adequados para solução de qualquer caso,
inexistindo lacunas;
o formalismo – a validade da norma decorre do procedimento
seguido para a sua criação, independendo do conteúdo.
Também aqui se insere o dogma da subsunção, herdado do
Formalismo Alemão.
O Positivismo tornou-se, nas primeiras décadas do século XX, a
filosofia dos juristas. A teoria jurídica empenhava-se no desen-
118
faculdade de direito de bauru
volvimento de idéias e de conceitos dogmáticos, em busca da
cientificidade anunciada. O Direito reduzia-se ao conjunto de
normas em vigor, considerava-se um sistema perfeito e, como
todo dogma, não precisava de qualquer justificação além da
própria existência. Com o tempo o Positivismo sujeitou-se à crítica crescente e severa, vinda de diversas procedências, até
sofrer dramática derrota histórica. A troca do ideal racionalista de justiça pela ambição positivista de certeza jurídica custou
caro à Humanidade.
Conceitualmente, jamais foi possível a transposição totalmente
satisfatória dos métodos das Ciências Naturais para a área de
humanidades. O Direito, ao contrário de outros domínios, não
tem nem pode ter uma postura puramente descritiva da realidade, voltada para relatar o que existe. Cabe-lhe prescrever um
dever-ser e fazê-lo valer nas situações concretas. O Direito tem
a pretensão de atuar sobre a realidade, conformando-a e transformando-a. Ele não é um dado, mas uma criação. A relação
entre o sujeito do conhecimento e seu objeto de estudo – isto é,
entre o intérprete, a norma e a realidade – é tensa e intensa. O
ideal positivista de objetividade e neutralidade é insuscetível de
se realizar.
O Positivismo pretendeu ser uma teoria do Direito no qual o
estudioso assumisse uma atitude cognoscitiva (de conhecimento), fundada em juízos de fato. Mas resultou sendo uma ideologia, movida por juízos de valor, por se ter tornado não apenas
um modo de entender o Direito, como também de querer o
Direito. O fetiche da lei e o legalismo acrítico, subprodutos do
Positivismo Jurídico, serviram de disfarce para autoritarismos
de matizes variados. A idéia de que o debate acerca da justiça
se encerrava quando da positivação da norma tinha um caráter legitimador da ordem estabelecida. Qualquer ordem.
Sem embargo da resistência filosófica de outros movimentos
influentes nas primeiras décadas do século, a decadência do
Positivismo é emblematicamente associada à derrota do
Fascismo na Itália e do Nazismo na Alemanha. Esses movimentos
políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro da
legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei. Os
principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da
lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente.
Ao fim da II Guerra Mundial a idéia de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da lei como uma estrutura mera-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
119
mente formal, uma embalagem para qualquer produto, já não
tinha mais aceitação no pensamento esclarecido.
A superação histórica do Jusnaturalismo e o fracasso político do
Positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda
inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua
interpretação. O Pós-Positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada Nova
Hermenêutica e a Teoria dos Direitos Fundamentais.
O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não
cabia mais no Positivismo Jurídico. A aproximação quase-absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da Ética não
correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da Humanidade. Por outro
lado, o discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores não desejavam o retorno puro e simples ao Jusnaturalismo,
aos fundamentos vagos, abstratos e metafísicos de uma razão
subjetiva. Nesse contexto, o Pós-Positivismo não surge com o
ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do conhecimento convencional. Ele inicia uma trajetória guardando
deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as idéias de justiça e legitimidade.
O Constitucionalismo Moderno promove, assim, uma volta aos
valores, uma reaproximação entre Ética e Direito. Para poderem
beneficiar-se do amplo instrumental do Direito, migrando da
Filosofia para o mundo jurídico, esses valores compartilhados
por toda a comunidade, em dado momento e lugar, materializam-se em princípios, que passam a estar abrigados na
Constituição, explícita ou implicitamente.4
Se a modernidade não foi a redenção da razão, tampouco a pós-modernidade o é. Novos desafios humanísticos se colocam em pauta.
A pós-modernidade pode satisfazer a muitos, mas não consegue dar ou
preservar a dignidade da pessoa humana.
Bem por isso, anota Carlos Roberto Siqueira Castro:
Esses novos direitos supralegais, em razão do papel integrador
da ordem jurídica desempenhado pela Constituição, passaram
4
Luis Roberto Barroso, “Fundamentos Teóricos e Filosóficos no Direito Constitucional Brasileiro”
in Estudo de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva, p. 40-44.
120
faculdade de direito de bauru
a exercer uma espécie de liderança axiológica em face dos
microssistemas normativos associados a comandos constitucionais, a exemplo dos regimes jurídicos aplicáveis à propriedade,
à proteção do consumidor, à tutela da infância e da adolescência, à nova configuração da família calcada na igualdade entre
os cônjuges e na proteção constitucional da chamada união
estável, à salvaguarda do meio ambiente, ao resguardo da imagem e da intimidade individual, dentre outros mais que serão
objeto de nossa apreciação nos capítulos que seguem. Essa transformação estrutural do direito civil em direito civil constitucionalizado, de certo modo acompanhou a carreira das competências estatais que se foram ampliando na trajetória evolutiva do
Estado liberal ao Estado social.5
O constitucionalismo minimalista de inspiração burguesa liberal, conquanto tenha sido um projeto largamente vitorioso, notadamente na implementação das garantias jurídico-políticas, é absolutamente insuficiente para a
encruzilhada histórica da pós-modernidade.
Não basta a garantia procedimental, é preciso que se implemente de
maneira concreta os direitos fundamentais que são a expressão da dignidade da
pessoa humana.
O constitucionalismo pós-moderno, portanto, tem o compromisso com a
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, que envolve as
dimensões espiritual, cultural, política e material da vida do homem.
Ou como pondera Gisele Citadino, citada por Carlos Roberto Siqueira
Castro:
“O constitucionalismo societário e comunitário, de fala Carlos
Roberto Siqueira Castro, toma a Constituição como uma estrutura normativa que envolve um conjunto de valores. Há, portanto,
uma conexão de sentido entre os valores compartilhados por uma
determinada comunidade política e a ordenação jurídica fundamental e suprema representada pela Constituição, cujo sentido
jurídico, conseqüentemente, só pode ser apreciado em relação à
totalidade da vida coletiva... Ao sistema fechado de garantias da
autonomia privada, se opõe a idéia de constituição aberta, que
enfatiza os valores do ambiente sociocultural da comunidade. As
constituições dos Estados democráticos, pela via da abertura
constitucional, se abrem a outros conteúdos, tanto normativos
5
Carlos Roberto Siqueira Castro, A Constituição aberta e os direitos fundamentais – p. 16-17.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
121
(direito comunitário) como extranormativos (usos e costumes) e
metanormativos (valores e postulados morais). O constitucionalismo comunitário, calcado no binômio dignidade humana-solidariedade social, ultrapassa, segundo seus representantes, a concepção de direitos subjetivos, para dar lugar às liberdades positivas. Uma visão comunitária da liberdade positiva limita e condiciona em prol do coletivo a esfera da autonomia individual...
Desta forma, enquanto fatores constitucionais, o sistema de direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que se constitui em núcleo
básico de todo o ordenamento constitucional, também funciona
como critério de interpretação.6
Aquele conceito de Constituição material que implica a idéia reducionista
da estrutura do Estado e de garantias jurídico-políticas está definitivamente em
questão.
Viu-se, na pós-modernidade, o modelo teórico da abertura constitucional
e de sua mutação pela agregação de valores caros aos homens, num fenômeno
de construção jurisprudencial da Constituição.
Mas, se este é o modelo teórico da Constituição aberta do constitucionalismo pós-moderno, verifica-se um absoluto descompasso, uma distância abismal entre essa teoria e a realidade, notadamente nos países periféricos do
Terceiro Mundo.
Esse é o grande desafio do constitucionalismo pós-moderno, anotado por
Carlos Roberto Siqueira Castro:
Com o alargamento da positivação constitucional das aspirações humanas em termos de mais liberdade e de mais igualdade, o grande desafio dos ordenamentos nacionais passou a ser o
da efetividade das normas constitucionais, ou seja, a superação
da distância a mediar o Direito da Constituição e a realidade
que vigora à sombra da Constituição, vale dizer, entre o ‘sein’ e
o ‘solen’ constitucional. Tal se aplica com especial relevo às
nações com paisagem social típica de terceiro mundo (concentração de renda, bolsões de miséria, analfabetismo, subnutrição, desleixo ambiental, dependência econômica e tecnológica,
deficiência dos serviços públicos etc.), mas que, com justificada
magnanimidade, incorporam em suas leis supremas o catálogo
ampliado de direitos humanos segundo a tendência contemporânea, conforme exemplifica o caso brasileiro. Esse desafio, con6
Carlos Roberto Siqueira Castro, A Constituição aberta e os direitos fundamentais – p. 21-22.
122
faculdade de direito de bauru
soante já pudemos observar, retrata a luta sem tréguas entre os
valores da liberdade e os valores da igualdade, que constitui, na
feliz expressão de Legaz Y Lacambra, a essência do drama político de nossos dias.7
É a definitiva jurisdicialização da política percebida por Claude Lefort:
L’état de droit a toujours implique la possibilite d’une oposition
au pouvoir, fondée sur le droit – opposition qu’ont illustrée les
resmontrances au roi ou le refus d’obtempérer à l’impôt dans
des circonstances injustificables, voire lè recours à l’insurrection
contre un gouvernement illégitime. Mais l’État démocratique
excède les limites traditionellement assignèes à l’État de droit. Il
fait l’épreuve de droits qui ne luisont pas déjà incorporès, il est
le théâtre d’une contestation, dont l’objet ne se réduit pas à la
conservation d’un pacte tacitement établi, mais qui se forme
depuis des foyers que lé pouvoir ne peut entièrement mâitriser.
De la légitimation de la grève ou des syndicats, au droit relatif
au travail ou à la sécurité sociale s’est ainsi développée sur la
base des droits de l’homme toute une histoire qui transgressait
lés frontières dans lesquelles l’État prétendait se définir, une historie qui reste ouverte.8
Rompem-se, assim, as amarras do constitucionalismo liberal que estabeleceu a dicotomia do direito e do justo, do jurídico e da moral filosófica, agora
reconciliada nas constituições axiológicas.
É o que se vê em Canaris:
Longe de ser uma aberração, como pretendem os críticos do pensamento sistemático, a idéia do sistema jurídico justifica-se a partir de um dos mais elevados valores do Direito, nomeadamente do
7
8
Carlos Roberto Siqueira Castro, A Constituição aberta e os direitos fundamentais, p. 36-37.
L’invention démocratique, p. 69 – tradução livre do autor: O Estado de Direito sempre implicou uma possibilidade de oposição ao poder, fundada sobre o direito-oposição ilustrada pelas
advertências ao rei ou a recusa obtemperou ao imposto nas circunstâncias injustificáveis, e até
mesmo o recurso à insurreição contra um governo ilegítimo. Mas o Estado Democrático excede os limites tradicionalmente destinados ao Estado de Direito. Ele faz prova dos direitos que
não lhe foram ainda incorporados, ele é o teatro de uma contestação cujo objeto não se reduz
à conservação de um pacto tacitamente estabelecido, mas que se forma a partir dos fatos que
o poder não pode inteiramente dominar. Desde a legitimação da greve ou dos sindicatos, ao
direito relativo ao trabalho ou a segurança social, desenvolvem-se sobre as bases dos direitos
do homem, toda uma história que transgredia as fronteiras nas quais o Estado pretendia definir-se, uma história que ainda está aberta.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
123
princípio da justiça e das suas concretizações no princípio da
igualdade e na tendência para a generalização... assim, o pensamento sistemático radica, de facto, imediatamente, na idéia do
Direito (como conjunto dos valores jurídicos mais elevados)... o
papel do conceito de sistemas é o de traduzir e realizar a adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica.9
Abrem-se, portanto, inúmeras possibilidades para a concretização dos
valores superiores do homem: a liberdade, a igualdade e a justiça.
Os princípios assomam o coração das Constituições e o ato de interpretar
não é mais uma operação lógico-dedutiva, mas sim o que se abre para a realidade, para a vida humana histórica e concreta, ou como adverte Karl Larenz:
O que o jurista freqüentemente designa, de modo logicamente
inadequado, como subsunção, revela-se em grande parte como
apreciação com base em experiências sociais ou numa pauta
valorativa carecida de preenchimento, como coordenação a
um tipo ou como interpretação da conduta humana, particularmente do sentido juridicamente determinante das declarações de vontade. A parte da subsunção lógica na aplicação da
lei é muito menor do que a metodologia tradicional supôs e a
maioria dos juristas crê. É impossível repartir a multiplicidade
dos processos da vida significativos sob pontos de vista de valoração jurídicos num sistema tão minuciosamente pensado de
compartimentos estanques e imutáveis, por forma a que bastasse destacá-los para os encontrar um a um em cada um desses
compartimentos. Isto é impossível, por um lado, porque os fenômenos não apresentam fronteiras tão rígidas como as exige o
sistema conceptual, mas formas de transição, formas mistas e
variantes numa feição sempre nova. É impossível ainda, porque
a vida produz constantemente novas configurações, que não
estão previstas num sistema acabado... o quadro do sistema
conceptual-abstracto só conhece uma supra e infra-ordenação
de conceitos, mas não o jogo concertado dos princípios. Mais
uma vez, temos de referir aqui a incapacidade do pensamento
conceptual-abstracto para conceber formas intermediárias e
figuras híbridas.10
9
Claus Wilhelm Canaris, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p.
22-23.
10 Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito, p. 645 e 650.
124
faculdade de direito de bauru
É essa a questão pós-modernidade, o desafio não vencido pela razão iluminista da modernidade: proceder ao giro do eixo metodológico de sistema abstrato-conceitual para o sistema de concretização axiológica da Constituição,
como adverte Larenz:
... até agora só se realizaram em esboço na ciência do Direito as
possibilidades, a que aqui se aludiu, de formação de um sistema
que não se serve, ou não se serve exclusivamente, do conceito ‘abstracto’ e do procedimento lógico, a ele associado, de abstracção ou
da subsunção, mas de outros modos de pensamento. Muitos juristas continuam a identificar a idéia de sistema com o sistema conceptual-abstracto. Ainda hoje, poucos juristas, mesmo aqueles que
são defensores de uma Jurisprudência de valoração, são capazes
de libertar-se do fascínio exercido pelo sistema conceptual-abstracto; deslumbrados pelo conceito cientificista de ciência, recearam abandonar, conjuntamente com o sistema conceptual-abstracto, a pretensão de cientificidade da Jurisprudência: descuram
assim o fato de que a ciência do Direito, que pertence às ciências
‘compreensivas’ em sentido estrito, só pode justificar a sua pretensão mediante o desenvolvimento de modos de pensamento adequados ao seu objeto e hermeneuticamente garantidos, e não
mediante o intento inútil de uma acomodação aos métodos das
ciências ‘exatas’... Só nas duas últimas década se começou a utilizar na Jurisprudência, ao lado e no lugar de conceitos abstractos,
outras formas de pensamento, como o tipo, a idéia diretiva, o princípio que precisa de ser concretizado e o conceito determinado
pela função. Dessas outras formas de pensamento surgiram indicações para a formação de um sistema de outra espécie – o sistema interno (sistema móvel).11
Não se cuida, à evidência, de tarefa simples, isenta de risco.
A construção de uma hermenêutica jurídica emancipadora pressupõe um
diálogo entre uma “práxis” e uma teoria, a se dar no devir histórico, no contexto da realidade brasileira de modo a ser pluralista e crítica.
O primeiro momento dessa construção deve levar em consideração o
caráter político e não técnico do direito e a falsidade do conceito de neutralidade axiológica de seus atores.
Outro fator a ser considerado para essa construção da hermenêutica jurídica crítica é a superação de uma razão instrumental por uma razão comutativa,
11 Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito, p. 623 e 624.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
125
como o resgate da “hermência” em oposição à “hermenêutica techne”, construindo uma hermenêutica dialógice.12 Também é necessária uma visão do direito como instrumento de mudanças sociais, radicalização da democracia e valorização dos diversos atores sociais no processo.
Assim, sem medo da tese de que não há nas ciências humanas verdades
absolutas, mas verdades aproximativas em processo dialético de superação,
como acentua Adam Schalf, citado por Roberto Lyra Filho:
ninguém teve jamais ao seu dispor a verdade total e todos nós dispomos apenas de teorias que não escapam ao estado de hipóteses,
pois devem ser constantemente verificadas e modificadas. O diferente reduz-se apenas à questão do saber quem possui a verdade
mais completa. Mas, embora persuadidos de que a nossa detém esse
privilégio, o que é natural, não devemos admitir que as teorias concorrentes são inteiramente desprovidas do valor da verdade, dado
que, teoricamente, até uma teoria oposta à nossa a pode possuir e
esta questão deve ser sempre concretamente estudada e resolvida. É
assim que a reflexão sobre o caráter relativo da verdade de que dispomos engendra a necessidade de tolerância e até a de nos instruirmos junto do concorrente, o que de nenhum modo significa que
renunciemos a combater as suas opiniões.13
A esse momento primeiro devem se agregar, necessariamente, para a construção de uma hermenêutica constitucional emancipadora:
1. a dessacralização da norma como verificação do direito e como única
possibilidade de uma epistemologia jurídica.
Desmitificar não prescinde, também, da desmitificação, posto que a
teoria tradicional assumiu a tarefa de, ao ver na lei um mito, oferecer espaço ao apego místico dessa pelo intérprete que, assim, se
despersonaliza e entra em um verdadeiro transe de comunhão espiritual com o legislador, a ponto de que não se saiba, ao cabo da
interpretação, quem é um e quem é o outro, dando a aparência de
que a lei é quem, de fato, existe, ante a total secundariedade dos
outros, e que, portanto, vale como uma entidade supranatural,
sem que se deva cogitar de suas causas e de seus efeitos sociais.14
12 Murillo Dinis do Nascimento, “Elementos para uma hermenêutica jurídica popular” in “Uso
alternativo do Direito,– p. 44.
13 Roberto Lyra Filho, “Por que estudar Direito hoje” in O Direito achado na rua, p. 30.
14 Pedro Moacyr Pérez da Silveira, “Por uma filosofia jurídica do homem para o direito do
homem” – in Revista do Direito Alternativo nº 2.
126
faculdade de direito de bauru
2. a interdisciplinaridade na formação dos atores jurídicos e fundantes do
conhecimento jurídico.
A comunicação com outros ramos do saber é absolutamente essencial para
uma real compreensão do fenômeno jurídico. Comunicação esta que foi cortada pelo viés do positivismo jurídico, preocupado tão-somente com a validade
lógica das normas, com os resultados conhecidos.
Como observa Carlos Roberto Siqueira Castro,
De fato, a ênfase emprestada nas últimas década à problemática dos direitos fundamentais do homem, faz com que a legitimidade às ordens jurídicas nacionais seja medida pelo grau de
respeito e de implementação do respectivos sistemas protetores
dos direitos humanos, radicados essencialmente na premissa
maior da dignidade. Compreenda-se que a nota multicultural
da pós-modernidade, sob o influxo de seus baluartes nos vários
setores da criação humana (como Toynbee, na história, Jencks,
na arquitetura, Gehlen, Freyer e Daniel Bell, na sociologia política, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jacques
Derrida, Jean Rançois Lyotard, Michel Serres, Gianni Vattimo,
Welsch e Boaventura de Souza Santos na filosofia e na cultura
contemporânea), contaminou o direito constitucional nos grandes centros do pensamento jurídico. Sua influência se faz sentir
não apenas no variado repertório dos assuntos dispostos nas
recentes constituições, mas também na revisão do currículo e
das categorias tradicionalmente versadas em nossa disciplina.
Todos eles remontam em grande parte ao calendário liberal,
cujo método de exposição didática foi apropriado pela discussão do positivismo jurídico. Todavia, nos dias atuais já não se
pode mais prescindir da interdisciplinaridade dentro e fora da
ciência social do direito, sem o que não se alcançará a compreensão global e crítica do papel da constituição e dos tremendos desafios para a efetividade de suas normas e princípios. Tal
é tanto mais indispensável nos ambientes de terceiro mundo,
marcados pela dependência econômica e tecnológica e por condições de vida inconciliáveis com os padrões de dignidade existencial informadores do sistema planetário de direitos humanos. Vive-se hoje um estado de crise existencial generalizada e
complexa, onde grassa, por exemplo, como destaque das angústias humanas, a perplexidade das multidões em face da erosão
do equilíbrio ambiental que condiciona as possibilidades da
existência, cujo controle já não mais repousa na simples corre-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
127
ção de vícios do próprio sistema político-econômico-industrial,
eis que se assenta em fatores causais externos e internacionalizados, já não mais de todo manejáveis por soluções endógenas
do conjunto de competências tradicionalmente exercidas pelas
instâncias do governo civil.15
3. a conscientização de que o direito se dirige ao homem concreto e histórico e não um ser abstrato.
É absolutamente impressionante notar-se que uma ciência que pretende
regular a vida social e os conflitos e que, portanto, mais do que qualquer outra,
necessita referir-se à concretude das relações sociais, se aliene em puras abstrações.
A lógica, conquanto necessária às formulações jurídicas, não deve afastar
os demais agentes que se apresentam no fenômeno jurídico. Vale dizer, na solução dos conflitos intersubjetivos e sociais há de se levar em conta os atores
sociais concretos, a demanda por justiça, por igualdade, por dignidade humana.
Entender, por fim, que o homem não existe como “sujeito de direito” abstrato,
mas que só se humaniza no processo intrincado das relações sociais:
A tomada de consciência de alguns operadores jurídicos tem significado exatamente a percepção de que somos, sim, personagens da História, mas não na condição de sermos homens-personagens nas mãos afoitas de quem nos ‘criou’. Estamos fora
das normas e dos manuais de ensinamentos jurídicos: eles é que
estão dentro de nós, que os criamos.16
4. a tomada de consciência das causas dos conflitos sociais.
Segundo a visão da hermenêutica conservadora, o fato social surge apenas
como um aspecto secundário, uma premissa menor, que possibilitará o raciocínio dedutivo. Assim, a noção sobre o caráter social e de classe de certos conflitos de interesses são camuflados numa mera abstração de tensão intersubjetiva
entre sujeitos de direitos abstratos e iguais.
Ademais, como adverte Pedro Moacyr Pérez da Silveira:
É importante salientar que o técnico do Direito modula sua
visão de mundo dentro do mundo técnico do Direito, e os fatos
passam a ser-lhe aqueles que a norma concebe. A falta de interligação de norma com a realidade dos fatos que prevê leva
15 Carlos Roberto Siqueira Castro, A Constituição aberta e os direitos fundamentais, p. 23-24.
16 Pedro Moacyr Pérez da Silveira, “Por uma filosofia jurídica do homem para o direito do
homem”, p. 106-107.
128
faculdade de direito de bauru
alguns operadores (ainda a imensa maioria) a terem os próprios sentimentos moldados pela extensão que os textos lhe permite, ficando alheios ao verdadeiro pulsar dos conflitos. A dinâmica social é vista como lícita ou como ilícita e sempre a partir
do que a norma jurídica diz a respeito dos fatos ocorrentes no
seio dessa mesma dinâmica. O universo técnico do Direito se
presta, assim, corroborado por sua teoria conservadora, a alienar aqueles que com ele lidam, quer a nível profissional, quer a
qualquer título, uma vez que alcançados pelo poder da disseminação da idéia de que as leis já trazem os fatos dentro de si e
que esses, quando ocorrem, se passam dentro de uma ambiência
que gera uma irreversível conduta de dever-ser.17
Em arremate, alterar o eixo metodológico da ciência jurídica e da hermenêutica constitucional é tarefa complexa que exige esforço, criatividade, crítica e
pluralismo. Seu vetor fundamental é o homem concreto, histórico, que se constrói pelo trabalho e pelo conhecimento.
Esse movimento epistemológico que desloca o eixo metodológico da
interpretação exclusivamente da norma para a riqueza da realidade em busca da
Justiça é, fora de dúvida, um movimento ousado e arriscado.
Mas é preferível ousar, em nome do justo, da igualdade e da dignidade humana, do que se conformar com teorias assépticas, alheias às aflições humanas.
É o que se propõe.
17 Pedro Moacyr Pérez da Silveira, “Por uma filosofia jurídica do homem para o direito do homem”,
p. 109.
Do Direito à Filosofia.
A construção dialética da mentalidade social
Roberto Francisco Daniel
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru – ITE.
Graduado em História pela Universidade do Sagrado Coração – USC.
Graduado em Teologia pela Universidade Estadual da Baviera Ludwig-Maximilian – Alemanha.
Doutorado pela Universidade Estadual da Baviera Ludwig-Maximilian – Alemanha.
Professor de Ética na Faculdade de Direito de Bauru – ITE.
Professor de Ética e Pesquisador no Centro de Pós-Graduação da ITE.
Palavras-chave: Direito, pessoa humana, práxis (interação entre a teoria e a prática), “círculo dialético da vida”, interação existencial, superação dialética, dignidade, mentalidade social.
O Direito não é somente um instrumento de normatização de relações
sociais, mas também o reflexo e a transformação de uma mentalidade. Seria um
grande erro refletir o Direito possuindo como objetivo puramente o agir humano, pois as normas jurídicas representam a mentalidade cristalizada de uma
sociedade e, ao mesmo tempo, se constituem em fatores de transformação desta
mesma mentalidade. O Direito não possui exclusivamente a função de estabelecer normas que evitem ou solucionem conflitos na dinâmica das relações sociais.
Se o seu surgimento advém da necessidade de regulamentação de situações concretas em um espaço social, ao normatizá-las o Direito conceitua e estabelece
valores a determinados atos humanos. Em última instância, o Direito constituise em uma reflexão sobre o significado do agir humano. Ao mesmo tempo em
que uma norma estabelece as possibilidades e os limites de um procedimento,
130
faculdade de direito de bauru
ela é constituída de conceitos que dão a este último um significado. Desta forma,
ao normatizar a vida em sociedade, o Direito torna-se um convite à tomada de
consciência do significado dos atos humanos. Tomar consciência do significado
do ser e do agir humano através do Direito significa fazer a leitura da mentalidade do contexto histórico-social e compreender, portanto, que o Direito é
construção e construtor de uma mentalidade. Justamente na dinâmica interação
entre a delimitação do agir humano e o seu significado através da utilização de
conceitos encontra-se a relação dialética entre Direito e Filosofia. Neste artigo,
procuro refletir sobre uma das expressões básicas para o Direito, a expressão
“pessoa humana”. A partir de sua definição, descrevo algumas dimensões que
pertencem constitutivamente à condição da pessoa humana. Desta forma, procuro demonstrar o objetivo último do Direito ao utilizar a referida expressão. Ao
se apropriar de um determinado conceito, o Direito só atingirá seu objetivo com
total completude se houver a reflexão aprofundada sobre o conteúdo deste conceito e as conseqüências advindas deste para a existência humana e as relações
sociais.
1.
O CONCEITO DE PESSOA HUMANA
Em seu artigo primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil
estabelece como fundamento do Estado Democrático de Direito a preservação
da dignidade da pessoa humana. A norma, ao utilizar a expressão “pessoa humana”, de forma alguma está sendo redundante. A palavra “pessoa” expressa uma
determinada condição, na qual se encontra a espécie humana. Pessoa é um sujeito moral que estruturalmente possui, através da razão, a faculdade de se relacionar em liberdade.1 Compreendendo o ser humano como pessoa, o Direito
assume o viver e se desenvolver humano como um constante movimento dialético. Por dialético, entendemos o movimento impulsionado pelas contradições,
pelo choque de opostos, pelo relacionamento entre tese e antítese, continuidade e descontinuidade, união e separação, tristezas e alegrias, verdades e ilusões,
etc. Por ser dotada de razão, toda pessoa humana, ao olhar para si mesma e para
o seu ambiente social, é capaz de constatar aquilo que é no momento e como
está a sua vida. Diante deste olhar, o ser humano encontra um determinado conteúdo, determinados aspectos que compõem, no agora, seu eu e sua situação.
Desta forma, pertence à essência do ser pessoa a capacidade de categorizar o seu
“estar sendo”, ou seja, o seu existir. Esta visão e compreensão podem ser alteradas com novas situações que fazem a pessoa humana questionar e reformular
seus conceitos sobre seu ser e existir. Este movimento de constante confronta1
C.f. DANIEL, Roberto Francisco, Ser Pessoa: A Base Ontológica do Direito, in: ARAUJO, Luiz
Alberto David (Coord.), Efetivando Direitos Constitucionais (Bauru 2003) 553/554.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
131
ção e aprendizado permite ao ser humano tomar consciência de sua condição de
pessoa, aprender com seus erros, acertar em suas decisões, aprimorar suas ações
e encontrar o sentido de sua vida.
O ser humano pode, porém, vivenciar as diferentes situações que lhe aparecem em seu ambiente social através de três posturas. A primeira é a postura de
fechamento. Apesar de sua condição de pessoa, o ser humano pode se defrontar com situações sem a abertura necessária para compreendê-las. Com esta postura de desinteresse diante das situações, ao invés de ser sujeito de sua história,
o que significa a condição básica para se viver como pessoa, o ser humano tornar-se espectador assistindo os processos político-sociais que determinam os
rumos de sua existência. O ser humano, então, aliena-se do que acontece em sua
sociedade não conduzindo o movimento dialético da vida e sofrendo com conseqüências indesejáveis. Outras pessoas, estruturas políticas e econômicas, situações cotidianas acabam por direcionar o desenvolvimento deste ser humano,
pois ele não se esforça em exercitar algo fundamental em sua condição de pessoa: a reflexão.
A segunda postura que pode ser vivenciada pelo ser humano em seu existir social é a postura de não envolvimento. Neste segundo posicionamento,
pode-se ter consciência do que acontece no meio social, mas esta consciência
não leva a uma ação concreta. Diante do que acontece no cotidiano, adquire-se
simplesmente um saber puramente intelectual, um conhecimento que mantém
o ser humano bem informado. Apesar de ter consciência e dados informativos
sobre o que acontece, o ser humano assiste a tudo com distanciamento, possui
medo das conseqüências de um comprometimento e não se envolve com outras
pessoas ou em determinadas situações político-sociais. Através desta postura, o
ser humano pode se tornar bem informado, atingindo até mesmo um bom grau
de erudição, mas nunca se tornará um verdadeiro sujeito de sua história. O ser
humano desenvolve sua intelectualidade podendo construir teses ou teorias
perfeitas em sua lógica sobre os fenômenos da vida e da sociedade, mas continua a não fazer diferença no meio social, pois se mantém como simples analista
distante da dinâmica da história. Nesta segunda postura, o ser humano desenvolve sua capacidade de reflexão, mas lhe falta outra característica básica para a
condição de pessoa: a ação transformadora.
A terceira e última postura é a postura da interação. Nesta, o ser humano encontra-se aberto a conhecer, se envolver e a aprender. Poucas situações lhe passam despercebidas. O ser humano procura analisar racionalmente o que acontece, buscar soluções, sem receio de cometer erros. Nesta
postura, encontra-se não somente o agir concretamente, mas o agir com
consciência. Na interação concreta com a realidade social, o ser humano
compreende a totalidade da condição de ser pessoa, ou seja, ele se torna
mais rico espiritualmente quanto mais reconhece os aspectos múltiplos e
132
faculdade de direito de bauru
contraditórios da dinâmica social.2 E a virilidade do ser pessoa consiste em
interagir com as contradições - apesar da dor do enfrentamento - a fim de
nada perder delas. Na postura de interação com as situações do cotidiano
vive-se uma verdadeira relação “antropofágica”.3 O ser humano está disposto a se “alimentar” da vida digerindo os momentos e situações e assimilando deles o que há de melhor. Sem receio da perda ou do sofrimento, a pessoa humana mergulha no contexto social de sua existência e procura dar a
ela o sabor de sua presença. A postura de interação representa a condição
do ser pessoa em sua totalidade, oferecendo pistas para a reflexão sobre o
conceito de dignidade da pessoa humana e reforçando a existência de objetivos do Estado Democrático como estão estabelecidos no artigo terceiro da
Constituição Federal: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
a erradicação da pobreza e marginalização e a promoção do bem de todos,
sem preconceitos e formas de discriminação.
2.
A PRÁXIS COMO SÍNTESE DO SER PESSOA
Existe uma grande diferença entre o fogo que queima uma mata ou a ventania que derruba árvores e um homem que desmata uma determinada região.
Ambas ações provocam mudanças. Porém, a ação humana não se reduz ao movimento do agir. Este possui sua origem em uma intenção. Em outras palavras, a
ação humana, por mais estúpida que seja, se constitui em uma ação pensada.
Enquanto que a ação da natureza somente transforma a realidade, a ação humana é sempre uma fusão entre teoria e prática. Por isso podemos dizer que a ação
humana é sempre duplamente transformadora. Em outras palavras, ela transforma a realidade, como também o próprio homem. No agir humano, existe sempre um “fazer” e um “se fazer”. Afinal, o homem como pessoa possui intenções,
ou seja, uma teoria, e a partir de sua ação suas convicções são comprovadas,
satisfeitas, reforçadas ou reprovadas, frustradas e reformuladas, dependendo
dos resultados da realização de seu agir. O homem se define através da ação.
Se, por um lado, o homem só se faz à medida que faz, ele só faz realmente à medida que se faz. Em outras palavras, o homem se constrói, se define ao
agir, mas ele somente possui uma ação autenticamente sua quando pensa, raciocina e reflete sobre aquilo que pretende fazer. A ação deixa de ser animal e passa
a ser humana, quando é antecipada ou acompanhada de raciocínio. Afinal, raciocinar é a característica que difere o ser humano de outros seres vivos em nosso
planeta e o faz estar na condição de pessoa. Desta forma, a essência do ser huma2
3
HABERMAS, Jürgen, Direito e Democracia – Entre Facticidade e Validade I (Rio de Janeiro
2003) 150.
C.f. ANDRADE, Oswald de, Manifesto Antropófago, in: HERKENHOFF, Paulo (Org.), XXIV
Bienal de São Paulo e Histórias de Canibalismos (São Paulo 1998) 532.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
133
no como pessoa não se encontra no simples discurso e muito menos na simples
prática. Um discurso que não possui um agir não passa de pura decoração.
Muitas vezes, um belo discurso é uma forma eficiente de nos iludir de que algo
está sendo feito e transformado em nossa realidade. Por um outro lado, a simples prática não só é insuficiente, mas também perigosa. A pura prática, o agir
não pensado sem uma teoria sólida, mesmo que seja uma boa prática, geralmente não possui permanência, constância, continuidade. Uma prática sem teoria pode também facilmente sofrer influências que venham desviar seus rumos.
O grande desafio do ser humano como pessoa é deixar de ser um teórico
maquiador ilusionista de sua omissão e um ativista sem auto-análise que se
preenche de atividades para não ter o que pensar. O desafio do homem é desenvolver aquilo que chamamos de uma verdadeira práxis. Por práxis, entendemos
a constante interação entre teoria e a prática. A práxis é desenvolvida quando a
pessoa humana adota o hábito de refletir sobre sua vida, estabelecer seus objetivos e agir de forma coerente com eles. Mas, o ser humano deve ao mesmo
tempo deixar que o agir o ensine algo de novo. Em outras palavras, entender a
realidade como uma escola e estar aberto para inserir algo de novo em nossa
teoria. Nesta interação com a realidade, encontra-se o desenvolvimento da pessoa humana em liberdade. A práxis não só faz o movimento do pensamento para
a ação, mas capacita a pessoa humana a voltar a refletir livremente sobre suas
ações, revisando não somente sua prática, mas também seus conceitos, sua teoria. Se o ser humano deseja viver na condição de pessoa, ou seja, de forma coerente e consciente com aquilo que pensa e faz, necessita desenvolver uma práxis. Algo que deve ser iniciado imediatamente, mas que somente com o tempo
pode se tornar uma verdadeira postura de vida. O fundamental é que a pessoa
humana possa sair da teoria e buscar na prática a realização do que gostaria de
ser e do mundo que sonha. Esta é a lição básica do livro sagrado dos cristãos, a
Bíblia. Viver é a síntese entre corpo e alma. “No princípio era o Verbo... e o Verbo
se fez carne” ( Jo 1, 1,14).
3.
INTERAÇÃO EXISTENCIAL DA PESSOA HUMANA
Para Platão. Deus governa todas as coisas, mas o acaso (tyche) e a oportunidade (kairos) com ele cooperam em seu governo dos negócios humanos. No
entanto há um terceiro ponto menos extremista, o de que a arte (techne) também deve ser considerada.4 Em outras palavras, o filósofo grego afirma que as
circunstâncias de nosso cotidiano não podem ser compreendidas de uma forma
unilateral. Toda situação surge de uma soma de fatores e a arte de viver está justamente em reconhecê-los interagindo ativamente com eles. Acreditando ou não
4
C.f. no diálogo entre Sócrates e Fedro: PLATÃO, Fedro (São Paulo 2003).
134
faculdade de direito de bauru
na existência de um ser superior, o ser humano constata que, em sua origem,
está uma fonte da vida. O impulso de e para a vida que flui pelo universo afora,
ao qual a maioria dos religiosos chama de Deus, inicia o círculo que pretendo
descrever neste artigo: o “circulo dialético da vida”.
Deus é a fonte de “água viva” de um aquário infinito. Os elementos que
possuem impulso de vida, sejam eles minerais, vegetais ou animais, estão em
movimento e, ao se encontrarem, dão forma ao que vemos em nosso cotidiano.
Como em um simples jardim interagem a terra, as diversas plantas, os diferentes
insetos e alguns pássaros. Na sociedade, encontramos a interação econômica,
social, moral e religiosa de pessoas e classes sociais. O mundo se movimenta e
o encontro ou choque não planejado, mas originário de diferentes elementos,
pode ser chamar de acaso. Muitas coisas inesperadas acontecem em nosso cotidiano, pois a vida, constante movimento, é uma grande incerteza. A sensação de
segurança sentida normalmente pelo ser humano, na verdade, se constitui em
uma grande ilusão, um mecanismo de sobrevivência, pois a qualquer momento
podem acontecer fatos considerados bons ou ruins. Mas a incerteza dos acontecimentos é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento.
Porém, se o ser humano utiliza de toda a sua condição de pessoa raciocinando
sobre o acaso, ou seja, as diversas situações não planejadas em seu cotidiano,
pode descobrir suas origens, o que elas ensinam e quais as perspectivas que este
ser humano possui a partir do acaso. Desta forma, o acaso se transfigura em
oportunidade. Diariamente encontram-se desafios que, se aproveitados de
forma criativa, transformam-se em oportunidades.
A oportunidade surge quando o ser humano abre as portas do acaso para
o passado e principalmente para o futuro. Como a vida é movimento, as oportunidades não são eternas e insubstituíveis. Elas fluem e desaparecem. Ao percebê-las, o ser humano não deve deixá-las escapar; afinal, se aprende muito mais
da vida mergulhando em suas experiências oportunas. Porém, o universo não
está em movimento simplesmente pela fonte de vida que chamamos de Deus,
pelo choque dos elementos em movimento no universo (acaso) e pelo surgimento de oportunidades. A realidade é dinâmica também e, principalmente,
através do fazer humano, ou seja, por aquilo que Platão chama de arte. A arte é
todo agir criativo do ser humano que não somente altera o universo, mas oferece ao próprio ser humano a sensação e satisfação de estar realmente vivo. No
agir, o ser humano não fica à mercê do acaso e muito menos à espera das oportunidades. Com o impulso de vida, os seres humanos, como pessoa, estabelecem a direção que desejam ao acaso e criam suas próprias oportunidades. Neste
agir criativo do ser humano, fecha-se o “circulo dialético da vida”, pois através
da livre interação do pensar e do agir a pessoa humana pode elevar a qualidade
de sua vida e, através deste viver ativo, se aproximar da fonte de vida sentindo
com mais intensidade a sua presença. A questão primordial para o ser humano
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
135
como pessoa está neste agir criativo. Afinal, Deus já fez sua parte, o acaso e a
oportunidade fluem constantemente no universo, mas o agir criativo depende
de nossa lucidez e vontade.
4.
SUPERAÇÃO DIALÉTICA
O ser humano, na condição de pessoa, é capaz de dar um sentido à sua
vida. Dar um sentido à vida significa realizar dois movimentos: enriquecer o universo com sua presença e se enriquecer com a presença do universo. Para isso,
é necessário vivenciar o que o filósofo Hegel chamou de “superação dialética”.5
Nesta expressão, Hegel utilizou a palavra em alemão “aufheben”, um verbo que
a princípio não significa “superar”, mas sim “suspender”. Este verbo, porém,
possui três sentidos diferentes. O primeiro sentido do verbo suspender é o de
negar, anular, cancelar. Por surgir um trabalho, por exemplo, cancelo, suspendo
um passeio que gostaria de fazer. As aulas são suspensas devido ao falecimento
de um professor. O segundo sentido é o de erguer alguma coisa e mantê-la suspensa para protegê-la. Ao suspendermos uma bandeira em um mastro, não só a
protegemos, mas permitimos que todos possam vê-la. O terceiro sentido do
verbo suspender é o de elevar a qualidade. Ao explicar a “superação dialética”,
Hegel emprega a palavra suspender com seus três sentidos ao mesmo tempo.
Para ele, a superação dialética é simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a conservação de algo essencial que existe nesta realidade negada
e a elevação dela a um nível superior. A superação dialética de Hegel pode ser
exemplificada com o processo de transformação da natureza através do trabalho.
Através deste, a matéria-prima retirada da natureza é “negada”, ou seja, destruída em sua forma natural. Mas, ao mesmo tempo, ela é conservada, ou seja, aproveitada em sua essência e assume uma forma nova, modificada, correspondendo
aos objetivos humanos, elevada em seu valor. O tronco de árvore é retirado da
natureza e destruído como árvore, mas a madeira (sua essência) é transformada
em um móvel, elevando assim seu valor para a utilização e conforto da vida
humana. Da mesma forma, acontece com o trigo, o qual ao ser superado como
grão, retira-se dele o essencial, transformando-o em pão, alimento que gera vida.
O ser humano, como pessoa, ao tentar encontrar um sentido para a sua vida e
saboreá-la com mais prazer, deve vivenciar obrigatoriamente a “superação dialética”
em qualquer circunstância. Toda situação da vida é passageira e deve ser vivenciada
ativamente como efêmera. O ser humano deve entrar em qualquer situação, seja ela
boa ou ruim, com a consciência ativa de sua realidade temporal. Na vivência de tal circunstância, o ser humano deve assimilar dela o que há de positivo, de essencial, de
5
C.f. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie dês Rechts
(Frankfurt/M 1972) 97.
136
faculdade de direito de bauru
aproveitável. Desta forma, o ser humano eleva o nível de compreensão desta situação
e seu próprio crescimento como pessoa, saindo da circunstância mais fortalecidos e
mais humanos. Ao atuar sobre a natureza exterior, o homem modifica, ao mesmo
tempo, sua própria natureza.6 Muitas vezes, o ser humano vivencia momentos tristes
e dolorosos. Ao vivenciá-los, tem-se a impressão de que eles nunca terminarão e quando terminam eles se tornam um peso não somente em sua memória, mas em sua própria maneira de ser. Estes momentos se transformam em uma mácula, uma mancha
que lhe marca e atrapalha outros momentos. Mas, ao adotar “superação dialética”
como um modo de viver, o ser humano entra nos momentos infelizes com a consciência de superá-los, de caminhar para o seu término. Ao mesmo tempo, retira destas situações infelizes algo de bom, de proveitoso, algo que lhe enriquece. O ser
humano aprende, então, que tudo o que é digno de ser é digno de ser conhecido. Ao
vivenciar a superação dialética, a pessoa humana eleva o nível da própria circunstância que de infeliz, passa a ser vista como um aprendizado. Ao mesmo tempo, ao invés
de sair com rancor, mágoa, arrependimento ou qualquer outro sentimento ruim, a
pessoa humana sai como um homem novo, pessoa amadurecida e fortalecida, aberta
e mais preparada para novas circunstâncias. Segundo Hegel, a função do pensamento consiste em elevar-se acima do ser contingente, em apreender a necessidade oculta sob a aparência do ser contingente.7
5.
PESSOA HUMANA: ABERTURA PARA A TOTALIDADE
O diferencial entre os seres humanos e os outros seres vivos de nosso planeta
é o ato de pensar. Justamente este ato que o coloca na condição de pessoa. Através
do ato de pensar, o ser humano constrói sua história, interage com seu mundo e
melhora ou piora sua qualidade de vida. Porém, por ser extremamente óbvio, o ser
humano se esquece de refletir sobre o próprio ato de pensar e acaba não percebendo sua importância. O pensar é, na verdade, o ato de penetrar o real, ou seja, a forma
de adentrar conscientemente o espaço vivenciável pelo ser humano que chamamos
de realidade.8 Penetrar o real significa ir além do imediato, além das aparências, deixar a superficialidade das coisas se aprofundando no conjunto das relações e “descobrindo” as diferentes conexões existentes na realidade. Em outras palavras, aquele
que procura realmente conhecer o contexto em que vive busca atingir o que filósofo
alemão Josef Pieper denomina de “die offenheit für das Ganze”.9 Em primeiro lugar,
estar aberto para a totalidade significa ter a capacidade de enxergar, o mirandum, ou
seja, aquilo que suscita admiração.10 Perceber no comum e no diário aquilo que é
6
7
8
9
10
C.f. MARX, Karl, Das Kapital (Berlin 1959) 206.
C.f. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik (Frankfurt/M 1995) 237.
C.f. LEFEBVRE, Henri, Lógica Formal Lógica Dialética (Rio de Janeiro 1975) 112.
“A abertura para a totalidade”. C.f. PIEPER, Josef, Was heisst Philosophien? (München 1980) 63.
C.f. Summa Theologiae I-II, 41, 4 ad 5.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
137
incomum e não-diário. O ser humano do século 21 vive em um universo que o preenche de informações e de compromissos, fazendo com que viva uma vida acelerada e,
portanto, superficial. Este ritmo lhe transmite a impressão de que o tempo passa
muito rápido e o pior, lhe desvia da contemplação. No ritmo acelerado de nossa sociedade, o ser humano deixa de contemplar o que há de maravilhoso em sua vida e se
aliena de seu próprio cotidiano. Muitas vezes, sente-se a sede de descoberta de algo
que desperte admiração, mas como os seres humanos estão desligados de sua própria realidade, buscam emoções extravagantes e fenômenos metafísicos. Porém, o
mirandum, o admirável, está à sua frente. Quantas vezes o ser humano deixa de contemplar fenômenos simples da natureza como o céu, as estrelas, a lua, os pássaros,
ou fenômenos sociais como os relacionamentos humanos, a solidariedade entre as
pessoas, a organização e o aprimoramento da social. Muitas vezes, a pessoa humana
deixa de observar o alimento que possui em sua própria mesa, a atividade que realiza em seu trabalho e a convivência com os amigos. E, por fim, o ser humano deixa de
contemplar o fato mais admirável de nossa existência: o fato de ter vida. Quem realmente pensa vivencia a redescoberta do mais simples, do mais humano, da verdade
mais pura das coisas.
Mas, admirar o maravilhoso na vida não significa ainda buscar a totalidade.
Contemplar a realidade é, também, redescobrir a capacidade de se escandalizar.
A nossa realidade não é composta somente de coisas boas e maravilhosas. Quem
vive simplesmente grato pelo fato de estar vivo e admirado com a beleza da vida,
ainda está longe de alcançar a totalidade que o ato de pensar pode nos oferecer.
Quem deseja conhecer sua realidade se questiona sobre os sofrimentos da vida
e se escandaliza com muitos fatos cotidianos. A paisagem social anestesia o ser
humano e o faz se acostumar com coisas absurdas. Assim, perde-se a santa capacidade de repudiar acontecimentos e situações que impossibilitam o desenvolvimento da própria vida e a condição de pessoa de seres humanos. Deixa-se de
perceber que muitas pessoas que trabalharam para que outras pessoas possam
ter o alimento em sua mesa não podem tê-lo em suas próprias refeições, de se
escandalizar pela situação de pessoas que não possuem a chance de ter um estudo, um trabalho e sustentar suas famílias, escandalizar-se com a situação de pessoas que vivem na solidão. Por fim, o ser humano deixa de se escandalizar frente a outras pessoas que a condição de vida não é motivo de admiração, mas o
fato de estarem vivos é, na verdade, um sofrimento para elas mesmas ou para
aqueles que as circundam. Tudo o que acontece ao ser humano traz experiência
ou desenvolve algo que lhe faltava. A forma mais comum de alienação revela-se
na fragmentação da realidade. O ser humano se fixa no maravilhoso da vida e
deixa de perceber a falta de dignidade da pessoas humana de seus semelhantes
ou o ser humano se mantém na visão negativa da vida, sem perceber que ela
pode ser algo de muito maravilhoso. Neste despertar para a totalidade, encontra-se a função educativa do Direito. Mais do que ser uma força normativa e coer-
138
faculdade de direito de bauru
citiva, o Direito deve criar uma forma crítica de perceber a realidade. O Direito
possui o desafio de gerar uma mentalidade social, da qual a capacidade de se
escandalizar diante da falta de dignidade da pessoa humana e de se maravilhar
com uma sociedade justa, livre e solidária. O viver verdadeiramente ativo possui seu início na contemplação da totalidade da vida. O Direito possui o desafio
de contribuir para a possibilidade desta contemplação.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Oswald de, Manifesto Antropófago, in: HERKENHOFF, Paulo (Org.), XXIV
Bienal de São Paulo e Histórias de Canibalismos (São Paulo 1998) 532-535.
DANIEL, Roberto Francisco, Ser Pessoa: A Base Ontológica do Direito, in: ARAUJO, Luiz
Alberto David (Coord.), Efetivando Direitos Constitucionais (Bauru 2003) 551-564.
HABERMAS, Jürgen, Direito e Democracia – Entre Facticidade e Validade I (Rio de
Janeiro 2003).
HEGEL, Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Frankfurt /M 1972).
HEGEL, Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik (Frankfurt /M 1995).
LEFEBVRE, Henri, Lógica Formal Lógica Dialética (Rio de Janeiro 1975).
MARX, Karl, Das Kapital (Berlin 1959).
PIEPER, Josef, Was heisst Philosophieren? (München 1980).
PLATÃO, Fedro (São Paulo 2003)
AQUINO, THOMAS, SUMMA THEOLOGIAE (Paris 1886).
O julgamento de atos de terrorismo pelo
Tribunal Penal Internacional
Fernanda Ruiz
Bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino.
Membro Oficial da Comissão de “Relações Internacionais e Direito na Internet” da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, em Bauru, São Paulo.
D. Freire e Almeida
Mestre em Direito da União Européia pela Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra em Portugal.
Pós-Graduado em Ciências Jurídico-Comunitárias pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra em Portugal.
Especialista em Política Externa dos EUA pelo Departamento de
Estado dos Estados Unidos da América.
Professor no Curso de Relações Internacionais da Universidade
Estadual Paulista – UNESP – Brasil.
Professor de Direito Internacional Público e Privado na Faculdade
de Direito de Bauru – ITE - Brasil.
Presidente do Consórcio de Inovação Tecnológica.
Advogado.
Coordenador da Comissão de Relações Internacionais e Direito na Internet,
da Ordem dos Advogados do Brasil.
RESUMO
O presente artigo discorre sobre a criação do Tribunal Penal Internacional,
pelo Estatuto de Roma, incluindo os principais acontecimentos que o precede-
140
faculdade de direito de bauru
ram e apresenta as normas de funcionamento do Tribunal contidas no Estatuto
de Roma, bem como os crimes de sua competência, sugerindo a inclusão de
outros delitos na previsão do Estatuto como o crime de terrorismo e, para tanto,
discorre brevemente sobre o desenvolvimento do fenômeno terrorista, suas
atuais formas de manifestação, o tratamento penal que recebe vários países e tratados internacionais, ressaltando a importância da cooperação internacional e
de um órgão jurisdicional imparcial no combate ao terrorismo.
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional, terrorismo Internacional.
O desejo de constituir um Tribunal Penal Internacional data do início do
século XX, mas o repúdio às atrocidades cometidas durante a Primeira Guerra
Mundial e, posteriormente, diante das inesquecíveis crueldades cometidas nos
campos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, é que tal anseio tornou-se
ainda maior, já que toda a comunidade internacional suplicava por punição aos
responsáveis por tamanhas atrocidades.1
Assim, todos os esforços foram direcionados à criação de um tribunal
internacional e, possivelmente, independente, mas apenas se logrou a constituição de dois tribunais ad hoc, criados especialmente para julgar os crimes
cometidos pelos nazistas em território alemão e, também, os excessos cometidos
pelos criminosos de guerra japoneses.
Neste passo é que foi, então, celebrado o Acordo de Londres, em 08 de
agosto de 1945, pelas potências vencedoras (EUA, Reino Unido, União Soviética
e França), o qual criou o Tribunal Militar Internacional, historicamente conhecido como Tribunal de Nuremberg e, a despeito do sentimento de necessidade de
justiça que contribuiu para a criação deste Tribunal, bem como o Tribunal de
Tóquio, este órgão recebeu inúmeras críticas quanto à sua ilegalidade e ilegitimidade, por ter infringido diversos princípios gerais de direito, como o da reserva legal e o da irretroatividade da lei penal.
Pode-se dizer que ambos os tribunais representaram um grande avanço
rumo à constituição do atual Tribunal Penal Internacional, bem como constituíram uma importante base para a conformação dos princípios básicos da responsabilidade penal internacional e, também, grande contribuição ao direito
internacional, já que a Assembléia Geral da ONU aprovou, em 1946, a Resolução
95 que declarou o direito de Nuremberg como parte do direito internacional
1
O presente artigo é baseado em parte do trabalho de conclusão de curso de Direito, RUIZ, Fernanda. O
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL COMO ÓRGÃO JURISDICIONAL NO COMBATE AO TERRORISMO.
Bauru, Instituição Toledo de Ensino, 2004. O referido trabalho contou com a orientação do Professor
Mestre D. Freire e Almeida.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
141
geral, ressalvando-se, entretanto, que não se pode deixar de lado suas injustiças,
primeiro por ser uma jurisdição de vencedores sobre vencidos, segundo pelos
vários criminosos dentre os vencedores que sequer foram analisados, como o
episódio do lançamento das bombas atômicas pelos norte-americanos sobre as
cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.
Contudo, passadas algumas décadas, a comunidade internacional viu-se
novamente às voltas com a violência, desta vez praticada nos conflitos étnicos
que tiveram lugar nos territórios da ex-Iugoslávia e de Ruanda e, assim, foram
criados pelo Conselho de Segurança da ONU, sob o amparo do capítulo VII da
Carta das Nações Unidas (ameaças à paz e segurança internacionais), os
Tribunais Penais Internacionais ad hoc para a antiga Iugoslávia (ICTY –
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) e para Ruanda (ICTR
- International Criminal Tribunal for Ruanda), resultado de Comissões de especialistas que analisaram os conflitos dentro de cada país, apontando os possíveis
responsáveis.
O Tribunal ad hoc para a ex–Iugoslávia (ICTY ) foi criado em 25 de maio
de 1993 pela Resolução nº 827 do Conselho de Segurança da ONU, para julgar
infrações cometidas entre 1º de janeiro de 1991 até o dia em que se celebrar a
paz nesta região.
Já o Tribunal ad hoc para Ruanda (ICTR) foi criado pela Resolução nº 955,
em 08 de novembro de 1994, pelo Conselho de Segurança da ONU, competente para julgar violações ocorridas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 1994.
Constava do estatuto de ambos os tribunais ad hoc a previsão de julgamento e punição dos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e violações da Convenção de Genebra, sendo que estes tipos penais já definidos foram
tidos como base para o Estatuto de Roma.
Portanto, após a longa experiência de tribunais penais internacionais ad
hoc, desprovidos de independência, legalidade e legitimidade, já não havia
mais motivos para adiar a fundamental criação de um Tribunal Penal
Internacional, independente e permanente, objetivo levado a sério pela comunidade internacional, que se dedicou exaustivamente à elaboração de suas
futuras regras.
Neste passo é que, no período de 15 de junho a 17 julho de 1998, foi realizada a Conferência Diplomática de Plenipoteciários da ONU na cidade de
Roma, com a efetiva participação de delegações de vários Estados membros e
também de inúmeras organizações não governamentais, com a tão esperada e
comemorada aprovação do Estatuto de Roma, que constituiu o Tribunal Penal
Internacional.
Para a sua entrada em vigor, restou estabelecida a adesão mínima de sessenta países ao tratado, o que ocorreu efetivamente em 11 de abril de 2002, tendo o
Tribunal iniciado seus trabalhos em 1º de julho de 2002 e, desta maneira, foi alcan-
142
faculdade de direito de bauru
çada a criação de um órgão capaz de julgar as mais graves violações ao direito
humanitário, bem como pôr fim à impunidade dos mais perversos genocidas,
representando o anseio de toda a humanidade pela futura paz mundial.
Foi com esse espírito, portanto, que o Brasil, em respeito ao artigo 7º do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 1988,2 assinou o tratado em
7 de fevereiro de 2000, que foi promulgado pelo Presidente da República, por
força do Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.3
Entretanto, é de suma importância ressaltar, inicialmente, o caráter complementar da jurisdição do TPI em relação aos Estados, princípio disposto no
artigo 1 do Estatuto, ou seja, o Estado tem o dever de exercer sua jurisdição
penal contra os responsáveis por crimes internacionais e, apenas diante da inércia estatal, é que a atuação do TPI estará autorizada, posto que a jurisdição internacional possui responsabilidade subsidiária.
Ademais, o exercício de sua jurisdição, em princípio, só pode ocorrer em
relação aos Estados Partes que ratificaram o Estatuto de Roma e o incluíram em
seu ordenamento jurídico ou, excepcionalmente, se o Conselho de Segurança
da ONU delatar algum crime à Promotoria do Tribunal, agindo ao abrigo do
disposto no Capítulo VII da Carta da ONU, que designa o Conselho de
Segurança como órgão responsável para responder aos casos de ameaça à paz
internacional.
O Estatuto de Roma é composto por cento e vinte e oito artigos, divididos
em treze capítulos, que dispõem sobre: o estabelecimento do Tribunal, os crimes previstos sob sua jurisdição, as regras de competência e procedibilidade, a
escolha e as funções dos juízes e dos promotores, os princípios gerais de direito penal adotados, as regras de investigação, o julgamento, as penas, apelação e
2
3
Artigo 7º - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):
“O Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos.”
Decreto Nº 4.388, de 25 de setembro de 2002
Promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII,
da Constituição,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional, por meio do Decreto Legislativo no 112, de 6 de junho de 2002;
Considerando que o mencionado Ato Internacional entrou em vigor internacional em 1o de
julho de 2002, e passou a vigorar, para o Brasil, em 1o de setembro de 2002, nos termos de seu
art. 126;
DECRETA:
Art. 1o O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, apenso por cópia ao presente
Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
143
revisão, a composição e o funcionamento, a assembléia dos Estados membros, o
financiamento e as cláusulas finais.
E, para que houvesse efetiva representatividade dos Estados dentre os
membros que integram o Tribunal, os países signatários indicaram seus candidatos a Juízes e a Procuradores, escolhidos dentre seus mais renomados juristas
nacionais, que reunissem as condições exigidas para ocupar os mais altos cargos
no Judiciário de seus respectivos países, bem como possuíssem reconhecida
competência em direito penal e direito processual penal, e profundo conhecimento em matérias relevantes do direito internacional, como o direito humanitário e o direito penal internacional, os quais serão eleitos, através de voto secreto, pela maioria absoluta dos Estados Partes.
Os órgãos que compõem o TPI estão dispostos no artigo 34 do Estatuto,
que são: a Presidência, as três Câmaras, a Promotoria e a Secretaria.
Ao todo, foram nomeados dezoito juízes para a composição do Tribunal,
os quais serão divididos em grupos para atuar nos seguintes órgãos: a
Presidência, que será ocupada por três juízes, sendo um nomeado Presidente e
dois nomeados Vice-Presidentes, encarregados da administração geral do
Tribunal; a Câmara de Questões Preliminares, que será composta por, no mínimo, seis juízes, cabendo-lhes decidir desde a autorização para investigação dentro da jurisdição de um Estado Parte, até sobre a admissibilidade ou não de uma
acusação; a Câmara de Julgamento, também composta por não menos de seis
juízes competentes para atuar nas causas desde a aceitação da denúncia, podendo decidir sobre quaisquer incidentes processuais até o julgamento das causas,
e a Câmara de Recursos, composta por cinco juízes, competentes para o julgamento de recursos em sentido estrito e apelação.
Com efeito, é imprescindível destacar a participação da magistrada brasileira Sylvia Helena F. Steiner dentre os juízes integrantes do corpo de magistrados do Tribunal que, com muita competência, representa o Brasil neste órgão de
tamanha importância no âmbito internacional.
Quanto ao órgão acusatório, o Estatuto estabelece que a Promotoria funcionará de forma independente, como órgão autônomo do Tribunal, e será
encarregada de receber as denúncias e informações sobre a ocorrência de crimes
da competência deste Juízo, de seu exame, da condução de investigações e da
proposição da ação penal, sendo composto por um Procurador-Geral, com
poderes plenos para dirigir e administrar a Promotoria, podendo ser auxiliado
por um ou mais Procuradores Adjuntos.
Sua atuação funcional visa, primeiramente, à investigação preliminar, seja
por iniciativa ex officio ou por notitia criminis, seguida de uma investigação formal que, se lograr êxito em obter provas da existência de um delito, ensejará a
propositura da ação penal, ressaltando-se que o órgão acusatório não está vinculado ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, mesmo presen-
144
faculdade de direito de bauru
tes os elementos ensejadores da ação penal e, ainda que presentes os elementos
constitutivos da ocorrência da conduta penalmente típica, o Procurador tem a
discricionariedade ou oportunidade de exercer a persecutio criminis, desde que
motivada tal decisão.
Há, também, outro princípio de suma importância igualmente mitigado,
que vem a ser o princípio da indisponibilidade, consistente na impossibilidade
de renúncia ao direito material em que se funda a ação e, também, de desistência da ação penal após iniciada, podendo o Ministério Público desistir apenas da
persecução, desde que submetida tal decisão a controle jurisdicional.
Quanto às regras de investigação, a jurisdição do Tribunal pode ser provocada através da comunicação ao Promotor de suposta ocorrência de um crime,
dentre os previstos no Estatuto, por um Estado Parte, ou pela comunicação do
Conselho de Segurança da ONU de uma situação em que possa ter sido cometido um ou vários desses crimes, bem como pela livre iniciativa do Promotor em
instaurar inquérito para apurar eventuais delitos.
Os Estados serão informados sobre o início das investigações para que, no
prazo de trinta dias, informem se há qualquer investigação ou processo em
curso em sua jurisdição sobre o fato em questão e, caso haja, a Promotoria declinará de suas atribuições, já que exerce jurisdição complementar.
Todavia, o artigo 16 do Estatuto reserva ao Conselho de Segurança da ONU
o direito de solicitar ao Tribunal a suspensão de determinadas investigações, ou
até mesmo de um processo já em curso, pelo período de doze meses, mediante
Resolução fundamentada no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, que trata
de ameaças à paz e atos de agressão, podendo tal solicitação ser renovada nas
mesmas condições.
Ao fim do processo, a sentença será proferida por todos os juizes integrantes da Câmara de Julgamento, fundamentando-a nas provas e documentos
apresentados durante o processo, de maneira unânime ou por maioria de votos,
podendo ser incluída a condenação à reparação das vítimas e a forma em que
será feita.
Ademais, da sentença final prolatada, cabe recurso de apelação, apreciado
pela Câmara de Recursos, da qual podem apelar tanto a pessoa condenada quanto o Ministério Público, sob os fundamentos de vício de procedimento, erro de
fato, erro de direito, desproporção entre o crime cometido e a pena aplicada, e
qualquer outro motivo que afete a eqüidade ou a regularidade do processo ou
da sentença, este último argumento exclusivo do condenado ou do Promotor
recorrendo em seu favor.
No que concerne às penas aplicadas para os delitos sob a jurisdição do
Tribunal, estão previstas no Estatuto a pena de reclusão, por um período não
superior a trinta anos, a prisão perpétua, de acordo com a extrema gravidade do
crime e as circunstâncias pessoais do condenado e, ainda, a aplicação cumulati-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
145
va e facultativa de pena de multa e de confisco, ficando a aplicação e dosimetria
das penas a cargo do juiz.
A execução das penas aplicadas em sentença só serão cumpridas no território dos Estados dentre aqueles que tenham manifestado ao Tribunal sua disposição em receber os condenados, levando-se em conta alguns critérios, como o da
nacionalidade do condenado, por exemplo, e a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida, todavia, em estabelecimento penitenciário do Estado anfitrião, ou
seja, nos Países Baixos, arcando o Tribunal com as despesas decorrentes.
Já o Capítulo IX do Estatuto dispõe sobre a Cooperação Internacional
entre os Estados Partes e o Tribunal, o que é imprescindível para o seu efetivo
funcionamento pois, sem a colaboração destes países, haveria grandes dificuldades em dar andamento aos processos criminais, na medida em que os Estados
podem cooperar através do fornecimento de provas e documentos, da oitiva de
testemunhas, no cumprimento de ordem de prisão e, também, mediante a entrega de nacionais, item que ensejou grande discussão na elaboração do Estatuto.
Em que pesem os argumentos contrários ao instituto da entrega, é mister
ressaltar que se trata de instituto totalmente diverso da extradição, cabendo o
esclarecimento de que a extradição é entrega de um nacional a outro Estado, a
requerimento deste e, na entrega, o indivíduo será colocado a disposição do
Tribunal Penal Internacional, que é órgão diferenciado do ente púbico, a fim de
ser julgado por este.
Ademais, em face do caráter complementar que apresenta a jurisdição do
Tribunal, o fato de haver uma requisição de sua parte para que um Estado entregue um de seus nacionais não enseja qualquer violação à soberania do Estado
requisitado pois como Estado Parte, deve cumprir as obrigações assumidas a partir da assinatura do Estatuto, como tratado internacional e, ademais, deve-se
levar em conta a relevância do interesse do Tribunal em garantir efetiva proteção
aos direitos fundamentais dos homens, os quais não podem ser preteridos em
detrimento da soberania de um país.
E, com relação à jurisdição ratione materiae, o artigo 5 do Estatuto lista
os quatro tipos de crimes sob a jurisdição do Tribunal, que vêm a ser o crime de
genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão
que, embora esteja incluído dentre os demais crimes, ainda não possui um artigo que o defina, limitando a atuação do Tribunal aos três delitos restantes, até
que seja aprovado o dispositivo com sua definição, o que provavelmente ocorrerá na Conferência de Revisão, prevista nos artigos 121 a 123.
Assim, o crime de genocídio, previsto no artigo 6 do Estatuto, expõe diversas condutas típicas, as quais são praticadas com a intenção de destruir total ou
parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.
O conceito técnico de genocídio foi desenvolvido em face das inúmeras
atrocidades e crueldades friamente cometidas pelos alemães nazistas, comanda-
146
faculdade de direito de bauru
dos por Hitler, contra o povo judeu, visando ao total extermínio desse grupo,
mas a exata definição deste crime surgiu apenas em 1948, contida na Convenção
para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, que criou a figura típica do genocídio e a inseriu de forma definitiva no âmbito do direito penal internacional e, posteriormente utilizada em outros documentos, como, por exemplo, nos estatutos dos Tribunais Penais Internacionais para a antiga Iugoslávia e
para Ruanda, bem como no Estatuto de Roma, os quais reproduziram integralmente o que já fora definido.
Portanto, para a configuração deste tipo penal faz-se necessária a intenção
de exterminar um determinado grupo, ou seja, a existência do dolo específico
do agente, e não só a intenção de matar (animus necandi), o que se traduziria
em simples homicídio.
Porém, algumas dúvidas foram suscitadas em relação ao número necessário de pessoas atingidas para a configuração do crime, pois há quem defenda
que basta que da conduta resulte a morte de um indivíduo, enquanto há a opinião contrária de que se não houver pluralidade de vítimas, não é possível a
caracterização.
Em realidade, não é necessário que ocorra nenhuma morte para que exista o crime. Se há apenas uma vítima ou se milhares foram atingidos, haverá a
configuração do genocídio desde que exista o elemento de intencionalidade de
exterminar todo um grupo, já que este dispositivo não visa apenas à punição
daqueles que cometam tal delito, mas pretende, também, prevenir a sua ocorrência.
Assim, no intuito de inserir importantes tratados de proteção aos direitos
humanos em seu ordenamento, o Brasil inclui o crime de genocídio dentre os
demais previstos, através da Lei nº 2.889 de 1º de outubro de 1956, que reproduziu a definição contida na Convenção para a Prevenção e a Repressão do
Crime de Genocídio de 1948.
Ademais, o crime de genocídio encontra definição também no artigo
208 do Código Penal Militar e, inclusive, é considerado crime hediondo,
com previsão no artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990.
Já os crimes contra a humanidade possuem quatro pressupostos fundamentais para sua configuração: podem ser cometidos tanto durante um conflito
armado como em tempos de paz, deve ser um ataque generalizado e sistemático contra uma população civil, bem como deve haver o dolo e a consciência pelo
autor de estar participando de tal conduta, e a exigência de tais características
figura como uma limitação à atuação do TPI, a fim de que crimes comuns não
sejam abrangidos por sua jurisdição.
Diferencia-se o crime de genocídio dos crimes contra a humanidade,
sendo este último gênero do qual o genocídio é espécie, pelo fato de que o
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
147
genocídio é um ataque direcionado a um grupo determinado, seja por sua raça,
etnia ou credo, com a intenção única de exterminá-lo, enquanto que os crimes
contra a humanidade abrangem várias práticas, não só a de homicídio, como
também de atos que atentem contra a integridade física do ser humano, como,
por exemplo, os crimes de estupro, tortura e escravidão e, ainda, atos que atentem contra os direitos políticos, como o crime de apartheid, de perseguição,
dentre outros.
Distinguem-se, ainda, os crimes contra a humanidade dos crimes de guerra pela desnecessidade do nexo com qualquer tipo de conflito armado ou, ainda,
dos delitos comuns por se tratarem de atos cometidos contra uma população
civil, não só contra um indivíduo, e pela escala em que são cometidos.
Os crimes de guerra, dispostos no artigo 8 do Estatuto, constituem-se
em violações ocorridas dentro de conflitos armados, de abrangência nacional
ou internacional, cometidos como parte de um plano ou política, ou ainda
como parte da prática em grande escala destas condutas, dentre as quais se
incluem o bombardeio de cidades ou povoados que não estejam defendidos
e que não sejam objetivos militares, ataques dirigidos intencionalmente a
bens civis, prédios dedicados a cultos religiosos, monumentos históricos, hospitais, sempre que não forem objetivos militares, empregar armar e métodos
de guerra que, por sua própria natureza, causem danos supérfluos ou sofrimentos desnecessários ou produzam efeitos indiscriminados, cometer ultrajes contra a dignidade de indivíduos, em particular tratamentos humilhantes
e degradantes, cometer estupro, gravidez forçada, provocar intencionalmente a inanição da população civil como método de fazer a guerra, recrutar ou
alistar crianças menores de quinze anos nas forças armadas nacionais ou utilizá-las para participar ativamente das hostilidades, dentre inúmeras outras
crueldades extensamente listadas.
Estes crimes eram, inicialmente, caracterizados por constituírem violações
aos costumes e às normas internacionais que regulamentavam a guerra, que no
passado era considerada lícita e legítima e, somente após 1945, com a devastação provocada pela Segunda Guerra Mundial, é que a guerra passou a ser considerada ilícita e, a partir de então, passaram a ser considerados crimes não só
os excessos, mas todos os atos próprios de guerra.
Os crimes previstos neste artigo devem ocorrer em meio a um conflito
armado e, assim, podem ter lugar tanto em conflitos armados internos, seguindo-se o exemplo dado pela jurisprudência do Tribunal Penal Internacional ad
hoc para a ex-Iugoslávia, especialmente o caso Tadic, que tratava de violações
ocorridas em conflito interno, quanto podem acontecer em conflitos armados
de âmbito internacional.
Quanto ao crime de agressão, apesar de estar disposto no artigo 5, letra
“d” juntamente com as demais condutas trazidas pelo Estatuto, o parágrafo 2 do
148
faculdade de direito de bauru
mesmo artigo explicita que a jurisdição do Tribunal sobre este delito está condicionada à criação de um dispositivo que o defina e enuncie suas condições, de
onde se conclui que, por enquanto, o crime de agressão não será objeto de
investigação e persecução criminal pelo TPI.
O crime de agressão teve sua origem no “direito de guerra”, posto que, até
a primeira metade do século XX, a guerra era legitimada pelo jus ad bellum, ou
o “direito à guerra”, que determinava as condições em que seria permitido o
recurso à força militar, sendo que sua inobservância constituía os crimes contra
a paz, e pelo jus in bello, ou “direito na guerra”, que regia os comportamentos
durante o conflito e cujas violações constituía os crimes de guerra.
Estas normas tinham como objetivo regulamentar a guerra, numa clara
tentativa inócua de conter os excessos dentro dos conflitos. Assim, somente após
a Carta das Nações Unidas de 1945 é que houve a abolição da guerra legitimada,
pondo um fim à discussão sobre “guerra justa e injusta”.
Não obstante, existem ainda inúmeras outras controvérsias acerca deste
delito no Estatuto, pois em face do caráter político do crime de agressão, por
versar sobre litígio entre dois Estados, é discutido se esta conduta não estaria
sob a competência do Conselho de Segurança da ONU que, em face do Capítulo
VII da Carta das Nações Unidas seria o órgão responsável para responder aos
casos de ameaça ou quebra da paz mundial, incluindo-se a guerra de agressão,
isto porque, para haver a persecução deste crime pelo Tribunal, o Conselho de
Segurança teria que, previamente, declarar a efetiva prática do referido crime
por parte do Estado acusado, o que poderia colocar em risco a independência
do TPI.
Assim, a definição deste crime encontra uma sorte de dificuldades, não só
por se tratar de um delito de conotação política mas, também, pela dificuldade
em descrever sua figura, bem como pelo aparente conflito de competência entre
o Tribunal e o Conselho de Segurança da ONU e, também, pela dúvida quanto
à imputação de sua responsabilidade penal.
É neste sentido, portanto, que dentre as Disposições Finais contidas no
Estatuto, os artigos 121 a 123 merecem destaque, pois prevêem emendas ou
alterações ao Estatuto após sete anos de sua entrada em vigor, o que permitirá
uma revisão com o intuito de aprimorar os pontos controversos e preencher as
lacunas eventualmente existentes e, até mesmo, incluir outros crimes de âmbito
internacional que sejam tão graves como os já previstos, como o terrorismo
internacional, por exemplo.
E, diante dos mais recentes acontecimentos, a sua alteração se faz necessária, a fim de punir determinadas condutas que, até então, não eram consideradas crimes ou, simplesmente, não ocorriam com tanta freqüência, como os
atentados terroristas, sendo de suma importância a realização de tais alterações,
pelo fim da impunidade de atos de extrema barbárie.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
149
É neste intuito que inúmeros autores, de diversos países, apóiam a idéia
de uma ampliação da competência da Corte, principalmente a favor da inclusão
do crime de terrorismo, defendendo que o seu combate não exige apenas ações
militares, clássicas cooperações policiais ou judiciais entre os Estados, mas exige,
ainda, que haja o alargamento das competências do Tribunal Penal Internacional
aos crimes de terrorismo.
Contudo, embora tenham ocorrido inúmeras demonstrações deste terrível
fenômeno no decorrer do século XX, o terrorismo não é uma prática atual, sendo
conhecido pela humanidade desde os tempos passados, como afirmou o eminente
professor Bassiouni ao dissertar que o terrorismo existiu, de uma forma ou de
outra, em muitas sociedades ao longo do tempo em que a história tem sido recordada, e que as diferenças entre suas várias manifestações, entretanto, tem sido em
seus métodos, meios e armas, pois assim como os recursos disponíveis para infligir
danos significantes à sociedade se aperfeiçoam, o impacto prejudicial do terrorismo aumenta e, ao passo que as armas de destruição em massa se tornam mais acessíveis, os riscos à comunidade internacional aumentam.4
Deste modo, pode-se dizer que, antigamente, o terror era tido como uma
forma de governar a fim de manter e preservar a soberania de um Estado, posto
que era considerado um meio legítimo de defesa da ordem social. Nesta época,
contemporânea à Revolução Francesa, o terror era exercido abusivamente pelo
Estado contra seus cidadãos, impondo-lhes um regime de terror, sob o impacto
de leis de exceção, tribunais revolucionários, guilhotina e fuzilamentos sumários, e considera-se que nesta época é que se deu o início da prática terrorista
moderna.
A partir de então é que surgiram diversos documentos jurídicos relevantes,
que buscavam prover a sociedade internacional de instrumentos de combate ao
terrorismo, tais como as quatro Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais de 1977, documentos de reconhecido caráter universal, contando com um número expressivo de ratificações.
Entretanto, os atentados ocorridos durante os Jogos Olímpicos, realizados
na cidade de Munique, no ano de 1972, episódio que culminou com a morte de
onze atletas, levaram a ONU, através da Assembléia Geral, pela Resolução nº
3.034, criar um Comitê Especial do Terrorismo Internacional, encarregado de
estudar a questão do terrorismo internacional e pesquisar uma definição geral
4
BASSIOUNI, M. Cherif. Legal control of international terrorism: a policy-oriented assessment. Harvard International Law Journal. Cambridge. v.43. n.1. p.83-103. 2002.
“Terrorism has existed, in one form or another, in many societies for as long as history has been
recorded. The differences between its various manifestations, however, have been as to methods, means, and weapons. As the means available to inflict significant damage to society
improve, the harmful impact of terrorism increases. And as weapons of mass destruction
become more accessible, the dangers to the world community increase”.
150
faculdade de direito de bauru
de terrorismo no âmbito do direito internacional, mas não foi obtida a aprovação unânime de seus membros para nenhuma definição
Contudo, nenhum fato causou tamanho impacto no cenário internacional,
com grande repercussão até o presente momento, quanto à criação do Estado
de Israel, a fim de estabelecer uma terra nacional para o povo judeu, ocorrida
em 14 de maio de 1948 e, desde então, os Estados árabes vizinhos, compreendidos pela Jordânia, Síria, Líbano e Egito, se engajaram em uma ação militar,
lutando contra Israel e sua ocupação pelos judeus, o que, conseqüentemente
deixou milhões de palestinos em campos de refugiados nos territórios vizinhos
à sua terra originária.
Posteriormente, mesmo com a criação do Estado da Palestina, em 15 de
novembro de 1988, pela organização denominada Organização para a Libertação
da Palestina (OLP), dirigida por Yasser Arafat, árabes e judeus permanecem em
constante conflito até os dias atuais, tendo feito incalculáveis vítimas.
E, após ocorrido o “caso Lockerbie”, em que o avião a jato da empresa
PanAm caiu sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, em razão de uma bomba
colocada a bordo da aeronave, no ano de 1988, a comunidade internacional viuse diante da necessidade de elaborar e adotar medidas efetivas destinadas a prevenir a prática de atos e terrorismo e a condenar e punir os seus autores e, assim,
foi elaborada a Convenção Internacional para a Repressão de Atentados
Terroristas a Bomba, em Nova Iorque, que dispunha sobre ações envolvendo
mais de um Estado, e considerava crime os atentados a bomba.
Mas, não obstante as tantas atrocidades já provocadas por atentados terroristas, foi preciso que uma verdadeira catástrofe acontecesse para que as atenções fossem voltadas ao perigo constante que o terrorismo representa atualmente.
Na manhã da terça-feira, dia 11 de setembro, do ano de 2001, o mundo se
viu diante de uma cena que jamais será esquecida: os atentados às torres gêmeas
do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque e à sede do Pentágono, em
Washington, nos Estados Unidos, o mais devastador atentado terrorista já ocorrido na história da humanidade.
É sabido atualmente que, de acordo com as acusações feitas pelos representantes do governo dos Estados Unidos, estes atos foram perpetrados por extremistas islâmicos de origem árabe, que formam o grupo terrorista denominado “Al
Qaeda”, liderado por Osama Bin Laden, e tinham como alvos não o próprio World
Trade Center, em Nova Iorque – símbolo do sistema financeiro mundial –, ou a
própria sede do Pentágono, em Washington – sede da defesa e da inteligência da
maior força armada do planeta -, mas sim o que estes alvos representavam: o símbolo do capitalismo, a força e a dominação dos EUA perante os demais países.
O clima de instabilidade econômica e insegurança se espalhou por todo o
planeta após este episódio, o que levou o governo dos EUA, em uma política
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
151
baseada na Lei de Talião, a invadir o Afeganistão, sob a anuência do Conselho de
Segurança da ONU, que promulgou duas Resoluções autorizando, legalmente,
os Estados Unidos e seus aliados a agirem contra o terrorista Osama Bin Laden
e, também, contra o Talibã, sendo que o líder do grupo terrorista “Al Qaeda”,
Osama Bin Laden, não foi encontrado até os dias atuais.
O terrorismo, como fenômeno internacional, já levou à morte milhares de
pessoas, das mais diversas nacionalidades e, inevitavelmente, um ilustre brasileiro
foi também uma de suas vítimas, representando uma grande perda não só na
diplomacia brasileira, como também na área internacional: Sérgio Vieira de Mello,
que foi uma das vinte e duas vítimas fatais do ataque contra a sede da ONU em
Bagdá, em 19 de agosto de 2003. O eminente diplomata ocupava o cargo de Alto
Comissário da ONU para os Direitos Humanos e, na ocasião dos atentados, Vieira
de Mello era o representante especial da ONU no Iraque, em razão guerra travada
no território iraquiano por conta da invasão norte-americana.
Assim, portanto, imaginava-se que após os acontecimentos de 11 de
setembro nos Estados Unidos, o mundo acreditava ter visto a maior cena de
horror já produzida pelo terrorismo quando, na manhã do dia 11 de março
de 2004, várias bombas instaladas em quatro trens metropolitanos explodiram em série, em três diferentes estações de trem e de metrô na cidade de
Madri, na Espanha. O saldo deste monstruoso ataque foi de duzentos mortos e quase mil e quinhentas pessoas feridas, que deixará na memória dos
espanhóis o mesmo impacto que o 11 de setembro de 2001 tem para os
americanos.
A autoria destes atentados na capital espanhola, apesar da desconfiança
em relação ao grupo separatista basco, o ETA, foi atribuída a um grupo islâmico
que, em uma carta, justificou a prática destes atentados como sendo uma resposta ao apoio do governo espanhol à invasão americana do Iraque.
E, infelizmente, o ano de 2004 certamente permanecerá marcado na história pelo terror, pois após assistir à destruição dos trens na Espanha, no dia 3
de setembro, do mesmo ano, uma escola na cidade de Beslan, na Rússia, foi invadida por mais de duas dezenas de seqüestradores fortemente armados, que mantiveram mil e duzentas pessoas reféns, sendo a maioria delas crianças, durante
três dias torturantes, que terminou com um trágico desfecho: mais de duzentos
mortos e quase setecentos feridos.
No que concerne à legislação sobre o tema em questão, no Brasil, não há
definição do crime de terrorismo na legislação pátria, existindo apenas menções,
como o disposto no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83),
que considera crime “praticar atos de terrorismo”, mas em face da ausência de
taxatividade, isto é, sem uma descrição ou definição pela legislação do que seria
considerado um ato terrorista, conclui-se que não há, no ordenamento jurídico
brasileiro, o crime de terrorismo.
152
faculdade de direito de bauru
Ademais, a Constituição Federal de 1988, no Título I (“Dos Princípios
Fundamentais”), destaca em seu artigo 4º, que dispõe sobre os princípios que
regem as relações internacionais do país, o repúdio ao terrorismo e, ainda, no
artigo 5º, inciso XLIII, considera dentre os crimes considerados como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, o terrorismo.
Já a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), nos mesmos termos da
Constituição Federal, prescreve em seu artigo 2º que, dentre outras figuras típicas, o crime de terrorismo é insuscetível de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade provisória.
Nesse sentido, o Brasil vem adotando os procedimentos internos necessários para que o País se vincule à totalidade dos tratados internacionais sobre a
matéria, posto que, dentre os catorze atos internacionais existentes para o combate ao terrorismo, o Brasil já ratificou nove deles e outros dois estão em andamento no Congresso Nacional.
Em análise às legislações de diversos países, pode-se perceber que a maior
parte delas já contempla uma definição do terrorismo e considera tais atos como
crimes que, na sua maioria, são infrações de direito comum que ganham uma
característica diferenciada em razão das motivações de seus autores.
Assim, dentre os ordenamentos jurídicos nacionais dos quais já consta a
tipificação do crime de terrorismo, podem ser citados o da Itália, o de Portugal,
o da França, o da Espanha, o da Inglaterra, o dos Estados Unidos, o da Turquia
e, também, o do Sri Lanka.
Recentemente, a Assembléia Geral da ONU definiu o terrorismo global
como
atos criminosos com o objetivo de ou calculados para provocar
um estado de terror no público geral, um grupo de pessoas ou
determinados indivíduos por razões políticas, quaisquer que
sejam as considerações de cunho político, filosófico, ideológico,
racial, étnico, religioso ou outro que possam ser invocadas para
justificá-los.
Entretanto, encontrar uma definição unânime para o terrorismo tem sido
uma questão deveras dificultosa, em razão da pluralidade de condutas e pelas
quais pode ser praticado e, em razão da ampla interpretação que o este termo
comporta, é defendido que o terrorismo não pode ser definido pelo direito por
razões técnicas e jurídicas, devendo os direitos penal e processual penal rejeitarem, por imperativo de sobrevivência, as palavras que trazem ambigüidade, o
que representaria uma via aberta para o arbítrio.
No entanto, qualquer que seja o entendimento de um determinado fato,
não se pode admitir, em nenhuma hipótese, que atos de violência extrema sejam
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
153
utilizados para justificar razões filosóficas, ideológicas, políticas ou religiosas e,
pior, que continuem a ser considerados crimes comuns.
Assim, inúmeros doutrinadores, das mais diversas nacionalidades, estabeleceram diversos conceitos para o terrorismo, possibilitando que se chegue a
uma melhor compreensão acerca do tema, diante das características em comum
apresentadas: o uso da ameaça ou da violência, muitas vezes de forma extrema,
a capacidade de infundir terror, inquietação e medo generalizados, causando
pânico e pavor em grande escala, o que provoca um clima de total insegurança.
Pode-se perceber, portanto, que apesar de ainda haver conotação política
nos atos terroristas, a motivação política não é mais a única causa pela qual
lutam os grupos terroristas, havendo uma fusão de motivos entre o levante
social, o protesto religioso e as causas ideológicas.
Todavia, em que pesem os argumentos utilizados para se chegar à definição do terrorismo, atualmente tal fenômeno já não é mais considerado um crime
político, em virtude das várias mudanças ocorridas em seus meios, que se tornaram mais cruéis e, principalmente, em sua motivação, como ora explicitado.
Cabe ressaltar, assim, as características que diferem o terrorismo contemporâneo dos crimes políticos ou terrorismo político, pois estes são atos praticados
com uma única motivação, que é atentar contra a existência do Estado enquanto
organismo político, ameaçando sua organização político-jurídica e, por ter seus
objetivos claramente definidos, existe espaço para a negociação política.
Por outro lado, o terrorismo extremista ou novo terrorismo, não possui
objetivos ou, se existem, são difusos, tornando-se nulo o espaço para negociação, a qual é substituída pela violência e, ademais, enquanto os delitos políticos
atingem a ordem e a organização política apenas de um Estado determinado, o
terrorismo contemporâneo tende à destruição do regime político, social e econômico de todos os países, de maneira abrangente, de âmbito internacional.
A problemática reside na qualificação de determinados atos criminosos
como crimes políticos, o que impossibilita a extradição de criminosos em razão
das leis de inúmeros Estados que vedam a extradição pela prática de crime político, gerando grandes dificuldades na aplicação dos dispositivos dos tratados
multilaterais que definem os crimes internacionais
Aliás, este foi o ponto central de análise da Convenção Européia para a
Repressão ao Terrorismo, assinada em Estrasburgo em 27 de janeiro de 1977,
que tinha a preocupação de “despolitizar” aqueles atos qualificados de terroristas, a fim de tirar-lhes a conotação de crime político, a fim de permitir a extradição dos acusados.
Em última análise, é de suma importância ressaltar que o terrorismo é um delito que atenta contra os direitos fundamentais do ser humano, os quais são preceito
do texto constitucional nacional, reconhecidos como esteio da ordem política e
social, bem como servem de embasamento aos inúmeros tratados e convenções cele-
154
faculdade de direito de bauru
brados internacionalmente e regem as relações internacionais de todos os países.
Para corroborar tal idéia, vale destacar a Resolução adotada pela
Assembléia Geral da ONU, em sua 58ª Sessão, no relatório do Terceiro Comitê,
intitulado: “Direitos Humanos e o Terrorismo” (Resolução nº 58/174), o qual
declara que as Nações Unidas reitera a inequívoca condenação dos atos, métodos e práticas de terrorismo em todas as suas formas e manifestações como atividades objetivadas à destruição dos direitos humanos, liberdades fundamentais
e a democracia, ameaçando a integridade territorial e segurança dos Estados,
desestabilizando os Governos legitimamente constituídos, destruindo sociedades civis pluralísticas e tendo conseqüências desfavoráveis para a economia e o
desenvolvimento social dos Estados.5
É neste entendimento que alguns tratados e algumas convenções internacionais foram realizados, buscando-se uma noção de terrorismo que o excluísse
do princípio da não-extradição de criminosos políticos, dentre os quais estão o
Convênio de Haia para a repressão do seqüestro ilícito de aeronaves (1970), o
Convênio de Montreal para a repressão de atos ilícitos dirigidos contra a segurança da aviação civil (1971) e a Convenção Européia para a Repressão do
Terrorismo (1977).
Portanto, em face do caráter internacional apresentado pelo terrorismo,
posto que é uma conduta que afeta cidadãos de diferentes países e, em grande
parte, tem sua ação realizada em mais de um Estado, acredita-se que, como
crime que é, deve ser um delito incluído na competência de uma jurisdição de
âmbito internacional e, sobretudo, imparcial, de onde se conclui que tal jurisdição é concretizada e atualmente representada pelo Tribunal Penal Internacional.
Tal idéia pode ser melhor compreendida analisando-se brevemente os últimos acontecimentos no cenário internacional, pois, diante de tantas arbitrariedades praticadas, é certo que o julgamento de um caso de terrorismo internacional pela jurisdição de um único país, que tenha sido vítima direta ou reflexamente afetado, incontestavelmente comportará um julgamento parcial, devendo-se considerar, ainda, que nem sempre há um julgamento, mas simples retaliação, como o ataque dos Estados Unidos e das tropas da coalizão ao
Afeganistão após o atentado de 11 de setembro na cidade de Nova Iorque.
Como resultado desta operação militar que, inicialmente, visava a combater o regime Talibã e seu mentor, Osama Bin Laden, principal suspeito pela auto5
Resolution adopted by the General Assembly : “Human rights and terrorism” - Fifty-eighth
session – Resolution 58/174 (on the report of the Third Committee):
“Reiterates its unequivocal condemnation of the acts, methods and practices of terrorism in
all its forms and manifestations as activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening the territorial integrity and security of States,
destabilizing legitimately constituted Governments, undermining pluralistic civil society and
having adverse consequences for the economic and social development of States”.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
155
ria dos ataques às Torres Gêmeas, o território afegão foi todo invadido, e a pouca
infra-estrutura existente em território tão miserável foi completamente destruída, assim como inúmeros integrantes do Talibã foram feitos prisioneiros e levados para os Estados Unidos sem que houvesse qualquer acusação prévia ou julgamento, em total desacordo com as próprias regras de um ordenamento jurídico inerente à uma sociedade democratizada e civilizada como a norte-americana, o que acabou por configurar um verdadeiro ato arbitrário. Isto porque, o
combate ao terrorismo deve ser feito dentro das normas e regras do direito internacional e direito humanitário pois, se o terrorismo age lesionando regras de
um Estado de Direito, lesionando princípios fundamentais, só há uma maneira
legítima de dar segurança aos governos e aos indivíduos, que é através do caminho da lei, posto que qualquer possibilidade diferente dessa significaria utilizar
a mesma violência que se quer eliminar.
Neste sentido é que deve ser totalmente rejeitada a aplicação de uma política talionista, que é atitude extremamente primitiva, não condizente com a realidade internacional, além de não resolver a questão terrorista, contribuirá para
o aumento das diferenças entre os povos e, consequentemente, promoverá
maior incitação à prática destes atos extremistas, levando-se a um conflito sem
fim, o que é completamente inaceitável.
Conclui-se, assim, que a simples retaliação e o julgamento pelo próprio
país vitimado por um ato terrorista internacional, definitivamente, não são as
melhores soluções para tal questão, pois se assim o fosse, ter-se-ia uma verdadeira perseguição aos terroristas mundo afora, constituindo verdadeira afronta
aos mais basilares princípios dos direitos humanos e do direito internacional,
posto que, uma justiça que opere fora dos padrões de liceidade do mundo ocidental democrático, ignorando premissas como o devido processo legal, a racionalização da pena e o juízo de culpabilidade, não será mais que tortuosa injustiça, assim como a ação militar que nela se fixar não será, por conseguinte, mais
que uma guerra de retaliação.
É, de fato, premente a necessidade de que o crime de terrorismo seja incluído na competência do Tribunal Penal Internacional, a fim de que cessem as inúmeras arbitrariedades assistidas nestes últimos anos e, por esta razão é que a idéia
de incluí-lo na competência do TPI vem sendo muito bem aceita e defendida por
vários juristas das mais diversas nacionalidades, como pelo ilustre jurista Bassiouni6
que, há longo tempo, vem estudando o tema em questão, sugere que certas formas
de terrorismo internacional, cometidos por uma organização a qual, com base em
6
BASSIOUNI, M. Cherif. Legal control of international terrorism: a policy-oriented assessment. Harvard International Law Journal. Cambridge. v.43. n.1. p.83-103. 2002.
“In that way, crimes against humanity would encompass certain forms of terrorism committed by an ‘organization’ which, on the basis of a ‘policy’, engages in ‘widespread’ or ‘systematic’
attack upon ‘a civilian population’, by means of killing and other specified acts”.
156
faculdade de direito de bauru
uma política, promove um ataque generalizado ou sistemático sobre uma população civil, através de matança e outros atos específicos, devem ser incluídas no artigo 7 do Estatuto do TPI, que trata dos crimes contra a humanidade.
Considera-se, inclusive, que os atentados terroristas que destruíram as torres gêmeas na cidade de Nova Iorque, os quais foram orientados direta e sistematicamente a alvos estritamente civis e atentaram contra as relações internacionais, consubstanciam-se em crime contra a humanidade, pressupondo-se que
fossem praticados em tempo de paz, ou até mesmo crime de guerra, caso ocorressem em tempo de guerra.
Entretanto, é imprescindível a cooperação entre os Estados e da
Organização das Nações Unidas, não só para a tipificação do crime de terrorismo mas, principalmente, para que seja possível a adoção de políticas de repressão ao terrorismo em nível internacional, dentre as quais está a inclusão de crimes internacionais e de grande complexidade à jurisdição do TPI. Isto porque,
por ser o terrorismo um tema que requer um tratamento multilateral, já que sua
gestão parcial ou unilateral resulta ineficaz e insuficiente, um Estado, por mais
poderoso que seja, não pode encarar sozinho essa problemática sem a assistência dos demais atores internacionais, como os demais Estados, as organizações
internacionais e os indivíduos em geral, já que os agentes terroristas não possuem bandeira, nem uniforme, nem nacionalidade, nem território nem rosto:
ao contrário, são clandestinos, ubíquos e intangíveis.
E, no entanto, os Estados Unidos – postos à prova pelos atentados de 11
de setembro e que receberam tantas demonstrações de solidariedade de todos
os continentes – deveriam ser os primeiros a compreender que sem a cooperação internacional nada de sólido e duradouro é possível mas, infelizmente, mostraram-se contrários à adoção destas estratégias e adotaram políticas unilateralistas, assim como posicionam-se contrários à instituição do Tribunal Penal
Internacional.
Por fim, ao concluir-se que nenhum poder militar é suficiente para prevenir, sozinho, um terrorismo ubíquo num mundo globalizado como o de hoje, e
que a justiça não pode equivaler à retaliação ou à justiça dos vencedores, mas
sim à justiça segundo o devido processo legal, ao inserir o crime de terrorismo
na lista de crimes sob a jurisdição do TPI, uma grande lacuna existente na lei
internacional será preenchida e, assim, certamente contribuirá para que não
mais se assista às arbitrariedades já cometidas e, principalmente, que não mais
haja impunidade ao terror, como nos dias de hoje.
Descumprimento da Transação
Penal e Detração
Marcelo Gonçalves Saliba
Promotor de Justiça.
Mestrando pela Faculdade de Direito do Norte Pioneiro de Jacarezinho.
Professor de Direito Penal da Escola da Magistratura do Paraná.
Professor de Direito Penal das Faculdades Integradas de Ourinhos.
Professor Colaborador de Prática de Processo Penal da Faculdade de Direito
do Norte Pioneiro de Jacarezinho.
RESUMO
Analisar a transação penal, instituída pela Lei 9.099/95, e as implicações
pelo seu descumprimento injustificado, principalmente no que diz respeito à
possibilidade de detração penal pelo cumprimento de parte da pena com a concessão do benefício. Inicialmente, tecemos algumas considerações a respeito da
Lei 9.099/95 e conceituamos transação penal, seu âmbito de aplicação. Depois,
analisamos as conseqüências pelo seu descumprimento injustificado, o instituto
da detração e, finalmente, a possibilidade de abatimento da pena imposta em
sentença condenatória daquela cumprida parcialmente na transação penal.
Palavras-chave: Transação penal, Descumprimento injustificado, Detração.
158
1.
faculdade de direito de bauru
TRANSAÇÃO PENAL.
Inicialmente, se faz necessário tecer alguns comentários a respeito da Lei
9.099/95, Lei dos Juizados Especiais, por sua importância para o sistema penal e
processual brasileiro, que estabeleceu um marco no direito, ante seu caráter despenalizador e busca da solução consensual dos conflitos.
A Lei dos Juizados Especiais Criminais veio a dar efetividade ao artigo 98,
inciso I, da Constituição Federal e minimizar a intervenção do Poder estatal, bem
como agilizar e simplificar o procedimento e julgamento para as infrações penais
de menor potencial ofensivo. O avanço foi significativo; contudo, entendemos
que poderia ter ido além em diversos outros pontos, em busca da resolução das
lides penais.
As infrações penais de menor potencial ofensivo foram limitadas, inicialmente, às contravenções penais e aos crimes com pena máxima não superior a
um ano, excetuados aqueles que a lei preveja procedimento especial, consoante artigo 61 da mencionada legislação. Tímida, nos pareceu, a definição, vez que
já em 1995 o sistema judiciário brasileiro estava atravancado pelas inúmeras
ações penais e a lei poderia ter aumentado o leque dos delitos de menor potencial ofensivo, sem qualquer prejuízo ao sistema repressivo, já que a severidade
das punições penais não é causa determinante para diminuição da criminalidade.1 Em 2001, com a entrada em vigor da Lei 10.259, que criou os Juizados
Especiais Criminais Federais, o conceito de infrações de menor potencial ofensivo foi alargado para todas aquelas com pena não superior a dois anos, posicionamento que nos parece hoje sedimentado.2
1
2
Alberto Silva Franco, em entrevista publicada no Jornal Sou da Paz, ano 2, nº3, 20 de abril de
2002, discorreu a respeito da produção legislativa que visa somente a respostas a explosões de
violência e asseverou que a Lei dos Crimes Hediondos não diminuiu a criminalidade. “Ela não
aumenta, diminui ou estabiliza os índices de determinados delitos. A lei penal não serve para
resolver conflitos sociais, problemas próprios de um sistema que é desigualitário”. Não é o
aumento de pena que vai diminuir a criminalidade. Quando foi criada a Lei de Crimes
Hediondos, se estabeleceu um desequilíbrio dentro do sistema penal. Não se pode valorar um
bem jurídico chamado vida em igualdade de condições de um bem jurídico chamado patrimônio. Por exemplo, há uma lei que incluiu como crimes hediondos a falsificação de remédios. Nessa mesma lei se estabelece que a falsificação de cosméticos e de água sanitária se equipara à falsificação de remédios, e a pena prevista é de 10 anos de reclusão. Então, se uma pessoa falsificar um batom, ela pode estar subordinada a uma pena de 10 anos de reclusão. Agora
faça um paralelo com uma pessoa que mata outra. Qual é a pena prevista? É de no mínimo 6
anos de reclusão. Então, essas modificações feitas na legislação levam a verdadeiros absurdos.
5ª T– RESP 625510 SP Decisão:19/08/2004 DJ:20/09/2004 (unânime); 5ª T – RESP 613492
SP Decisão:17/06/2004 DJ:23/08/2004 (unânime); 5ª T – HC 30693 SP Decisão:06/04/2004
DJ:17/05/2004 (unânime); 5ª T - HC 27003 RO Decisão:09/03/2004 DJ:05/04/2004 (unânime); 5ª T* EDRHC 12033 MS Decisão:03/12/2002 DJ:10/03/2003 (unânime); 6ª T – HC
24148 SP Decisão:10/02/2004 DJ:08/03/2004 (unânime); 6ª T - HC 19445 SP
Decisão:03/02/2004 DJ:01/03/2004 (unânime); 6ª T - RHC 14141 SP Decisão:13/05/2003
DJ:09/06/2003 (unânime).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
159
Por óbvio, não se pode deixar de reconhecer como válida a preocupação
de Cezar Roberto Bitencourt a respeito da utilização indiscriminada ou a elevação exagerada do conceito de infrações de menor potencial ofensivo para fins de
transação penal, que implicará violação de inúmeras garantias penais-constitucionais, tais como o devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência (Bitencourt, 2003, p. 526). Todavia, não postulamos pela ampliação do
conceito para fins único de transação penal, mas sim para aplicação de medidas
alternativas sem finalidade punitiva, tais como as conciliações civis, já que não é
a lei penal que transforma a realidade social (Franco, 2002).
Luiz Flávio Gomes, igualmente, demonstra sua preocupação com o
instrumento
ao se permitir uma facilitação de pronta reabilitação ao infrator (o que sinceramente não consigo vislumbrar com a mesma
clareza e autenticidade); economizam-se recursos humanos e
materiais. Em contraposição, e com procedência inequivocamente maior aos meus olhos, há um exército de desvantagens do
porte do sacrifício do princípio da presunção de inocência (que
adquire um caráter farisaico no sistema norte-americano
atual), da verdade real, do contraditório, do devido processo
legal; há, ademais, o risco das injustiças, da flagrante desigualdade das partes, da falta de publicidade e de lealdade processual, dentre tantos outros (Gomes, 1992, p. 88-109).
A transação penal, até então inexistente em nosso direito, permitiu a mitigação da obrigatoriedade da ação penal, estabelecendo um novo modelo de
Justiça Criminal, centrado na busca da solução dos conflitos e não mais na decisão (formalista) do caso (Gomes, 2003, p. 62). Cuida-se de um revolucionário
instrumento de política criminal a possibilitar a solução rápida, sumaríssima, da
lide penal (Smanio, 1998, p. 79).
A busca da solução dos conflitos e aplicação de penas diversas da privativa
de liberdade, frente à falência do sistema penitenciário brasileiro, parece-nos um
norte a seguir, obrigatoriamente, até mesmo para se respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. A transação penal, aqui, é de suma importância e sua
ampliação para diversas outras infrações nos parece irremediável, sem, é claro,
nos esquecermos das preocupações anteriormente mencionadas.
O artigo 76 da Lei 9099/95 define transação penal como a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas:
Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o
160
faculdade de direito de bauru
Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta.
Damásio de Jesus diz tratar-se de um negócio entre o Ministério Público e
a defesa, possibilitando-se ao juiz, de imediato, aplicar uma pena alternativa ao
autuado, justa para a acusação e defesa ( Jesus, 1995, p. 62).
É medida alternativa que a visa impedir a imposição de pena privativa de
liberdade, mas não deixa de constituir sanção penal. Como o próprio dispositivo estabelece, claramente, a pena será aplicada de imediato, ou seja, antecipa-se
a punição. E pena no sentido de imposição estatal, consistente em perda ou restrição de bens jurídicos do autor do fato, em retribuição à sua conduta e para
prevenir novos ilícitos (Dotti, 2004, p. 433).
Para a transação penal, há requisitos a serem observados, preenchidos.
Requisito prévio é a existência das condições da ação, não se admitindo a apresentação de proposta se o caso determina o arquivamento do procedimento
investigatório. Mais: a partir da criação do estudado instrumento, entendemos
não se admitir sua apresentação quando houver dúvidas quanto à autoria, materialidade, existência do fato típico e ilícito. Ao contrário da análise que se faz no
momento do oferecimento da denúncia, informada pelo princípio in dubio pro
societate, a transação penal deve ser informada pelo princípio in dubio pro reo,
ou seja, na dúvida não se pode admitir a aplicação imediata de sanção penal, sob
pena de se afrontar os princípios constitucionais anteriormente indicados. Aqui,
sim, justifica-se o temor da flagrante desigualdade das partes (Gomes, 1992, p.
88-109). Os demais requisitos estão estabelecidos no artigo 76, parágrafo 2º, da
Lei 9.099/95.
A pena a ser proposta pelo Ministério Público e aplicada ao autor do fato
deve seguir os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, não se podendo admitir que fique ao livre arbítrio, sem qualquer fundamentação, a sanção3 Cabe
registrar que o Ministério Público é o titular da proposta e há discricionariedade regrada em sua atuação, tanto que a mesma será apreciada pelo juiz.
2.
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO: CONSEQÜÊNCIAS
A alteração legislativa promovida pela Lei dos Juizados Especiais foi, sem
dúvida, profunda; contudo, lacunas marcaram a citada lei, tanto que Cezar
Roberto Bitencourt diz ser completamente deficiente o instituto (Bitencourt,
2003, p. 578).
3
Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todos os julgamentos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...). O
Ministério Público, por seus órgãos de execução, também tem o dever de fundamentar suas
manifestações.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
161
Aceita a transação penal pelo autor do fato e seu advogado, será submetida à apreciação do juiz, que não pode se resumir a mero telespectador. Não há
vinculação ao juiz à proposta formulada e aceita, vez que tem ele o dever de
apreciar a legalidade da medida quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais e aplicar a pena não privativa de liberdade.
A decisão jurisdicional na transação penal não tem natureza condenatória
e sim homologatória, consoante Ada Pellegrini Grinover (1998, p. 87). Cezar
Roberto Bitencourt explica que é da tradição do Direito brasileiro, sempre que
as partes transigem, pondo fim à relação processual, a decisão judicial que legitima jurisdicionalmente essa convergência de vontades, ter caráter homologatório, jamais condenatório (2003, p. 582).
Por sua vez, Mirabete entende ser a decisão condenatória e não homologatória, visto que declara e reconhece a situação do autor do fato, tornando-o
certo e impondo a sanção penal, produzindo, então, efeitos de coisa julgada
material e formal (1996, p. 90). O posicionamento é dominante perante o
Superior Tribunal de Justiça.4
Entendemos como mais abalizado o posicionamento de Grinover e
Bitencourt, por inexistir sentença de mérito, com observância do devido processo legal, culpabilidade e demais princípios constitucionais-garantistas. O
posicionamento vem sendo acolhido perante o Supremo Tribunal Federal.5
Há, ainda, divergência na conseqüência pelo injustificado descumprimento
da transação penal, frente à lacuna legislativa. Alguns posicionamentos se firmaram,
doutrinários e jurisprudenciais, e aqui abordaremos somente os mais destacados.
A conversão em pena de prisão pelo descumprimento nos parece ser uma
violência abominável, ante o desrespeito aos princípios constitucionais-garantistas da ampla defesa, contraditório, devido processo legal. O Ministro Marco
Aurélio de Mello, em decisão proferida no HC 79.572-GO, sustentou que
não há como aplicar, à espécie, a menos que sejam colocados em
plano secundário princípios constitucionais, o disposto no art.
4
5
HABEAS CORPUS. TRANSAÇÃO PENAL. LEI 9.099/95. PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. 1. “(...) 1 - A sentença
homologatória da transação penal, por ter natureza condenatória, gera a eficácia de coisa julgada formal e material, impedindo, mesmo no caso de descumprimento do acordo pelo autor
do fato, a instauração da ação penal. 2 - Não se apresentando o infrator para prestar serviços
à comunidade, como pactuado na transação (art. 76, da Lei nº 9.099/05), cabe ao MP a execução da pena imposta, devendo prosseguir perante o Juízo competente, nos termos do art. 86
daquele diploma legal. Precedentes.” (REsp 203.583/SP, in DJ 11/12/2000). 2. Ressalva de
entendimento contrário do Relator. 3. Ordem concedida. (HC 14560/SP, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 24.05.2001, DJ 17.09.2001 p. 196).
E, ainda: RESP. 222061; HC 11111; RESP 172951; RESP 194637; RHC 10369; HC 14560.
RE 268.320-5; RE 268.319-1; HC 79.572.
162
faculdade de direito de bauru
45 do Código Penal. Está-se diante de incompatibilidade reveladora de não ser o preceito nele contido fonte subsidiária no processo submetido ao juizado especial. Essa conclusão decorre do
fato de a conversão das penas restritivas de direitos em penas
restritivas do exercício da liberdade, tal como prevista no artigo 45 do Código Penal, pressupor, sempre, o regular processo, a
regular tramitação da ação penal, a persecução criminal, viabilizando o direito de defesa, e a prolação de sentença condenatória, vindo a ocorrer, ai sim, em passo seguinte, a conversão.
Alias, o princípio da razoabilidade, a razão de ser das coisas,
cuja força é insuplantável, direciona no sentido de a conversão
pressupor algo já existente, e isso diz respeito à pena privativa
do exercício da liberdade.
Sem o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e sentença penal
condenatória, entendemos incabível a conversão da transação em pena privativa
de liberdade. Fere-se, com a adoção do posicionamento, o próprio espírito que
norteou o trabalho legislativo, qual seja, a despenalização, a aplicação de pena
diversa do encarceramento.
A execução da medida transacionada, posicionamento sustentado por
Bitencourt, consiste em proceder à execução forçada, exatamente como se executam as obrigações de fazer. Há decisão da lavra do Ministro Hamilton Carvalhido,
do Superior Tribunal de Justiça6, RHC 10.369/SP, a determinar a execução:
Recurso em Habeas Corpus. Transação Penal. Lei 9.099/95. Pena de
Multa. Descumprimento. Oferecimento de Denúncia.
Impossibilidade. Coisa Julgada Formal e Material. Ressalva de
Entendimento Contrário. 1. “(...) 1 - A sentença homologatória da
transação penal, por ter natureza condenatória, gera a eficácia de
coisa julgada formal e material, impedindo, mesmo no caso de descumprimento do acordo pelo autor do fato, a instauração da ação
penal. 2 - Não se apresentando o infrator para prestar serviços à
comunidade, como pactuado na transação (art. 76, da Lei nº
9.099/05), cabe ao MP a execução da pena imposta, devendo prosseguir perante o Juízo competente, nos termos do art. 86 daquele
diploma legal. Precedentes” (REsp 203.583/SP, in DJ 11/12/2000). 2.
Ressalva de entendimento contrário do Relator. 3. Recurso provido.
6
As decisões majoritárias do Superior Tribunal de Justiça são no mesmo sentido: RESP 222061;
HC 12215; HC 11111; HC 10219; RESP 205739; RESP 190194; RESP 203740; RESP 200849;
RESP 153195; HC 9853; RESP 172981; RESP 172951; RESP 194637; RHC 10369; HC 14560;
RHC 11350.; RESP 226570; RESP 612411; HC 33487.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
163
Todavia, a prática nos tem mostrado que a execução da decisão não surte
efeito algum, pois a esmagadora maioria dos autores de delitos de menor potencial que descumprem injustificadamente a medida são pobres, na acepção jurídica do termo. Há, então, ineficácia da tutela jurisdicional e, em última analise,
ofensa ao princípio de proteção aos bens jurídicos, por não se alcançar a pacificação dos conflitos sociais e proteção desses bens.7
Resta-nos, portanto, avaliar a propositura da ação penal. Os partidários
contrários sustentam a impossibilidade do início da ação penal sob o argumento de que a natureza jurídica da decisão homologatória gera eficácia de coisa julgada material e formal, o que impede a propositura da ação. O posicionamento
vem sendo seguido pelas 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça.8
Os adeptos da corrente que sustenta o início da ação penal em caso de descumprimento da transação penal, à qual nos filiamos, não vêem coisa julgada
material na decisão homologatória e, sim, perda de sua eficácia pelo descumprimento do acordo.
Oportuna a lição de Pontes de Miranda:
Se os efeitos da declaração de vontade dependem do adimplemento da contraprestação ou a declaração de vontade, prestada pelo Estado, não compôs o negócio jurídico, por ser necessário que outra declaração de vontade ou algum ato de credor
seria emitido, ou a declaração de vontade só tem os efeitos obrigacionais ou reais após contraprestação. Esses pormenores não
importam no que concerne à rescindibilidade da sentença que
presta a declaração. Se, depois, de ser contraprestada a declaração que se fazia mister e o prazo para ser contraprestada precluiu, tudo se passa como a respeito da oferta a que se não
seguiu aceitação: o negócio jurídico bilateral não se concluiu
(MIRANDA, 1975).
A perda da eficácia se dá pelo descumprimento total ou parcial do transacionado, já que somente o cumprimento integral significa adimplemento da
obrigação e determina a extinção do poder de punir estatal.
Com a perda da eficácia da decisão homologatória, abre-se ao Ministério
Público, titular da ação penal pública, a oportunidade de oferecimento de
7
8
René Ariel Dotti, na introdução de seu livro, diz: “A missão do Direito Penal consiste na proteção de bens jurídicos fundamentais ao individuo e à comunidade. Incube-lhe, através de um
conjunto de normas (incriminatórias, sancionatórias e de outra natureza), definir e punir as
condutas ofensivas à vida, à liberdade, à segurança, ao patrimônio e outros bens declarados e
protegidos pela Constituição e demais leis”.
Vide nota de rodapé 7.
164
faculdade de direito de bauru
denúncia para início da ação e, eventual, condenação. O autor do fato vê-se
agora compelido ao cumprimento da sentença condenatória, com as conseqüências pelo seu descumprimento. Porém, o cumprimento parcial do transacionado e a posterior condenação pelo mesmo fato, ante o descumprimento
injustificado da transação, pode levar ao bis in idem.
3.
DETRAÇÃO E PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM
O Código Penal, em dois dispositivos da parte geral, adotou expressamente o princípio non bis in idem.
O primeiro deles é o artigo 8º, que possibilita a atenuação ou desconto da pena
cumprida no estrangeiro da pena imposta no Brasil pelo mesmo fato. Evita-se, assim,
a dupla punição – bis in idem. Como única condição vê-se a exigência de um único
fato criminoso. Por conseguinte, não é condição a existência de sentença penal condenatória no estrangeiro. Ora, conclui-se que o cumprimento de pena imposta através do instituto norte-americano do plea bargaining, ou de qualquer outro instituto
assemelhado, atenua ou desconta a pena imposta no Brasil pelo mesmo fato.
Apenas a título de esclarecimento, a atenuação se dará quando houver diversidade de penas e o cômputo quando houver identidade delas. Assim, cumprida a pena
pelo sujeito ativo do crime no estrangeiro, será ela descontada na execução pela lei
brasileira quando forem idênticas (penas privativas de liberdade, por exemplo), respondendo efetivamente o sentenciado pelo saldo a cumprir se a pena imposta no
Brasil for mais severa. Se a pena imposta no estrangeiro for superior à imposta no
Pais, é evidente que esta não será executada (Mirabete, 2003, p. 81).
O segundo dispositivo a vedar a dupla punição é o artigo 42, que prevê a
detração, que é a possibilidade de se descontar na pena ou na medida de segurança, o tempo de prisão ou de internação que o condenado cumpriu provisoriamente, no Brasil ou no estrangeiro.
René Ariel Dotti, em singular explicação, diz:
há um princípio clássico de justiça segundo o qual ninguém
pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. A detração visa
impedir que o Estado abuse do poder-dever de punir, sujeitando
o responsável pelo fato punível a uma fração desnecessária da
pena sempre que houver a perda da liberdade ou a internação
em etapas anteriores à sentença condenatória (Dotti, 2004, p.
604/605).
Aníbal Bruno diz que a detração evita que a privação da liberdade resultante da pena provisória constitua um acréscimo, contrário à justiça, do período
de duração da pena decretada na sentença condenatória (Bruno, 1969, p. 77).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
165
O ponto determinante está em impedir a dupla punição pelo Estado,
pouco importando se a pena anterior foi privativa ou não de liberdade, já que a
questão não gira na qualidade da sanção e sim na sua existência.
O dispositivo penal fez menção somente ao abatimento da prisão cautelar
e tempo de internação da pena privativa de liberdade e medida de segurança,
nada prevendo quanto à detração da pena restritiva de direitos ou pecuniária do
tempo de prisão provisória.
Julio F. Mirabete aponta como inexplicável a omissão e afirma que
deve se reconhecer a detração penal nessa hipótese por medida
de equidade. Assim, se esteve o sentenciado preso preventivamente por três meses, tal prazo deverá ser descontado, por exemplo, dos quatro meses da limitação de fim de semana ou de prestação de serviços à comunidade que lhe forem aplicados em
substituição à pena privativa de liberdade. Solução diversa
implica tratamento mais severo para os que, por suas condições
pessoais, merecem da lei o tratamento mais benigno da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
(Mirabete, 2003, p. 263).
No mesmo sentido, é a posição de Cezar Roberto Bitencourt:
Há entendimento respeitável de que, ´por necessária e permitida interpretação analógica´, deve ser admitida a detração também das penas restritivas de direitos, como limitação de fim de
semana e prestação de serviços à comunidade. Acreditamos que
as interdições temporárias de direitos também devem ser contempladas com o mesmo tratamento que for dispensado às
outras duas espécies de penas restritivas de direitos (Bitencourt,
2003, p. 441).
A doutrina é unânime a indicar a possibilidade de detração para penas restritivas de direitos; contudo, nem todas as espécies a admitem. Por isso, cita a
prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana e interdição
temporária de direitos, únicas a substituírem a pena privativa de liberdade pelo
mesmo tempo de sua duração (artigo 55 do Código Penal).
A lacuna legal do artigo 42 do Código Penal admite a analogia, ou seja, a
norma penal que prevê situação semelhante aplica-se ao caso não previsto. É a
analogia in bonam partem, que vem para impedir a dupla punição pelo mesmo
fato criminoso.
166
4.
faculdade de direito de bauru
PRINCÍPIO NOM BIS IN IDEM E TRANSAÇÃO PENAL
As lacunas da Lei 9.099/95 devem ser supridas pela doutrina e jurisprudência, com o fim de buscar o seu exato alcance e real significado. A solução dos
conflitos foi o ideal da lei e sua inovação, sem dúvida alguma, revolucionou o
sistema processual e penal brasileiro. Se, por um lado, há críticas quanto à possibilidade de violação dos direitos constitucionais-penais; de outro, há elogios
pelo caráter despenalizador, informado pelos princípios da mínima intervenção,
fragmentariedade, necessidade e idoneidade.
O descumprimento injustificado da transação penal deve ensejar, consoante vimos anteriormente, o oferecimento e início da ação penal. Ao final, com
a prestação da tutela jurisdicional, se procedente a pretensão punitiva estatal,
deve-se observar, obrigatoriamente, no juízo competente,9 a possibilidade de
detração pelo cumprimento parcial da pena transacionada da pena imposta em
definitivo.
O artigo 42 do Código Penal, modificado pela reforma de 1984, por óbvio
não poderia prever a detração em caso de cumprimento parcial da transação
penal, instituto novo no direito brasileiro. A previsão da norma penal resume-se
aos casos de privação da liberdade, mas o ponto determinante, o princípio balizador do dispositivo, é evitar a dupla punição num mesmo fato criminoso – non
bis in idem.
Assim, entendemos ser possível, analogicamente, abater da decisão condenatória, proferida ao final da ação penal pública ou privada, a pena parcialmente cumprida por força do transacionado. Com a transação há aplicação de
pena, de imediato, ao autor do fato, e, com a decisão condenatória, igualmente,
há aplicação de pena ao autor daquele mesmo fato.
A analogia in bonam partem vem para suprir uma lacuna legislativa e
impedir a violação ao princípio clássico de justiça segundo o qual ninguém
pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato (Dotti, 2004, p. 604/605).
Não há de se argumentar que o descumprimento da transação tornou ineficaz também a pena parcialmente cumprida ou levou a sua perda. A interpretação, em casos omissos, jamais pode se dar em prejuízo do acusado e a lei penal,
sempre que determinou a perda do período de cumprimento da pena, o fez
expressamente. Soma-se a isto a existência de efetiva aplicação de pena na transação penal, entendida como uma perda de bens jurídicos imposta pelo órgão
da justiça (Fragoso, 2003, p. 348).
Na transação penal, pode-se aplicar quaisquer das espécies de penas restritivas de direito ou multa, mas nem todas poderá admitir a detração, por
9
O artigo 66, inciso III, letra c, da Lei de Execuções Penais determina a competência exclusiva
do Juízo das Execuções Criminais para a aplicação da detração.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
167
incompatibilidade. Todavia, existindo compatibilidade entre as penas aplicadas,
a detração há de ser feita, sob pena de se afrontar o princípio non bis in idem.
Ad exemplum, se aplicada pena de prestação de serviços à comunidade
por transação penal e na condenação a mesma pena for aplicada, a detração é
possível, ou seja, obrigatória. Mas, se aplicada pena de prestação de serviços à
comunidade e, ao final, pena pecuniária, a detração é impossível. Se, na transação penal, ficou estabelecida a prestação pecuniária em favor da vítima e o autor
do fato adimpliu parcialmente com sua obrigação, o início da ação penal tornase possível. Caso seja condenado ao final do processo e aplicada novamente
pena de prestação pecuniária, obrigatoriamente se deverá proceder à detração,
para não se dar causa ao enriquecimento injusto da vítima e dupla punição do
autor do fato.
A compatibilidade deverá ser analisada em cada caso, mas uma regra pode
desde já ser estabelecida:
a) é possível a detração sempre que as penas forem idênticas.
Exemplificando: prestação pecuniária e prestação pecuniária; multa e
multa; limitação de fins de semana e limitação de fins de semana; prestação de
serviços à comunidade e prestação de serviços à comunidade.
b) havendo penas diversas, a detração é possível se as sanções forem substitutivas da privação de liberdade pelo tempo de sua duração.
Alguns exemplos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária
de direitos; limitação de fins de semana e prestação de serviços à comunidade.
Importante observar que a doutrina não admite a possibilidade de detração em penas pecuniárias, mas observa-se que a maioria não discorre a respeito
da pena imposta em transação penal. As brechas legislativas determinam estudo
do assunto, visto que o descumprimento da transação penal, com a crise social
enfrentada em nosso país, aumenta a cada ano.
5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal, em seu artigo 98, instituiu um novo modelo de Justiça
criminal e a Lei dos Juizados Especiais Criminais, 9.099/95, daí decorrente, apresentou significativas e profundas mudanças no panorama processual e penal, com
instrumentos e ritos novos, até então desconhecidos em nossa legislação.
O princípio da dignidade humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da
Carta Constitucional, é o norte de atuação do legislador e aplicador do direito e
dele decorrem diversos outros princípios, reguladores do sistema penal. A mínima intervenção, a fragmentariedade do direito penal, devem ser observadas continuamente, para que este ramo do direito não sirva unicamente como meio de
exclusão social. A Lei dos Juizados Especiais Criminais, neste ponto, veio em
total sintonia com os princípios nominados e a transação penal apresenta-se,
168
faculdade de direito de bauru
hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico, como a mais importante forma de
despenalizar, sem descriminalizar.
As limitações da lei 9.099/95 devem ser supridas por alterações legislativas
e, enquanto estas não se produzem, cabe a doutrina e jurisprudência a interpretação dos institutos.
A lei nova deve solucionar os conflitos hoje existentes não só quanto aos
efeitos pelo descumprimento da transação penal, m0as também na possibilidade de detração penal pelo cumprimento parcial da pena, em respeito ao princípio non bis in idem e, por conseqüência, a dignidade da pessoa humana.
REFERÊNCIAS
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral. 8ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2003.
BRUNO, Aníbal. Comentários ao Código Penal, Volume II. Rio de Janeiro: Forense, 1969.
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2004.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, Parte Geral. 16ª ed.Rio de Janeiro:
Forense, 2003.
FRANCO, Alberto Silva. Jornal Sou da Paz, ano 2, nº 3, 20 de abril de 2002. disponível
em <http://www.soudapaz.org>.
GOMES, Luiz Flávio. Tendências político-criminais quanto à criminalidade de bagatela. São Paulo: RBCCrim, 1992.
FERNANDES, Antonio Scarance; Grinover, Ada Pellegrini; Gomes, Luiz Flavio; Gomes
Filho, Antonio Magalhães. Juizados Especiais Criminais: Comentários à Lei 9.099, de 26
de setembro de 1995. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
JESUS, Damásio Evangelista. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada. São Paulo:
Saraiva, 1995.
MIRABETE, Julio Fabrini. Juizados Especiais Criminais: Comentários, Jurisprudência,
Legislação. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 1996.
_______, Manual de Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2003.
MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VI. Rio de Janeiro:
Forense, 1975.
PRADO, Luiz Régis. Bem Jurídico-Penal e Constituição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1997.
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Criminologia e Juizado Especial Criminal. 2ª ed. São Paulo:
Atlas, 1998.
Princípio da anualidade ou da prévia
autorização orçamentária X Princípio da
anterioridade do exercício
Francisco Alves dos Santos Júnior
Ex-Procurador da Fazenda Nacional em São Paulo.
Ex-Procurador do Município de São Paulo.
Graduado em Direito pela FADUSP (1979).
Pós-Graduado (Mestrado em Direito Público) pela FDRUFPE (2000).
Professor da Faculdade de Direito da FAPE-Faculdade Pernambucana(UNIP).
Professor Convidado da Pós-Graduação da Escola Superior da
Magistratura de Pernambuco-ESMAPE.
Juiz Federal, Titular da 2ª Vara-PE, desde 1988.
Palavras-chave: Princípios fundamentais, princípios positivados nas Constituições,
Direito constitucional-tributário, instituição e majoração de tributos, princípio da
anualidade, da anterioridade do exercício, cláusula pétrea, exceções ao princípio da
anterioridade.
INTRODUÇÃO
Os princípios veiculam orientações jurídicas básicas, fundamentais, alicerçais, dirigidas aos Legisladores e aos Intérpretes do direito e, por isso, há quem
diga que se caracterizam como pré-normas.1
1
Nesse sentido, COMPARATO, Fábio Konder. Direito Público, Estudos e Pareceres. São Paulo:
Saraiva, 1996, p 139.
170
faculdade de direito de bauru
Diferente é o pensamento de Eros Grau, atualmente Ministro do C.
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os princípios encontram-se latentes no ordenamento jurídico e o Agente Jurídico apenas o encontra e o
“declara”, não significando essa “declaração” “que os princípios sejam anteriores e superiores ao direito positivo, mas, ao revés, que o intérprete-aplicador pesquisa e descobre os princípios já implícitos no ordenamento, de
modo que apenas os ‘declara’ e não os ‘cria’”.2
Na atualidade, há muitos princípios positivados nas Constituições e
então deixam de ser meras orientações, transformando-se em regras obrigatórias. Todavia, alguns princípios são tão costumeiros e arraigados no direito
constitucional-tributário que, caso, por cochilo do Legislador Constituinte,
não seja positivado na Carta Magna de determinado País, têm que ser observados, sob pena de total inversão da ordem natural das coisas, pois por exemplo, ninguém irá recolher tributo, se capacidade tributária não tiver, ainda
que o princípio da capacidade contributiva não esteja previsto na
Constituição. A esse respeito, registra o jurista português Pedro Martínez, que
na Constituição francesa, de 1875, não havia previsão do princípio da legalidade para instituição de tributos; todavia, nunca se cobrou tributo naquele
país senão em virtude de lei.3 Lembra ainda esse autor que a Constituição do
seu País (Portugal), de 1976, omitira-se quanto ao princípio do não confisco,
previsto nas Constituições anteriores, e nem por isso é de se admitir que esse
princípio não terá que ser observado na instituição de tributos, porque os
costumes jurídico-constitucionais não admitem tributos com efeito confiscatório.4 Aliás, nas Constituições brasileiras anteriores à ora vigente, que é de
1988 e já com quase meia centena de alterações, o princípio do não-confisco
não era previsto e sempre que os legisladores instituíram tributos com tal
efeito o C. Supremo Tribunal Federal-STF brasileiro tratou de fazer as aparas
necessárias, invocando esse princípio.
Na atual Constituição da República do Brasil, a maioria dos princípios
aplicáveis ao campo tributário encontra-se em seção sob o sugestivo título de
“Das Limitações do Poder de Tributar”, nos seus artigos 150 e 151, sem prejuízo de outros princípios consignados em outros dispositivos, como, por
exemplo, o da capacidade econômica do Contribuinte, previsto no § 1° do
seu art. 145, visto pela unanimidade da doutrina brasileira como princípio da
capacidade contributiva. Ainda a título de exemplo, detectamos outros princípios gerais de direito tributário no art. 153, §§ 1°- I (universalidade, gene2
3
4
Conforme, SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio Constitucional da Igualdade. Rio
de Janeiro: Lumen & Juris, 2001, p. 7.
MARTÍNEZ, Pedro Soares. Direito Fiscal. Ed. 10ª. Coimbra (Portugal): Livraria Almedina,
1998, p. 103.
Ibid.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
171
ralidade, progressividade) e 3°- I e II (respectivamente, seletividade em função da essencialidade e não cumulatividade do IPI), no art. 155, § 2°-I (não
cumulatividade do ICMS), no art. 156, § 1° e art. 182, § 4°-II (progressividade do IPTU) e etc.
E por que são limitações ao poder de tributar? Ora, a Pessoa Jurídica de
Direito Público, titular da competência constitucional para instituir o tributo,
só poderá se utilizar dessa competência se observar as regras principiológicas, sofrendo, pois, uma limitação no campo da instituição dos tributos.
Neste trabalho, interessam-nos os princípios gerais de direito tributário
da anualidade e da anterioridade do exercício, os quais formam os denominados princípios da não surpresa, que se caracterizam por evitar que os
Contribuintes sejam surpreendido com a repentina instituição de tributos.5
ORIGENS
Alguns autores, como Yves Gandra da Silva Martins e Celso Ribeiro Bastos,6
atribuem a origem do princípio da anualidade tributária à Carta Magna
Libertatum da Inglaterra (1215). Todavia, embora nesse importante documento
do direito constitucional tenha se originado induvidosamente o princípio da
legalidade, nele se obrigando o Rei João Sem Terra a só instituir tributo depois
de autorização escrita do Conselho do Reino, exceto quando para arrecadar
dinheiro para pagar o seu próprio resgate, formar o dote da sua filha e fazer do
seu filho cavaleiro (art. 12), nela não encontrei nenhuma regra tratando do princípio da anualidade, tampouco da anterioridade do exercício. Aliás, o trechos
que esses autores transcrevem nas notas de rodapé 4 e 5 do livro onde fazem tal
afirmação nada há a respeito da anualidade, mas apenas da submissão do referido rei ao clero e barões de então, permitindo que estes seguissem com segurança, na forma que melhor lhes aprouvesse, verbis: “... and since we desire that
they shall be enjoyed in their entirety, with lasting strength, for ever, we give and
grant to the barons the following security”.
No Brasil, o princípio da anualidade foi previsto na Constituição de 1824,
outorgada pelo Imperador D. Pedro II, na primeira Constituição Republicana de
1891, silenciado nas Constituições da época do Estado Novo (Constituição de
1934 e na polaca de 1937), mas expressamente restabelecido no § 34 do art. 141
da democrática Constituição da República do Brasil de 1946.7
7
5
6
Constituição da República de 1946: “Art. 141 - ....§ 34 – Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização
orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra”.
Nesse sentido, COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Ed.
6ª, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 228.
Comentários à Constituição do Brasil. 6° Volume. São Paulo: Saraiva, p.159.
172
faculdade de direito de bauru
O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE
O princípio da anualidade, como estruturado no dispositivo constitucional
por último referido, estabelecia que qualquer tributo (com exceção da tarifa
aduaneira e do imposto lançado por motivo de guerra) só poderia ser cobrado
no exercício financeiro seguinte se, além de instituído por Lei, tivesse sua receita previamente estimada na Lei do Orçamento Anual que, como se sabe, era e é
feita no exercício financeiro anterior, para ser aplicada no exercício financeiro
subseqüente,8 daí a denominação anualidade, e, dessa forma se evitavam tributos instituídos por Lei nos últimos dias de determinado exercício financeiro,
para cobrança nos primeiros dias do exercício financeiro subseqüente. Era mais
uma garantia que impedia, em pleno período das festas natalinas, surpresas
desagradáveis para os contribuintes.
Este princípio foi excluído do nosso Direito Constitucional Tributário por
obra e graça (pasmem!) do C. Supremo Tribunal Federal-STF e quem melhor
explica esse lamentável fato é Brandão Machado, advogado-jurista de São Paulo,
no, sem dúvida, melhor trabalho que há no Brasil sobre Repetição do Indébito
Tributário, verbis:
Como o nosso legislador – federal, estadual e municipal – não
lograva aprovar projeto de lei tributária senão depois de aprovado o orçamento, inaplicável devia ser, no exercício seguinte, a
lei que aumentasse ou criasse imposto. Superada uma fase de
alternativas em sua jurisprudência, em que o Supremo ora acolhia a tese correta da inaplicabilidade da lei tributária, se não
previamente aprovada pelo orçamento, ora perfilhava a tese
contrária, acabou finalmente por firma o entendimento depois
resumido em sua Súmula 66 (É legítima a cobrança do tributo
que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro), adotando uma posição
mais política, e menos jurídica, diversa de como entendia a
norma constitucional toda a nossa doutrina (cfr. por todos
Rubens Gomes de Souza, Estudos de Direito Tributário, São
Paulo, 1950, p. 259) e grande número de nossos juízes.9
8
9
A respeito dos prazos para aprovação da legislação orçamentária, v. o § 2° do art. 35 do Ato
das Disposições Constitucionais Tributárias da vigente Constituição da República do Brasil, de
1988.
MACHADO, Brandão. Repetição do Indébito no Direito Tributário. In: Direito Tributário,
Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira (Coord. Brandão Machado,
Colaboradores Heinrich Beisse et alli). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 100.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
173
44
Como se vê, o C. Supremo Tribunal Federal-STF transformou o princípio
da anualidade, pelo qual os entes tributantes tinham mais uma dificuldade à
sua sanha arrecadadora, em mero princípio da anterioridade do exercício, a
ser examinado a seguir, mas que, como veremos, torna bem mais fácil a vida
desses Entes.
RESTABELECIMENTO DO PRINCÍPIO
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DE 1988
DA
ANUALIDADE
NA
Há quem sustente que o princípio da anualidade foi restabelecido no § 2°
do art. 165 da Constituição da República,10 ora em vigor, o qual tem a seguinte
redação:
§ 2° - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e
prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
(Negritei).
Como essa lei, a de diretrizes orçamentárias, novidade da Constituição
da República de 1988, precederá a Lei do Orçamento Anual e traçará as diretrizes gerais que serão seguidas por esta, boa parte da doutrina vem sustentando que o princípio da anualidade foi restabelecido, pois quaisquer alterações na legislação tributária, entre as quais instituição e majoração de tributos, terão que ser previamente previstas, para aplicação no exercício financeiro seguinte.
No entanto, esse entendimento que, se vingasse, seria mais uma garantia
para os Contribuintes, não foi acolhido pelo C. Supremo Tribunal Federal-STF,
quando do julgamento do ADC 1-1/DF, acima referida. Com efeito, embora o
Min. Relator do respectivo Acórdão, Min. Moreira Alves, não tenha tocado no
assunto, porque as partes dele não trataram, o Min. Carlos Velloso fez consignar no seu voto um tópico a seu respeito, informando que assim o fez porque
teria recebido memoriais de tributaristas dele tratando e adotou a tese de que
o referido restabelecimento não teria ocorrido, pois se isso fosse verdadeiro o
princípio da anterioridade ter-se-ia tornado inócuo, de forma que haveria de
prevalecer apenas este.
10 Como, por exemplo, Celso Ribeiro Bastos e Yves Gandra da Silva Martins. Op. cit., p. 160.
174
faculdade de direito de bauru
A jurista de Minas Gerais, Prof. Misabel Abreu Machado Derzi, sustenta ter
sido esse princípio mantido
em sentido diferente, não mais como prévia autorização orçamentária, porém como expressão de: 1) marco temporal imposto, expressamente, ao legislador financeiro na fixação do exercício; 2) marco temporal imposto ao legislador tributário para
eficácia e aplicação das leis tributárias que instituem ou majoram tributo, graças ao princípio da anterioridade; 3) marco
temporal imposto, implicitamente, ao legislador tributário na
periodização dos impostos incidentes sobre a renda e o patrimônio; e 4) previsão das alterações na legislação tributária pela
notícia, contida na lei de diretrizes orçamentárias.11
Como que aceitando a tese do restabelecimento do princípio da anualidade no
referido § 2° do art. 165, da Constituição da República, o Legislador Ordinário Federal
sempre tem colocado um dispositivo nas Leis anuais de diretrizes orçamentárias,
fazendo previsão sobre as possíveis alterações da legislação tributária para o exercício
subseqüente, como, por exemplo, consta do art. 96 da Lei n° 10.934, de 11.08.2004,
Lei essa que dispôs sobre as diretrizes par elaboração da lei orçamentária de 2005.
Nesse dispositivo há regras, estabelecendo que deveriam constar da respectiva Lei do
Orçamento Anual da União para o exercício de 2005, que lhe precederia, estimativa
da receita (o que concretizaria a denominada prévia autorização orçamentária) de
eventuais tributos novos ou de aumentos de tributos ocorridos no ano de 2004, bem
como regras dirigidas ao Poder Executivo quanto à eventual necessidade de eliminação das respectivas dotações orçamentárias (despesas) no exercício de 2005, caso os
novos tributos ou aumentos de tributos em expectativa no ano de 2004 não vingassem após a aprovação da Lei do Orçamento Anual para 2005.
Ante esse comportamento do Legislador Ordinário e a clareza do texto do
§ 2° do art. 165 da Constituição da República, quer me parecer que o princípio
da anualidade, para o campo tributário,12 foi definitivamente restabelecido.
Data maxima venia do Ministro Carlos Velloso, do C. Supremo Tribunal
Federal-STF, esse restabelecimento não torna inócuo o princípio da anterioridade
do exercício, mas apenas fortifica as garantias constitucionais dos Contribuintes,
11 DERZI, Misabel Abreu Machado. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Ed. 11ª. Rio
de Janeiro: Forense, 2003, p. 96(final da Nota 6, na qualidade de atualizadora dessa obra).
12 Na área do Direito Financeiro, não há dúvida de que ele nunca deixou de existir, não obstante a existência da Lei do Plano Plurianual para período correspondente ao tempo do mandado do Presidente da República, atualmente, 04 (quatro) anos, pois o Exercício Financeiro continua sendo anual (art. 34 da Lei n° 4.320, de 1964), o fluxo de verbas é fixado na Lei do
Orçamento Anual, os controles e o balanço público também observam o período anual.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
175
pois com a existência dos dois princípios a Lei Tributária que venha a criar ou
majorar tributo terá que ser: a) previamente prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (§ 2° do art. 165 Constituição da República), Lei esta que, pela
Constituição atual, terá que ser aprovada até o último de junho de cada de cada
ano(inciso II do § 2° do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República); b) publicada no exercício anterior (art. 150, III, b
da Constituição da República); c) e só poderá ser aplicada 90 (noventa) dias após
sua publicação (art. 150, III, c da Constituição da República, com redação da
Emenda Constitucional n° 42, de 2003).
O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO
O princípio da anterioridade do exercício exige apenas que a lei, instituidora ou majoradora de tributo, seja publicada no exercício anterior, de forma
que o tributo instituído ou a parcela da majoração só possa ser exigido no exercício subseqüente.
O § 29 do art. 150 da Constituição da República, de 1967, que tinha redação quase idêntica à do § 34 do art. 141 da Constituição da República, de 1946,
foi deslocado, pela Emenda 01, de 1969, para o § 29 do art. 153 da mesma Carta,
e nessa oportunidade, os militares, que então dirigiam o País com mão de ferro,
aproveitaram-se do mencionado entendimento da nossa Suprema Corte e o
incorporaram no texto da Constituição, transformando o princípio constitucional da anualidade em mero princípio da anterioridade do exercício. Mais tarde,
pela Emenda Constitucional n° 8, de 1977, os militares retiraram desse princípio o seu conteúdo constitucional, pois passaram a submetê-lo apenas à Lei
Complementar, verbis:
§ 29 – Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o
estabeleça, nem cobrado, em cada exercício, sem que a lei que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do início do exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfandegária e a de transporte,
o imposto sobre produtos industrializados e outros especialmente
indicados em lei complementar, além do imposto lançado por motivo de guerra e demais casos previstos nesta Constituição.
Com essa redação, esse princípio deixou de ter status constitucional, ou
seja, não mais necessitava de alteração da própria Constituição para se arrolar
algum tributo à sua margem, mas de mera Lei Complementar.
Na Constituição da República, de 1988, ora em vigor, o princípio da anterioridade do exercício voltou a ser rigorosamente constitucional, ou seja, o rol
dos tributos que a própria Constituição coloca à margem desse princípio não
176
faculdade de direito de bauru
poderá ser alargado por Lei Complementar, como o permitiu a Emenda
Constitucional n° 8, de 1977, à Constituição de 1967.
Eis o seu atual tratamento constitucional no Brasil:
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos
Municípios:
III – cobrar tributos:
b) o mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a
lei que os instituiu ou aumentou.
A Emenda Constitucional n° 42, de 19.12.2003, fortificou este princípio,
pois acrescentou a alínea “c” ao inciso III desse art. 150, com a seguinte redação:
c) antes de decorrido noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.
Portanto, a partir dessa alínea, além de a lei ter que ser publicada no exercício anterior, só poderá ser aplicada após noventa dias da sua publicação, evitando,
assim, as costumeiras majorações de tributos feitas nos últimos dias de dezembro e
que entravam em vigor no primeiro de janeiro do exercício subseqüente.
Portanto, alargou-se a garantia do contribuinte, vale dizer, deu-se-lhe um
maior tempo para digerir a desagradável surpresa.
Registre-se, todavia, que esse alargamento das garantias dos contribuintes
não se aplica aos tributos que já se encontravam arrolados na redação originária
do § 1° do art. 150 da Constituição da República, com exceção do Imposto sobre
Produtos Industrializados,13 nem às alterações do Imposto de Renda e da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Urbana, conforme a nova redação (péssima, digase de passagem) dada a esse parágrafo por essa Emenda Constitucional n° 42,
de 2003.
Eis a confusa nova redação desse dispositivo constitucional, após a
Emenda Constitucional n° 42, de 2003:
Art. 150 ........
§ 1° - A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e art. 154-II; e a vedação
13 Note-se que o inciso IV do art. 153 da Constituição da República, no qual está previsto o
Imposto sobre Produtos Industrializados, não consta da segunda parte da nova redação do §
1° do art. 150 dessa Carta, após a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n° 42,
de 2003, transcrito na nota seguinte.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
177
do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148,
I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I (Negritei).
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E DE
INTERESSE DE CLASSE
Estas contribuições, previstas no art. 149 da Constituição da República,
não são tidas como contribuições da seguridade social, logo submetem-se ao
princípio da anterioridade como acima visto, inclusive com observância do
prazo de 90 (noventa) dias introduzido pela Emenda nº 42, de 2003.14
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Como se sabe, depois que o C. Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a taxa de iluminação pública, que era cobrada pelos municípios, estes conseguiram, via Congresso Nacional, alterar a Constituição da República, pela Emenda
Constitucional nº 39, de 2002, que lhes outorgou competência e ao Distrito Federal
para instituir e cobrar essa contribuição, que não é de seguridade social, tampouco
de intervenção no domínio econômico ou de interesse de classe.
Essa nova contribuição submete-se ao princípio da anterioridade do exercício, acima analisado, por expressa determinação do art. 149-A da Constituição
da República, onde ela está prevista.
CLÁUSULA PÉTREA
O STF já decidiu que o princípio da anterioridade do exercício faz parte
dos direitos individuais e por isso se encontra amparado pela cláusula pétrea
do inciso IV do § 4º do art. 60 da Constituição da República (ADIN nº 93937/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU de 18.03.1994, Ementário nº 1737-02),
verbis:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário. Ação Direta
de Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional e de Lei
Complementar.
IPMF.
Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – I.P.M.F.
14 Exceto as contribuições de intervenção no domínio econômico previstas no § 4° do art. 177 da
Constituição da República, acrescentado pela Emenda n° 33, de 2001, conforme demonstrado
no item 3 do tópico “Exceções” abaixo.
178
faculdade de direito de bauru
Artigos 5º, § 2º, 60, § 4º, incisos I e IV, 150, incisos III, “b”, e VI,
“a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal.
Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de
Constituinte derivada, incidindo em violação à Constituição
originária, pode ser declarada inconstitucional, pelo Supremo
Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da
Constituição (art. 102, I, “a”, da C.F.).
A Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.1993, que, no art. 2º,
autorizou a União a instituir o I.P.M.F., incidiu em vício de
inconstitucionalidade, ao dispor, no parágrafo 2º desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica “o art. 150, III, “b”
e VI”, da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes
princípios e normas imutáveis (somente eles, não outros):
1º - o princípio da anterioridade, que é garantia individual
do contribuinte (art. 5º, § 2º, art. 60, § 4º, inciso IV e art. 150,
III, “b” da Constituição);
2º - o princípio da imunidade tributária recíproca(que veda à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços uns
dos outros) e que é garantia da Federação (art. 60, § 4º, inciso I,
e art. 150, VI, “a”, da CF);
3º - a norma que, estabelecendo outras imunidades, impede a
criação de impostos (art. 150, VI) sobre:
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei (Negritei).
Assim sendo, qualquer alteração por Emenda Constitucional que vise a
diminuir o alcance desse princípio será considerada inconstitucional. Como
veremos abaixo, no item “2” do tópico “Exceções”, temos atualmente um caso
que incide nesse tipo de inconstitucionalidade.
EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
1. O legislador constituinte originário colocou à margem deste princípio
tributos que têm forte carga de extrafiscalidade ou, no mínimo, em que esta
carga supera a fiscalidade.
Realmente, no texto originário da vigente Constituição da República, o §
1º do seu art. 150 estabeleceu que não se submetem a este princípio o Imposto
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
179
de Importação sobre produtos estrangeiros, o Imposto de Exportação, para o
exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, o Imposto sobre Produtos
Industrializados, o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários, previstos, respectivamente, nos incisos I, II, IV e V da Constituição da República, bem como o Imposto
Extraordinário previsto no inciso II do art. 154 da mesma Carta. Também não
ficou submetido a esse princípio o Empréstimo Compulsório previsto no inciso I do art. 148 da referida Carta, entendimento esse decorrente do final do
inciso II desse mesmo dispositivo que, ao tratar de outra modalidade de
Empréstimo Compulsório, estabeleceu que esta ficava submetida a tal princípio, logo aquela não.
Os quatro primeiros impostos são fortemente extrafiscais, porque têm
por finalidade ser utilizados para resolução de problemas econômicos, sociais,
industriais, comerciais, financeiros e etc., ou seja, o governo não os utiliza
como forma de aumentar ou pelo menos tornar estável a arrecadação tributária, mas sim para diversos fins, como, por exemplo, incentivar a produção de
determinados produtos no Brasil, por exemplo, diminuindo a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados e paralelamente aumentando a alíquota do Imposto de Importação do similar estrangeiro ou então, outro exemplo, diminuindo ou eliminando a alíquota do Imposto sobre Operações
Financeiras para o capital estrangeiro que seja introduzido no País para fins de
investimento e, ao mesmo tempo, aumentando a alíquota desse imposto para
o capital meramente especulativo, resolvendo assim, respectivamente, problemas econômico-industriais e econômico-financeiros.
Quanto ao Imposto Extraordinário (art. 154-II da CR), é visível a
necessidade de não o submeter a esse princípio, em face da urgência da
necessidade de arrecadação das respectivas receitas, para aplicação no preparo para iminente guerra externa ou para fazer frente às despesas de guerra externa já em andamento. Idem com relação ao Empréstimo
Compulsório previsto no inciso I do art. 148 da Constituição da República,
necessário para a cobertura de despesas decorrentes de calamidade pública
ou, novamente, de guerra externa ou sua iminência. Essas despesas, tipicamente extraordinárias, portanto imprevisíveis, inesperadas, daí não previstas no orçamento anual, não poderiam esperar o exercício subseqüente,
senão o Brasil poderia perder a guerra por falta de recursos ou não mais
poderia resolver a calamidade pública então presente. Note-se que para a
guerra externa ou sua iminência, a União poderá instituir o Imposto
Extraordinário e simultaneamente o Empréstimo Compulsório do inciso I
do art. 148 da Constituição da República, este por Lei Complementar, aquele por Medida Provisória ou por Lei.
180
faculdade de direito de bauru
2. A Emenda Constitucional n° 33, de 11.12.2001, colocou à margem desse
princípio alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intermunicipal e
Interestadual e de Comunicações-ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes, que sejam restabelecidas por Convênio ICMS firmado pelos Estados e
Distrito Federal, e o fez pela alínea “c” do § 4° que acrescentou ao art. 155 da
Constituição da República, verbis:
§ 4° - Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
IV – as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2°, XII, g,
observando-se o seguinte:
c – poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
À luz do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, consignado
no v. acórdão da ADIn por último referida, quer nos parecer que essa regra
introduzida pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001, é inconstitucional,
porque contraria a cláusula pétrea do inciso IV do 4° do art. 60 da
Constituição da República, posto que a fixação das alíquotas do imposto ali
tratado ficará à margem do princípio da legalidade e do princípio da anterioridade do exercício.
3. A Emenda Constitucional, referida no item anterior, também acrescentou ao art. 177 da Constituição da República o § 4°, dando competência à
União para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico
sobre as atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. No inciso I desse §
4° deu-se competência ao Poder Executivo para reduzir ou restabelecer as alíquotas dessa Contribuição, sem submissão ao princípio da anterioridade do
exercício, conforme consta da alínea “b” do inciso I desse § 4°.
Essa regra, quanto ao restabelecimento da alíquota pelo Poder Executivo,
sem observância do princípio da anterioridade do exercício, não nos parece ferir
a cláusula pétrea do inciso IV do § 4° do art. 60 da Constituição da República,
porque o Poder Executivo apenas observará limites mínimos e máximos já previamente fixados em Lei.
No entanto, caso a lei aumente o limite máximo da alíquota, aí sim terá
que observar o princípio da anterioridade do exercício.
4. Também não se submetem ao princípio constitucional da anterioridade do exercício a lei que revoga isenção de tributos que não incidem
sobre renda e patrimônio, como, por exemplo, leis revogadoras de isenções
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
181
do ICMS (contrario sensu do inciso III do art. 104 do CTN e Súmula 615 do
STF).15
5. O C. Supremo Tribunal Federal decidiu que não se submete a este princípio lei tributária que altere o índice de correção monetária, verbis:
A utilização da UFIR para a correção monetária da contribuição previdenciária, instituída pela Lei nº 8.383/91, não se sujeita ao princípio da anterioridade (CF, art. 195, § 6º), uma vez
que houve apenas a substituição do indexador anteriormente
utilizado por outro fator de correção monetária, não havendo,
portanto, modificação substancial desta contribuição de modo
a justificar a exigência do prazo de 90 dias para sua entrada em
vigor. RE 201.618-RS(DJU DE 01.08.1997). RE 236.472-PE, Rel.
Min. ILMAR GALVÃO, EM 29.06.1999 fonte: informativo STF nº
155, de 04.09.1999, p. 2.
Mencionado entendimento do C. STF está de acordo com o § 2º do art. 97
do CTN, que estabelece não haver necessidade de Lei a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo do tributo.
E explica-se pelo fato de que correção monetária não aumenta tributo,
apenas repõe o poder aquisitivo da moeda.
6. Também a data do recolhimento do tributo, segundo o C. Supremo
Tribunal Federal, não se submete a este princípio. No julgamento dos RE’s 228.796SC e 240.266-PR, Rel. Originário Min. Marco Aurélio e para o Acórdão Min. Maurício
Corrêa, em 22.9.199, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, por maioria,
entendeu que a simples alteração da data do recolhimento da Contribuição PISPASEP, como a veiculada na Lei nº 8.218/91, não se sujeitaria ao princípio da anterioridade de 90 dias, fixado no § 6º do art. 195 da Constituição da República (vencido apenas o Min. Marco Aurélio, que entendia que mencionada regra constitucional aplicava-se não apenas na instituição das Contribuições ali tratadas, mas também nas alterações do prazo para recolhimento).16
A nosso sentir, caso a data do recolhimento do tributo seja reduzida ou
antecipada para data mais próxima, embora não represente aumento direto do
tributo, corresponde a aumento do encargo tributário do Contribuinte, pelo que
deveria a respectiva regra ser submetida a este princípio.
7. O Imposto sobre Venda a Varejo de Combustíveis, imposto previsto na
redação originária da Constituição da República, de 1988, e revogado pelo
15 Súmula 615 – O princípio constitucional da anualidade (§29 do art. 153 da Constituição
Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICM.
16 FONTE: Informativo STF nº 163, set de 1999, p. 1.
182
faculdade de direito de bauru
Emenda Constitucional n° 3, de 1993, também ficou à margem desse princípio,
conforme §§ 1º e 6º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias dessa Carta.
A respeito desse assunto, decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:
1. A instituição do Imposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis Líquidos e Gasosos por lei municipal não ofende
ao preceito constitucional inscrito no inciso III do art. 156, já
que o artigo 34, § 1º, das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, de 1988 determinou que a norma contida
no texto permanente entraria em vigor com a sua promulgação,
tendo o § 6º excepcionado o tributo do princípio da anterioridade. 2. O disposto no art. 156, § 4º, da Carta Federal vigente
não afastava a competência do município para fixar a alíquota
da exação enquanto não fosse editada lei complementar (ADCT,
CF/88, art. 34, § 7º).17
8. As leis instituidoras ou majoradoras das Contribuições da Seguridade
Social, introduzidas no direito constitucional do Brasil pela Constituição da
República, de 1988, previstas no art. 195 dessa Constituição, submetem-se a
uma anterioridade diferenciada, qual seja, só podem ser aplicadas noventa dias
depois de publicadas, não importando se no exercício anterior ou se no mesmo
exercício (conforme § 6° do art. 195 da Constituição da República).
O C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa anterioridade nonagesimal também se aplica à Contribuição PIS (referida no art. 239 da Constituição
da República) e às Contribuições que os Estados e Municípios podem cobrar dos
seus servidores, então previstas no Parágrafo Único do art. 149 da mesma Carta
e, hoje, por conta da Emenda Constitucional 33, de 2001, deslocadas para o §1°
desse mesmo artigo.18 Afigura-se-me correto esse entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, porque tais contribuições são enquadráveis no largo leque da
Seguridade Social.
17 FONTE: Informativo STF nº 165, de 13.10.1999, pág. 3.
18 RE 232. 896-3/PA, Plenário do STF, onde foram invocadas as ADIn. 1.617-MS, rel. Min.
Octávio Gallotti, DJ de 15.08.1997, e ADIn 1.610-DF, Rel. Min. Sydney Sanches; e ainda o RE
221.856-PE, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma). Apud Despacho do Min. Marco Aurélio, nos
autos do RE 260.874-2, publicado no DJ de 22.05.2000, nº 97-E, seção 1, p. 15-16. O § 6º do
art. 195 da Constituição da República (90 dias, aplicável também às Contribuições do § Único
do art. 149 e à Contribuição PIS(RE 232. 896-3/PA, Plenário do STF, onde foram invocadas as
ADIn. 1.617-MS, rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 15.08.1997, e ADIn 1.610-DF, Rel. Min.
Sydney Sanches; e ainda o RE 221.856-PE, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma). Apud Despacho
do Min. Marco Aurélio, nos autos do RE 260.874-2, publicado no DJ de 22.05.2000, nº 97-E,
seção 1, p. 15-16.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
183
CONCLUSÕES
O C. Supremo Tribunal Federal patrocinou, antes da Emenda
Constitucional n° 01, de 1969, à Constituição da República, de 1967, o fim do
princípio constitucional da anualidade, transformando-o em princípio constitucional da anterioridade do exercício, como tal incorporado na referida
Constituição da República, pela mencionada Emenda Constitucional, diminuindo, assim, os princípios da não surpresa, ou seja, as garantias individuais dos
Contribuintes.
A Emenda Constitucional n° 8, de 1977, excluiu o caráter constitucional
do princípio da anterioridade, pois permitiu, na nova redação que deu ao § 29
do art. 153 da Constituição da República, de 1967, então vigente, que ele fosse
alterado por mera Lei Complementar.
O caráter constitucional do princípio da anterioridade do exercício foi restabelecido na Constituição da República, de 1988, onde está expressamente previsto na alínea “b” do inciso III do seu art. 150, tendo sido reforçado pela
Emenda Constitucional n° 42, de 2003, que acrescentou, ao referido inciso do
art. 150, a alínea “c”, pela qual a Lei, instituidora ou majoradora de tributo, além
de ter que ser publicada no exercício anterior, só poderá ser efetivamente aplicada noventa dias após a data da sua publicação, observadas das exceções arroladas no § 1° desse art. 150, com a nova redação que lhe deu essa Emenda
Constitucional.
A exceção ao princípio constitucional da anterioridade do exercício, introduzida pela Emenda Constitucional n° 33, de 11.12.2001, que colocou à margem desse princípio alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Intermunicipal e Interestadual e de Comunicações-ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes, que venham a ser restabelecidas por Convênio ICMS
firmado pelos Estados e Distrito Federal, e o fez acrescentando alínea “c” ao § 4°
do art. 155 da Constituição da República, há de ser considerada inconstitucional, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal consignado no v.
acórdão relativo à ADIN nº 9393-7/DF, cuja ementa foi acima transcrita, segundo
o qual este princípio encontra-se agasalhado como cláusula pétrea no inciso IV
do § 4° do art. 60 da vigente Constituição da República, posto que faz parte das
garantias individuais previstas nessa Carta, de forma que não poderá ser reduzido ou excluído por Emenda Constitucional.
A regra da alínea “b” do inciso I do § 4° do art. 177 da Constituição da
República, acrescido pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001, e que exclui
do princípio da anterioridade do exercício restabelecimento de alíquota das contribuições nele previstas, a ser concretizado pelo Poder Executivo, não é inconstitucional, desde que a Lei que institui as alíquotas observe esse princípio.
184
faculdade de direito de bauru
Não se submetem ao princípio da anterioridade as situações descritas nos
itens do tópico “Exceções” do corpo deste trabalho, sendo duvidosa a constitucionalidade da exceção da alínea “c” do § 4° do art. 155 da Constituição da
República, introduzida pela Emenda Constitucional n° 33, de 2001, pelas razões
acima aduzidas.
O princípio constitucional da anualidade, no sentido de que as Leis que
instituam ou majorem tributos só podem ser cobrados no exercício subseqüente ao em que foram publicadas se também forem previstas nas Leis
Orçamentárias, foi restabelecido, ressaltando-se que essa tese vem sendo adotada pelo Congresso Nacional, posto que, anualmente, nas leis de Diretrizes
Orçamentárias, tem constado dispositivo ou dispositivos tratando das alterações
na legislação tributária e até mesmo estabelecendo como o Poder Executivo
deverá eliminar dotações orçamentárias (despesas) caso não se transforme em
lei o projeto ou a Medida Provisória majoradora ou instituidora de tributo, que
estava sendo discutida no ano em que a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a lei
do Orçamento Anual foram elaboradas (a título de exemplo, v. artigo 96 da Lei
n° 10.934, de 2004, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005).
REFERÊNCIAS
LIVROS
BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil.
6° Volume. São Paulo: Saraiva.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Ed. 6ª, Rio de
Janeiro: Forense, 2002.
COMPARATO, Fábio Konder. Direito Público, Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva,
1996.
DERZI, Misabel Abreu Machado. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro.
Ed. 11ª. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
MACHADO, Brandão. Repetição do Indébito no Direito Tributário. In: Direito
Tributário, Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira(Coord. Brandão
Machado, Colaboradores Heinrich Beisse et alli). São Paulo: Saraiva, 1984.
MARTÍNEZ, Pedro Soares. Direito Fiscal. Ed. 10ª. Coimbra(Portugal): Livraria Almedina,
1998.
SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio Constitucional da Igualdade. Rio de
Janeiro: Lumen & Juris, 2001.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
185
JURISPRUDÊNCIA
RE 232. 896-3/PA, Plenário do STF, onde foram invocadas as ADIn. 1.617MS, rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 15.08.1997, e ADIn 1.610-DF, Rel. Min.
Sydney Sanches; e ainda o RE 221.856-PE, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma).
Apud Despacho do Min. Marco Aurélio, nos autos do RE 260.874-2, publicado
no DJ de 22.05.2000, nº 97-E, seção 1, p. 15-16. O § 6º do art. 195 da
Constituição da República(90 dias, aplicável também às Contribuições do §
Único do art. 149 e à Contribuição PIS(RE 232. 896-3/PA, Plenário do STF, onde
foram invocadas as ADIn. 1.617-MS, rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 15.08.1997,
e ADIn 1.610-DF, Rel. Min. Sydney Sanches; e ainda o RE 221.856-PE, Rel. Min.
Carlos Velloso, 2ª Turma). Apud Despacho do Min. Marco Aurélio, nos autos do
RE 260.874-2, publicado no DJ de 22.05.2000, nº 97-E, seção 1, p. 15-16.
CONSTITUIÇÃO
Constituição da República Federativa do Brasil. Ed. 35ª. São Paulo:
Saraiva, 2005(Coleção Saraiva de Legislação).
A força normativa das diretrizes do Conselho
Nacional de saúde sobre a EC 29/2000
Marcílio Toscano Franca Filho
Mestre em Direito Econômico (UFPB).
Doutorando em Direito Comunitário (Universidade de Coimbra - Portugal).
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Ex-aluno da Universidade Livre de Berlin (Alemanha).
Ex-estagiário do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias (Luxemburgo).
Foi professor do Dpto. de Direito Público da Universidade Federal da
Paraíba e da Escola Superior de Advocacia da OAB/PB.
Nevita Maria Pessoa de de Aquino Franca
Acadêmica de Direito (UNIP - Centro Universitário de João Pessoa) e de Filosofia (UFPB).
Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (CNPq/PIBIC/UFPB).
Sumário: 1. Introdução. 2. Diretrizes no Direito Comparado e Soft Law. 3. O Princípio
da Juridicidade e a Máxima Efetividade Constitucional. 4. À Guisa de Conclusão. 5.
Bibliografia Citada.
Palavras-chave: diretrizes, conselho nacional de saúde, soft law.
1.
INTRODUÇÃO
A fim de alcançar o piso constitucional dos investimentos em saúde, determinado pela Emenda Constitucional nº 29/2000,1 muitos ordenadores de des1
A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198
da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Com tais alterações, a Emenda vincula recursos orçamentários da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal ao financiamento obrigatório de ações e serviços públicos de saúde.
188
faculdade de direito de bauru
pesa municipais e estaduais têm pretendido contabilizar em favor do cômputo
daqueles gastos as despesas relativas ao saneamento básico e à limpeza pública
e recolha de resíduos sólidos urbanos (lixo). Contrariando expressamente tal
pretensão há, porém, uma resolução específica do Conselho Nacional de Saúde,
um órgão de extração constitucional (art. 77, § 3º ADCT/88), integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde e auxiliar à normatização, formulação e execução de políticas públicas de saúde no país. Inúmeros prefeitos, governadores
e secretários municipais e estaduais têm alegado que tal resolução do Conselho
Nacional de Saúde não é juridicamente vinculante ou não lhes é aplicável, basicamente, em virtude da autonomia constitucionalmente assegurada aos entes
federativos ou em razão da inexistência de uma lei formal a regular a matéria. Ao
assim proceder, essas autoridades tentam alcançar, com menos esforços, os patamares mínimos de gastos públicos em saúde que passaram a ser exigidos pela
Emenda Constitucional nº 29/2000.
O surgimento do Conselho Nacional de Saúde remonta à Lei nº 378, de 13
de janeiro de 1937, que, ao dar “nova organização ao Ministério da Educação
e Saúde Pública”, criou esse órgão colegiado com a atribuição de “assistir” tecnicamente o Ministério, juntamente com o Conselho Nacional de Educação,
ambos na qualidade de “órgãos de cooperação” (art. 67). Em 1990, o Conselho
Nacional de Saúde ganhou renovada fisionomia institucional pela edição do
Decreto n° 99.438, de 07 de agosto de 1990, que dispôs sobre sua organização
e competências. Logo a seguir, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, clarificou suas atribuições através do seguinte dispositivo:
§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
Na esteira de tais competências, a Resolução nº 322, de 08 de maio de
2003, do Conselho Nacional de Saúde, assim dispôs:
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua centésima
trigésima reunião Ordinária, realizada nos dias 07 e 08 de maio
de 2003, (...) RESOLVE:
I - Aprovar as seguintes diretrizes acerca da aplicação da
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000: (...)
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
189
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Quinta Diretriz: Para efeito da aplicação da Emenda
Constitucional nº 29, consideram-se despesas com ações e
serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e
outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelas
três esferas de governo, conforme o disposto nos artigos 196
e 198, § 2º, da Constituição Federal e na Lei n° 8080/90, relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive
administrativos, que atendam, simultaneamente, aos
seguintes critérios:
I – sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal,
igualitário e gratuito;
II – estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo;
III – sejam de responsabilidade específica do setor de saúde,
não se confundindo com despesas relacionadas a outras
políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e
econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de
saúde. (...)
Sétima Diretriz: Em conformidade com o disposto na Lei
8.080/90, com os critérios da Quinta Diretriz e para efeito da
aplicação da EC nº 29, não são consideradas como despesas
com ações e serviços públicos de saúde as relativas a:
I – pagamento de aposentadorias e pensões;
II - assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade (clientela fechada);
III - merenda escolar;
IV - saneamento básico, mesmo o previsto no inciso XII da Sexta
Diretriz, realizado com recursos provenientes de taxas ou tarifas e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que
excepcionalmente executado pelo Ministério da Saúde, pela
Secretaria de Saúde ou por entes a ela vinculados;
V - limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo);
VI - preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos
órgãos de meio ambiente dos entes federativos e por entidades
não governamentais;
VII – ações de assistência social não vinculadas diretamente a
execução das ações e serviços referidos na Sexta Diretriz e não
promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS;
190
faculdade de direito de bauru
VIII – ações e serviços públicos de saúde custeadas com recursos
que não os especificados na base de cálculo definida na primeira diretriz.2
A respeito dessas limitações impostas pela Resolução nº 322 do Conselho
Nacional de Saúde sobre a aplicação da EC 29/2000, as questões centrais a serem
desenvolvidas ao longo deste texto são as seguintes: estão as prefeituras e governos estaduais obrigados a cumprir as diretrizes expedidas pelo Conselho
Nacional de Saúde? Qual a natureza dessas diretrizes? A autonomia municipal e
estadual e o princípio da legalidade formal autorizam os entes federativos a desconhecer aquelas normas?
2. DIRETRIZES NO DIREITO COMPARADO E SOFT LAW
Antes de mais, é preciso destacar a natureza jurídica das diretrizes emanadas do
Conselho Nacional de Saúde, a partir de uma incursão no Direito Comparado.3 Na
verdade, as diretrizes não constituem uma figura jurídica recente nem tampouco uma
exclusividade do Conselho Nacional de Saúde. Desde o princípio do século XX,
noções peculiares de “diretriz” (também chamadas de “diretivas”) vêm sendo aplicadas pela doutrina do Direito Constitucional, do Direito Administrativo, do Direito
Econômico e do Direito Civil em sistemas jurídicos tão distintos quanto o alemão, o
francês ou o italiano. Em qualquer uma dessas ocorrências, porém, a própria origem
semântica do termo “diretriz” já indica, de partida, as possibilidades de seu emprego
e utilização no plano do Direito: “a palavra diretriz é um substantivo derivado,
segundo o Dicionário Georges-Calonghi, do radical latino ‘dis-rego’ comum ao
verbo ‘dirigo’ (dirigir, endereçar) e a outros substantivos como ‘director’, ‘directio’,
de significado evidente”.4
2
3
4
Em 22 de setembro de 2003, o Governo do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI 2999) contra a Resolução 322/03 do Conselho Nacional de
Saúde. O Estado alegou violação aos arts. 198, 24, 23, 196 e 200 da Constituição Federal, e ao
artigo 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Segundo o governo
fluminense, a resolução dispõe sobre matérias que a Constituição reserva à lei complementar.
Setenta e cinco entidades ligadas à saúde ou a movimentos populares ofereceram razões em
defesa das competências do CNS, na qualidade de amicus curiae. De acordo com o que informa o Supremo Tribunal Federal (www.stf.gov.br), um pedido de vista do Min. Marco Aurélio,
no dia 16 de fevereiro de 2005, adiou o julgamento da ação depois que o Relator, o Min. Gilmar
Mendes, votara no sentido de negar seguimento à ADI, tendo sido acompanhado pelos
Ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Britto, Cezar Peluso e Ellen Gracie.
Algumas das considerações lançadas a seguir, embora sob outro enfoque, já foram iniciadas em
FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. As Diretivas Comunitárias – Elementos para uma Teoria Geral.
Revista de Direito Constitucional e Internacional. v. 9, n. 37, p. 07-26, out./dez. 2001.
Trad. nossa de CAPELLI, Fausto. Le Direttive Comunitarie. Milano: Giuffré, 1983, p. 08, his verbis:
“L’origine semantica del termine non si presta ad alcun equivoco. La parola ‘direttiva’ è un sostantivo
ricavato, secondo il dizionario Georges-Calonghi, dalla radice latina ‘dis-rego’ comune al verbo ‘dirigo’
(dirigere, indirizzare) e ad altri sostantivi como ‘director’, ‘directio’, di significato evidente.”
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
191
Enquanto categoria juridicamente definida, a diretriz nasceu como “diretriz da política” (“Richtlinie der Politik”) no seio do Direito Constitucional alemão. É na Constituição de Weimar, de 1919, cujo art. 56 atribuía ao chanceler a
competência para fixação das diretrizes políticas do Reich, a serem concretizadas
pelos seus ministros, que se encontra a primeira manifestação positiva dessa
figura jurídica.5 Na ordem constitucional inaugurada com a nova Lei
Fundamental, em 1949, tanto a “competência diretiva” (Richtlinienkompetenz)
do Chanceler Federal alemão como a margem de atuação discricionária dos
ministros federais, limitada pelas diretrizes políticas dadas pelo Bundeskanzler,
foram preservadas pelo art. 65º da Constituição germânica do pós-guerra.6 A partir dessas primeiras manifestações de ordem político-constitucional as diretrizes
invadem, paulatinamente, diversas outras zonas de aplicação.
Para além das diretrizes políticas alemãs, também no campo do Direito
Privado, as diretrizes encontraram ampla utilidade e mereceram expressa referência, entre outros, no Código Civil italiano, em seus arts. 861, 2147, 2167 e
2174, por exemplo (SCIULLO, op. cit., p. 35). É, ademais, do Direito Italiano que
advêm numerosos exemplos de utilização de diretrizes como instrumento da
intervenção do Estado na economia, as chamadas “direttive economiche”,7 já
agora numa perspectiva de manifestação e instrumento do Poder Hierárquico do
órgão ou entidade de onde emana a diretiva em relação ao seu destinatário.
Também foi na arena das medidas de direção econômica que CANOTILHO,8 há tem5
6
7
8
CAPELLI, op. cit., p. 14, e SCIULLO, Girolamo. La Direttiva nell’Ordinamento Amministrativo.
Millano: Giuffrè, 1993, p. 35. O art. 56 da Weimarer Reichesverfassung, de 11 de agosto de 1919, ao
mesmo tempo em que concedia ao chanceler uma “competência diretiva” (Richtlinienkompetenz)
sobre o governo, dividia com todo o colegiado de ministros – o Gabinete – a responsabilidade política perante o parlamento (GUSY, Christoph. Die Weimarer Reichesverfassung. Tübingen: Mohr
Siebeck, 1997, p. 135, e KRÖGER, Klaus. Einführung in die Jüngere Deutsche Verfassungsgeschichte
(1806-1933). München: C. H. Beck, 1988, p. 145). Aquele texto constitucional estatuía verbum ad
verbum: “(1) Der Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür gegenüber dem
Reichstag die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Reichsminister den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Reichstag” (“O
Chanceler do Reich define as diretivas da política e por elas responde perante o Reichstag. No quadro
dessas diretivas, cada Ministro do Reich conduz os negócios a ele confiados de modo independente e sob
sua própria responsabilidade perante o Reichstag”, segundo a nossa tradução).
“Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.
Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und
unter eigener Verantwortung. (...)” (“O Chanceler Federal fixa as diretivas da política e assume a
responsabiliade por elas. No âmbito dessas diretivas, cada Ministro Federal dirige o seu ministério de forma independente e sob a própria responsabilidade. (...)” – trad. nossa). Ainda na
Alemanha contemporânea, é resguardada pelo seu Direito Administrativo a possibilidade de
uma autoridade pública dirigir ordens ou comando administrativos a subordinados mediante a expedição de uma “diretriz”, “Richtlinie” em alemão (MAURER, Hartmut. Allgemeines
Verwaltungsrecht. Munique: C.H.Beck, 2000, p. 604-605).
D’ALBERGO, Salvatore. Direttiva. In: AA.VV. Enciclopedia del Diritto. v. XII. Milano: Giuffrè,
p. 602-613, 1964, p. 609.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Problema da Responsabilidade do Estado por Actos
Lícitos. Coimbra: Almedina, 1974, p. 201-202.
192
faculdade de direito de bauru
pos, indicou a existência das diretrizes em um problemático lugar algures entre
a norma jurídica e o ato jurídico.9
Na seara do Direito Administrativo, conforme assinalam BOULOUIS,10 CAPELLI
(op. cit., p. 10) e SCIULLO (op. cit., p. 01), coube ao Professor MAURICE HAURIOU, no
ano de 1925, manifestar uma das primeiras teorizações dogmáticas conhecidas
acerca dessas disposições normativas ao se pronunciar sobre o acórdão
“Association amicale du personnel de la Banque de France” do Conseil d’État francês, no qual uma diretriz administrativa do Banco Central da França era questionada. Nesses primeiros anos de desenvolvimento e amadurecimento doutrinário, a
diretriz (ou diretiva) representava um ato administrativo interno que continha “um
embrião de regra jurídica”11 com a finalidade de autolimitar um poder discricionário através de uma declaração de intenções – “une règle que le pouvoir s’impose
à lui même”.12 Em que pese a inexistência de expressas referências legislativas ou
regulamentares ao termo “diretriz”, a partir de então, não foram raras as oportunidades em que se pôde constatar, na Administração ou na jurisprudência administrativa francesas, menções às diretrizes nos mais distintos campos de aplicação:
ordenação urbanística do território, emanações do Ministro da Defesa aos comandos militares regionais, estabelecimento de medidas sociais relativas a habitações,
deliberações da comissão interministerial de tarifas, disciplinamento do pagamento de indenizações por viagens de servidores públicos etc.13 Atualmente, para a dogmática jus-administrativista francesa, as diretrizes compõem, ao lado das circulares,
aquela espécie de atos denominada genericamente de “atos unilaterais não decisórios” (“actes unilatéraux non décisoires”), cuja função principal é preparar ou
moldar a posterior tomada de decisão pela autoridade administrativa, sempre no
intuito de harmonizar, organizar e racionalizar o agir administrativo, evitando contradições ou discriminações involuntárias.14
Traço comum a todas essas diretivas políticas, civilísticas, econômicas ou
administrativas é o fato de se destinarem a orientar a ação dos seus destinatários,
9
10
11
12
13
14
Na fronteira entre Direito e economia, exemplos de “diretrizes” são utilizados também na
União Européia, no MERCOSUL e na União Africana.
BOULOUIS, Jean. Sur une Catégorie Nouvelle d’Actes Juridiques: Les Directives. In: WALINE,
Marcel (avant-propos). Recueil d’Études en Hommage a Charles Eisenmman. Paris: Cujas, p.
191-203, 1975, p. 191.
HAURIOU, Maurice. Police Juridique et Fond du Droit. Revue Trimestrielle de Droit Civil. a.
25, n. 2, p. 264-312, abr./jun. 1926, p. 271. Nesse artigo, o Prof. Hauriou traça uma distinção
entre as diretrizes francesas e os “standards” do ordenamento jurídico inglês.
HAURIOU, Maurice, Comentários ao Acórdão “Association amicale du personnel de la Banque
de France” do Conselho de Estado. Recueil Général des Lois et des Arrêts (Rec. Sirey). III parte,
p. 33-37, 1925, p. 33.
DELVOLVÉ, Pierre. La Notion de Directive. L’Actualité Juridique Droit Administratif. p. 459473, outubro 1974.
CHAPUS, René. Droit Administratiff General. Tome 1. Paris: Montchrestien, 2001, p. 511 e 519;
CLIQUENNOIS, Martine. Que Reste-t-il des Directives? L’Actualité Juridique Droit
Administratif. n. 01, p. 03-14, janeiro 1992.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
193
deixando-lhes, porém, a responsabilidade pela execução dos atos. Desse modo,
pode-se entender que a diretriz é um fenômeno heterônomo e apenas se concretiza por intermédio de outras medidas, de autoria de seus destinatários
(DELVOLVÉ, op. cit. p. 459-460). Na maior parte dos casos, as diretrizes previstas
nos ordenamentos jurídicos nacionais enquadram-se no modelo jurídico-normativo que o filósofo NORBERTO BOBBIO chamou de “normas diretivas”, ou seja,
“aquelas normas que impõem ao destinatário a obrigação, não de respeitá-las,
mas de as ter presentes, delas se desviando apenas com base numa justificação
fundamentada”.15 Nesse mesmo sentido, RENÉ CHAPUS (op. cit., p. 520) menciona que, ao contrário dos règlements do Direito Administrativo francês, as diretrizes não decidem, apenas orientam, de modo que a diretriz não priva definitivamente a autoridade administrativa de sua liberdade de apreciação das circunstâncias do caso concreto, todavia, ausentes quaisquer motivos superiores de
interesse geral, a autoridade pública deve curvar-se à orientação definida pela
diretriz administrativa e não pode negar-se a dar-lhe cumprimento. Em outras
palavras, uma diretriz só pode ser derrogada sob especialíssimas condições, derivadas “do interesse geral ou de características particulares do caso concreto”
(CLIQUENNOIS, op. cit., p. 06). Desse fato, resulta que as diretrizes administrativas
são tão oponíveis pela Administração aos seus administrados quanto são exigíveis pelos administrados à sua Administração (CHAPUS, op. cit., p. 521). Dito de
outra maneira, isso significa dizer que as diretrizes têm juridicidade suficiente
para servir de fundamento aos controles externos (judiciais, administrativos e
sociais) da Administração Pública.
É com esse mesmo perfil indicativo, vinculante e finalístico que as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde hão de ingressar nos ordenamentos jurídicos estadual e municipal como normas jurídico-programáticas válidas, mas com
as nuanças próprias de um soft law. Ou seja, as diretrizes do Conselho Nacional
de Saúde configuram um marco jurídico-regulatório orientador, entretanto, de
natureza para-legal, desviante da lei em sentido estrito.
Não é surpresa constatar que nem todo Direito está reduzido à lei – a
supervalorização contemporânea de princípios constitucionais e a crescente
importância dos regulamentos técnicos para o disciplinamento da vida quotidiana apenas reafirmam que o fenômeno jurídico transcende à letra da lei e a
legalidade formal. A idéia de que o Direito não cabe na lei não é nova. Com efeito, a Lei Fundamental alemã, de 1949, já estabelece no seu art. 20, §3º, que “o
Poder Legislativo (die Gesetzgebung ) está vinculado à ordem constitucional;
os Poderes Executivo (die vollziehende Gewalt) e Judiciário (die
Rechtsprechung ) obedecem à Lei e ao Direito.” De modo muito semelhante,
15 BOBBIO, Norberto. Norma. In: AA.VV.. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, v. 14, p. 104-137, 1989, p. 117.
194
faculdade de direito de bauru
também a Constituição Espanhola, de 1978, no seu art. 103.1, afirma que “a
Administração Pública serve com objetividade aos interesses gerais e atua de
acordo com os princípios da eficácia, hierarquia, descentralização, desconcentração e coordenação, com obediência absoluta à Lei e ao Direito.” A distinção entre lei e Direito é clara em ambos os dispositivos constitucionais, o que
autoriza inferir que o “princípio da legalidade” cede crescentes espaços a um
“princípio da juridicidade” – maior, mais legítimo e mais eficaz.
A adjetivação do Direito como soft (soft law) não tem o condão de retirarlhe a natureza jurídico-normativa. Apenas indica que se trata de um Direito diferente (soft), mas ainda assim Direito.16 O Prof. HARTMUT HILLGENBERG elenca algumas razões por que pode ser evitado o hard law em certas ocasiões, a saber:
necessidade de se estimular posteriores desenvolvimentos ainda em progresso;
criação de regimes mais flexíveis a serem desenvolvidos em estágios; necessidade de se coordenar legislações diversas; preocupação de que as relações jurídico-políticas serão sobrecarregadas por um Direito “hard”, com o risco de colapso e deterioração nas relações estabelecidas; procedimentos mais simples e
negociações mais informais; é por fim uma forma de se evitar o embaraçoso processo de aprovação legislativa.17 Todos esses argumentos podem legitimamente
ser empregados quando se listam as inúmeras atribuições e implicações do
Conselho Nacional de Saúde.
3.
O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE E A MÁXIMA EFETIVIDADE
CONSTITUCIONAL
Ora, o Conselho Nacional de Saúde é um órgão público federal, vinculado
ao Ministério da Saúde e dotado de inquestionável legitimidade em matéria de
decisões relativas à saúde. Do seu plenáriom fazem parte representantes dos
Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASEMS e CONASS), além de muitos outros órgãos e entidades da sociedade civil
e do Estado.18 As diretrizes que o Conselho propôs para a implementação e ava16 NASSER, Salem Hikmat. Fontes e Normas do Direito Internacional – Um Estudo sobre a Soft
Law. São Paulo, Atlas, 2005, p. 26.
17 HILLGENBERG, Hartmut. A Fresh Look at Soft Law. European Journal of International Law. v.
10, n. 3, p. 499-515, 1999, p. 501.
18 Nos termos do art 1º do Decreto nº 4.699, de 19 de maio de 2003, o Conselho Nacional de
Saúde, presidido pelo Ministro de Estado da Saúde, é integrado por quarenta membros titulares e tem a seguinte composição: (1) sete representantes de entidades nacionais de portadores
de patologias e deficiências; (2) um de confederações nacionais de entidades religiosas; (3)
dois de centrais sindicais; (4) um de entidades nacionais de aposentados e pensionistas; (5) um
de entidades nacionais de trabalhadores rurais; (6) um de entidades nacionais de associações
de moradores e movimentos comunitários; (7) um de entidades nacionais de empresários da
indústria; (8) um de entidades nacionais de empresários do comércio; (9) um de entidades
nacionais de empresários da agricultura; (10) um das sociedades nacionais para pesquisa cien-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
195
liação das ações e serviços públicos de saúde procuraram apenas preservar o
caráter diretamente finalístico das despesas com saúde: para efeito da aplicação
da Emenda Constitucional nº 29/2000, devem ser considerados os gastos que
sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo
com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de
saúde. A limpeza pública e o saneamento básico certamente têm repercussão na
saúde pública, mas apenas de maneira indireta ou reflexa, ademais têm financiamento próprio, mediante a taxa de lixo e a taxa de esgoto. Assim, com fundamento em Norberto BOBBIO e CHAPUS, citados acima, não parece razoável o
ente federativo desviar-se das diretrizes legítima e nacionalmente estabelecidas
já que não há nenhuma justificação fundamentada para tanto. Não parece acertado tentar substituir uma decisão plenária de um Conselho Nacional sobre políticas de saúde pela discricionariedade de um único prefeito municipal ou governador de estado que pretende, na verdade, diminuir ou escamotear os condicionamentos constitucionais do orçamento público.19
Como se isso tudo não bastasse, a interpretação pretendida por muitas
prefeituras e governos estaduais não é adequada ao “princípio da máxima efetividade”, próprio da hermenêutica constitucional contemporânea. Segundo
esse princípio, na interpretação das normas da Constituição, deve-se-lhes atribuir o sentido que lhes empreste maior eficácia. O princípio da máxima efetividade significa o abandono da hermenêutica tradicional, ao reconhecer a supernormatividade dos princípios e valores constitucionais, principalmente em sede
de direitos fundamentais – como, in casu, o direito fundamental à saúde.20 Em
tífica; (11) um de entidades nacionais de organizações indígenas; (12) um de entidades nacionais de movimentos organizados de mulheres em saúde; (13) um de movimentos nacionais
populares; (13) sete de entidades nacionais de trabalhadores em saúde; (14) dois da comunidade científica; (15) um de entidades nacionais dos médicos; (16) seis de gestores federais; (17)
um do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; (18) um do Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS; e finalmente (19) dois representantes de
prestadores de serviços de saúde.
19 É oportuno sublinhar que a Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde foi precedida pela Portaria 2.047/02, do Ministério da Saúde, de idêntico conteúdo. Ao ser “chancelada”,
a portaria ministerial adquiriu renovada legitimidade.
20 Sobre a fundamentalidade do direito à saúde, ensina-nos o eminente Prof. Dr. INGO WOLFGANG
SARLET: “A saúde comunga, na nossa ordem jurídico-constitucional, da dupla fundamentalidade
formal e material da qual se revestem os direitos e garantias fundamentais (e que, por esta razão,
assim são designados) na nossa ordem constitucional. A fundamentalidade formal encontra-se
ligada ao direito constitucional positivo e, ao menos na Constituição pátria, desdobra-se em três
elementos: a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais (e, portanto, também a saúde), situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, cuidando-se, pois, de
norma de superior hierarquia; b) na condição de normas fundamentais insculpidas na
Constituição escrita, encontram-se submetidos aos limites formais (procedimento agravado para
modificação dos preceitos constitucionais) e materiais (as assim denominadas “cláusulas pétreas”)
da reforma constitucional; c) por derradeiro, nos termos do que dispõe o artigo 5, parágrafo 1, da
Constituição, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são diretamente aplicá-
196
faculdade de direito de bauru
resumo, como bem ensina CANOTILHO, “no caso de dúvidas, deve preferir-se a
interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais”.21 A
interpretação restritiva da Emenda Constitucional nº 29, dada pelas diretrizes do
Conselho Nacional de Saúde, garantem e maximizam o caráter diretamente finalístico das despesas com saúde, aumentando assim a eficácia social dos gastos
realizados pelo Poder Público.
4.
À GUISA DE CONCLUSÃO
Ora, o direito à saúde é um direito fundamental e, como já ressaltado alhures, os direitos fundamentais, após a Constituição de 1988, passaram a ocupar
uma posição privilegiada dentro da Ciência do Direito brasileira, sobretudo por
influência do constitucionalismo alemão (ROBERT ALEXY) e lusitano (GOMES
CANOTILHO). Aos direitos fundamentais, foi reconhecida uma efetiva força jurídica e não apenas moral, simbólica, programática ou política. A hermenêutica
constitucional contemporânea, trilhando verdadeira “revolução coperniciana”,
consolidou a visão de que não são os direitos fundamentais que giram em torno
da lei, mas é verdadeiramente a lei que gira em torno dos direitos fundamentais.
Significa isso dizer que a densificação e expansão dos direitos fundamentais
devem ser buscadas mesmo contra legem ou praeter legem, afinal, como diz o
mestre CANOTILHO, “a interpretação da Constituição pré-compreende uma teoria dos direitos fundamentais”. Nesse sentido, qualquer ação do Poder Público
ofensiva à maximização do direito à saúde é, em princípio, inconstitucional.
Assim, a mais estreita vinculação constitucional da receita orçamentária dos
22
veis e vinculam diretamente as entidades estatais e os particulares. A respeito de cada um destes
elementos caracterizadores da assim denominada fundamentalidade formal, notadamente sobre
o seu sentido e alcance, ainda teremos oportunidade de nos manifestar. Já no que diz com a fundamentalidade em sentido material, esta encontra-se ligada à relevância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, o que - dada a inquestionável importância da saúde para a vida (e
vida com dignidade) humana - parece-nos ser ponto que dispensa maiores comentários. Por tudo
isso, não há dúvida alguma de que a saúde é um direito humano fundamental, aliás fundamentalíssimo, tão fundamental que mesmo em países nos quais não está previsto expressamente na
Constituição, chegou a haver um reconhecimento da saúde como um direito fundamental não
escrito (implícito), tal como ocorreu na Alemanha e em outros lugares. Na verdade, parece elementar que uma ordem jurídica constitucional que protege o direito à vida e assegura o direito à
integridade física e corporal, evidentemente, também protege a saúde, já que onde esta não existe
e não é assegurada, resta esvaziada a proteção prevista para a vida e integridade física” (SARLET,
Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico. nº. 10, janeiro, 2002, www.direitopublico.com.br).
21 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra:
Almedina, 2002, p. 1208.
22 FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. A Ilusão de Robin Hood: a Conta Única dos Depósitos
Judiciais e os Riscos sobre a Ordem Econômica. Revista de Direito Público da Economia. n. 05,
p. 61-67, jan./mar. 2004, p. 65-66.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
197
entes federativos para com os gastos em ações e serviços diretos de saúde apenas representa um importante avanço no campo das garantias materiais do direito fundamental à saúde.
5.
BIBLIOGRAFIA
BOBBIO, Norberto. Norma. In: AA.VV.. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa
Nacional - Casa da Moeda, v. 14, p. 104-137, 1989.
BOULOUIS, Jean. Sur une Catégorie Nouvelle d’Actes Juridiques: Les Directives. In:
WALINE, Marcel (avant-propos). Recueil d’Études en Hommage a Charles Eisenmman.
Paris: Cujas, p. 191-203, 1975.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Problema da Responsabilidade do Estado por
Actos Lícitos. Coimbra: Almedina, 1974.
____. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2002.
CAPELLI, Fausto. Le Direttive Comunitarie. Milano: Giuffré, 1983.
CHAPUS, René. Droit Administratiff General. Tome 1. Paris: Montchrestien, 2001.
CLIQUENNOIS, Martine. Que Reste-t-il des Directives? L’Actualité Juridique Droit
Administratif. n. 01, p. 03-14, janeiro 1992.
D’ALBERGO, Salvatore. Direttiva. In: AA.VV. Enciclopedia del Diritto. v. XII. Milano:
Giuffrè, p. 602-613, 1964.
DELVOLVÉ, Pierre. La Notion de Directive. L’Actualité Juridique Droit Administratif. p.
459-473, outubro 1974.
FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. As Diretivas Comunitárias – Elementos para uma
Teoria Geral. Revista de Direito Constitucional e Internacional. v. 9, n. 37, p. 07-26,
out./dez. 2001.
____. A Ilusão de Robin Hood: a Conta Única dos Depósitos Judiciais e os Riscos sobre
a Ordem Econômica. Revista de Direito Público da Economia. n. 05, p. 61-67, jan./mar.
2004.
GUSY, Christoph. Die Weimarer Reichesverfassung. Tübingen: Mohr Siebeck, 1997.
HAURIOU, Maurice, Comentários ao Acórdão “Association amicale du personnel de la
Banque de France” do Conselho de Estado. Recueil Général des Lois et des Arrêts (Rec.
Sirey). III parte, p. 33-37, 1925.
HAURIOU, Maurice. Police Juridique et Fond du Droit. Revue Trimestrielle de Droit Civil.
a. 25, n. 2, p. 264-312, abr./jun. 1926.
HILLGENBERG, Hartmut. A Fresh Look at Soft Law. European Journal of International
Law. v. 10, n. 3, p. 499-515, 1999, p. 501.
KRÖGER, Klaus. Einführung in die Jüngere Deutsche Verfassungsgeschichte (18061933). München: C. H. Beck, 1988.
198
faculdade de direito de bauru
MAURER, Hartmut. Allgemeines Verwaltungsrecht. Munique: C.H.Beck, 2000.
NASSER, Salem Hikmat. Fontes e Normas do Direito Internacional – Um Estudo sobre
a Soft Law. São Paulo: Atlas, 2005, p. 26.
SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico. nº. 10,
janeiro, 2002 (www.direitopublico.com.br).
SCIULLO, Girolamo. La Direttiva nell’Ordinamento Amministrativo. Millano: Giuffrè,
1993, p. 35.
Emenda constitucional nº. 45/2004
Uma ligeira visão
Francisco Antonio de Oliveira
Ex-Presidente do TRT da 2ª Região, Mestre e Doutor/PUC/SP.
Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho.
Membro (sócio fundador) da Academia Paulista de Letras Jurídicas.
Membro da Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabalho y de la Seguridad Social.
Membro do Instituto de Direito do Trabalho do Mercosul (sócio efetivo titular).
Palavras-chave: Emenda Constitucional Nº 45/2004, “relação de trabalho”, competência
trabalhista, profissionais liberais, ações reflexas, “Acidentes de Trabalho”, recepcionalidade da norma.
1.
DO ENFOQUE INTRODUTÓRIO
Nunca uma Emenda Constitucional causou tanto tumulto no meio trabalhista como a novel Emenda n° 45 de 31.12.2004, não só pela ambigüidade formal quanto pela abrangência que prima facie aponta para a competência trabalhista. A apreensão é geral entre juízes, ministério público e advogados. Há uma preocupação indisfarçada sobre a real medida da competência
que do texto aflora. Pelo que se tem ouvido em conversas informais e lido nos
poucos artigos escritos sobre o tema, na locução nominal “relação de trabalho”, estaria contido todo e qualquer trabalho prestado com objetivo econômico ou sem objetivo econômico. Como tudo num mundo globalizado gira
em torno de algum trabalho, à competência trabalhista teria sido dada uma
abrangência até mesmo difícil de se imaginar. Juntamente com essa óptica
200
faculdade de direito de bauru
alarmista há a preocupação com a impotência de uma Justiça não dotada dos
meios materiais necessários. A impressão que passa é a da abertura das comportas de uma grande represa, cujas águas foram direcionadas para o leito de
um pequeno rio. Num primeiro momento, haveria o transbordamento das
águas e o alagamento periférico, transmitindo a visão primeira de caos total.
Nessa visão desmensuradamente ampliada, proposta pela Emenda
Constitucional sob comento, à Justiça do Trabalho se assomariam matérias
próprias da Justiça Comum e da Justiça Federal, as quais teriam considerável
redução na competência. Dessa forma, na locução “relação de trabalho”,
estaria incluído o trabalho prestado pelos médicos, pelos dentistas, pelos
engenheiros, pelos advogados e por todas as demais categorias profissionais
aos seus clientes. Só por aí dá para imaginar a redução da competência que
teria a Justiça Comum estadual. Com este raciocínio, a competência trabalhista se alargaria além daquele trabalho prestado com objetivo econômico,
com ou sem relação de emprego, para se insinuar, também, naquele trabalho
normal do profissional com o seu cliente, como aquele prestado pelo profissional liberal, v.g., o do médico que efetuasse uma cirurgia e não recebesse a
paga, o do protético que fez trabalho de prótese ao dentista e não recebeu
pelo trabalho, o do engenheiro que construiu uma residência, o do advogado, etc. E mais. Seriam também da Justiça do Trabalho aquelas ações reflexas,
v.g., contra erro médico na cirurgia, em que o cirurgiado teria ação por dano
material e moral; contra engenheiro cuja casa por ele construída ruiu, do
advogado que agiu com desídia; também estariam incluídas aquelas ações
para arbitramento de honorários em que o profissional estaria cobrando
excessivamente, ou naquela ação em que se discuta o “estado de perigo” (art.
156, CC); ter-se-iam também como reflexas as ações movidas pelos profissionais liberais contra as suas Associações ou contra os seus Conselhos; as ações
movidas pelo médico contra o plano de saúde que atrasa no pagamento. O
campo é tão fértil para lucubrações que poderíamos estender a competência
a patamares preocupantes. Assim, possível o raciocínio sobre ações reflexas
de que fora atribuída à Justiça do Trabalho a competência para as ações provenientes de “Acidentes do Trabalho.” Embora o art. 109, I, da CF excepcione
a competência para a justiça civil estadual, o que a rigor seria da justiça federal, não haveria razão para que essa matéria não fosse incluída no âmbito
elastecido da locução “relação de trabalho”. Nem mais se poderia discutir,
desde a conclusão do Supremo Tribunal Federal em sede previdenciária, se a
EC 45 (derivada) poderia modificar a Constituição. Disse a Excelsa Corte que
pode! Restaria a discussão sobre se teria havido a recepcionalidade da norma
que atribuiu a competência à justiça estadual.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
2.
n.
44
201
DO CAPUT DO ART. 114, CF
Comanda o art. 114 da Constituição, com a nova redação atribuída pela
Emenda Constitucional n° 45/2004:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Em síntese, a competência trabalhista, a partir da Emenda n° 45, tem como
elemento balizador a locução nominal “relação de trabalho”, aí se contendo
todo trabalho com vínculo empregatício ou autônomo, com trabalho subordinado ou não, universo em que foram expressamente incluídas todas as relações
compostas de entes públicos externos e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Incluam-se,
também, os Territórios (art. 61, § 1°, II, b,c ,CF), superado o comando contido
no parágrafo único do art. 110, CF.
2.1 Da visão interpretativa
Como vimos no item introdutório, existe uma tendência elastecedora no
âmbito da competência da Justiça do Trabalho mercê da locução nominal “relação de trabalho”. Realmente, existe uma distância descomunal entre “relação de
emprego”, restrita àqueles trabalhadores com vínculo empregatício, e “relação
de trabalho”, cujo universo é difícil de se imaginar. A relação de trabalho move
o mundo não só entre os seres humanos mas também entre os animais, como é
o caso das borboletas, das abelhas, dos pássaros que fertilizam as plantas e fazem
o fruto granar, ação também feita pelo vento; como é o caso, também, da abelha
que cuida da sua colméia produzindo o mel que tem finalidade econômica não
para ela mas para nós, ou da minhoca que enriquece o solo, fertilizando-o e
tendo também finalidade econômica; ou, ainda, o trabalho rigorosamente organizado da formiga e do cupim que pode destruir uma propriedade, com influências econômicas negativas. Dentro desse raciocínio, pode-se afirmar que o trabalho executado por um cirurgião plástico, melhorando a visão estética de uma
secretária que, antes, possuía nariz adunco e seios tímidos, influirá, certamente,
na colocação da secretária no mercado de trabalho e refletirá economicamente
no mundo da relação de trabalho.
Embora tenhamos sempre defendido a ampliação da competência da
Justiça do Trabalho, a locução, “relação de trabalho,” deverá ser interpretada
202
faculdade de direito de bauru
sem arroubos apaixonados, pisando firme o solo e direcionando o olhar para a
linha do horizonte. Sempre que fazemos isso, com a humildade de propósitos,
despidos de preconceitos e de espírito melomaníaco, certamente encontraremos o ponto de equilíbrio: aquele ponto que satisfaz o raciocínio lógico e busca
auscultar, nas palavras do legislador, o espírito que dá vida à norma. A interpretação da lei não pode levar ao impasse ou ao absurdo, advertem os doutos. As
lucubrações transcendentais nos elevam ao etéreo, fora do mundo dos mortais.
E, aí, com certeza, não encontraremos a resposta às nossas dúvidas. É com o pé
no solo, fincado na “razoabilidade” que encontraremos a resposta às nossas
dúvidas. Essa palavra mágica, “razoabilidade,” deve ser o norte de toda interpretação.
2.2 Do núcleo conteudístico
O primeiro trabalho hermenêutico é buscar o real significado da locução
“relação de trabalho”. Como vimos nos comentários acima, não é trabalho fácil.
E nesse iter interpretativo realizado em terreno escorregadio, mister se faz buscar o seu verdadeiro sentido. Não se diga que o texto constante do caput é claro
e nas coisas claras não se admite a indagação da vontade (in claris non admittitur voluntatis quaestio). De que o texto não é claro não há dúvida, o estado
de apreensão geral comprova à saciedade. Valem aqui as lições de Carlos
Maximiliano: “Desconfia sempre de ti.” A primeira pergunta a ser feita é: A intenção do legislador da Emenda Constitucional foi ampliar desmensuradamente a
competência da Justiça do Trabalho para desvirtuá-la e torná-la inoperante? A
resposta obrigatória é não. Uma segunda pergunta completa a primeira: Foi
intenção do legislador trazer para o âmbito da Justiça do Trabalho toda matéria
que diga respeito à “relação de trabalho”, sem quaisquer reservas e bem assim
as questões conexas? Se a resposta for afirmativa, teremos a Justiça do Trabalho
com uma competência gigantesca, inclusive sobre temas com os quais os seus
juízes não teriam ab initio a necessária intimidade, seguida do esvaziamento
parcial de ações na justiça civil comum (estadual e federal), com a agravante de
não estar materialmente preparada, não valendo este último argumento como
fundamento jurídico, evidentemente.
A Justiça do Trabalho está, historicamente e filosoficamente, ligada ao trabalho e ao capital como forças produtiva e econômica. Não é qualquer trabalho
que deve sensibilizar o núcleo da competência, mas, sim, aquele trabalho produtivo e com reflexos econômicos, seja proveniente de trabalhador com relação de emprego ou de trabalhador autônomo. A diferença está em que não bastará a simples relação de trabalho para sensibilizar o conteúdo que determinará
a competência. A relação de trabalho poderá ser autônoma, mas deverá atender
às exigências teleológicas de uma Justiça Especializada e que haja nexo da cau-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
203
salidade entre a relação de trabalho e os objetivos que uniram, desde sempre,
o binômio capital e trabalho ao objetivo empresarial, ressalvados exceções previstas em lei, v.g., organizações filantrópicas, organizações destinadas ao culto
religioso, o doméstico etc. Bastaria que a Emenda Constitucional no caput do
art. 114 mencionasse a locução “... relação de trabalho com objetivo econômico,” no sentido empresarial, de força produtiva para que se restringisse expressamente o conteúdo da competência. Mas isso não aconteceu, dirão alguns. E é
verdade. Todavia, isso não autoriza a interpretação ampla e irrestrita, sem peias
delineadoras, trazendo para a Justiça do Trabalho toda e qualquer relação de trabalho. Se assim se entender, a Justiça do Trabalho será desvirtuada, afastando-se
da sua real vocação e transformando-se numa justiça de ações de cobrança.
Assim, do médico que não recebeu do seu cliente pela cirurgia realizada ou que,
atendido pelo plano médico, do plano não honrou o compromisso; do mecânico que consertou o carro e o cliente não pagou; do adestrador de cães cujo
dono não pagou o combinado, do motorista de táxi que levou uma senhora para
o Guarujá e esta não pagou o valor da corrida; da costureira do bairro cuja cliente não pagou os consertos em roupas usadas; do sapateiro que colocou meia
sola no sapato do cliente e este não pagou; da cabeleira cuja cliente nega-se a
pagar pelo trato dado ao seu cabelo ou da manicure que não recebeu pelo trabalho; os exemplos são infindáveis. O desvirtuamento da Justiça do Trabalho
será inevitável. Para cá ocorreriam ações de valores ínfimos, como o da corrida
do motorista de táxi, da costureira, do sapateiro. Esse inchamento com ações
envolvendo simples “relação de trabalho” desvirtuaria a Justiça do Trabalho que
deixaria de ser uma Justiça Especializada para se transformar numa Justiça
Híbrida, com ações que se ligam ao sistema produtivo, onde o trabalhador,
empregado ou autônomo, coloca a sua força de trabalho em favor da produção,
enquanto as demais ações caracterizam-se como simples ações de cobrança.
Seria necessária a criação imediata de Juízo de pequenas causas trabalhistas,
embora essa dificuldade não constitua fator contra a ampliação da competência.
2.3 Da exclusão dos termos trabalhadores e empregadores
A nova redação, diversamente do que sucedia com a redação anterior, não
premia os termos “trabalhadores e empregadores.” A exclusão de “empregadores” não traria, em princípio, maiores dificuldades, face à locução “relação de
trabalho.” Todavia, a exclusão do termo “trabalhadores” traz um complicador. A
relação de trabalho não mais estará limitada à força de trabalho da pessoa física,
podendo a força de trabalho ser prestada por pessoa jurídica; competente,
assim, a Justiça do Trabalho para as ações movidas pelas empresas de prestação
de serviços contra as empresas tomadoras de mão de obras e aquelas ações ajuizadas por empresas terceirizadas para certas fazes da produção, contra as empre-
204
faculdade de direito de bauru
sas terceirizantes e todas as demais empresas que prestam serviços a pessoa física ou jurídica. A doutrina já vinha aceitando essa atipicidade nos casos do
pequeno empreiteiro (operário ou artífice), ainda que constituído em pessoa
jurídica. Já agora, a Emenda Constitucional ao não restringir a “relação de trabalho” entre pessoa física (trabalhador) e o empresário ou tomador (pessoa
física ou jurídica) tornou regra a exceção doutrinária. Resta, pois, desvirtuado
em âmbito trabalhista o princípio de proteção do hipossuficiência, que continuará, apenas, a ser aplicado àqueles trabalhadores, com ou sem vínculo, ligados à força produtiva. Não se aplica às pessoas jurídicas nem a possíveis ações
de simples cobrança, caso venham a compor o núcleo de competência da Justiça
do Trabalho.
2.4 Da conciliação
A antiga redação dizia expressamente que competia à Justiça do Trabalho:
“conciliar e julgar.” A nova redação eliminou o termo “conciliação” o que poderá levar alguns à conclusão de que não mais faz parte do processo do trabalho.
Todavia, entendemos que assim não é. A conciliação é a fase mais importante do
processo do trabalho e sua raiz é histórica, filosófica e teleológica. O processo
trabalhista é conciliador por excelência. O juiz do trabalho deve ser um conciliador. A conciliação atende ao princípio da celeridade e da economia processual
e prestigia o crédito trabalhista de natureza alimentar. A conclusão de que a simples substituição do termo “conciliar” por “processar” representa a impossibilidade conciliatória não nos parece prestigiada pela razoabilidade, e causaria
maus tratos à vontade das partes (teoria da vontade). Não vemos, nessa substituição, nenhum menosprezo à conciliação. A verdade que se nos afigura é a de
que não haveria necessidade de o termo “conciliação” estivar expresso na
Constituição, mesmo porque ela não é requisito para fixar a competência. Mas
processar e julgar, sim, faz parte da fixação da competência. A eliminação não
significa, em princípio, proibição. Onde a Constituição não proíbe a lei ordinária pode operar. A conciliação está prevista na CLT (art. 652, a). A propositura da
primeira proposta conciliatória é obrigatória na CLT (art. 845), bem assim a
segunda proposta CLT (art. 850). Sabe-se, ainda, que a ausência da proposta conciliatória após o encerramento da instrução redundará em nulidade do julgado.
O art. 125, V, do CPC, embebendo-se no processo do trabalho, exige a conciliação a qualquer tempo sem limitar a número mínimo. O CPC concebeu uma
seção inteira (arts. 447/449) para a conciliação. Na pior da hipótese, ad argumentandum, a pergunta que deveria ser feita é se o comando celetista fora ou
não recepcionado pela Emenda Constitucional n° 45/2004. Todavia, por que
razão o legislador eliminaria a conciliação em sede trabalhista, onde ela se faz
mais necessária, finca raízes históricas, e é tratada com tanto rigor que a sua falta
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
205
poderá determinar a nulidade do julgado! A resposta correta é a de que a conciliação continua a fazer parte do processo do trabalho e os preceitos celetistas
que prestigiam a conciliação foram recepcionados pela Emenda n° 45.
2.5 Dos servidores públicos
Essa matéria já fora (art. 240, Lei 8.112/90) objeto de pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal, logo após a Constituição de 1988. O Jornal “O Estado
de São Paulo”, de 29.10. 2004 noticia a concessão de liminar pelo Presidente do
Supremo, mantendo a competência da Justiça Federal até a apreciação da Adin n°
3395/2005..... ajuizada pela AJUFE. Embora por questão de ordem histórica deva a
competência ser mantida na Justiça do Trabalho, é bem possível que o desfecho
seja mais de política judiciária do que jurídica, pois a saída dos estatutários da
Justiça Federal redundaria em considerável redução daquela jurisdição. Depois,
não se pode negar que os juízes federais têm feito um excelente trabalho. Somese a isso uma jurisprudência federal já sedimentada na área administrativa e a
Justiça do Trabalho iria formar a sua própria jurisprudência. Quanto à liminar,
temo-la por oportuna e razoável, evitando-se, assim, inúmeros conflitos que seguramente surgiriam bem como a remessa de todas as ações pendentes de imediato ao Judiciário trabalhista. Todavia, mantida a competência dos estatutários
estaduais e municipais, não haveria razão para que somente os estatutários federais permanecessem em sede federal. Aliás, isso nos lembra à época em que toda
matéria trabalhista, envolvendo ente público federal, era da competência da
Justiça Federal. A experiência não foi boa. De qualquer forma, dentro da realidade
atual, haverá uma mudança, estrutural sobre a competência em mandado de segurança, habeas data e habeas corpus com ampliação das possibilidades hoje existentes, com competência originária do primeiro grau e com competência originária e recursal de segundo grau, o que determinará a modificação do sistema
recursal, pois a matéria poderá ser apreciada também pelo TST.
3.
DAS CONSEQÜÊNCIAS
Com a ampliação da competência trabalhista, ações que foram distribuídas
anteriormente, serão imediatamente remetidas para a Justiça do Trabalho, pois
restou alterada a competência em razão da matéria, excepcionando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 87, CPC. É mais ou menos
comum, quando ocorre a hipótese, o legislador conservar no juízo de origem a
competência residual para aquelas ações anteriormente ajuizadas. Como isso
não ocorreu, os juízes de origem não mais poderão praticar atos, devendo remeter, imediatamente, os processos à Justiça do Trabalho de conformidade com os
respectivos tribunais.
206
4.
faculdade de direito de bauru
DAS MATÉRIAS CONEXAS
Corretamente se fixou a competência da Justiça do Trabalho para as ações
sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e
entre sindicatos e empregadores. A matéria estava a cargo da Justiça Comum,
sem qualquer nexo de causalidade com matéria civilista. O inciso -V- traz para
a Justiça do Trabalho o julgamento dos conflitos de competência, excepcionando-se apenas o contido no art. 102,I, “o”, CF. Do que resulta que os conflitos
serão apreciados em âmbito trabalhista pelos Regionais e pelo TST, conforme a
hipótese, e não mais tem aplicação o art. 105,I, d, CF. A indenização por dano
moral e/ou patrimonial não constitui novidade, afora algumas resistências isoladas. Incluam-se na competência da Justiça do Trabalho as ações por dano
moral e material resultantes de infortunística. O nexo de causalidade, nesse
caso, é indiscutível. Todavia o STF (RE 39494, rel. Carlos Britto) decidiu pela
incompetência com base na EC 45/2004. As ações provenientes de penalidades
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho têm foco causal no universo trabalhista.
5.
DAS OUTRAS CONTROVÉRSIAS
Em primeiro momento, o inciso parece ter sede ociosa no art. 114 da
Constituição. Teria sido uma repetição desavisada do legislador daquilo que já
constava do antigo texto. Ocioso, porque a locução “relação de trabalho” seria
tão abrangente que nada mais restaria. Todavia, como vimos nas ponderações
acima, dentro de uma visão calcada na razoabilidade, a abrangência tem seus
limites, para uns mais, para outros menos. Depois, é uma porta larga para a
entrada de outras espécies de ações, sempre na forma da lei.
6.
DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA
A Emenda Constitucional n° 45/2004 peca pela falta de clareza e por haver
sido demasiadamente genérica. A sua real abrangência será delimitada pela doutrina que já começou o trabalho de depuração. Com certeza, correntes doutrinárias antagônicas surgirão neste trabalho interpretativo que deverá seguir avante com pé na razoabilidade, sem preconceitos e sem bairrismos. A jurisprudência virá bem depois, através de inúmeros julgados e, certamente, indicará caminhos diversos, fruto de arroubos interpretativos, uns pugnando pela abrangência irrestrita do texto, outros pela abrangência ponderada. A doutrina muito
contribuirá para esse trabalho hercúleo de retirar da norma o seu verdadeiro
sentido. Nesse trabalho diuturno de lapidação da pedra bruta, chegará o
momento em que o diamante exporá os seus primeiros raios ao sol. Então, dou-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
207
trina e jurisprudência trilharão o mesmo caminho. Vamos dar tempo ao tempo!
Mas sem perder de vista que se trata de matéria constitucional e caberá ao
Supremo Tribunal Federal das a última palavra, não devendo os tribunais superiores (TST e STJ) sumular0 sobre o tema, pois correriam o risco de ter que
retroceder.
O SIGILO BANCÁRIO E O DIREITO À PRIVACIDADE
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 105
Paulo Henrique de Souza Freitas
Doutor em Direito Comercial pela PUC/SP.
Professor de Direito Comercial na Instituição Toledo de Ensino e advogado em Bauru).
Fernanda Eloísa Trecenti
Mestre em Direito Constitucional pelo Centro de Pós-Graduação
da Instituição Toledo de Ensino.
Professora de Direito Tributário na ITE e advogada em Bauru).
1.
INTRODUÇÃO
A Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001, reascendeu importantes discussões acerca dos limites à ingerência do Estado na vida dos cidadãos.
Ao autorizar que, em determinadas situações, a Administração Pública tenha
acesso a informações bancárias sigilosas, a L.C. 105 instigou a polêmica discussão acerca do sigilo bancário nas relações dos bancos com seus clientes e de seus
limites no Estado Democrático de Direito.
Discute-se, na doutrina e no Supremo Tribunal Federal,1 a constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no 105, que prevêem o acesso às informações bancárias, por parte de autoridades administrativas da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, desde que observados determinados requisitos.
1
Existem atualmente cinco Adins pendentes de julgamento, questionando a constitucionalidade de dispositivos da LC 105.
210
faculdade de direito de bauru
O objetivo deste breve estudo é abordar a questão da compatibilidade dos
dispositivos infraconstitucionais citados com a Constituição Federal de 1988, citando algumas posições existentes e, por fim, externando nosso entendimento.
Com efeito, muito se tem falado sobre a possibilidade da Administração
Pública ter acesso às informações bancárias dos cidadãos, sem a necessidade de
autorização judicial. A polêmica tem razão de ser, uma vez que no contexto da
discussão estão envolvidos direitos individuais importantes, que protegem a privacidade, a intimidade e até mesmo, a liberdade de o cidadão viver sua vida à sua
própria maneira e sem a interferência de terceiros.
Não temos dúvidas de que o sigilo bancário é um importante direito do
cidadão. Por outro lado, também não temos dúvidas de que se mal dimensionado, este mesmo instituto pode servir de obstáculo à concretização da democracia social, dos ideais de justiça e igualdade, do bom funcionamento do aparelho
estatal e ainda pode servir de esconderijo para criminosos. A matéria é de trato
delicado pois envolve a questão, sempre atual, acerca da tensão entre os direitos individuais e o interesse público.
Na sempre preciosa lição de Miguel Reale:
Numa questão tão delicada e complexa como esta do sigilo bancário, que envolve um difícil balanceamento de valores, entre o
pólo da intocabilidade pertinente à pessoa e o pólo oposto do
que é exigido pelo interesse coletivo – não se podendo afirmar
que um deles seja superior ao outro -, penso que se deve optar
por uma linha de prudente adequação à conjuntura de cada
caso concreto, obedecendo-se, desse modo, à diretriz indicada
pelas mais atuantes correntes contemporâneas sobre o direito
como concreção e experiência.
Nessa trilha, afigura-se-me que o saudoso mestre Giorgio Del
Vecchio nos indica um caminho seguro quando, antepondo-se
ao rigorismo ético de Emmanuel Kant, para quem a verdade
deve ser dita a qualquer custo, ele optava por um resposta mais
achegada à contingências humanas, no sentido de que ‘a verdade deve ser dita a quem tem direito a ela’2
A essa luz, e com especial atenção aos valores contidos na orientação política, econômica e social de nossa Constituição, é que procuraremos definir se o
sigilo bancário constitui direito absoluto previsto no Texto Supremo ou se este
direito comporta temperamentos e limites passíveis de ajuste pela legislação
infraconstitucional, no caso a Lei Complementar nº 105.
2
REALI, Miguel. Os direitos da pessoa e o sigilo bancário. In: Questões de Direito Privado. p. 62.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
2.
n.
44
211
NOÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO
A análise do sigilo bancário em face do poder de fiscalização da administração pública exige que enfrentemos, inicialmente, as questões referentes ao
seu conceito e à sua natureza jurídica.
Sérgio Carlos Covello conceitua o sigilo bancário como “a obrigação que
têm os bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a
obter em virtude de sua atividade profissional”.3
Nelson Abrão define o sigilo bancário como sendo
A obrigação do banqueiro – a benefício do cliente – de não revelar certos fatos, atos, cifras ou outras informações de que teve
conhecimento por ocasião do exercício de sua atividade bancária e notadamente aqueles que concernem a seu cliente, sob
pena de sanções muito rigorosas civis, penais ou disciplinares.4
Interessante notar que a origem do sigilo bancário confunde-se com as origens das próprias atividades bancárias, conforme nos ensina Miguel Reale:
a mais antiga justificação do segredo bancário não podia, pois,
deixar de ter caráter empírico, baseando-se na idéia do uso tradicional, da praxe que teria resultado das contingências mesmas da
vida comercial, obedecendo a necessidades brotadas dos próprios
fatos, na linha da gênese jurídica legitimada, romanisticamente,
ipsis factibus dictantibus ac necessitate exigente.5
Portanto, como fruto das exigências da atividade comercial, o sigilo bancário teve sua origem num aspecto econômico, naquilo que alguns chamam de
“técnica de captação”,6 onde o sigilo funciona como um atrativo da confiança
dos clientes, que não querem ter sua situação financeira exposta a terceiros.
Com efeito, não é de se estranhar que as pessoas, ao depositarem seus valores à confiança de uma instituição financeira, “sintam-se mais seguras” numa situação de confidencialidade. Essa segurança, a que nos refirimos, tem sentido amplo,
e se desdobra em várias facetas: proteção quanto à inveja de outros, proteção contra as aspirações arrecadatórias do Estado, proteção contra os concorrentes, etc.
De fato, o sigilo bancário nasceu para proteger os interesses privados dos
comerciantes, dos banqueiros e de seus clientes, mas não se limitou a isso, pois
3
4
5
6
Sérgio Carlos Covello. O Sigilo Bancário, p.83.
Nelson Abrão. Direito Bancário, p. 54.
Miguel Reale, Op. cit., p. 59.
Cf. Nelson Abrão. Op cit., p. 53.
212
faculdade de direito de bauru
com o tempo, ganhou destaque de interesse público em função da importância que
os sistemas bancário e de crédito passaram a ter no desenvolvimento econômico
dos países. Houve, aí, um entrelaçamento do interesse privado com o público.
Assim é a lição de Arnoldo Wald:
O cidadão tem direito a manter em sigilo as informações sobre sua
vida financeira obtidas pelos bancos, o que está ligado ao direito
à privacidade, constitucionalmente protegido. A instituição
bancária tem direito de manter segredo dos dados de seus clientes,
pois a discrição faz parte do seu fundo de comércio, sendo uma
forma de obter a confiança de terceiros. Também é obrigação do
banco não noticiar as operações realizadas, correspondendo ao
direito já mencionado do cliente. O sigilo bancário interessa, ainda,
à sociedade, porque proporciona o bom funcionamento do sistema financeiro e o desenvolvimento da economia do país7 (g.n.).
Visto por esse prisma, podemos dizer que o sigilo bancário tem seu fundamento “trifurcado” da seguinte forma: 1.º) na proteção de segredos comerciais, pois a clientela e seus dados fazem parte do fundo de comércio dos
Bancos; 2.º) no direito individual à privacidade, direito de o cliente não querer
divulgar fatos de sua vida financeira, que podem, indiretamente, deixar transparecer fatos de sua vida privada ou comercial; e 3º) no interesse público, em favor
da estabilidade do sistema bancário.
Quando falamos de sigilo bancário, é importante ressaltar que, antes de
ser um bem protegido, o direito ao sigilo corresponde a uma faculdade de agir
cujo objetivo é a proteção de outros institutos relevantes, que, como acabamos
de ver, dão-lhe o fundamento. Isso ocorre porque o sigilo bancário é um direito
de natureza jurídica instrumental, tendo como objeto a realização de um outro
direito. No comentário de Tércio Ferraz Sampaio Jr.:
Seria, portanto, um equívoco falar em direito ao sigilo, tomando a faculdade (conteúdo) pelo bem protegido (objeto), como se
se tratasse em si de um único direito fundamental. Ao contrário,
é preciso ver e reconhecer que o sigilo, faculdade de manter sigilo, diz respeito a informações privadas (inciso XII do art. 5º) ou
de interesse da sociedade ou do Estado (inciso XXXIII do mesmo
artigo). No primeiro caso, o bem protegido é uma liberdade de
“negação”. No segundo, a segurança coletiva.8
7
8
Arnold Wald. Sigilo bancário e os direitos fundamentais, p. 15.
Tércio Sampaio Ferraz Jr. Direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado, p. 144.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
213
A propósito dessa discussão sobre a natureza instrumental do sigilo bancário, que o relaciona com outros direitos (às vezes direitos fundamentais, como
no caso da privacidade), é que parte da doutrina tem se equivocado e atribuído
status constitucional ao sigilo bancário, embora a Constituição Federal, em
momento algum, tenha falado em um direito ao sigilo bancário.9 Enquanto direito instrumental, o sigilo bancário, de fato, pode estar relacionado com a proteção a direitos fundamentais constitucionais, como é o caso da privacidade e intimidade, mas nesses casos, ainda assim, a proteção constitucional não recai propriamente sobre o sigilo bancário, mas sim sobre a privacidade e a intimidade.
Luiz Fernando Belinetti expôs a questão da seguinte forma:
Como já dissemos anteriormente, em certas hipóteses, o fundamento para o segredo bancário seria a privacidade. No entanto,
nesses casos o que se protege é a privacidade e não propriamente o sigilo.
Entendemos que uma coisa é garantir-se a privacidade da pessoa, com fundamento em norma constitucional; outra é garantir-se o segredo de informações bancárias de uma pessoa, com
base na legislação supramencionada.
Sempre que a revelação de informações bancárias puder violar
a privacidade da pessoa, parece-nos que mais do que garantia
ao sigilo bancário (com fundamento legal), tem a pessoa garantia à sua privacidade (com fundamento constitucional).
No entanto, se a revelação da informação não invadir a esfera
da intimidade da pessoa, sua garantia é meramente legal, do
sigilo bancário.10
É a partir desse contexto, onde o sigilo bancário se apresenta como direito instrumental, cuja instrumentalidade tem em vista a concretização de outros
direitos, que iremos prosseguir nosso estudo, examinando, agora, até que ponto
o sigilo bancário se relaciona com os direitos à intimidade e a vida privada (esses
sim, com fundamento constitucional).
3.
SIGILO BANCÁRIO, PRIVACIDADE E INTIMIDADE
Conforme já dissemos, a Constituição Federal de 1988 não fala expressamente em sigilo bancário, mas sim em intimidade e vida privada. Já dissemos,
9
Até a publicação da Lei Complementar 105, o sigilo bancário era regulado pelo art. 38 da Lei
4.595/64.
10 Luiz Fernando Belinetti. Limitações legais ao sigilo bancário, p. 151.
214
faculdade de direito de bauru
também, que o direito à privacidade e à intimidade é um dos fundamentos possíveis do direito ao sigilo bancário. Desta forma, a questão que se coloca é a de
saber se a garantia ao sigilo bancário está “necessariamente embutida” no princípio constitucional que protege a intimidade e a vida privada, adquirindo, portanto, status de direito fundamental individual. Ou, se sua previsão, embora
possa ter relação com o princípio constitucional que protege a intimidade e a
vida privada, é de natureza infraconstitucional.
Em simpósio sobre o tema do sigilo bancário, Tércio Sampaio Ferraz Jr.
palestrou:
(...) a primeira coisa que nós temos que entender na tentativa ou
não de colocar o sigilo bancário dentro da privacidade é, que a
idéia de sigilo não é uma idéia única e exclusiva, referente à privacidade, aos temas da privacidade, aos temas da inviolabilidade de domicílio, de correspondência, etc. O Sigilo é um instrumento de proteção.
(...) a Constituição Federal não fala em sigilo bancário, mas ela
fala em sigilo várias vezes. A expressão sigilo ocorre em vários
incisos. Eu não sei decor, mas eu me lembro que várias formas
de sigilo aparecem na Constituição Federal. Portanto, o sigilo é
nitidamente na Constituição Federal brasileira um instrumento.
Ele não é propriamente o conteúdo de um direito fundamental.
Ele aparece antes como objeto de um direito subjetivo fundamental. E como objeto. Ele aparece em vários direitos. Nós temos
várias formas de sigilo.
(...) no sigilo bancário pode estar envolvidas as questões de privacidade. Mas, não estão necessariamente envolvidas as questões de privacidade.11
Quando Tércio Ferraz Jr. diz que “no sigilo bancário podem estar envolvidas as questões de privacidade” (grifo meu). ele deixa transparecer um ponto
importante, que diz respeito ao fato de que, nas relações entre banco e seus
clientes, o que se tem como essencial, é a troca de dados contábeis e patrimoniais. O aspecto da privacidade aparece de forma apenas indireta, na medida em
que esses dados, contábeis e patrimoniais, tenham capacidade de desvendar
algo privado ou íntimo, o que não é raro de acontecer.
Para ilustrar essa questão, imaginemos que, através de mecanismos tecnológicos, os dados bancários dos cidadãos possam ser codificados de maneira
criptográfica, nas próprias instituições financeiras, de forma que não sejam aces11 Tércio Sampaio Ferraz Jr.. Sigilo Bancário.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
215
síveis à compreensão humana através da simples leitura. Feita essa conversão, os
dados seriam encaminhados, digitalmente, aos computadores da administração
tributária que, por sua vez, fariam, eletronicamente, o confronto entre os dados
bancários e os dados fiscais. Finalmente, desse confronto, resultaria uma listagem, agora sim, com nomes de contribuintes, cujas informações padecem de
irregularidades. Nessa hipótese, existiu o acesso da Administração Tributária a
dados sigilosos, mas, não existiu invasão à privacidade, porque nenhum ser
humano teve acesso ao conteúdo dos dados sigilosos.
A partir dessa idéia, pretendemos evidenciar que somente nos casos onde
o acesso às informações bancárias puder, realmente expor a vida privada dos
clientes é que a proteção constitucional à privacidade e à intimidade recairá,
também, sobre o sigilo bancário. Portanto, temos que direito ao sigilo bancário
não é desdobramento necessário do direito à privacidade e à intimidade, razão
pela qual não possui necessário e direto status constitucional.
Na jurisprudência brasileira, o Ministro Carlos Velloso, do Supremo
Tribunal Federal, em seu voto no RE 219.780, deixou clara sua convicção de que
o sigilo bancário não tem proteção constitucional específica:
A questão, portanto, da quebra do sigilo, resolve-se com observância de normas infraconstitucionais, com respeito ao princípio da razoabilidade e que estabeleceriam o procedimento ou o
devido processo legal para a quebra do sigilo bancário.
A questão, portanto, não é puramente constitucional. A quebra do
sigilo bancário faz-se com observância, repito, de normas infraconstitucionais, que se subordinam ao preceito constitucional.
A questão, realmente “não é puramente constitucional”, porque o direito ao
sigilo bancário não é um direito fundamental e nem possui positivação constitucional, mas inobstante, o direito ao sigilo bancário, assim como todo o ordenamento jurídico, a Ela está subordinado tanto em sentido formal, como material.
Desse modo, concluímos que uma lei infraconstitucional, que pretenda
“flexibilizar” a quebra do sigilo bancário, deverá observar o âmbito da proteção
constitucional conferida à privacidade e à intimidade a fim de evitar que o acesso à informação bancária possa violá-lo.
Para um melhor entendimento dessa situação, importante distinguir as
situações onde o acesso a dados bancários agride o direito constitucional à privacidade e à intimidade, das situações onde o que está na berlinda são outros
interesses, como o segredo comercial e o sistema bancário.
Para tanto, faz-se necessária a análise dos direitos à privacidade e à intimidade conforme foram positivados no texto e no sistema constitucional.
216
4.
faculdade de direito de bauru
PRIVACIDADE E INTIMIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Na Constituição Federal brasileira, a proteção à vida privada e à intimidade foi colocada no Título II, “Dos Direitos e Garantias Constitucionais”, mais
especificamente, em seu 1.º capítulo, que trata “Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos”, dispondo:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação
Situando-se entre os chamados “direitos individuais fundamentais”, o direito à
vida privada e à intimidade faz parte das chamadas cláusulas pétreas, que constituem
um núcleo material imutável do texto constitucional por força do inciso IV, do § 4.º,
do art. 60. Essa circunstância, evidentemente, já demonstra a importância que o legislador constituinte conferiu ao tema, conforme explica Luiz Alberto David Araujo:
As vedações materiais ao poder de reforma revelam o cuidado
do constituinte com certos temas, tratados sob o ângulo de princípios constitucionais. São vigas mestras do sistema, que não
podem ser passíveis de alteração, sob pena de desmoronamento
do sistema criado.12
E, no que diz respeito às conseqüências de um direito constituir-se numa cláusula pétrea e, portanto, num princípio constitucional, Luiz Alberto Araujo continua:
O intérprete constitucional não poderá deixar de atentar, quando da análise da Constituição – ou qualquer outro dispositivo
infraconstitucional – para o fato de que a norma tem caráter
principiológico, devendo, portanto, vincular seu entendimento.
A interpretação constitucional não pode se afastar dos princípios
constitucionais, sob pena de concluirmos sem qualquer fundamento nos bens escolhidos como importantes pelo constituinte.13
12 Luiz Alberto David Araujo. A Proteção Constitucional da Própria Imagem, p. 71.
13 Id. Ibid. p. 73.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
217
De fato, os princípios constitucionais representam “os bens escolhidos
como mais importantes” ou, em outras palavras, os valores que inspiram a Lei
Suprema e cuja orientação repercute tanto na produção e na interpretação de
todas as leis do ordenamento jurídico, como também nos objetivos a serem perseguidos pelo Estado de Direito.
Demonstrada a importância que a Constituição Federal atribuiu ao direito
à vida privada e à intimidade, erigindo-o à condição de cláusula pétrea e de princípio constitucional, cabe-nos, agora, dar enfoque ao conteúdo e ao alcance
desse direito.
Da leitura do texto constitucional, percebemos que o legislador constituinte fez por distinguir a intimidade da vida privada, caso contrário não incluiria ambas as expressões na letra da lei. Contudo, no que se refere à exata dimensão e ao âmbito de proteção de cada uma destas expressões, a distinção não
ficou completa, tarefa que restou a cargo da doutrina e da jurisprudência.
Em verdade, tais expressões são bastante imprecisas, podendo conter em si
diferentes dimensões da vida do cidadão, tais como: as lembranças pessoais, a intimidade do lar; a saúde; a vida conjugal; as aventuras amorosas; os lazeres; o direito ao esquecimento; a vida profissional, o segredo dos negócios e a imagem.14
Para Celso Ribeiro Bastos, o inc. X do art. 5.º deve ser entendido da seguinte maneira:
(...) oferece guarida ao direito à reserva da intimidade, assim
como ao da vida privada. Consiste na faculdade que tem cada
indivíduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que
sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação
existencial do ser humano.
Esta proteção encontra, como visto, desdobramentos em outros
direitos constitucionais que também se preocupam com a preservação das coisas íntimas e privadas, como, por exemplo,
direito à inviolabilidade do domicílio e da correspondência, o
sigilo profissional e o das cartas confidenciais e demais papéis
pessoais.
Não é fácil demarcar com precisão o campo protegido pela
Constituição. É preciso notar que cada época dá lugar a um tipo
específico de privacidade.15
14 Cf. Luiz Alberto David Araujo. Op. cit., p. 37.
15 Celso Ribeiro Bastos. Comentários à Constituição do Brasil, 2.º vol.
218
faculdade de direito de bauru
Para José Afonso da Silva,
Não é fácil distinguir vida privada de intimidade. Aquela, em última análise, integra a esfera íntima da pessoa, porque é repositório
de segredos e particularidades do foro moral e íntimo do indivíduo.
Mas a Constituição não considerou assim. Deu destaque ao conceito, para que seja mais abrangente, como conjunto de modo de ser e
viver, como direito de o indivíduo viver sua própria vida. Parte da
constatação de que a vida das pessoas compreende dois aspectos:
um voltado para o exterior e outro para o interior. A vida exterior,
que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas,
pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque
é pública. A vida interior, que se debruça sobre a mesma pessoa,
sobre os membros de sua família, sobre seus amigos, é a que integra
o conceito de vida privada, inviolável nos termos da Constituição.16
Ao que nos parece, a Constituição Federal, ao fazer distinção entre as
idéias semelhantes e entrelaçadas de intimidade e vida privada, adotou a chamada “teoria das esferas”. Com base nos ensinamentos de Alexy, o jurista português Saldanha Sanchez explica essa teoria:
De acordo com a conhecida teoria das esferas (Sphãren:heorie)
a privacidade no seu conjunto é concebida como um conjunto
de esferas concêntricas, em que a proteção mais intensa é conferida à esfera da intimidade, seguida por uma decrescente intensidade da tutela da esfera privada e da esfera social.17
Veja-se, então, que para a Constituição Federal de 1988, a intimidade corresponde a um âmbito mais restrito da vida privada, corresponde àquela parcela da vida do cidadão, resguardável até mesmo daqueles que participam de sua
privacidade, de modo que suas convicções pessoais, seus medos, suas angústias,
seus desejos mais íntimos que prefere guardar para si, estão protegidos da curiosidade de terceiros, que neles não podem adentrar.
A esse respeito, Tércio Sampaio Ferraz Jr. entende que, para uma situação
qualificar-se como pertencente à esfera da intimidade, é necessário que não
tenha qualquer repercussão na vida social, restringindo-se ao âmbito que
alguém reserva para si de maneira absolutamente exclusiva, e cita como exemplos: o diário; as próprias convicções, o segredo íntimo cuja mínima publicida16 José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 211.
17 J. L. Saldanha Sanchez. Segredo bancário e tributação do lucro real.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
219
de constrange. Quanto à vida privada, esta corresponderia a uma esfera mais
ampla, onde estão os relacionamentos com a família, os amigos, os colegas de
trabalho:
Trata-se de situações em que a comunicação é inevitável (em termos de relação de alguém com alguém que, entre si, trocam
mensagens), das quais, em princípio, são excluídos terceiros.
Terceiro é, por definição, o que não participa, que não troca
mensagens, que está interessado em outras coisas. Numa forma
abstrata, o terceiro compõe a sociedade, dentro da qual a vida
privada se desenvolve, mas que com esta não se confunde. (cf.
Luhmann, 1972). A vida privada pode envolver, pois, situações
de opção pessoal (como a escolha do regime de bens no casamento) mas que, em certos momentos, podem requerer a comunicação a terceiros (na aquisição, por exemplo, de um bem imóvel). Por aí ela difere da intimidade, que não experimenta esta
forma de repercussão.18
Para o referido jurista, a esfera da vida privada admite “uma certa gradação
nos direitos da privacidade”, que deverá ser correspondente e proporcional à
repercussão social que a situação enseja.19 Esse é, também, o entendimento de
J. L. Saldanha Sanchez que, ao dissertar sobre os diferentes níveis de proteção
conferido às várias “zonas de privacidade”, atribui essa ocorrência à necessidade
de uma ponderação dos vários bens jurídicos envolvidos, e, para exemplificar
seu pensamento, cita um caso da jurisprudência espanhola:
Na apreciação da constitucionalidade, da lei que permitia o
controlo administrativo das contas bancárias o Tribunal
Constitucional espanhol realizou uma distinção entre intimidade pessoal e familiar e a ‘intimidade econômica’ onde a proteção constitucional é menos intensa.20
Dessa forma, pode-se dizer que existem, dentro da esfera da privacidade,
situações com intensidades de proteção constitucional distintas, e que isso se
manifesta na medida em que outros interesses, de mesmo status constitucional,
entram em jogo ou, também, quando as próprias situações, em razão de sua
18 Tércio Sampaio Ferraz Jr.. Direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado,
p. 143.
19 Ibid. p. 142/143
20 J. L. Saldanha Sanchez. A situação actual do sigilo bancário: a singularidade do regime português.
220
faculdade de direito de bauru
transcendência econômica, vão se afastando do caráter de liberdade pessoal e se
aproximando mais de uma mera proteção patrimonial (fora da esfera da vida privada).21 Uma proteção constitucional menor, significa uma proteção passível de
mais exceções, sendo isso possível, porque nenhum direito ou princípio
(mesmo cláusula pétrea) pode se considerado absoluto.
No comentário de Aurélio Pitanga Seixas Filho,
A intimidade e a privacidade das pessoas deve ser inviolável,
nos termos do inc. X do mesmo art. 5.º, desde que não extrapole para a vida em sociedade, como é a atividade econômica em
que a pessoa tem que, necessariamente, prestar contas de seus
atos. (...)
Não há a menor dúvida ou questionamento de que o interesse
coletivo tem predominância sobre o interesse individual, que no
caso da intimidade ou vida privada, como os próprios termos
estão a indicar, restringe-se ao insulamento da vida pessoal.22
O Supremo Tribunal Federal, também, manifestou entendimento semelhante no já mencionado julgamento do RE 219.780, cujo relator foi o ilustre
Min. Carlos Velloso:
“CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. CF, art. 5º, X. I. - Se é certo que
o sigilo bancário, que é espécie de direito à privacidade, que a
Constituição protege art. 5º, X não é um direito absoluto, que
deve ceder diante do interesse público, do interesse social
e do interesse da Justiça, certo é, também, que ele há de ceder
na forma e com observância de procedimento estabelecido em
lei e com respeito ao princípio da razoabilidade. No caso, a
questão foi posta, pela recorrente, sob o ponto de vista puramente constitucional, certo, entretanto, que a disposição constitucional é garantidora do direito, estando as exceções na
norma infraconstitucional. II. - R.E. não conhecido23 (g.n.).
Como todos os princípios constitucionais, também o princípio correspondente ao direito à privacidade tem seus limites “demarcados” através da interpretação conjunta com outros princípios constitucionais, donde concluímos que
21 J. L. Saldanha Snachez. Segredo bancário e tributação do lucro real.
22 Aurélio Pitanga Seixas Filho. O sigilo bancário e o direito a intimidade e privacidade das pessoas, p. 243
23 Acórdão publicado no Diário da Justiça, 10.09.99, p. 23.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
221
o sigilo bancário, quando atuar como instrumento de realização do direito à privacidade e à intimidade, terá seus limites postos de maneira análoga aos desse
direito. Nas palavras de Tércio Ferraz Jr: “já por aí se observa que o direito à
inviolabilidade do sigilo ( faculdade) exige o sopesamento dos interesses do
indivíduo, da sociedade e do Estado (objeto)”.24
5.
SISTEMÁTICA DE LIMITAÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
De forma bastante sintética, podemos dizer que uma constituição, como
lei estrutural e legitimadora de um determinado estado, constitui-se num conjunto de normas representativas de um compromisso entre os todos os cidadãos, que ali depositaram suas aspirações políticas, sociais e econômicas. Esses
valores que a sociedade elegeu como fundamentais, são positivados na
Constituição através dos princípios constitucionais, de onde irão informar e condicionar todo o ordenamento jurídico. Assim, interpretar a Constituição significa entender os valores e os anseios de uma Nação. Tarefa das mais difíceis e
importantes.
Sobre o assunto, José Alfredo de Oliveira Baracho escreveu:
Não deve o jurista, ao interpretar a norma constitucional, afastá-la de sua origem política e ideológica, proveniente da vontade política fundamental. Em matéria constitucional, é quase
impossível apegar-se a critérios absolutos de interpretação.25
Na mesma linha, é o comentário de Eros Roberto Grau:
O que peculiariza a interpretação das normas da Constituição,
de modo mais marcado, é o fato de ser ela o ‘estatuto jurídico
do político’, o que prontamente nos remete à ponderação de
‘valores políticos’. Como, no entanto, esses ‘valores’ penetram o
nível jurídico, na Constituição, quando contemplados em princípios – sejam em ‘princípios positivos do direito’, seja em ‘princípios gerais do direito’, ainda não positivados -, desde logo se
antevê a necessidade de os tomarmos, tais princípios, como conformadores da interpretação das regras constitucionais.26
24 Tércio Sampaio Ferraz Jr.. Direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado,
p. 145.
25 Apud. Elcio Fonseca Reis, O estado democrático de direit. Tipicidade tributária. Conceitos
indeterminados e segurança jurídica, p. 158.
26 Eros Roberto Grau, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, p. 167.
222
faculdade de direito de bauru
A interpretação constitucional, assim como de qualquer outra norma, também deve ser efetuada pelos métodos tradicionais da hermenêutica, a saber: o
lingüístico, onde o que se procura é o significado das palavras e orações contidas no texto normativo; o sistêmico, onde se considera a norma em relação a
posição que ocupa no ordenamento jurídico como um todo e o relacionamento (substancial e material) entre as normas; e finalmente, o funcional, que estuda as diferentes funções (conflitivas ou não) de uma mesma norma. Contudo, a
interpretação constitucional vai além das regras da hermenêutica jurídica clássica; veja-se a posição do jurista alemão Peter Häberle:
Se se considera que uma teoria da interpretação constitucional
deve encarar seriamente o tema ‘Constituição e realidade constitucional’- aqui se pensa na exigência de incorporação das
ciências sociais e também nas teorias jurídico-funcionais, bem
como nos métodos de interpretação voltados para atendimento
do interesse público e do bem-estar geral-, então há de se perguntar, de forma mais decidida, sobre os agentes conformadores
da ‘realidade constitucional’.27
Com efeito, a Constituição, através dos princípios nela contidos, é expressão maior dos valores em que se assenta determinada sociedade, razão pela qual
se encontra impregnada de sentimentos, expectativas e conotações sociopolíticas, que não podem ser ignorados pelo intérprete. Por essas razões, a interpretação constitucional não pode ser realizada de maneira estritamente racional,
apenas através dos recursos hermenêuticos tradicionais, pois sua verdadeira
compreensão requer, do intérprete, um certo grau de visão histórica e de sensibilidade, para que seja capaz de efetuar a necessária ponderação e conciliação
de valores.
Canotilho entende que a utilização de métodos de balanceamento ou ponderação no direito constitucional representa uma “viragem metodológica necessária”, e explica sua opinião, decompondo-a em três justificativas:
(1) inexistência de uma ordenação abstracta de bens constitucionais o que torna indispensável uma operação de balanceamento
desses bens de modo a obter uma norma de decisão situativa, isto é,
uma norma de decisão adoptada às circunstâncias do caso; (2) formatação principial de muitas das normas do direito constitucional
(sobretudo das normas consagradoras de direitos fundamentais) o
27 Apud. Gilmar Ferreira Mendes. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e
revisão de fatos e prognoses legislativas pelo órgão judicial.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
223
que implica, em caso de colisão, tarefas de ‘concordância’, ‘balanceamento’, ‘pesagem’, ‘ponderação’ típicas dos modos de solução de
conflitos entre princípios (que não se reconduzem, como já se firsou,
a alternativas radicais de ‘tudo ou nada’); (3) fractura da unidade
de valores de uma comunidade que obriga a leituras várias dos conflitos de bens, impondo uma cuidadosa análise dos bens em presença e uma fundamentação rigorosa do balanceamento efectuado
para a solução dos conflitos.28
De fato, a Constituição Federal, como expressão dos valores escolhidos como
fundamentais pela sociedade (plural por natureza), é suporte para um amplo espectro de valores que, inevitavelmente, resultarão em eventuais contradições.
Nesse mesmo sentido, Douglas Yamashita observa que
Muito embora a Constituição aspire a inteira eficácia desses
valores nela positivados, a inteira realização simultânea desses
valores é praticamente impossível. ‘Dois ou mais valores aspirados sempre estão em relação de tensão, de tal modo que um
‘plus’ na realização de um valor significa um ‘minus’ na realização de outro ou outros valores’.29
A convivência entre todos esses valores constitucionais, às vezes de ideologias diferentes, geram situações de conflito entre os diferentes princípios
albergados pela Carta Constitucional, são as chamadas “antinomias de princípio”. A esse respeito, escreveu Norberto Bobbio:
Fala-se de antinomia no Direito com referência ao fato de que
um ordenamento jurídico pode ser inspirado em valores contrapostos (em opostas ideologias): consideram-se, por exemplo, o
valor da liberdade e o da segurança como valores antinômicos,
no sentido de que a garantia da liberdade causa dano, comumente, à segurança, e a garantia da segurança tende a restringir a liberdade; em conseqüência, um ordenamento inspirado
em ambos valores se diz que descansa sobre princípios antinômicos. Nesse caso, pode-se falar de antinomias de princípio. As
antinomias de princípio não são antinomias propriamente
ditas, mas podem dar lugar a normas incompatíveis.30
28 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1161.
29 Douglas Yamagushi, Direitos Fundamentais do Contribuinte, p. 721.
30 Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 90.
224
faculdade de direito de bauru
Veja-se que, quando Bobbio diz que “as antinomias de princípio não são
antinomias propriamente ditas”, diz isso porque, em verdade, os princípios
não se chocam, mas sim, autodelimitam-se num processo de “cedência recíproca”. Esta posição é endossada por Celso Ribeiro Bastos, conforme se verifica da
transcrição abaixo:
Ele (o intérprete) terá de evitar as contradições, antagonismos e
antinomias. As Constituições compromissórias sobretudo, apresentam princípios que expressam ideologias diferentes. Se, portanto, do ponto de vista estritamente lógico, elas podem encerrar verdadeiras contradições, do ponto de vista jurídico são sem
dúvida passíveis de harmonização desde que se utilizem as técnicas próprias de direito.
A simples letra da lei é superada mediante um processo de cedência
recíproca. Dois princípios aparentemente contraditórios podem harmonizar-se desde que abdiquem da pretensão de serem interpretados de forma absoluta. Prevalecerão, afinal, apenas até o ponto em
que deverão renunciar à sua pretensão normativa em favor de um
princípio que lhe é antagônico ou divergente.31
Observe-se que é nesse processo onde os princípios se “chocam” e se autodelimitam que surge a definição do âmbito ou núcleo de proteção de um direito fundamental. Em outras palavras, o âmbito de proteção de um direito fundamental é definido, também, pelas restrições que outros direitos fundamentais
lhe impõem.
Com efeito, Gilmar Ferreira Mendes atesta que “a idéia de restrição é quase
trivial no âmbito dos direitos individuais”,32 ocorrendo, até mesmo quando não
existe previsão expressa de reserva legal.
Tem-se a reserva legal quando o próprio texto constitucional, ao declarar
um direito fundamental, deixa uma indicação (na forma de um dever ao legislador), de que aquele direito não é absoluto e de que suas limitações deverão ser
observadas na produção legislativa infraconstitucional. Nessas hipóteses, o constituinte utiliza-se de expressões que fazem referência à lei infraconstitucional,
tais como: “nos termos da lei” (do inc. LVIII, art. 5.º) ou; “nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer” (do inc. XII, do mesmo artigo). Ou, pode utilizar-se
de expressões que se refiram a algum conceito jurídico, que funcionará como
“contrapeso” na limitação de um determinado direito, como no inc. XXIII, do
art. 5.º, que fala em “função social” da propriedade.
31 Celso Ribeiro Bastos, Comentários à Constituição do Brasil, v. 1, p. 348.
32 Gilmar Ferreira Mendes, Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 213.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
225
Mesmo quando a Constituição não faz reserva legal para o estabelecimento de restrições a um direito fundamental, ainda assim é possível que uma lei
infraconstitucional prescreva-lhe restrições. Isso é possível porque, em verdade,
a lei infraconstitucional estará apenas reconhecendo limites imanentes do
contexto sistemático da própria Constituição, imanentes da proteção concomitante a outros direitos ou bens.
É por tudo isso que Canotilho, afirma:
(...) a optimação de bens constitucionais levada a efeito através
da ponderação não pressupõe qualquer ‘exercício abusivo’,
‘arbitrário’ ou ‘inespecífico’ de um direito fora do respectivo
âmbito de proteção, pois o problema dos ‘limites imanentes’ é
irresolúvel através de critérios prévios, livres de qualquer ponderação, só podendo constituir-se como de ponderação de princípios jurídico-constitucionalmente consagrados . Numa palavra: os chamados ‘limites imanentes’ são o resultado de uma
ponderação de princípios jurídico-constitucionais conducente
ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma dimensão que, ‘prima facie’, cabia no âmbito prospectivo de um direito, liberdade ou garantia.33
Os “limites imanentes” ao direito fundamental à privacidade e à intimidade constituem-se, portanto, em outros direitos ou bens, também protegidos
constitucionalmente, cujos âmbitos de proteção, em certas situações, entram em
conflito. Vejamos alguns desses “limites”, especialmente no que se relacionam
com o direito ao sigilo bancário.
6.
LIMITES AO DIREITO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE
6.1 O Princípio do Estado Democrático de Direito
Logo de início, no art. 1.º da Constituição Federal de 1988, entendemos
que já temos uma dessas “limitações” ao sigilo bancário. O caput deste artigo
estabelece que a “A República Federativa do Brasil (...) constitui-se em Estado
Democrático de Direito”. Temos, pois, que a Constituição Federal foi além da
positivação do princípio do Estado de Direito, positivou, então, o princípio do
Estado Democrático de Direito, cuja diferença essencial reside em uma preocupação maior com a igualdade (em sua efetiva concretização) e com a justiça
social.
33 J. J. Gomes Canotilho, ob. cit., p. 1202.
226
faculdade de direito de bauru
Élcio Fonseca Reis faz ótima síntese da posição de Jorge Miranda, sobre o
significado da expressão “Estado Democrático de Direito”:
Jorge Miranda entende, sob a égide da constituição portuguesa,
que com a expressão ‘Estado de Direito Democrático’ o constituinte não optou por um modelo diferente do Estado Social de
Direito, mas apenas por um modelo mais exigente – mais exigente na efetivação da igualdade social, através dos direitos
econômicos, sociais e culturais’.34
Miguel Reale nos lembra que
(...) o adjetivo ‘democrático’ pode também indicar o propósito
de passar-se de um Estado de Direito, meramente formal, a um
Estado de Direito e de Justiça Social ... esse é a meu ver o espírito da Constituição.35
A forte conotação de “justiça social”, trazida já no primeiro artigo da
Constituição, demonstra que um dos grandes objetivos dessa Carta está na busca
contínua da igualdade sócio-econômica, em seu sentido material. E o aspecto
social, tão forte na Constituição brasileira, contrapõe-se, inevitavelmente, ao
aspecto individual, de forma que os direitos individuais não possam ser utilizados para criar, ou manter, desigualdades e privilégios. É o interesse público
sobrepondo-se ao interesse individual. Eis o primeiro limite que, no caso específico do sigilo bancário, relaciona-se com a possibilidade de o sigilo bancário ser
utilizado para esconder, da administração fiscal, sinais de riqueza passíveis de tributação pelo Estado.
Ocorre que o Estado Democrático de Direito é um Estado Fiscal, que
obtém os recursos necessários ao cumprimento de seus objetivos, através da
imposição tributária aos cidadãos. Quanto a isto, José Casalta Nabais, faz importante observação:
Por isso, bem, podemos afirmar, como já o fizemos em outro
lugar, que no actual estado fiscal, para o qual não se vislumbra
qualquer alternativa viável, pelo menos nos tempos mais próximos, os impostos constituem dever de cidadania, cujo cumprimento a todos nos deve honrar.36
34 Elcio Fonseca Reis, ob. cit. p. 160.
35 Apud. Douglas Yamaguhsi, ob. cit. p. 721.
36 José Casalta Nabais. Algumas reflexões sobre o actual estado fiscal.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
227
Em outras palavras, o Estado Fiscal, na realização de seus objetivos fundamentais, que são aqueles do art. 3.º da Constituição (construir uma sociedade
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o
bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação), necessita de dinheiro, e para isso cobra
tributos de seus cidadãos. É desse contexto que surge o chamado “dever fundamental de pagar impostos”, cujo bom cumprimento relaciona-se com a concretização dos objetivos fundamentais desta Nação.
Segundo Elcio Fonseca Reis,
O tributo, nesse contexto, deixa de ser simples fonte de receita
para o Estado, passando a ser utilizado como instrumento de
realização de justiça, vale-se do princípio da capacidade contributiva como meio de onerar aqueles economicamente mais
favorecidos, sendo utilizado, também, de forma extrafiscal,
para criar benefícios para regiões mais pobres. Dessa forma, a
igualdade no tratamento tributário deixa de ser meramente formal, passando a ser material. Esta é uma característica do
Estado social.37
6.2 O Princípio da Igualdade
Podemos dizer que um outro limite está no princípio da igualdade, positivado no caput do art. 5.º, in verbis:
Art. 5.º. Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes (grifo nosso).
Partindo da premissa de que nem todos os cidadãos estão nas mesmas condições de “esconder” seus rendimentos (sinais de riqueza) da administração fiscal, percebemos que o direito a esse segredo (o sigilo bancário), embora conferido, indistintamente, a todos os cidadãos, resulta numa situação de desigualdade dentro do conjunto, pois gera um privilégio para alguns. Ocorre que os trabalhadores autônomos
e as empresas, por terem controle sobre os seus balanços contábeis, dispõem de
recursos (ilícitos, diga-se de passagem) para ocultar rendimentos à Administração
37 Elcio Fonseca Reis, op. cit., p. 161.
228
faculdade de direito de bauru
Fiscal. Quem nunca ouviu, ao necessitar dos serviços de um profissional liberal, a pergunta: “com, ou sem recibo?”, na hora de se negociar sobre o preço do serviço. No
que diz respeito às empresas, qual seria o significado das expressões “balanço gerencial” e “meia-nota”, às vezes ouvidas no mundo empresarial, em oposição ao tradicional balanço contábil e a simples nota fiscal? É evidente, que os trabalhadores assalariados, que já têm seu imposto de renda deduzido, automaticamente, de seu salário, encontram-se em situação de desvantagem porque não têm possibilidade de
manter segredo sobre seus sinais de riquezas, perante o Fisco.
Sobre esse assunto, Cassalta Nabais faz uma provocante observação:
Com efeito, é de todo insustentável a situação a que uma parte
significativa e crescente de contribuintes se consegue alcandorar, fugindo descaradamente e com assinalável êxito aos impostos. E insustentável pela receita perdida que origina e, conseqüentemente, pelo ‘apartheid’ fiscal que a mesma provoca, desonerando os ‘fugitivos’fiscais e sobrecarregando os demais contribuintes que, não podendo fugir aos impostos, se tornam verdadeiros reféns ou cativos do Fisco por impostos alheios. Um
fenômeno que muito justamente coloca a questão de se saber se,
através desta via, não estamos de algum modo a regressar à
situação que com algumas excepções se manteve até ao triunfo
do estado constitucional, em que certas classes, ou seja, o clero
e a nobreza, estavam excluídos da tributação que assim, incidia
apenas sobre os membros do terceiro estado.38
Podemos até imaginar que, se todos os cidadãos estivessem em condição
de igualdade, no que se refere à possibilidade de manter segredo sobre o verdadeiro montante de seus rendimentos perante do Fisco, não haveria de se falar
em conflito entre o direito à igualdade e o direito à privacidade e à intimidade.
Contudo, não sendo essa a realidade, concluímos que o direito à igualdade participa das “limitações imanentes” ao direito à privacidade, especialmente naquilo em que se relaciona com o sigilo bancário.
6.3 O Princípio da Capacidade Contributiva ou da Justiça Fiscal
Um outro limite, ao direito à privacidade e à intimidade, reside no poderdever conferido à Administração Tributária, de concretizar o princípio da justiça
fiscal, através da detecção dos sinais de riqueza dos contribuintes. Este princípio
está insculpido no § 1.º do art. 145, in verbis:
38 José Casalta Nabais. ob. cit.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
229
Art. 145. (...)
§ 1.º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
O princípio da justiça fiscal ou da capacidade contributiva é explicado, em
sua essência, por Roque Antônio Carrazza:
O princípio da capacidade contributiva – que informa a tributação por meio de impostos – hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os
ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que quem, em
termos econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais
imposto do que quem tem pouco. Quem tem maior riqueza deve,
em termos proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem
menor riqueza. Noutras palavras, deve contribuir mais para a
manutenção da coisa pública.
O princípio da capacidade contributiva informa a tributação
por meio de impostos. Intimamente ligado ao princípio da igualdade, é um dos mecanismos mais eficazes para que se alcance a
tão almejada ‘Justiça Fiscal’.39
Do exposto por Carrazza, temos que a idéia de justiça ou eqüidade tributária tem a ver com a graduação dos impostos, em proporção à capacidade contributiva do cidadão, às riquezas do contribuinte. No contexto que envolve o
sigilo bancário, importante notar que princípio da capacidade contributiva não
se limita à esfera da produção legislativa (justiça formal), ele se estende ao
campo da fiscalização, que tem o dever constitucional de lhe “conferir efetividade”. Foi exatamente para isso que a Constituição deu à administração tributária
o poder-dever de identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Evidente, portanto, a limitação imposta ao direito à
privacidade e à intimidade.
E nem poderia ser de outra forma, principalmente no que se refere aos
impostos baseados na declaração do próprio contribuinte ou naqueles onde há
a autoliquidação, lembrando-se que a maioria dos impostos, hoje, incluem-se
numa dessas hipóteses. Nesses casos, a Administração depende da veracidade
39 Roque Antônio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 65.
230
faculdade de direito de bauru
dos dados prestados pelo contribuinte para que possa verificar a correta aplicação da norma tributária. Se não puder fiscalizar tais dados, podemos dizer que
para alguns contribuintes afortunados (no sentido de sorte), o dever de pagar
impostos deixa de ser compulsório, para ser quase que facultativo. Se a
Administração não puder ter acesso aos dados bancários, ficará na dependência
da boa-vontade dos cidadãos, o que não seria compatível com seu dever de zelar
pela concretização da justiça fiscal.
O fato é que ninguém gosta de pagar tributos, seja por duvidar que o
dinheiro será bem utilizado pelo Estado, seja por apego demasiado ao fruto de
seu trabalho árduo, de forma que, se o dever de pagar impostos fosse realmente facultativo, quase ninguém os pagaria.
Ives Gandra Martins explica o assunto de maneira interessante, utilizandose da teoria que divide as normas jurídicas em normas de aceitação e de rejeição
social. As primeiras sendo aquelas que os cidadãos, normalmente, cumpririam
mesmo que não houvesse sanções para seu descumprimento. O autor utiliza-se
do exemplo de norma que prescreva o respeito à vida, que, muito provavelmente, seria cumprida pela maioria dos cidadãos, mesmo que não houvesse sanção. Do outro lado, coloca as normas de rejeição social, sobre as quais, Ives
Gandra Martins faz a seguinte explicação:
O mesmo não acontece quanto às normas de rejeição social.
Nestas, prevalece a necessidade da norma sancionatória, única
capaz de fazer cumprida a norma de rejeição social.
O tributo, como o quer Paulo de Barros Carvalho, é uma norma.
É uma norma de rejeição social. Vale dizer, sem sanção não seria
provavelmente cumprida. A sanção é que assegura ao Estado a
certeza de que o tributo será recolhido, visto que a carga desmedida que implica traz, como conseqüência, o desejo popular
de descumpri-la.
Tanto assim é que um contribuinte, que seria incapaz de matar
alguém, mesmo que não houvesse norma sancionatória, muitas
vezes, é tentado a não pagar tributos, só o fazendo em face do
receio de que a norma sancionatória lhe seja aplicável.40
A explicação acima tem sentido, mas com o devido respeito ao ilustre tributarista, restou incompleta ao indicar que a sanção já seria suficiente para provocar o cumprimento da norma tributária (de rejeição social). Contudo, já anotava Cesare Beccaria, em seu clássico Dos Delitos e da Penas, que:
40 Ives Gandra Martins, O Sistema Tributário na Constituição de 1988, p. 12.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
231
O rigor do suplício não é que previne os delitos com maior segurança, porém a certeza da punição (...) A perspectiva de um castigo brando, porém inflexível, provocará sempre uma impressão
mais forte do que o impreciso medo de um suplício horrendo,
em relação ao qual aparece alguma esperança de não punição41 (grifo nosso).
Se a administração tributária não tiver como verificar a veracidade das
declarações dos contribuintes, estes terão mais do que “alguma esperança de
não punição”, podemos dizer que terão quase uma certeza de que não serão
punidos. No caso de tributos como o imposto de renda, os dados de movimentação bancária são absolutamente necessários à rapidez e à eficiência da fiscalização tributária, e por isso devem ser acessíveis ao Fisco. É nesses termos que o
poder-dever de fiscalização tributária, previsto na Constituição Federal, constitui-se num limite ao sigilo bancário e, conseqüentemente, ao direito à privacidade e à intimidade.
Consideramos que estes sejam os “limites imanentes” ao direito à privacidade
e à intimidade, mais pertinentes ao tema do sigilo bancário. Tais limitações justificamse, pois são capazes de evitar grandes lesões ao interesse público. Entretanto, jamais
poderão restringir o sigilo bancário a ponto de descaracterizar a proteção ao direito
individual à privacidade, também de reconhecida importância no sistema constitucional. Em poucas palavras, isto significa que os limites também têm limites. Aqui chegamos ao ponto decisivo para a análise da constitucionalidade de leis restritivas de
direitos fundamentais, como é o caso da Lei Complementar n. 105.
7.
A PROPORCIONALIDADE E A PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL
Apresentados alguns direitos fundamentais que funcionam como limites
ao direito à privacidade e à intimidade (e, conseqüentemente ao sigilo bancário), vejamos agora, se as restrições postas sobre esses direitos, pela Lei
Complementar n.º 105, de 10 de janeiro de 2001, são adequadas a esses limites
e, conseqüentemente, ao sistema constitucional.
Já vimos que uma lei restritiva de um direito fundamental, se legítima, estará apenas, em verdade, realizando uma composição de princípios constitucionais em “contradição”, composição esta que deve ser guiada pelos critérios da
proporcionalidade e da proteção do núcleo essencial, conforme veremos a
seguir. Esses critérios de interpretação permitem que a ponderação dos direitos
envolvidos seja resolvida, sem que qualquer um deles seja sacrificado completamente. É o que ensina Suzana Toledo de Barros:
41 Cesare Beccaria. Dos Delitos e Das Penas, p.56/7.
232
faculdade de direito de bauru
A exigência de uma ponderação de interesses em conflito, como
demonstrar-se-á, requer do legislador uma tarefa de concordância prática entre os direitos em jogo, de maneira a impedir o
sacrifício de um em relação ao outro. Nesse delicado procedimento, o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro técnico: por meio dele verifica-se se os fatores de restrição
tomados em consideração são adequados à realização ótima
dos direitos colidentes ou concorrentes. Afinal, o que se busca é
a garantia aos indivíduos de uma esfera composta por alguns
direitos, tidos por fundamentais, que não possam ser menosprezados a qualquer título.42
Gilmar Ferreira Mendes sintetiza a proteção do núcleo essencial, dizendo
que: “destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do direito fundamental
decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcionais”.43
Assinale-se, pois, que embora a idéia de restrição seja inerente à idéia de um
direito fundamental, esta jamais poderá anular ou esvaziar completamente o
conteúdo do direito que está a limitar.
Desse modo, o princípio da proporcionalidade pode ser entendido como
parâmetro a balizar a conduta do legislador quando estejam em causa limitações
aos direitos fundamentais.44
No mesmo sentido, é a lição de Luis Roberto Barroso:
O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos
atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo
valor supeior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça.45
Vejamos, então sob quais critérios, ‘o princípio da proporcionalidade’ possibilita a necessária ponderação de valores e aponta se uma restrição a um direito fundamental, seja ela judicial, legal ou administrativa, viola ou não o âmbito
de proteção desse direito.
Nesse passo, o princípio da proporcionalidade desdobra-se em três subprincípios, a saber: a) o da adequação e efetividade do meio escolhido; b) o da
imprescindibilidade do meio escolhido; b) o da proporcionalidade em sentido
estrito entre o meio escolhido e à finalidade perseguida.
42 Suzana de Toledo Barros, O Princípio da Proporcionalidade e o controle de constitucionalidade
das leis restritivas de direitos fundamentais, p.28.
43 Gilmar Ferreira Mendes, Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 243.
44 Cf. Suzana de Toledo Barros, ob. cit. p. 76.
45 Luis Roberto Barroso. Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 219.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
233
7.1 A Adequação e Efetividade do Meio Escolhido
Este subprincípio refere-se à capacidade do meio empregado, em realizar
um fim relevante para o interesse público. Através deste subprincípio, examinase tanto a legitimidade do fim perseguido, que deverá ser, necessariamente, a
satisfação de algum princípio constitucional, como a possibilidade de sucesso da
medida restritiva, em relação à sua finalidade.
Transportando essa análise para nosso caso concreto, concluímos que
qualquer restrição imposta ao direito à privacidade e à intimidade, através da flexibilização do acesso a dados bancários, deve ser capaz de atender a um fim
constitucionalmente legítimo que, no caso, é o de revelar a efetiva capacidade
contributiva dos contribuintes, necessária à concretização do princípio da justiça fiscal.
Quanto à legitimidade dos fins perseguidos pela Lei Complementar n. 105,
já os analisamos anteriormente, pois são coincidentes com aqueles que denominamos “limites imanentes ao direito à privacidade e à intimidade”, ou seja, à
realização dos princípios do Estado Democrático de Direito, do direito à igualdade e da justiça fiscal.
7.2 A Imprescindibilidade do Meio Escolhido
O critério da imprescindibilidade exige que, para a persecução daquela
finalidade, não exista maneira menos restritiva aos direitos fundamentais. É o
que ensina Paulo Armínio Tavares Buechele:
Em síntese, o objetivo almejado pela Constituição não pode ser
atingido de outra maneira, que afete menos o indivíduo, a não
ser através daquela eleita pelo legislador infraconstitucional,
no momento em que estipula a norma limitadora de um direito
fundamental. (...)
Em outras palavras – conforme o comentário de Maunz/Dürig – de
todas as medidas que igualmente servem à obtenção de um fim,
cumpre eleger aquela menos nociva aos interesses do cidadão.46
No caso da Lei Complementar n. 105, deve ser verificado se a apuração da
real capacidade contributiva do contribuinte, através do acesso aos dados de movimentação bancária, não poderia ser alcançada por meios menos restritivos à esfera
da privacidade dos cidadãos e, ainda assim, de forma igualmente eficiente.
46 Paulo Armínio Tavares Buechelle, O Princípio da Proporcionalidade e a Interpretação
Constitucional, p. 130.
234
faculdade de direito de bauru
Como já fixamos anteriormente, a imposição tributária constitui-se em norma
de rejeição social, razão pela qual uma simples convocação para a declaração de
bens e rendimentos não garante a veracidade das informações, principalmente na
hipótese de a administração tributária não ter como confirmá-las ou desconfirmálas. Contudo, como tais declarações gozam de presunção juris tantum de veracidade, somente se verificará a imprescindibilidade do acesso aos dados bancários
quando existirem indícios de que as declarações não sejam fiéis à realidade. Nesse
sentido, a Lei Complementar n. 105, em seu art. 6.º dispôs, in verbis;
Art. 6.º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instruções financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Vê-se, da leitura da lei, que o legislador infraconstitucional preocupou-se com
o critério da imprescindibilidade, quando determinou que o exame àqueles dados
deve ser considerado indispensável pela administração. Além disso, a exigência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso já evidencia a
necessidade, também, de que hajam indícios suficientes apontando contra a veracidade das declarações fornecidas pelo próprio contribuinte. Desta forma, entendemos que as exigências do princípio da imprescindibilidade do meio escolhido,
foram atendidas pela Lei Complementar em análise.
7.3 A Proporcionalidade em Sentido Estrito
Este subprincípio, também chamado de “proporcionalidade em sentido estrito
entre o meio escolhido e à finalidade perseguida”, traduz-se na exigência do devido
sopesamento, entre a finalidade perseguida e a restrição imposta; sopesamento que,
nada mais é, senão, uma ponderação dos valores constitucionais envolvidos.
Nas palavras de Paulo Armínio Tavares Buechele,
Portanto, a ponderação entre dois direitos fundamentais atingidos
pela medida legal restritiva, para definir-se, no caso concreto, se o
dano provocado a um deles em benefício da proteção do outro se
justifica ante os objetivos maiores pretendidos pela Constituição,
consiste no cerne do subprincípio da proporcionalidade.47
47 Ibid., p. 134.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
235
Entendemos que essa circunstância também foi atendida pela Lei
Complementar n. 105, em razão da grande importância da finalidade que persegue: a obtenção de recursos para o financiamento do Estado Democrático de
Direito, de forma justa e igualitária, respeitando a efetiva capacidade contributiva de cada cidadão, em contraposição com a superficial “invasão” da privacidade que promove na vida dos cidadãos. Senão vejamos.
Já restou dito que os dados bancários e contábeis situam-se na parte
menos protegida da esfera da privacidade, isso em razão de sua transcendência
econômica e de sua relação apenas indireta com os aspectos da vida privada das
pessoas. Aliás, relação que a Lei Complementar n. 105 fez por minimizar, quando estabeleceu no § 2.º, do art. 5.º, que, in verbis:
Art. 5.º As informações transferidas na forma do ‘caput’deste
artigo restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento
que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a
partir deles efetuados.
Além do mais, lembremos que a Administração Tributária está obrigada, legalmente, a não divulgar tais dados bancários, de forma que sua circulação restará restrita ao âmbito administrativo-fiscal. A esfera íntima ou privada, que eventualmente
possa ser apreendida através desses dados, não ficará exposta publicamente.
Ao que nos parece, o devido sopesamento entre meios e fins foi realizado
de maneira satisfatória e legítima.
8.
CONCLUSÃO
Na introdução deste trabalho, propusemos-nos à análise do instituto do sigilo bancário em face do ordenamento jurídico e de sua relação com o direito individual à privacidade e à intimidade. Isso tudo na busca de subsídios que nos indicassem se as restrições impostas a esses direitos pela Lei Complementar n. 105
seriam legítimas, ou não, sob o aspecto constitucional. Vejamos nossas conclusões.
Primeiramente, estabelecemos que o direito ao sigilo bancário tem natureza instrumental, significando que sua função, dentro do ordenamento jurídico, é a proteção de outros direitos. Em especial, apontamos para a relação de
instrumentalidade existente entre o direito ao sigilo bancário e o direito individual à privacidade e à intimidade.
Assinalamos, então, que, embora relacionados, o direito ao sigilo bancário
e o direito à privacidade não se confundem. O sigilo bancário é positivado através de legislação infraconstitucional, enquanto que o direito à privacidade e à
236
faculdade de direito de bauru
intimidade não só está previsto expressamente na Constituição Federal, como
recebe status de princípio constitucional.
A propósito da distinção entre privacidade e intimidade, concluímos, em acordo com a “teoria das esferas”, que a intimidade corresponde a uma pacela mais exclusiva da vida privada, sem repercussão social, recebendo, por isso, proteção constitucional mais intensa. Quanto à privacidade, esta admite diferentes níveis de proteção,
graduados em proporção com a repercussão social ensejada pela situação específica.
Nessa trilha, procuramos demonstrar que o âmbito de proteção do direito
à privacidade e à intimidade é resultado de um “jogo de autodelimitação entre
princípios constitucionais”, de maneira que seu alcance é determinado, em
parte, pelas “restrições imanentes” da proteção constitucional a outros institutos, tais como o interesse público, o direito à igualdade e o princípio da justiça
fiscal. Contudo, assinalamos que essas “delimitações” impostas a um direito fundamental jamais poderão ser tão intensas, ao ponto da descaracterização desse
direito. Seu núcleo essencial deverá ser, sempre, protegido.
Surge, então, o “princípio da proporcionalidade”, a fornecer-nos os critérios de avaliação quanto à constitucionalidade das restrições colocadas aos direitos fundamentais, a saber:
a) adequação e efetividade do meio escolhido;
b) imprescindibilidade do meio escolhido; e
c) proporcionalidade em sentido estrito.
Submetendo o texto da Lei Complementar n. 105 naquilo que trata do sigilo bancário, aos critérios acima mencionados, só nos foi permitido concluir que
a Lei Complementar n. 105 é constitucional. Isso porque é fiel ao conjunto de
valores postos pela Constituição Federal brasileira, porque vai de encontro aos
objetivos do Estado Democrático de Direito e porque é necessária ao estabelecimento da justiça fiscal em nosso País.
REFERÊNCIAS
ABRÃO, Nelson. Direito Bancário.3.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996.
ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional da Própria Imagem: pessoa física, pessoa jurídica e produto. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.
BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília
Jurídica, 2000.
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 4.ed. São Paulo:
Saraiva, 2001.
BASTOS, Celso Ribeiro. Sigilo Bancário. In: ________. Estudos e Pareceres – Direito
Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 57-72.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
237
BASTOS, Celso Ribeiro & MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil.
São Paulo: Saraiva, 1988. v. 2.
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo:
Hemus, 1983.
BELLINETTI, Luiz Fernando. Limitações legais ao sigilo bancário. São Paulo: Revista de
Direito do Consumidor, n. 18, p. 141-161, abr./jun. 1996.
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite
dos Santos. Brasília: Polis, 1991.
BUECHELE, Paulo Armínio Tavares. O Princípio da Proporcionalidade e a Interpretação
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
CAMBI, Eduardo. A inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e fiscal sem autorização judicial. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v.2, n.
11, p. 26-28, maio./jun. 2001.
CAMPOZ, Laura Rodriguez. Derechos del Contribuyente en la República Argentina, al
amparo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Disponible em:
<http://www.iefpa.org.ar/criteriosdigital/artículos/derechos.htm> Acesso em: 2002.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.
3.ed. Coimbra: Almedina, 1998.
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 11.ed. São
Paulo: Malheiros, 1998.
CAVALCANTE, Denise Lucena. Sigilo bancário e o devido processo legal. Disponível em:
<http://www.agu.gov.Br/ce1/Pages/Revista/Artigos/0504Denise .pdf > Acesso em: 12
jul. 2002.
COVELLO, Sérgio Carlos. O Sigilo Bancário. São Paulo: Leud, 2001.
DELGADO, José Augusto. O sigilo bancário no ordenamento jurídico brasileiro. Revista
de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, ano 4, n. 13,
p. 13-52, jul./set. 2001.
FEDER, João. A fiscalização do dinheiro público e o sigilo bancário. Revista Forense, Rio
de Janeiro, v. 85, n. 308, p. 51-58, out./dez. 1989.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do
Estado. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 141154, 1993.
________. Sigilo Bancário. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE SIGILO BANCÁRIO DO CENTRO
ESTUDOS VICTOR NUNES LEAL, 2001, Brasília. Disponível em:
DE
<http://www.agu.gov.Br/ce/cenovo/revista/0504Tercio.doc> Acesso em 12 jul. 2002.
GONÇALEZ, Antonio Manoel. A questão do sigilo bancário para efeitos tributários.
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 3, n. 9, p. 155-157,
out./dez. 1994.
238
faculdade de direito de bauru
GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. O Sigilo bancário e de dados financeiros e a tutela
da privacidade e intimidade. In: Renan Lotulfo (Coord.). Direito Civil Constitucional:
Cadernos 1, São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 215-253.
GONÇALVES, Ivens Roberto Barbosa. Facilitar a quebra dos sigilos bancários atenta contra as garantias individuais e outros princípios constitucionais. São Paulo: Direito & Paz,
ano 3, n. 4, p. 217-234, 2001.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 4.ed. São Paulo:
Malheiros, 1998.
HAGSTROM, Carlos Alberto. O sigilo bancário e o poder público. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 29, n. 79, p. 34-62, jul./set.
1990.
HERRERA, Alfredo Echeverría. El sigilo bancário – acceso a la informacion bancaria
para
fines
tributários.
Disponível
em:
<http://www.agu.gov.br/
ce/pages/revista/EdEspecial.sigilobancario/EdEspecialDoutrinaAlfredoE.rtm> Acesso
em: 12 jul. 2002.
LIMA, Rogério. Pode o fisco, por autoridade própria, quebrar o sigilo bancário do contribuinte?. Revista Tributária de Finanças Públicas, São Paulo, v.8, n. 34, p.146-156,
set./out. 2000.
MARTINS, Ives Gandra da Silva Martins. Inconstitucionalidades da Lei Complementar
105/2001. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São
Paulo, v. 4, n. 11, p. 31-38, jan./mar. 2001.
________. Sigilo Bancário em Matéria Fiscal. Cadernos de Direito Tributário e
Finanças Públicas, São Paulo, v. 3, n. 12, p. 66-76, jul/set 1995.
________. O Sistema Tributário na Constituição de 1988. 5.ed. São Paulo: Saraiva,
1998.
MENDES. Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e prognoses legislativas pelo órgão judicial. Disponível em:
<http://www.agu.gov.Br/serviço-jur/contconstit.doc> Acesso em: 12 jul. 2002.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília
Jurídica. 2000.
NABAIS, José Casalta. Algumas reflexões sobre o actual estado fiscal. Disponível em:
<http://www.agu.gov.Br/ce/cenovo/revista/0504CasaltaFiscal.doc> Acesso em: jul.
2002.
REALE, Miguel. Os direitos da pessoa e o sigilo bancário. In: _____. Questões de Direito
Privado. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 57-64.
REIS, Elcio Fonseca. O estado democrático de direito. Tipicidade tributária. Conceitos
indeterminados e segurança jurídica. Revista Tributária de Finanças Públicas, São
Paulo, v.8, n.34, p.157-168, set./out. 2000.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
239
ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba:
Juruá, 2001.
ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios Constitucionais. Porto Alegre: Sérgio
Antonio Fabris Editor, 1999.
SADDI, Jairo. A nova lei de “lavagem de dinheiro” e sua constitucionalidade. Cadernos
de Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 6, n. 23, p. 25-31. 1998.
SANCHES, J. L. Saldanha. A situação actual do sigilo bancário: a singularidade do regime
português. In: _______. Estudos de Direito Contabilístico e Fiscal. Coimbra: Coimbra
Editora, 2000. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/ce/ pages/revista/EdEspecial/sigilobancario/EdEspecialInter/EdEspecialDoutrinaSaldanha.htm> Acesso em: 12 jul. 2002.
________. Segredo bancário e tributação do lucro real. In: ________. Estudos de
Direito Contabilístico e Fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. Disponível em:
<http://www.agu.gov.br/ce/pages/revista/EdEspecial/sigilobancario/EdEspecialInter/EdE
specialDoutrinaSaldanha.htm> Acesso em: 12 jul. 2002.
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Sigilo Bancário e a Administração Tributária.
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 3, n. 11, p. 269-81,
abr./jun. 1995.
________. A quebra do sigilo bancário e o fisco. In: CICLO DE PALESTRAS JURÍDICAS – UNIBANCO / FEBRABAN, 2001, São Pulo. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/ce/cenovo/revista/0508OthonQuebradoSigilo.doc> Acesso em: 12 jul. 2002.
SCHERKERKEWTIZ, Isso Chaitz. Considerações sobre um futuro estatuto dos contribuintes. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v.10, n.42, p. 246-267,
jan./fev. 2002.
SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. O sigilo bancário e o direito a intimidade e privacidade
das pessoas. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v.10, n.42, p. 241245, jan./fev. 2002.
SOUZA, Hamilton Dias de. Sigilo bancário e o direito à liberdade. Revista Tributária de
Finanças Públicas, São Paulo, v.8, n.30, p.139-145, jan./fev. 2000.
YAMAGUSHI, Douglas et al. Direitos Fundamentais dos Contribuintes. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000.
WALD, Arnoldo. Sigilo bancário e os direitos fundamentais. Cadernos de Direito
Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 6, n. 22, p. 15/31, jan./mar. 1998.
Da tutela antecipada nas possessórias
fundadas na posse velha*1
Clito Fornaciari Júnior
Mestre em Direito pela PUCSP.
Advogado.
Palavras-chave: Tutela antecipada, risco de dano irreparável, dignidade constitucional,
devido processo legal, plenitude do direito de defesa, processo civil de resultados, ações
possessórias, posse velha, vedação da proteção antecipada.
1.
DA TUTELA ANTECIPADA
Não se pode negar que a grande novidade que a reforma processual,
desenvolve-se desde 1992, trouxe ao processo civil brasileiro foi a introdução,
entre nós, da tutela antecipada,2 possibilitando ao magistrado adiantar os efeitos
da própria prestação jurisdicional postulada pelo autor, ainda que diante de um
exame necessariamente precário das nuanças do caso, até porque realizado
*
1
2
O artigo do ilustre Professor CLITO FORNACIARI JÚNIOR foi, gentilmente, encaminhado para publicação
na RIPE, pelo Professor Ms. PAULO HENRIQUE SILVA GODOY, respeitado mestre desta Faculdade de
Direito de Bauru – ITE.
Trabalho escrito em homenagem ao eminente processualista ÉGAS DIRCEU MONIZ DE
ARAGÃO, que empresta sua privilegiada inteligência para o desenvolvimento do Direito
Processual Civil Brasileiro.
A tutela antecipada já vinha contemplada no Código de Defesa do Consumidor para as
demandas voltadas ao cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer (art. 84, § 3º), colocando como requisitos para a sua concessão a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final.
242
faculdade de direito de bauru
antes de ter, nos autos, a totalidade das alegações e das provas, que lhe ensejam
a formação de sua convicção plena.
Para tanto, reclama a lei prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, aliada, na hipótese mais comum, ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em se aguardando o desfecho do processo (art. 273
do CPC).
A inovação implicou mudança radical do eixo em que se assentava a dinâmica do processo. Os estudiosos de Direito Processual Civil foram educados na
linha da preservação do direito de defesa, como valor absoluto, conferindo-se ao
réu, quando não expressamente, a cômoda posição de se presumir “inocente”,
até prova em contrário. Dessa concepção não se afastou o texto constitucional,
que, diversamente, tratou de conferir dignidade constitucional, inclusive como
cláusulas inderrogáveis, a princípios e regras de processo, que se dirigem, exatamente, neste sentido, entre elas se destacando o devido processo legal e a plenitude do direito de defesa.3
Atualmente, com ou sem plenitude do direito de defesa, o valor supremo
que se prestigia no processo é a eficácia do provimento, buscando igualmente
fazê-lo o mais rápido possível. Nessa linha, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
proclama que “o processo civil de hoje é necessariamente um processo civil de
resultados, porque sem bons resultados, e efetivos, o sistema processual não se
legitima”.4 Contribui para alcançar essa finalidade, sem dúvida alguma, o instituto da tutela antecipada, sem embargo de ensejar um resultado embasado
somente em mero juízo de plausibilidade e não de certeza, de vez que, muito
embora se coloque como requisito para o seu deferimento a existência de prova
inequívoca, o juízo que se aceita como suficiente é o da verossimilhança, marcado pela mera probabilidade5 do afirmado pelo autor, ainda na esteira do
fumus boni iuris do processo cautelar,6 do qual podem ser retiradas as coordenadas para sua interpretação.
3
4
5
6
TEORI ALBINO ZAVASCKI reconhece que a previsão da tutela antecipada restringe a segurança jurídica que a Constituição Federal consagra no inciso LIV, do seu art. 5º. Entende,
porém, que esta restrição se torna possível quando um outro direito fundamental estiver em
vias de ser desprestigiado. No caso, afirma existir na Lei Maior o direito à efetividade da jurisdição, como uma decorrência do direito de acesso à justiça, que deve ser garantido por meios
expeditos e eficazes de exame da demanda e de concretização de seus resultados (“Antecipação
de Tutela e Colisão de Direitos Fundamentais”, Reforma do Código de Processo Civil, São Paulo,
Saraiva, 1996, obra coletiva coordenada por SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, págs. 146
e segs.).
“Nasce um novo Processo Civil”, Reforma cit., pág. 14.
J. E. CARREIRA ALVIM diz ser a probabilidade o critério mais seguro para se apurar a verossimilhança, vendo-a retratada em uma situação intermediária entre a ignorância e a certeza
(“A Antecipação da Tutela na Reforma Processual”, Reforma cit., págs. 60 e segs.).
Mais longamente nesse sentido, nossa posição em Reforma Processual Civil (Artigo por Artigo),
São Paulo, Saraiva, 1996, págs. 37.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
2.
n.
44
243
DA TUTELA ANTECIPADA COMO REMÉDIO ESPECÍFICO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
A disciplina da tutela antecipada vem lançada dentre as disposições do
processo de conhecimento (Livro I do CPC), que guardam também a conotação
de regras gerais de processo, dado que aquilo que no Livro I se estabelece é aplicável não só ao processo de conhecimento, mas também aos demais processos
regrados pelo Código e pela legislação extravagante. Mais especificamente, a
tutela se prescreve entre os artigos que definem o procedimento, em suas regras
gerais (Titulo VII, Capítulo I, do Livro I, do CPC).7
Apesar do caráter geral das normas do Livro I do Código, a tutela antecipada é medida atinente especificamente ao processo de conhecimento.
Possibilita que se confira eficácia antecipada aos provimentos de ações de conhecimento de qualquer natureza, o que somente seria viável com a prolação da
sentença de mérito procedente e, via de regra, somente seria exeqüível, se de
condenação se cuidasse, após o seu trânsito em julgado.
Para as demais modalidades de processo, a providência soa impertinente,
até porque tanto a execução, como o cautelar possuem, no seu bojo, providências enérgicas e imediatas de concretização de direitos, decorrentes de sua própria natureza, que prescindiriam de qualquer outro ato voltado a tornar o processo mais eficaz e seus comandos mais prontamente realizáveis. Assim, na execução, tem lugar a penhora, afetando à solução do débito determinado bem do
patrimônio do devedor; por seu turno, nas medidas cautelares, está prevista a
possibilidade de sua concessão liminarmente e até sem a oitiva da parte contrária. Não há, assim, como se associar a esses procedimentos o regime da tutela
antecipada ou algo que a tanto pudesse ser equiparado.
De outro lado, estando o instituto regrado nas disposições gerais acerca do procedimento, em título que cuida dos enunciados gerais referentes
ao procedimento comum, desdobrado em ordinário e sumário, não há dúvida de que a tutela pode ser deferida em ambos os procedimentos, mesmo
porque, no grande número de casos, a imposição de um ou outro decorre
do simples valor da causa, sem qualquer consideração do bem da vida em
disputa.
7
O art. 461 do Código de Processo Civil também prevê a concessão de tutela antecipada (§ 3º),
fazendo-o particularmente com relação ao cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer.
A norma pode ser vista como específica para aquela modalidade de obrigação, justificando-se
apenas por força de ter como preocupação primeira o cumprimento in natura daquelas obrigações, colocando a sua conversão em perdas e danos como hipótese que, a todo custo, deve
ser evitada.
244
3.
faculdade de direito de bauru
DAS PARTICULARIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Todavia, o procedimento comum, como é sabido, não representa a única
via para o trilhar dos processos. Por razões de política legislativa, o legislador
prestigiou alguns direitos e relações jurídicas, dando-lhes um caminho próprio
e específico para o caminhar dos processos que sobre eles versem.
Esses procedimentos especiais encontram-se disciplinados no Código de
Processo Civil e na legislação extravagante, representando, em síntese, um caminho próprio e específico para o trâmite dos processos, o que se faz por normas
de ordem pública, insuscetíveis de serem derrogadas por vontade das partes.
A especialidade desses procedimentos – evidentemente particular a cada
qual – denota-se em vista da atribuição a simples processos voltados à obtenção
de sentença de mérito, que resolva um conflito de interesses entre as partes, de
alguma ou algumas particularidades que não seriam pertinentes, via de regra, a
processos de conhecimento. Existe como que uma mescla de processo de
conhecimento, com execução ou cautelar ou com ambos simultaneamente.
As características mais comuns, nesse sentido, são a exigência de prova
pré-constituída para a propositura da ação (depósito, mandado de segurança); a
conferência de carga executiva à sentença, prescindindo da propositura, ao
depois, de sua execução, que nela já se encontra embutida (despejo, possessória); e a possibilidade de concessão de liminar que, no sistema anterior, era vista
com natureza cautelar, mas que, corretamente, se demonstra como típica tutela
antecipada,8 de vez que, no início do processo, se faz possível a concessão liminar, embora provisoriamente, da própria tutela reclamada, que será apreciada
somente ao final do procedimento, quando da prolação da sentença.
Portanto, alguns procedimentos especiais têm já embutida no seu peculiar
itinerário – e isso muito antes de se pensar em disciplinar a tutela antecipada,
nos moldes em que se apresenta atualmente – a possibilidade de sua concessão
previamente, no nascedouro do processo, exigindo para tanto somente prova de
que se afiguram os requisitos para tanto, afinando-se, pois, à verossimilhança e
ao perigo de dano irreparável que bem se adequavam ao fumus boni iuris e ao
periculum in mora, em que se ancora a medida cautelar.
4.
DA TUTELA ANTECIPADA NOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Evidentemente, em relação aos ritos especiais que já contemplam a possibilidade de concessão de tutela antecipada, sem qualquer outra particularidade,
senão aquelas decorrentes de seu regime comum, não se necessita do amparo
8
Cf. nosso “O Procedimento das Chamadas Ações Possessórias”, Posse e Propriedade, São Paulo,
Saraiva, 1987, obra conjunta coordenada por YUSSEF SAID CAHALI, pág. 193.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
245
da regra geral, porque a especial já atende a essa finalidade, persistindo, pois, a
possibilidade do deferimento da antecipação da tutela, nos moldes demarcados
pelo procedimento em si.9
Todavia, há procedimentos em que a sua marca distintiva não está na possibilidade de concessão de tutela antecipada, mas em outra faceta qualquer, às
vezes atinente a requisitos prévios ou à execução da sentença. De outro lado,
existem ainda outros procedimentos especiais que admitem a concessão da tutela antecipada, porém a condicionam a requisitos específicos, que destoam da
regra geral. Para esses casos, torna-se relevante a discussão acerca da possibilidade de se estar concedendo, mesmo à falta de regra específica, a tutela antecipada de que cuida o art. 273 do Código de Processo Civil.
5.
DA APLICAÇÃO DO ART. 273 AOS RITOS ESPECIAIS QUE NÃO
COGITAM DE LIMINAR
A utilização das regras gerais de procedimento para uma particular espécie supõe o atendimento de dois pressupostos: é necessário, em primeiro lugar,
que se apresente a lacuna no sistema a ser integrado; em segundo lugar, é preciso que a norma a ser trazida de empréstimo seja compatível com as regras e os
princípios referentes ao sistema a ser integrado. Se não houver lacuna, a regra
especial impede a incidência da geral, sendo o quanto basta. Se, diversamente,
existir a lacuna, só então há de se perquirir acerca da compatibilidade entre a
disposição lacunosa e o preceito integrador, que, fazendo-se presente, libera o
sistema para a recepção da norma com caráter geral.
Nessa linha, não se vislumbra qualquer óbice para a antecipação de tutela
em casos de procedimentos especiais que nada disponham acerca do assunto,
não cogitando da possibilidade ou não de se deferir a antecipação dos efeitos da
tutela reclamada. Se a característica do procedimento não estiver nesse traço, a
tutela antecipada se faz possível, devendo se definir, tão-só, acerca da credibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, caso a medida não
venha a ser deferida de início, rigorosamente conforme a linha demarcada pelo
art. 273. Se estiverem presentes esses requisitos, a tutela deve ser concedida,
tomando-se como fundamento a regra geral, que se revela adequada à situação
particular.
9
É o que se passa com as próprias ações possessórias promovidas dentro de ano e dia contados
da turbação ou esbulho, não se necessitando considerar a regra geral, de vez que da especial
tanto já decorre. LADISLAU KARPAT (A tutela antecipada na defesa da posse e da propriedade,
Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2003, págs. 55 e 64, particularmente) considera, corretamente, a
concessão liminar da proteção possessória como tutela antecipada, embora a enfrente à luz da
previsão do art. 273 do Código de Processo Civil.
246
6.
faculdade de direito de bauru
DA APLICAÇÃO DO ART. 273 AOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
QUE ADMITEM LIMINAR
Relativamente aos procedimentos especiais que prevêem a antecipação de
tutela, porém condicionada a uma particular circunstância, cuja falta é impedimento ao uso do rito especial, a questão que se coloca é sobre a possibilidade
de ser deferida a antecipação, mesmo nos casos em que aquela circunstância não
existe ou desapareceu e com ela se inviabilizou o uso do rito especial, como se
passa, particularmente, com o mandado de segurança e a ação possessória.
Não se denota, nesses casos, a existência de lacuna, a não ser quanto à
regulamentação da tutela fora dos casos de que expressamente cuida. A natureza da relação jurídica ou o direito a ser discutido foram considerados pela lei
como merecedores, em princípio, de uma mais premente e eficaz proteção judicial, mas alguma condição particular se lançou como requisito indispensável a
ser atendido e, se não o for, o rito especial deixa de ser possível e, assim, a antecipação, dentro das coordenadas particulares daquele procedimento, também
resta inviabilizada.
Pode dizer-se que a dimensão do risco de dano ou da plausibilidade da alegação está associada ao requisito que não foi observado, de modo que a concessão
da medida, por via transversa, ou seja, abstraindo dos rigores impostos pela norma
particular, representaria a negação da própria sistemática específica.10
Essa primeira conclusão, no entanto, não pode ser aceita sem se indagar
acerca do sentido do pressuposto requerido como específico, ou seja, qual o
interesse a que ele visa a tutelar, de vez que, conforme a intenção do legislador,
a conclusão necessariamente será diversa.
7.
DA TUTELA ANTECIPADA DIANTE DA POSSE VELHA
Quanto às chamadas ações possessórias, entendidas como aquelas que
requerem prévia existência de posse do autor, turbada, esbulhada ou ameaçada,11 o art. 924 do Código de Processo Civil, agasalhando uma distinção que já
vinha do art. 523 do Código Civil revogado,12 confere a elas o rito especial, no
10 Interessante, nesse sentido, acórdão do 2º TACSP, relatado por ANTONIO RIGOLIN, que
admitiu, em tese, a aplicação da regra do art. 273 para a concessão de tutela antecipada às ações
possessórias em que se discute posse velha, mas entendeu que a demora no seu ajuizamento
contrasta com o risco de perigo de dano irreparável (7ª Câmara, AI 644026-00/5, julgado em
01.08.2000).
11 Conforme nosso “O procedimento das chamadas ações possessórias” cit., pág. 183.
12 O Código Civil atual não contém disposição no mesmo sentido, no que anda bem, de vez que
a norma da legislação passada tinha natureza processual, cuidando da “ação possessória”
(melhor seria do procedimento possessório), prevendo-a sumária, nos casos de turbação e
esbulho de menos de ano e dia, e ordinária, nas demais hipóteses.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
247
qual se encontra embutida a possibilidade de concessão da tutela antecipada,
quando promovidas dentro de ano e dia da data da turbação ou esbulho.
Vencido esse prazo, o legislador faz andar o procedimento pela via comum, deixando expresso que, ainda assim, não perdem o caráter possessório.
Nessa linha, um argumento simplista poderia referendar a conclusão de
que a tutela antecipada, mesmo depois do ano e dia, é possível, de vez que o é
no rito comum, sumário ou ordinário, conforme claramente decorre das normas
que disciplinam o assunto, e a demanda, nesse caso, estaria transitando pelo rito
comum.
Uma respeitável corrente jurisprudencial,13 assentada, primordialmente,
nas lições de LUIZ GUILHERME MARINONI14 e NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY15 e, pois, nem sempre embasada no raciocínio de
que cabe a tutela porque o procedimento agora é comum, sustenta essa possibilidade, fazendo, desse modo, com que desapareça, por completo, o sentido da
regra específica do procedimento especial das possessórias.
A questão do prazo lançado pelo legislador como o divisor de águas entre
um e outro procedimento não enseja, entretanto, um exame tão-só pelo prisma
formal, mas coloca-se como elemento do próprio direito material que o sistema
pretende resguardar, de onde a resposta simplista longe está de resolver o problema, pois, como bem coloca FRANKLIN NOGUEIRA, a regra do art. 273 não foi
editada para alterar a regra própria do procedimento especial.16
Na verdade, o ano e dia, como se costuma dizer, não é somente uma questão
processual, mas um elemento que aparta a posse nova da posse velha, sujeitas a
regimes jurídicos de direito material diferenciados. Assim, quando o legislador veda
o rito especial contra os esbulhos17 praticados há mais de ano e dia, ele não está
13 TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, AI 209684-4/9, rel. PAULO HUNGRIA, julgado em
26.06.2001; 1º TACSP, 4ª Câmara, AI 922659-5, rel. PAULO ROBERTO DE SANTANA, julgado em 10.05.2001; 1º TACSP, 5ª Câmara, AI 1053152-7, rel. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 15.05.2002; 1º TACSP, 5ª Câmara, AI 1214972-5, rel. MANOEL MATTOS, julgado em
03.09.2003; 1º TACSP, 10ª Câmara, AI 1211965-8, rel. ARY BAUER, julgado em 07.10.2003; 2º
TACSP, 3ª Câmara, AI 705623-00/2, rel. FERRAZ FELISARDO, julgado em 28.08.2001; 2º
TACSP, 11ª Câmara, AI 787369-00/7, rel. EGÍDIO GIACOIA, julgado em 10.03.2003; 2º
TACSP, 9ª Câmara, AI 761316-00/0, rel. CRISTIANO FERREIRA LEITE, julgado em
11.09.2002; 2º TACSP, 9ª Câmara, AI 552242-00/7, rel. EROS PICELI, julgado em 07.10.1998;
2º TACSP, 11ª Câmara, AI 656950-00/6, rel. MENDES GOMES, julgado em 23.10.2000; 2º
TACSP, 2ª Câmara, AI 636383-00/3, rel. PEÇANHA DE MORAES, julgado em 06.06.2000.
14 A antecipação da tutela, São Paulo, Ed. Malheiros, 1997, 3ª edição, pág. 125.
15 Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2002, 6ª edição,
pág. 1138.
16 1º TACSP, 8ª Câmara, AI 751769-7, julgado em 01.10.1997.
17 A questão tem relevância quando se cuida de esbulho, uma vez que, na simples turbação, a medida judicial somente terá sentido se ela guardar atualidade. Se a posse foi simplesmente turbada,
no passado, revela-se falta de interesse de agir a propositura, depois de ano e dia, de ação com
caráter possessório, podendo, quando muito, cogitar-se de reparação de dano ou outra medida
desta ordem (cf. nosso “O Procedimento das Chamadas Ações Possessórias” cit., pág. 186).
248
faculdade de direito de bauru
preocupado com o procedimento para a discussão deste direito, mas sim com o
próprio direito. O que a norma prevê, quando decodificada, é que o esbulhador há
mais de um ano e dia tem direito material que lhe enseja proteção jurídica a seu
favor, ainda que originariamente a sua posse fosse viciada.18
Por força disso, se veda o rito especial, mas se mantém o caráter possessório da demanda, o que a sujeita a certas peculiaridades de procedimento, ressalvada, basicamente, a concessão de liminar.
Destarte, o sistema jurídico, previamente, já definiu a situação possessória
que ele entende verossímil e passível de importar em dano irreparável para fins
de ensejar a concessão da tutela, liminarmente, colocando entre seus requisitos
o aspecto temporal. Procedeu, desse modo, indiferente à questão de processo,
mas objetivando conferir à parte contrária uma proteção possessória a que tem
direito, de vez que a posse é fato que se altera, quando passados ano e dia,
impondo merecer respeito e proteção jurídica a situação tranqüilizada.19
A questão é radicalmente diferente quanto ao mandado de segurança,
embora também o seu rito fique alterado em decorrência do prazo, já que o art.
18 da Lei n. 1533/51 dispõe que “o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” A questão do prazo, nessa hipótese, não se presta para
retratar o perfil do direito líquido e certo, que o impetrante pretende resguardar. Nem da não-propositura da medida no prazo próprio decorre alguma vantagem ou surge algum direito ou mesmo situação juridicamente amparável para
a autoridade coatora ou qualquer outro interessado. O prazo, no mandado de
segurança, coloca-se tão-só quanto ao rito, retirando, apenas, a possibilidade de
usar da forma prevista como especial pela lei, sem prejudicar o conteúdo que
nela seria debatido.
18 Embora não se detendo especificamente sobre a questão do prazo, CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA bem identifica a proteção que o sistema confere mesmo àquele que, originariamente, possa ter posse maculada. Assim, cuidando da ação de manutenção de posse diz ele que não
se discute “a qualidade do direito do turbador”, de modo que se “pode chegar ao extremo de
defender o salteador ou o ladrão contra o verdadeiro dono” (Instituições de Direito Civil, Rio
de Janeiro, Forense, 1999, 13ª edição, n. 296, pág. 51).
19 Expressivos julgados afastam a aplicação da regra do art. 273 aos procedimentos possessórios
promovidos depois de ano e dia do ato que ofende a posse: 1º TACSP, 8ª Câmara, AI 12061720, rel. RUI CASCALDI, julgado em 06.08.2003; 1º TACSP, 1ª Câmara, AI 1151558-3, rel. SILVA
RUSSO, julgado em 28.04.2003; 1º TACSP, 8ª Câmara, AI 870850-7, rel. ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, julgado em 15.09.1999; 1º TACSP, 7ª Câmara, AI 898395-9, rel. BARRETO
MOURA, julgado em 15.02.2000; 1º TACSP, 1ª Câmara, AI 1009496-3, rel. SILVA RUSSO, julgado em 11.06.2001; 1º TACSP, AI 1042687-8, rel. CARLOS ALBERTO LOPES, julgado em
15.08.2001; 2º TACSP, 10ª Câmara, AI 634893.00/2, rel. SOARES LEVADA, julgado em
23.08.2000; 2º TACSP, 6ª Câmara, AI 274396.00/2, rel. SOARES LIMA, julgado em 08.08.1990.
Não se precisaria, contudo, chegar a considerar litigante de má-fé a parte que pleiteia a aplicação da regra geral do art. 273 à demanda versando sobre posse velha litigante de má-fé, como
se deu em decisão do 1º TACSP (7ª Câmara, AI 1126602-7, rel. NELSON FERREIRA, julgado
em 03.09.2002).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
249
Desse modo, quem deixou de impetrar a segurança no prazo de cento e vinte
dias não se vê tolhido de exercer seu direito pela via comum, podendo lhe ser concedida a tutela antecipada, exatamente àquela a quem tinha direito, se houvesse se
valido, no tempo próprio, da via específica do mandado de segurança.20
O fato, pois, de o prazo de ano e dia da violação à posse ter sido ultrapassado torna vedada a proteção antecipada, de vez que, com isso, estariam sendo
suprimidos direitos da parte contrária que, em vista da inércia daquele que fora
lesado, passou a ter direitos suscetíveis, ao menos em princípio, de proteção
judicial.
8.
DA CONCLUSÃO
Pode, assim, concluir-se que a tutela antecipada somente tem lugar nos procedimentos comuns, nos especiais que não a prevêem expressamente e nos especiais que a permitem sobre certas condições, desde que essas não afetem o direito
material em si, como se dá com a possessória, na qual, do não-exercício do direito
de ação no prazo próprio, emerge direito à proteção para a parte contrária.
20 LUIZ GUILHERME MARINONI lembra bem que, antes da adoção da tutela antecipada no
processo de conhecimento, situações como essa eram enfrentadas por meio de medida cautelar, na qual se transformava o direito líquido e certo em simples fumaça do bom direito,
suscetível de ensejar a concessão de liminar. Diante da inexistência de autorização, naquele
tempo, para a concessão da tutela no processo de conhecimento, sobrevinha este que tornava
a cautelar inócua, tanto que ambos eram decididos na mesma sentença (“A Consagração da
Tutela Antecipada na Reforma do CPC”, Reforma cit., pág. 116).
A reparação do dano e a suspensão
condicional do processo
Fabio Machado de Almeida Delmanto
Advogado e Mestrando emprocesso penal pela Faculdade de Direito da USP.
Leo Lopes de Oliveira Neto
Estudante do 2º ano da Faculdade de Direito da PUC/SP.
Palavras-chave: Juizados Especiais, menor potencial ofensivo, reparação dos danos, direito de representação, extinção da punibilidade, suspensão condicional do processo.
1.
INTRODUÇÃO
Em atenção ao comando constitucional (art. 98, caput, e inc. I), foi aprovada e sancionada a Lei nº 9.099/95, a chamada Lei dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais, que, sem dúvida, trouxe inúmeros benefícios para a sociedade,
sobretudo no que tange à solução rápida e eficiente dos conflitos sociais.
Quanto à parte penal, tem o Juizados competência para a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, consideradas como sendo todas as contravenções penais e crimes com pena máxima
cominada não superior a 2 (dois) anos, independentemente de se tratar de delito submetido a rito especial.1
1
O art. 61 da Lei nº 9.099/95 considerava como delito de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei cominasse pena máxima não superior a 1 (um) ano,
excetuados os casos em que a lei previsse procedimento especial. Todavia, com o advento da
252
faculdade de direito de bauru
Uma das maiores vantagens da referida lei, sem dúvida, diz respeito ao
novo tratamento conferido à vítima, que agora conta com a possibilidade de ser
reparada dos danos sofridos pela prática do delito (crime ou contravenção), o
que pode ocorrer ainda durante a “audiência preliminar”, antes mesmo de ser
oferecida denúncia ou queixa e de ser instaurada ação penal.
Além dos institutos despenalizadores da composição civil e da transação
penal – sendo que, no primeiro, a reparação dos danos implica renúncia ao
direito de queixa ou de representação, levando à extinção da punibilidade –,2 o
legislador instituiu a suspensão condicional do processo, cabível a todo delito
cuja pena mínima cominada não seja superior a um (1) ano (art. 89, caput),
independentemente de o delito ser ou não da competência dos Juizados
Especiais Criminais.
2.
REQUISITOS DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Consiste, pois, a suspensão condicional do processo, numa oportunidade
(ou melhor, direito público-subjetivo) conferida aos acusados da prática de crimes de médio potencial ofensivo (pena mínima não superior a um ano) de não
serem processados, desde que (1) o acusado não tenha sido processado ou não
tenha sido condenado por outro crime, e (2) presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
Quanto ao primeiro requisito (1), cabe ressaltar que o fato de o agente ter
sido processado anteriormente (não basta, portanto, inquérito policial) não
impede, por si só, a suspensão, até porque pode o acusado ter sido absolvido ou
ter sido extinta a punibilidade do fato. Ademais, o princípio da não consideração prévia de culpabilidade (ou da presunção de inocência), previsto no art. 5º,
inc. LVII, da CF/88, impede que a simples existência de processo possa constituir
óbice à suspensão.
No que tange à proibição da aplicação da suspensão para quem tenha sido
condenado por outro crime (art. 89, caput), além de tal proibição não abranger
a condenação por contravenção, não deverá prevalecer a condenação “se entre
a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos”, aplicando-se, aqui, as mesmas
regras excludentes da reincidência (art. 64, inc. I, do Código Penal). Da mesma
forma, a condenação anterior à pena de multa não deve também impedir a con-
2
Lei nº 10.259/01, que institui os Juizados no âmbito federal, tal dispositivo restou revogado,
tendo se pacificado na jurisprudência que, doravante, a competência dos Juizados abrange
todo crime a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa, ainda que o
crime ou contravenção seja submetido a rito especial, sendo irrelevante ainda se de competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
Conferir arts. 72, 73 e 74 da Lei nº 9.099/95.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
253
cessão da suspensão condicional do processo, o que já não constituía motivo
impeditivo ao sursis (art. 77, §1º, do Código Penal).
Quanto ao segundo requisito da suspensão condicional do processo (2), qual
seja, o preenchimento dos requisitos do sursis (Código Penal, art. 77), vale lembrar
que somente a reincidência em crime doloso impede este benefício (art. 77, inc. I).
Quanto ao requisito do inc. II do mesmo art. 77 (“a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”), o mesmo, por ser demasiadamente
aberto e de cunho extremamente subjetivo, somente poderá constituir óbice ao
oferecimento da suspensão condicional do processo quando devidamente fundamentado pelo promotor de justiça e pelo Juiz que negar o benefício, em observância à garantia da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CR/88). A fundamentação mostra-se imprescindível sobretudo para possibilitar ao acusado a
impetração de habeas corpus, se a medida for recomendável. Por fim, inaplicável,
a nosso ver, o inc. III do mesmo art. 77, que prevê não ser cabível o sursis “quando não for indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código” (que
trata das penas restritivas de direitos), posto que esta regra, criada para a pessoa
condenada, não pode, evidentemente, ser aplicada ao beneficiado pela suspensão
condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), que não foi e, provavelmente,
sequer será processado.
3.
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
Satisfeitos os requisitos legais, deve a suspensão ser oferecida, tratando-se
de direito público subjetivo do acusado. Desta forma, a nosso ver, ainda que o
promotor não ofereça a suspensão, pode o acusado requerer e o juiz aplicar,
ainda que de ofício, o benefício. Nesse caso, não há de se aplicar a regra do art.
28 do Código de Processo Penal. A matéria, todavia, não é pacífica.
Aliás, entendimento contrário implicaria o esvaziamento da garantia do
habeas corpus, pois o Poder Judiciário, mesmo que chamado a intervir por meio
do remédio heróico, em caso de manifesta ilegalidade, não teria como compelir
o promotor a oferecer a suspensão ou o juiz a concedê-la de ofício, o que nos
parece inaceitável em um Estado Democrático de Direito.
4.
PRAZO DA SUSPENSÃO E PERÍODO DE PROVA
Oferecida e aceita a proposta de suspensão, fica a cargo do juiz estabelecer o tempo da suspensão, que pode variar de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, período no qual o acusado fica submetido a um período da prova, em que lhe são
impostas algumas condições, dentre as quais a “reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo” (art. 89, inc. I).
254
faculdade de direito de bauru
A bem da verdade, tanto o prazo da suspensão quanto as condições não
devem ser impostas pelo juiz, mas, sim, objeto de consenso entre o promotor, o
juiz, o acusado e seu defensor. Todavia, na prática, isso não ocorre, chegando
muitas vezes o “termo de suspensão” já pronto, optando o acusado por aceitálo ou não. Nesses caso, nada impede – pelo contrário, recomenda-se, se for de
interesse do acusado – que o advogado postule alguma alteração no acordo.
5.
A NÃO-REPARAÇÃO INJUSTIFICADA DO DANO COMO CAUSA DE
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO
A revogação da suspensão condicional do processo poderá ser obrigatória
ou facultativa. Será obrigatória quando o beneficiário, no curso do prazo, “vier a
ser processado3 por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a
reparação do dano” (art. 89, §3º). Será facultativa a revogação na hipótese de o
acusado “vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta” (§4º).
Fica claro, assim, que a reparação do dano é condição imposta ao beneficiário da suspensão condicional do processo, cujo não cumprimento acarreta a
revogação obrigatória do benefício, salvo se tal cumprimento for justificado
(art. 89, §3º). Quis o legislador, portanto, imprimir grande importância à reparação do dano, o que, como visto, constitui condição também para a composição civil e a conseqüente extinção da punibilidade (arts. 72 a 74).
Expirado o prazo da suspensão sem revogação, deverá o juiz declarar
extinta a punibilidade (art. 89, §5º), desaparecendo o direito de punir do
Estado. Trata-se, portanto, de mais uma causa extintiva da punibilidade àquelas
previstas no art. 107 do Código Penal.
Verifica-se, por derradeiro, que a reparação do dano não é condição que
deva ser satisfeita no momento em que a suspensão é aceita, mas, sim, até o
término do período de prova fixado pelo juiz, que pode variar de 2 (dois) a
4 (quatro anos). Pela lógica, se a não reparação do dano é causa de revogação
(obrigatória) do beneficio (art. 89, §3º), logo não pode ser condição para o
oferecimento do mesmo. Assim, não há como se exigir que acusado, na
audiência de suspensão, aceite de pronto o valor da reparação (muitas vezes
já apresentados pela vítima ou imposto pelo juiz), bastando que se comprometa a fazê-lo no prazo. De fato, na audiência de suspensão, o acusado, se
assim o desejar, assume tão-somente o dever de “reparar o dano”, dever esse
que desaparece quando não lhe for possível fazê-lo, nos termos do previsto
no citado art. 89, §3º.
3
Não basta a existência, portanto, de inquérito policial, devendo haver, para a revogação obrigatória ocorrer, ação penal em andamento pela prática de crime.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
255
Cabe anotar que a não reparação do dano injustificada já constituía causa
de revogação obrigatória do sursis (Código Penal, art. 81, inc. II).
Verifica-se, portanto, que o legislador da Lei nº 9.099/95 procurou aproveitar regras já existentes no Código Penal acerca do sursis (suspensão condicional da pena), o que, como visto, nem sempre demonstrou ter sido a melhor
técnica legislativa, até porque se tratam de institutos absolutamente diversos.4
6.
PRAZO PARA A REPARAÇÃO DO DANO E PARA A REVOGAÇÃO DA
SUSPENSÃO
A primeira questão diz respeito ao prazo para a reparação do dano. A leitura do art. 89, §1º, da Lei nº 9.099/95 dá a entender que o prazo da suspensão
condicional do processo será o mesmo do período de prova, sendo este também
o prazo para que haja a reparação do dano. Assim, suspenso o processo pelo
prazo de 2 (dois) anos, terá o beneficiado este mesmo prazo para reparar o
dano. A não-reparação injustificada do dano acarreta a revogação da suspensão
(art. 89, §3º). Expirado o prazo sem revogação, deverá ser declarada a extinção
da punibilidade (art. 89, §5º).
Controvertida ainda é a questão sobre a possibilidade de o juiz revogar o
benefício em data posterior ao decurso do prazo da suspensão, em face da
constatação, somente após a expiração do prazo, de que o beneficiado descumpriu alguma condição, como, por exemplo, a reparação do dano. A respeito, tem a jurisprudência decidido: 1) decorrido o período fixado pelo juiz para
a suspensão do processo, não pode o juiz mais revogar a suspensão;5 2) mesmo
após ter decorrido o prazo da suspensão, se a causa que a motivou ocorreu
antes, pode o juiz revogar o benefício.6
Assumindo a primeira posição como a mais acertada (o juiz somente pode
revogar a suspensão dentro do prazo da suspensão), surge um problema aparentemente inconciliável para o juiz. Explica-se: se o acusado tem o direito de
reparar o dano até o último dia do prazo da suspensão, deverá o juiz, então,
marcar a audiência (para verificar se o acusado cumpriu o dano) para o último
dia da suspensão, caso contrário poderá o acusado dizer que não reparou o
dano até a data da audiência, mas que pretende fazê-lo até o término do prazo
4
5
6
Para exemplificar a diferença, basta lembrar que no caso do sursis, já existe condenação, o que
não ocorre na suspensão condicional do processo da Lei nº 9.099/95. As conseqüências do
cumprimento das condições também diferem: no sursis, haverá a extinção da pena; já na suspensão condicional, o cumprimento das condições acarretará a extinção da punibilidade.
TACrim-SP, HC 379.772/7, rel. Eduardo Pereira, j. 05.04.01; Ap. n° 1.000.647/3, rel. Ivan
Marques, j. 28.07.99; Ap. n° 1.246.169/6, rel. Poças Leitão, j. 17.04.01; HC 343.424/2, rel.
Canellas de Godoy, j. 13.7.99, v.u.; TJRS, rel. Des. Walter Jobim Neto, RSE n° 70005096953, j.
19.12.02.
TACRIM-SP, 7ª C Crim, RSE 1.206.695/3, rel. Juiz Corrêa de Moraes, j. 28.9.00, v.u.
256
faculdade de direito de bauru
de que dispõe. Neste caso, fica o juiz impossibilitado de revogar o benefício,
posto que o período de prova ainda não se esgotou. A única saída seria marcar
a data da audiência para o último dia da suspensão, o que se mostra inviável na
prática, sobretudo diante do crescente volume de processos.
Assim, pensamos que, tendo a lei concedido certa discricionariedade para
o juiz, permitindo-lhe que fixe prazo para a suspensão entre 2 (dois) a 4 (quatro) anos, nada impede que o juiz fixe um prazo menor para a reparação do
dano em relação ao prazo da suspensão, desde que tal prazo seja razoável, não
impossibilite a própria reparação e o acusado e seu defensor estejam de acordo.
Neste caso, a questão acima levantada fica resolvida, pois em caso de nãoreparação injustificada, a revogação será feita dentro do prazo da suspensão
(que ainda não se esgotou), e não após o seu escoamento, o que, como visto, é
repelido por parte da jurisprudência.
Nesse sentido, interessante notar que a jurisprudência já admitiu a possibilidade de o juiz fixar prazos diferenciados para a suspensão do processo (3
anos) e para a reparação do dano (2 anos), devendo este prazo ser sempre
menor do que aquele. Na mesma ocasião, admitiu-se, ainda, prazo ainda menor
(6 meses) para que o acusado-beneficiado procure os familiares da vítima para
reparar o dano.7
Como dito, esse prazo para a reparação, embora possa ser menor do que
o prazo da suspensão, não poderá inviabilizar a própria reparação do dano,
devendo ainda ser acordado entre as partes e o juiz, baseando-se ainda no critério da razoabilidade.
Não pode o juiz impor a forma de reparação do dano, podendo o acusado optar pela que lhe parecer melhor, inclusive com o ajuizamento de ação de
consignação em pagamento (CPC, arts. 890 a 900).
Nesse sentido, cabe anotar que, também no sursis especial do Código
Penal, “a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo”, por implicar
substituição de condições mais gravosas por condições mais amenas (CP, art.
78, §2º), deve ocorrer logo no início do período probatório, ou mesmo antes
da condenação, podendo até mesmo ter ocorrido logo após a prática do
crime, em sede de inquérito policial, por exemplo. As demais condições do
sursis, essas sim, é que devem ser cumpridas no prazo da suspensão, sob
pena de revogação.
Pelo exposto, no que tange à suspensão condicional do processo (art. 89
da Lei dos Juizados Especais), concluímos, s.m.j., que:
7
Decidiu o TACRIM-SP ser possível que o juiz suspenda o processo por 3 (três) anos, mas fixe
o prazo de 2 (dois) anos para a reparação do dano, obrigando ainda o autor-beneficiário a
comprovar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da audiência da suspensão, que procurou os familiares da vítima para fins de reparação do dano (2ª CCrim, HC nº 353.084/0,
Rel. Osni de Souza, j. 16.12.99, v.u.).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
257
1) o juiz não pode revogar a suspensão após o decurso do prazo da suspensão. Expirado o prazo sem revogação, o juiz deve declarar extinta a
punibilidade (art. 89, §5º);
2) sendo assim, é possível e recomendável que o juiz fixe um prazo menor
para a reparação do dano (em relação ao prazo da suspensão), desde
que o prazo fixado não impossibilite ou dificulte a reparação, que o
acusado e seu defensor estejam de acordo (assumindo, portanto, as
conseqüências do não cumprimento) e que o prazo seja razoável;
3) por outro lado, se se entender que o juiz pode revogar a suspensão em
data posterior ao término do prazo fixado (opção 2 da jurisprudência
acima), opinião com a qual não concordamos, uma vez que a lei prevê
que “expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade” (art. 89, §5º), não há motivo para a fixação de um prazo
menor para a reparação do dano, podendo este ser o mesmo prazo da
suspensão (ou do período de prova);
4) de toda sorte, as causas que permitem a revogação da suspensão hão
que ser posteriores à audiência em que concedida a suspensão, ainda
que o juiz venha a descobrir, posteriormente, que o caso não comportava a suspensão condicional do processo. Neste caso, deve-se observar
o princípio da coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF/88);
5) adotada, todavia, a posição que proíbe o juiz de revogar a suspensão
em data posterior ao prazo de suspensão fixado – que é a posição que
defendemos, ex vi do citado art. 89, §5º –, e diante da possibilidade de
o acusado reparar o dano até o último dia do prazo da suspensão fixado, surge um problema aparentemente inconciliável para o juiz: se o
acusado tem o direito de reparar o dano até o último dia do prazo da
suspensão, deverá o juiz, então, marcar a audiência (para verificar se o
acusado cumpriu o dano) para o último dia da suspensão, caso contrário poderá o acusado dizer que não reparou o dano até a data da
audiência, mas que pretende fazê-lo até o término do prazo de que dispõe. Neste caso, fica o juiz impossibilitado de revogar o benefício. A
única saída seria marcar a data da audiência para o último dia da suspensão, o que se mostra inviável na prática, sobretudo diante do crescente volume de processos;
6) por isso, entendemos ser possível que o juiz fixe um prazo menor para
a reparação do dano, em relação ao prazo da suspensão do processo,
desde que tal prazo seja razoável e que as partes estejam de acordo,
sujeitando-se às conseqüências em caso de descumprimento;
7) é bem verdade que a leitura citado art. 89 leva a outro entendimento, qual
seja, o de que o prazo para a reparação do dano será o mesmo do prazo do
período de prova e da suspensão do processo. Mas, diante da lacuna da lei,
258
faculdade de direito de bauru
ocasionada pela má técnica legislativa empregada, a possibilidade de o juiz
fixar um prazo “menor” para a reparação do dano parece ser a solução para
o impasse, devendo, todavia, tal prazo ser razoável a ponto de não inviabilizar ou dificultar a reparação, e contar com concordância do acusado e seu
defensor, mantidas as demais condições eventualmente acordadas.
7.
IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO
Como visto, deve o acusado e beneficiário da suspensão condicional do
processo reparar o dano, “salvo impossibilidade de fazê-lo” (art. 89, §1º, inc.
I, da Lei nº 9.099/95). Em complementação, há expressa previsão no sentido de
que a revogação será obrigatória se o acusado “não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano” (art. 89, §3º).
Em nosso entendimento, as expressões acima em destaque não se referem, apenas, à impossibilidade financeira do acusado para a reparação do
dano, devendo ser interpretada de modo amplo e, assim, abranger qualquer
forma de impossibilidade de reparação do dano, como a existência de ação cível
em andamento ou mesmo divergência sobre o quantum indenizável, questão
esta a ser dirimida no juízo cível.
Não pode, de fato, o autor beneficiário da suspensão ser compelido ou mesmo
obrigado a reparar os danos, de acordo com o valor ou forma “impostos” pelo juiz,
pela vítima ou por seu representante legal, sob a ameaça de ser-lhe revogada a suspensão condicional do processo. Entendimento contrário estimularia o enriquecimento ilícito por parte da vítima, que se aproveitaria de sua situação agora “privilegiada” no processo penal. Não foi esta, evidentemente, a intenção do legislador.
Embora o autor não possa mais discutir sobre a obrigação de reparar o
dano, posto que já aceita por ele no juízo criminal, ele tem o direito de discordar sobre o valor da indenização requerida pela vítima. Neste caso, a única via
adequada para a solução da controvérsia é o ingresso no juízo cível por meio da
ação judicial competente, como é o caso da ação de liquidação de sentença prevista no art. 603 do Código de Processo Civil.
Desta forma, ajuizada a ação no juízo cível para satisfazer a “reparação do
dano” acordada no juízo criminal, deve este dar por satisfeita a reparação do
dano exigida no art. 89, §1º, inc. I, extinguindo-se a punibilidade, salvo se descumprida alguma outra condição.
Aliás, não cabe ao juízo penal fixar o montante da reparação dos danos,8 valor
este que deve ser encontrado pelas partes. Ora, havendo qualquer dificuldade ou
8
Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz
Flávio Gomes. “Juizados Especiais Criminais – Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995”. 3ª ed.
São Paulo: RT, 1999, p. 319.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
259
mesmo ação cível em andamento para a discussão do valor devido, não pode o juiz
revogar a suspensão, cabendo-lhe tão-somente extinguir a punibilidade.
Desta feita, cabe ao beneficiário da suspensão, caso lhe seja imposta a condição de reparação do dano, demonstrar ao juízo criminal que procurou reparar
o dano ou que está procurando fazê-lo, expondo, enfim, os motivos pelos quais
a reparação não foi possível, hipótese em que o juiz deverá extinguir a punibilidade, nos termos do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.
Nada impede que o juiz prorrogue o prazo para a reparação dos danos, desde
que tal prazo não extrapole o prazo da suspensão condicional do processo fixado.
Vale advertir que a prorrogação do prazo da suspensão não é possível, não se
podendo aplicar, por analogia, a prorrogação do prazo do sursis (art. 82, §2º).
Outras questões interessantes já foram analisadas pela jurisprudência. São elas:
1) Impossibilidade financeira: no caso de o acusado não possuir condições financeiras para arcar com a reparação dos danos, não pode o juiz deixarlhe de aplicar o benefício, sob pena de se admitir a incidência da suspensão apenas aos réus mais abastados, em detrimento dos mais desprezados economicamente.9 Em outra ocasião, decidiu-se que a mera alegação de impossibilidade
financeira não basta para eximir o acusado da obrigação de reparar o dano, o
que deve ser comprovado de modo cabal e convincente;10
2) Ação civil em andamento: havendo ação civil em que se busca a reparação, nada mais lógico do que permitir que esta busque o seu objetivo, cessando então a questão penal; neste caso, deve o juiz declarar extinta a punibilidade.11 Em outra ocasião, em face do ajuizamento de ação civil, julgou-se prejudicada a condição referente à reparação dos danos, extinguindo-se a punibilidade.12 Todavia, em sentido contrário, o STJ entendeu que a existência de ação em
andamento no juízo cível (proposta pela vítima em face do autor do crime de
estelionato) não retira a obrigação do beneficiado de reparar o dano.13
3) Divergência quanto ao valor: não havendo acordo quanto ao valor,
nada mais normal do que ser levado isso à esfera cível, esta sim a instância adequada para tal discussão. Afinal, se não há concordância, pode-se interpretar tal
questão como uma impossibilidade de se fazer a reparação (art. 89, § 1º, inc. I).
Ora, caso a vítima queira tirar “indevido proveito” do instituto, é lógico que o
acusado não aceitará a proposta. Assim, havendo divergência sobre o montante
9 TACrim-Sp, rel Péricles Piza, HC n° 307.086/4, j. 08.07.97.
10 TACrim-SP, 15ª CCrim, HC nº 357.544/5, rel. Carlos Biasotti, j. 13.3.00, v.u.; TACRIM-SP, 7ª
CCrim, RSE nº 1.206.695/3, j. 28.9.00, v.u..
11 TACrim-SP, rel. Devienne Ferraz, RSE n°1.327.879/4, j. 01.10.02; TACrim-SP, rela. Angélica de
Almeida, Ap. n° 1.378.227/7 j. 14.01.04; TACrim-SP, rel. Vico Mañas, Ap. n° 1356499/7, j.
02.07.03.
12 TACRIM-SP, 15ª CCrim, Ap. nº 1.087.829/4, rel. Juiz Geraldo Lucena, 13.8.98, v.u. No mesmo
sentido: TACRIM-SP, 13ª CCrim, Ap. nº 1.114.011/2, Rel. Juiz Teodomiro Méndez, sem data.
13 6ª Turma, HC nº 14.012-SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 8.05.2001, v.u.
260
faculdade de direito de bauru
da reparação, tal discussão deve ser analisada no juízo cível, devendo o juiz criminal declarar a extinção da punibilidade, por ter o acusado cumprido as condições que estavam a seu alcance.14
4) Direito da vítima de comparecer à audiência de suspensão: tendo a
vítima deixado de ser intimada a comparecer à audiência em que proposta a suspensão condicional do processo, restou violado seu direito líquido e certo. Desta
forma, deu-se provimento a recurso de apelação para anular a audiência realizada,
determinando-se a realização de outra em que a vítima possa estar presente.15
8.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não cabe ao juízo criminal fixar o montante do valor da suspensão ou
impor que o pagamento se dê logo em audiência de suspensão. Todavia, nada
impede que o juiz, ainda na audiência, estimule as partes a chegarem a um acordo sobre o valor para a reparação, sobretudo diante dos critérios orientadores
da Lei nº 9.099/95. Se as partes quiserem, já em audiência de suspensão do processo, fixar o valor da reparação, poderá o juiz homologar o acordo.
Evidentemente, na eventualidade de ser homologado o acordo em audiência de suspensão, não poderá o acusado alegar impossibilidade de cumpri-lo,
salvo se o motivo impeditivo apresentado para o não cumprimento do acordo
for posterior e estiver devidamente comprovado.
Embora a intenção do legislador tenha sido a das melhores, não é por isso
que o acusado-beneficiário da suspensão será compelido a pagar o valor exigido
pela vítima a título de “reparação do dano”, sob pena de ser processado criminalmente. Admitir-se tal hipótese levaria a situações injustas, como o inadmissível enriquecimento ilícito da vítima, caracterizando um uso indevido do processo penal.
Cabe ao juiz, portanto, fiscalizar a efetiva intenção das partes na celebração
do acordo, evitando que a vítima abuse de seu direito de ser ressarcida, aproveitando-se, como dito, de sua situação processual privilegiada. Caso o acusado tenha
feito todo o possível para reparar o dano mediante um acordo, mas o mesmo não
tenha se dado por culpa da vítima ou mesmo em virtude da complexidade da causa,
deve o juiz criminal dar a condição por satisfeita, e declarar extinta a punibilidade,
sem prejuízo de que a questão seja discutida no juízo cível.
Não pode também o autor e beneficiário da suspensão ser impedido de
discutir a questão no juízo cível competente, sob pena de, além de se lhe negar
acesso à justiça, admitir-se uma situação injusta no processo penal, o que contraria a própria Ciência e Razão de ser do Direito.
14 TACrim-SP, rel. Francisco Menin, HC n° 435568/4, j. 27.03.03.
15 TACRIM-SP, 11ª CCrim, Ap. nº 1114005/7, rel. Juiz Xavier de Aquino, j. 9.11.98, v.u.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
261
Portanto, a “impossibilidade” de reparar o dano prevista no art. 89, §1º,
inc. I, da Lei nº 9.099/95, deve ser entendida de forma ampla, abrangendo não
apenas eventuais dificuldades financeiras, mas também outras questões, como a
complexidade da causa, discussão no juízo cível etc.
Como já explicitado, no corpo deste artigo, embora a lei fale que o prazo
para a reparação do dano seja o mesmo da suspensão do processo ou do período de prova (art. 89, §1º, inc. I, da Lei nº 9.099/95), nada impede que o juiz fixe
um prazo menor para o período de prova e conseqüente reparação do dano.
Aliás, tal providência parece-nos necessária até mesmo para evitar que o acusado “burle” a intenção do legislador. Explicamos: partindo do pressuposto que o
juiz não poderá revogar a suspensão após expirado o prazo, e de que o acusado pode, em tese, reparar o dano até o último dia do prazo (segundo aquele dispositivo legal), caso a reparação do dano não ocorra no prazo, o juiz não poderá mais revogar o benefício (segundo a orientação jurisprudencial majoritária),
restando apenas declarar a extinção da punibilidade.
Na verdade, as questões que se procurou resolver neste artigo decorrem
diretamente da má técnica legislativa empregada pelo legislador, a ponto de ter
incluído um instituto tão importante num único artigo da Lei dos Juizados
Especiais Criminais. São muitas, portanto, as lacunas e incertezas deixadas pelo
legislador, que hão de ser resolvidas, ao longo do tempo, pela jurisprudência e
pela doutrina.
A PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
FRENTE À CRIMINALIDADE NA INFORMÁTICA
Nelson Burin Neto
Bacharel em Direito pela ITE.
Ex-estagiário do Ministério Público.
Advogado militante em Botucatu.
RESUMO
O trabalho destina-se a apreciar a amplitude das condutas típicas atreladas
ao âmbito informático presentes na Parte Especial do Código Penal brasileiro.
Através do mesmo, busca-se evidenciar o raio de incidência das normas penais
incriminadoras, analisando o alcance destas, sem, contudo, olvidar-se daquelas
ações que remanescem à míngua de uma tipificação legal, face ao surgimento de
novos bens jurídicos a serem tutelados e ao ineditismo conferido à atuação dos
delinqüentes, propiciados pelo avanço informático. Ao término, após extensa
investigação doutrinária, norteando-se, exclusivamente, pelo método de pesquisa científico, conclui-se que, mesmo havendo a possibilidade da Parte Especial
do Código Penal de 1940 ser aproveitada em muitos casos, é inegável a premência em se “criminalizar” alguns comportamentos, até então, tidos como atípicos, visando a preencher as lacunas existentes.
Palavras-chave: código penal; parte especial; crimes de informática; abrangência.
264
1.
faculdade de direito de bauru
INTRODUÇÃO
Nos dias hodiernos, testemunhamos a era da informação, a qual carreou e
vem acarretando alterações significativas ao próprio agir humano. Neste passo,
o correio eletrônico passou a concorrer com a secular comunicação postal.
Igualmente, operações comerciais e bancárias, outrora presenciais, transportaram-se para os domicílios onde se verifica a presença de um computador e um
modem. De maneira análoga, a pesquisa e a leitura eletrônica desbancaram a
supremacia do papel-celulose.
No mundo do crime, não foi diferente. Os transgressores da lei penal logo
viram no computador e na Internet formidáveis instrumentos à consecução de
vários delitos. Como se não bastasse, essa revolução tecnológica também deu
azo à criatividade delituosa, gerando comportamentos inéditos que, não obstante o alto grau de reprovabilidade social, ainda permanecem atípicos.
O Direito, por sua vez, tendo como função primordial definir parâmetros que orientem o comportamento humano em todas as esferas, inclusive
no âmbito informático, evidentemente caminha atrás de toda essa realidade
“virtual”.
Mas em que medida a legislação penal vigente está preparada para enfrentá-la? Seria realmente necessário recorrer ao Direito Penal tipificando-se condutas específicas, caracterizadoras dos crimes informáticos? Os recursos da exegese jurídica seriam a panacéia para o problema inerente à tipicidade?
Diante de tal quadro, o objetivo geral do presente ensaio será uma
avaliação atinente à amplitude de incidência das condutas típicas constantes da Parte Especial do Código Penal brasileiro, com vistas à necessidade de
“criminalização” dos comportamentos atípicos que permeiam o meio informático.
2.
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E CRIMINALIDADE
Nos tempos modernos, é um equívoco pensar que os computadores
podem ser utilizados apenas como máquinas de escrever de última geração.
Diariamente, os micros apresentam novas utilidades, sendo intricado prever
todos os avanços que poderão ocorrer nesse campo nos próximos anos, haja
vista a velocidade com que as evoluções tecnológicas se dão.
É, justamente, a partir dessa abrupta evolução da informática que surge a
relação entre tecnologia e criminalidade.
A informática, com tudo o que representa em termos de aprimoramento,
também se mostra como notável instrumental para a delinqüência, tornando-a
moderna e sofisticada. Se não vejamos.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
265
Ao viabilizar o acesso à “grande rede”, o provedor propicia ao usuário, o
qual pode perfeitamente ser um criminoso contumaz, inúmeras facilidades, tais
como: a possibilidade de se contatar, numa velocidade incrível, com demais
transgressores da lei penal (eventuais “comparsas” que se encontrem em países
distantes), bem como atrair vítimas em potencial.
Perfilhando essa linha de raciocínio, forçoso reconhecer que, assim como
as transações comerciais se aprimoraram com a criação da Internet, o mesmo
pode se dar com eventuais negociações entre criminosos.
Nesse diapasão, visando a reforçar as ilações adrede lançadas, pode-se certificar a existência de determinadas tendências no tocante ao emprego da
Internet pelas organizações criminosas.
A primeira delas condiz com a utilização da Internet para a prática de atividades fraudulentas. Não seria de todo inverossímil vislumbrarmos a possibilidade de um indivíduo conhecedor de comandos informáticos associar-se ao
crime organizado, assessorando este em suas manobras delituosas.1
Outra vertente a ser declinada é que à medida que o crime organizado afasta-se das suas atividades habituais e concentram-se, progressivamente, em oportunidades de crimes financeiros ou de “colarinho branco”, as atividades baseadas na Internet tornar-se-ão ainda mais prevalecentes por estes criminosos.2
Todavia, tal alusão não implica assegurar que o crime organizado alterará
o âmago de suas peculiaridades. Seu inerente feitio em utilizar a força e a intimidação também se coaduna com o incremento de esquemas sofisticados da
“ciberextorsão”. É razoável imaginar que a partir dos recursos informáticos, tal
gama de criminosos, interagindo com experts da área, passe também a chantagear eventuais vítimas ou desafetos, no sentido de romper sistemas de informação e comunicação, bem como aniquilar dados.
Analisando-se sob esse mesmo flanco, outra empreitada criminosa relativa a
essas organizações sobressalta-se: a Internet pode ser, vertiginosamente, utilizada
1
2
Exemplo de extrema notabilidade ocorrera em outubro de 2000 e referiu-se ao Banco da
Sicília. Um grupo de aproximadamente vinte indivíduos, sendo alguns membros de famílias
mafiosas, ao “trabalharem” com um funcionário interno da referida instituição financeira,
criaram um clone digital do componente online do banco. Planejaram, então, utilizá-lo para
desviar cerca de US$ 400 milhões alocados pela União Européia para “projetos” regionais na
Sicília. O dinheiro seria lavado através de diversas instituições financeiras, que incluíam o
Banco do Vaticano e bancos na Suíça e em Portugal. Felizmente, o esquema foi frustrado quando um integrante do grupo delatou todo o esquema às autoridades, revelando para estas, que
o crime organizado antecipa enormes oportunidades de lucro derivadas do crescimento dos
bancos eletrônicos e do comércio eletrônico. (WILLIAMS, 2001)
Durante o final da década de 1990, constatou-se a ocorrência de casos envolvendo organizações criminosas que manipulavam ações de pequenas empresas utilizando a clássica técnica de
“forçar alta e vender”. Para tanto, a Internet foi utilizada para disseminar informações que
“inflassem”, artificialmente, o preço das ações. Dentre os envolvidos, encontravam-se membros das famílias criminosas Bonnano, Genovese e Colombo, bem como membros imigrantes
russos do grupo de crime organizado. (WILLIAMS, 2001)
266
faculdade de direito de bauru
para “lavagem de dinheiro”. Afinal, é inconteste que os leilões on line, por exemplo,
fomentam a possibilidade de se movimentar dinheiro através de compras aparentemente legítimas.
Desta feita, forçoso perfilhar que a “sintonia” entre o crime organizado e a
Internet está disposta a prosperar, ainda mais, no futuro. A utilização desvirtuada da Internet fornece caminhos para o crime, permitindo, assim, uma exploração voltada para ganhos ilícitos abundantes com um grau reduzidíssimo de
risco. Praticamente, uma “panacéia” para o crime organizado.
Em suma, o computador, além de se tornar um meio “eficaz” para diversas
práticas delitivas, (afinal, crimes como o favorecimento da prostituição, incitação
a crime, estelionato, racismo, pedofilia, dentre outros “ganharam fôlego” no
ciberespaço) veio, também, facilitar, ainda mais, a vida dos criminosos, conferindo-lhes, muitas vezes, não só comodidade, mas também a segurança e agilidade nem sempre presentes no modus operandi usual de vários delitos.
3.
SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO
Estudos sistemáticos e científicos sobre a matéria remontam da década de
70, ocasião em que através de métodos criminológicos, passou-se a analisar,
ainda que em número reduzido, os crimes praticados através de computadores
(FERREIRA, 2001).
Reafirmando a premência no combate a essa espécie de criminalidade, a
doutrina contemporânea, apesar de tímida, vem demonstrando certa preocupação no que tange à progressão de tais delitos, de modo que hoje, relativamente
à classificação dessas condutas, ainda, não há um consenso.
Os sistemas mais comuns representam propostas baseadas na distinção
entre os crimes tradicionais cometidos por meio de computadores e, noutra
categoria, as demais ações de abuso de informática, específicas dessa área.
Nesses moldes, reputa-se como a categorização mais completa aquela propugnada por Jesus (2000 apud ARAS, 2001, p. 10), o qual entende que os crimes
de informática podem ser puros ou próprios e impuros ou impróprios.
Consoante o entendimento deste jurista, serão puros ou próprios aqueles
em que o sujeito ativo visa, especificamente, ao sistema de informática em todas
as suas formas, devendo-se entender estas como os elementos que compõem a
informática, ou seja, o software, o hardware3 (computador e periféricos), os
dados e sistemas contidos no computador, os meios de armazenamento externo, tais como fitas, disquetes etc.
3
“Hardware constitui os componentes físicos do computador e seus acessórios. Exemplo:
mouse, teclado, monitor etc. Software designa qualquer programa ou conjunto de programas
e procedimentos referentes ao sistema de processamento de dados.” (COSTA, 2003, p. 221223)
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
267
Já os crimes eletrônicos impuros ou impróprios seriam aqueles em que o
sujeito ativo se utiliza do computador como meio para atingir o resultado naturalístico, que ofenda o mundo físico, ou seja, ameaçando ou lesando outros
bens, não-computacionais ou diversos da informática.
Desta feita, extrai-se o seguinte conceito para a expressão crimes informáticos ou de informática: são condutas típicas e antijurídicas em que o meio
de execução ou o bem juridicamente protegido seja um objeto tecnológico da
informática, assim compreendidos todos os componentes de um sistema de
computação (hardware, redes, software etc.), e bem assim os dados eletronicamente tratados.
4.
SUJEITO ATIVO
O agente criminoso que se utiliza da informática distingue-se dos demais
pelo fato de fazer pleno uso do intelecto, bem como dos conhecimentos técnicos necessários para operar com destreza um computador.
Aprofundando-se na questão do perfil, segundo os apontamentos de
Miranda (1999) a conduta de um típico delinqüente informático se desenvolveria em três estágios: primeiramente, o desafio, depois o dinheiro extra e, por
fim, sustentar os altos gastos e o comércio ilegal.
Na verdade, essa descrição se enquadra no famoso termo hacker. Além dos
hackers, meros invasores que agem apenas pelo desafio de sobrepujar e expandir suas habilidades nessa área, sem, contudo, provocarem prejuízos de maiores
montas, existem os crackers, também denominados de “piratas eletrônicos” ou
“hackers do mal”. Estes se distinguem dos hackers, porquanto utilizam seus
conhecimentos técnicos para quebrarem os dispositivos de segurança de redes
de computadores, bem como invadirem os sistemas destes visando a subtrair
informações estratégicas ou obter algum outro tipo de vantagem.
Ao lado destes há, ainda, os lammers, que, pelo fato de serem iniciantes,
fazem o uso anti-social da rede, visando, tão-somente, a perturbar os demais
usuários.
Nesta mesma senda, destaque-se que os delitos cometidos via Internet
também são conhecidos pela denominação special oportunity crimes, ou seja,
crimes afetos à oportunidade. Muitas vezes, os criminosos têm sua ocupação
profissional ligada à área de informática, ou são pessoas que, de alguma forma,
convivem constantemente com computadores. Dito isso, tem-se que uma outra
espécie de agente vem tomando espaço na órbita da criminalidade virtual.
Tratam-se dos insiders. Em síntese, nada mais são do que hackers internos de
uma empresa.
Dignas ainda de realce são as figuras dos cyberpunks e cyberterrorists, os
quais, almejando sabotar redes de computadores ou provocar a queda dos sis-
268
faculdade de direito de bauru
temas de grandes provedores, impossibilitam o acesso de outros usuários provocando, por conseguinte, detrimento econômico (ARAS, 2001).
Lamentavelmente, todos esses condenáveis atos efetivados através da
Internet, contam, ainda, com dois fatores extremamente atraentes, quais sejam:
a instantaneidade e o anonimato.
O certo é que para a elaboração de normas precisas, capazes de enquadrar toda e qualquer ação virtual perniciosa, impedindo um fator tão atrativo
e presente naquelas condutas, até então atípicas, qual seja, a impunidade, é
imprescindível avaliar o comportamento, a intenção e a mentalidade do agente, vez que só tal análise viabilizará a distinção entre os diversos tipos de condutas nessa área.
5.
A RELATIVA INCIDÊNCIA DAS CONDUTAS TÍPICAS ATRELADAS AO
ÂMBITO INFORMÁTICO
Considerando-se que a Parte Especial do Código Penal Brasileiro data de
1940, e que o computador aportou neste país, tão somente, em meados de
1960, é plausível inferir que esse conjunto de dispositivos mostra-se insuficiente e inadequado para suplantar todos os abusos no setor informático.
A pedra angular dessa ilação reside, pois, no problema relativo à tipicidade. Esta é, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos à apuração e
repressão das inúmeras condutas indesejáveis perpetradas através de computadores.
A colocação da contenda, nestes termos, ou seja, a partir dos ditames da
tipicidade e, por conseguinte, dos imperativos oriundos da reserva legal, tem
grande valia sim. Se não vejamos.
Em se tratando de informática e da Internet, deparamo-nos com delitos já
tipificados pelo ordenamento jurídico penal, embora executados de maneira distinta (inovação no modus operandi). O avanço tecnológico possibilita certas
peculiaridades no modus operandi, de maneira que a linha divisória entre os crimes de informática (impróprios) e os crimes comuns reside na utilização do
computador para lograr êxito na empreitada criminosa. Analisando-se sob esse
prisma, os crimes comuns também são perpetrados através de um meio que
enseje o resultado naturalístico.
Concomitantemente, defronta-se com uma nova criminalidade, a qual atinge novos valores sociais. Daí a razão de utilizarmos a expressão relativa para
designar a abrangência das normas penais vigentes. Estas serão aplicáveis, tãosomente, àquelas condutas que atinjam bens jurídicos já protegidos (dentre os
quais, interpretando-se progressivamente alguns dispositivos, enquadra-se o sistema de informática).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
269
5.1 Crimes de informática previstos no Código Penal brasileiro
5.1.1 Crimes contra a honra
Tanto a calúnia quanto o crime de difamação são passíveis de serem perpetradas através da Internet, isto é, em conversas on-line, bem como em homepages. É perfeitamente possível que uma pessoa “construa” uma homepage e
nela atribua um fato ofensivo à honra de outrem. Aqui, o delito consuma-se, pois
uma homepage pode ser visitada por qualquer pessoa conectada à Internet, permitindo, com isso, que qualquer outro “internauta” conheça as ofensas (CASTRO, 2003).
Com relação às ofensas enviadas por e-mail, temos que: se só a vítima utiliza-se do correio eletrônico, a consumação do delito torna-se difícil. O mesmo
não pode ser dito quando se tratar de um e-mail conjunto4 e o agente tiver
conhecimento desta condição.
Vejamos, agora, o delito de injúria. Para a sua consumaçã,o é suficiente que
o ofendido tome conhecimento do fato. Logo, tal crime pode ser cometido não
só nas homepages, nos sites, nas salas de conversas on-line, mas também, através de um e-mail enviado, diretamente, à vítima.5
Digno de menção é que em casos de chats,6 listas de discussão em geral,
bem como na remessa simultânea de e-mails a diversos destinatários através dos
recursos fornecidos pelo Outlook,7 principalmente, ao se solicitar o reenvio a
terceiros, incidirá a causa de aumento de pena de um terço inserta no artigo 141,
inciso III, do Código Penal, conquanto se constituem meios inequívocos que
facilitam a divulgação da calúnia, da injúria ou da difamação.
Em se tratando de mensagem eletrônica que veicule calúnia, seu encaminhamento a terceiros, por destinatário que sabe ser falsa a imputação, sujeitá-loá à incursão no artigo 138, § 1º, do Código Penal. O mesmo pode ser dito para
aquele destinatário que reproduzir mensagem dessa natureza em sua homepage
pessoal ou em site sob sua responsabilidade, uma vez que, de igual modo, divulgou a calúnia. (FELICIANO, 2001)
Saliente-se, por fim, que a mera dúvida sobre a veracidade das informações
não elide a responsabilidade penal do destinatário, devido à existência da figu4
5
6
7
É o caso, por exemplo, de um e-mail utilizado por todos os integrantes de uma família.
Acrescente-se que sites comuns, e-mails, listas de discussão, a despeito de sua relativa publicidade, não são reputados meios de informação e divulgação para os fins do artigo 12, parágrafo único, da Lei n.º 5.250/67 (Lei de Imprensa). Assim, em hipóteses referentes à veiculação
pela WEB não consistentes em meios de informação e divulgação aplicar-se-ão os dispositivos
do Capítulo V, do Título I, da Parte Especial do Código Penal brasileiro.
Consiste num “modo de comunicação direta entre usuários de redes de informática, um diálogo textual, em tempo real.” (CASTRO, 2003, p. 219)
Trata-se de um programa de correio-eletrônico da Microsoft.
270
faculdade de direito de bauru
ra do dolo eventual. Da mesma forma, não a afastará se, por ventura, alegar no
corpo do e-mail em que segue a mensagem de caráter caluniador, não acreditar
na informação veiculada (FELICIANO, 2001).
5.1.2 Ameaça
A conduta nuclear do tipo é ameaçar, ou seja, intimidar, prometer malefícios. A lei, por sua vez, não elenca formas especiais para a sua prática. Assim, o
agente pode utilizar-se de uma homepage ou de site, no afã de nele inserir um
texto de conteúdo ameaçador. De igual modo, o computador será o instrumento para a prática desta infração penal, quando o sujeito ativo valer-se de um email ou salas de conversas on-line para tanto.
Oportuno consignar que a ameaça, ou seja, o mal prenunciado deve
ser grave, a ponto de incutir temor no homem médio. Daí o porquê de
ameaças jocosas, quando enviadas por e-mail, não configurarem o delito
sob análise.
5.1.3 Furto
Como já visto anteriormente, o crime de informática pode ser praticado
contra o sistema de informática ou através do mesmo.
No crime de furto, em especial, é possível observar as duas modalidades.
Se o agente subtrai o computador ou um de seus acessórios, tal delito, em tese,
será contra o sistema de informática. É o caso, por exemplo, de um sujeito que
furta um mouse8 de outrem. De outro lado, se o agente utilizar o computador
para retirar valores de uma instituição financeira, a informática se mostrará
como mero instrumento para a prática delituosa.
O exame da matéria, tendo como faceta o delito de furto, suscita questão
interessantíssima relativamente à possibilidade de se furtar um software.
Parece-nos lógico definir furto de software como sendo a subtração do
programa que esteja instalado no computador, o que, por sua vez, difere-se da
reprodução, a qual consubstancia a popular figura da “pirataria”. A hipótese,
contudo, a princípio, tem relevância puramente acadêmica, vez que, em tese, a
única maneira de subtrair um programa, sem reproduzi-lo, é subtraindo a
máquina que o contém (FELICIANO, 2001).
É, contudo, plausível encontrarmos defensores de que há distorções entre
a figura do software, erigido a obra de cunho intelectual, e o objeto material do
delito de furto, qual seja, coisa alheia móvel.
8
Dispositivo que auxilia no manuseio do sistema, principalmente sistemas gráficos. O movimento que você faz com o mouse, é refletido na tela. É o auxiliar indispensável do teclado.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
271
Pois bem. Muitas vezes, dentre os bens subtraídos encontram-se Compact
Discs (CD´s) musicais. Ora, nesses casos, tais bens são considerados objeto
material deste delito e, portanto, detentores de valor econômico; não obstante,
contenham obra de caráter intelectual. Por conseguinte, seria um verdadeiro
retrocesso jurídico, se assim não considerarmos o software instalado no interior
de um microcomputador, ou mesmo programas contidos em disquetes ou
CD´s. Veja-se que o valor de um CD musical se deve, inegavelmente, pelo conteúdo da obra nele contida. Entendimento diverso, fatalmente, daria ensejo à
impunidade.
Neste diapasão, fica nítido perceber que não se cuida de analogia, a qual é
vedada no Direito Penal, mas sim de interpretação progressiva. Esta, ao atualizar
o Direito, dilata o “leque” de incidência da norma legal de modo a estabelecer
sob o seu contorno fatos, que no momento social de sua elaboração não integravam o cotidiano da sociedade, e que, por isso, ficariam fora de seu alcance.
Urge, pois, que o sentido da expressão “coisa móvel” expressa no caput do artigo 155 do Código Penal seja interpretada consoante o progresso da indústria
(FELICIANO, 2001).
De qualquer modo, é de ser frisado que, para a seara penal, o substrato
que se extrai das ilações lançadas acima reside em aspectos secundários, tais
como:
[...] a mensuração de prejuízo (que tomará em conta a subtração de pelo menos 2 objetos materiais – o hardware e o software
desde que não seja shareware),9 para a dosimetria de certas
penas restritivas de direito (nomeadamente, a prestação pecuniária de perda de bens e valores introduzidos pela Lei n.º
9.174/98), para a fixação de dias-multa (artigo 49, caput, c.c.
artigo 89 do Código Penal – conseqüências do delito) e para
verificação da reparação do dano (e.g., artigo 83, IV, do Código
Penal) (FELICIANO, 2001, p. 53).
Com referência ao furto qualificado, algumas hipóteses nos parecem
admissíveis. Por exemplo, a qualificadora prevista para o concurso de pessoas
também incidirá quando dois ou mais indivíduos conseguirem ingressar no sistema informático de uma determinada instituição financeira e, após violarem-no,
transferirem valores para a conta corrente de um deles, repartindo, ao final, a
importância auferida ilicitamente. Não se olvide que com referência à violação
9
Programa disponível publicamente para avaliação e uso experimental, sem custo de licenciamento. Trata-se, então, de um software de domínio público. Em geral, estipula-se prazo limitado de uso. Uma vez findo, deve-se recolher o pagamento referente à taxa de licenciamento.
272
faculdade de direito de bauru
de sistemas de segurança e senhas bancárias através de recursos informáticos, é
cabível, também, o emprego da qualificadora prescrita para aquele que atuar na
rapina com destreza, porquanto este termo designa habilidade apta a fazer com
que a vítima não note a subtração (CASTRO, 2003).
Poderá, do mesmo modo, ser qualificado por escalada ou emprego de
chave falsa naquelas ocasiões em que o agente, para adentrar no local onde se
encontra o computador, valer-se de meios anormais (ARAS, 2001).
Imaginável, ainda, é a figura do furto de energia. Este, por sua vez, será
admissível em duas situações: no uso desautorizado de hardware, visto que
dessa conduta (furto de uso), apesar de atípica, decorrerá conseqüente consumo de energia elétrica. Entretanto, tal ação, inevitavelmente, esbarrará no princípio da insignificância, em face do valor irrisório do consumo de energia. A
segunda hipótese a ser declinada é a relativa ao uso desautorizado da rede, com
Internet Protocol alheio, visando a navegar ou efetuar ligações telefônicas através da WEB. Nesse evento, em particular, a interpretação progressiva do que
prescreve o artigo 155, § 3.º do Código Penal é insofismável. Ademais, o uso
desautorizado da rede nesses moldes, assemelha-se ao uso desautorizado de
aparelho celular alheio, conduta esta que a doutrina e a jurisprudência têm definido como furto de energia (FELICIANO, 2001).
5.1.4 Dano
Exige-se, para a configuração do crime de dano, prejuízo econômico
oriundo da destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia. Bem por
isso, sujeito que enviar um vírus e destruir apenas e-mails de cunho emotivo ou
amigável não praticará tal delito, vez que ausente o prejuízo econômico.
Neste passo, é de se gravar que a conduta daquele que deixa mensagem em
uma homepage, “pichando” a página, não se subsume a norma prevista no artigo
163 do Código Penal. Ademais, consigne-se que embora a Lei nº. 9.605/98 tipifique
a conduta do “pichador” ou do “grafiteiro”, a punição se restringe aos atos de conspurcar quando estes são direcionados a edificações ou monumentos urbanos. Uma
vez vedada a interpretação extensiva quando prejudicar o réu, conclui-se, infelizmente, que tal figura, ainda, permanece atípica (CASTRO, 2003).
Ainda nessa esteira, caso típico a ser trazido à baila é a ação danosa daquele que envia vírus de computador. Como sujeito ativo desse crime, tem-se, tão
somente, aquele que disseminar o vírus. O seu criador, isto é, aquele que o projetou, não obstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta, remanescerá
à margem de legislação penal vigente.
Com referência à disseminação culposa de vírus, não se há cogitar em
crime, uma vez que não há, em nosso ordenamento jurídico penal, previsão de
dano culposo.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
273
Relativamente a vírus que “acomete” um programa, prejudicando o
desempenho do equipamento, considera-se consumado o delito de dano, visto
que haverá, incontestavelmente, inutilização parcial ou deterioração da coisa.
Vê-se, aqui, mais uma possibilidade de se aplicar a interpretação progressiva.
De outro lado, em se tratando de vírus enviado para computador da
União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, deve-se aplicar a qualificadora prevista no inciso III, do
parágrafo único do referido artigo. De igual modo, incidirá a qualificadora estabelecida pelo inciso IV, sendo o dano praticado por motivo egoístico ou em
havendo prejuízo considerável para a vítima.
Por último, é interessante frisar que o delito de dano condiz com a classificação de crime de informática próprio ou puro, porquanto o agente visa a lesar,
especificamente, o sistema de informática.
5.1.5 Estelionato
Os dizeres constantes do artigo 171 do Código Penal alcançam, potencialmente, “condutas desenvolvidas contra o computador e seus sistemas, ou por
intermédio do computador e de seus sistemas” (FELICIANO, 2001, p. 75).
O comportamento, nessa conjuntura, consiste em o agente valer-se de
meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro, logrando com isso
vantagem ilícita, para si ou para outrem. Isto posto, não é incomum a vítima ser
lesada por estar exatamente utilizando, como recurso doméstico ou empresarial,
os recursos concedidos pela informática.
Destas disposições vem a lume, pois, as fraudes informáticas. Vale advertir
que o ambiente informático, nessa feição criminosa, ostenta determinadas peculiaridades que dificultam a coleta de provas, revelando-se, por isso, um interessante instrumento a serviço da delinqüência.
Como exemplo clássico de fraude informática, pode ser trazido o ingresso
indevido no sistema bancário, mediante recurso informático, exprimido pela utilização de cartões de identificação ou senhas obtidos ilicitamente de clientes.
Neste evento, em particular, a indução em erro é indelével, vez que o
banco autoriza a transferência por “acreditar” tratar-se de um cliente seu, o qual
é identificado por uma senha ou outro dado qualquer passível de ser utilizado
por outrem. Veja-se que, apesar do correntista não ter cognição instantânea da
transferência ou saque na ocasião em que se efetua, a instituição financeira, através de seu sistema, trava ciência imediata e aprova a transação.
Neste sentido, questão que se antepõe diz respeito a uma curiosa questão,
qual seja, a indução em erro na proposição supracitada atinge um sistema projetado pelo homem e não este. Entretanto, não resta dúvida de que, nessa situação,
também é crível o expediente da interpretação progressiva (FELICIANO, 2001).
274
faculdade de direito de bauru
É de se atentar, contudo, que tal conduta difere daquela em que o agente,
por ser um expert em sistemas de segurança digitais, consegue violar senhas
bancárias e demais obstáculos apostos visando a coibir invasões desse jaez. O criminoso que, valendo-se dessa condição, logra transferir valores para certa conta
corrente age com destreza, pois o êxito de sua ação decorre de sua própria habilidade. É esta que permite com que ele viole o sistema bancário, sem que seja
percebido, isto é, durante todo o iter criminis, a instituição financeira não nota
a violação do sistema. Portanto, não se há falar em ardil, artifício ou outro meio
fraudulento qualquer, porquanto o que realmente se denota é apenas uma agilidade específica na área da informática, que possibilita o sucesso na empreitada
criminosa. Ilustram tal suposição casos em que, em virtude da vulnerabilidade
do sistema, o agente logra subtrair determinada quantia.
Por último, frise-se que, embora existam outros tipos penais passíveis de
serem configurados através da utilização do computador, tais como os previstos
nos artigos 208, 228, 286 e 287, todos do Código Penal, procuramos dissecar
apenas alguns dos principais dispositivos aplicáveis aos crimes de informática.
Finalmente arrematando, não poderiam cair no esquecimento algumas normas
penais (sem prejuízo da existência de outras) de extrema evidência, pois de
modo idêntico ao crime de dano, classificam-se, ainda que indiretamente, como
crimes informáticos próprios ou puros: artigos 153, caput e parágrafo primeiro;
313-A; 313-B e 325.
6.
CONDUTAS ATÍPICAS
Considerando-se o esboço anteriormente firmado, é irrefutável que as fórmulas e diretrizes das normas materiais penais nacionais, sobretudo o que representam em termos de “obsoletismo”, têm sim notável proficuidade no combate
à criminalidade na informática.
Todavia, a diminuta legislação sobre essa matéria, atrelada ao princípio da
reserva legal, o qual, conforme já declinado, constitui-se em garantia fundamental, atuando como um setentrião para o Direito Penal, origina a atipicidade
em algumas condutas praticadas por meio do computador.
O acesso não autorizado, indevido, ou ilegal à rede, sistema ou computador alheio trata-se de um comportamento que, ainda, não é emoldurado
pela legislação penal e que, por conseguinte, não pode ser punido criminalmente (ROSA, 2002).
Outra conduta aviltante é a denominada sabotagem informática.
Define-se como sendo a inserção, modificação, supressão ou extinção de
dados, instruções ou programas de computador, ambicionando obstacularizar o funcionamento ou a capacidade de funcionamento de um sistema
informático.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
275
Sob esse mesmo prisma, também merece ser enfatizado o comportamento do indivíduo que cria e/ou aperfeiçoa a potencialidade lesiva de um vírus, o
que, aliás, vem se expandindo com uma preocupante freqüência.
Da mesma forma, carecemos de uma previsão legal que vise a coibir a atuação daqueles que alteram, aniquilam ou inutilizam senhas indispensáveis ao funcionamento do sistema ou ao acesso à rede.
Outros exemplos dignos de menção são a “pichação” e o vandalismo na
Internet. Aquele que insere algum texto ou imagem em site alheio, sem a devida permissão, até o presente momento não encontra freios em nossas leis penais
(CASTRO, 2003).
Além disso, ecoa a ausência de tipicidade a conduta daquele que envia
contínua, indevida e inadequadamente, através do correio-eletrônico, mensagens não solicitadas, que possibilitem assumir o controle da máquina do usuário vitimado.
Destarte, perante eventuais lacunas, é imperioso que venham a lume normas visando a proteger os bens jurídicos ligados à informática, criando assim,
novos tipos penais aptos a extirparem a sensação de impunidade que tanto assola a sociedade, conquanto o Código Penal seja a Magna Carta do delinqüente a
contrario sensu: tudo o que nele não está proibido é permitido, ressalvado, é
óbvio, o estabelecido por leis esparsas.
7.
DA NECESSIDADE DE “CRIMINALIZAÇÃO”
De início, é válido assinalar que a Internet pode e deve ser regulamentada
pelo Estado brasileiro, haja vista que este, indubitavelmente, prega a inafastabilidade do controle jurisdicional.
De igual modo, no tocante às condutas ilícitas inéditas, a necessidade de o
Estado evitá-las é manifesta, pois afetam de forma intolerável bens jurídicos que,
embora ainda não estejam amparados, são, sem dúvida alguma, carecedores da
tutela penal.
Por outro lado, não podemos perder de vista que apesar de as vitórias
angariadas pela informática serem indubitavelmente revolucionárias, situam-se
no plano instrumental dos meios e não no sublime patamar dos fins. É, pois,
inadmissível qualquer exacerbação capaz de deturpar a ordem jurídica, de modo
a afetar bens já amparados pelo Direito Penal e bens que, não obstante a ausência dessa proteção, são no contexto atual dignos de respaldo jurídico.
Feitos esses esclarecimentos, reputamos essencial adentrar, com a devida
estima, na seara da “criminalização”, bem como no âmbito legislativo, que permeiam o assunto em tela para, só então, tecermos um raciocínio coerente com
o fito do presente esboço.
276
faculdade de direito de bauru
Considerando-se que não se há articular em dois mundos distintos, isto é,
um “real”, onde vigorariam as normas jurídicas e um “virtual”, em que seria
impossível o Estado intervir mediante a imposição de regras, é evidente a interação entre o progresso informático, principalmente no que se refere à Internet,
e o Direito Penal. Ora, se a sociedade também convive no ciberespaço, neste
também deverá operar o Direito.
Eis que surge, dentro dessa conjuntura, uma grande questão a ser expurgada: seria, realmente, imprescindível criminalizar as condutas que lesionem
bens informáticos, tendo em vista que o Direito Penal é considerado a ultima
ratio, a alternativa ao caos?
Hoje, podemos afirmar que o Direito Penal mostra-se, timidamente, desguarnecido para administrar a nova realidade da delinqüência. A desenvoltura
com que a imaginação criminosa atua, pondo em prática a formatação profissional do crime, é de uma temeridade assaz.
Urge, pois, nestes dias inseguros, que o Direito Penal finque, definitivamente, suas balizas na ideologia da defesa social, a qual tem como foco central
a segurança da comunidade.
Nesta senda, temos que o micro está para a criminalidade, assim como ele
está para a sociedade de bem. A significar que, enquanto não impuserem limites, punindo essas condutas, até então atípicas, tal máquina será tão proveitosa
para um homem de negócios quanto para um criminoso.
Ademais, é sabido que a impunidade propicia a evolução de toda e qualquer espécie de delinqüência. Destarte, é preocupante que esse poderoso instrumento esteja, pura e simplesmente, disponível para aqueles que possuem
intenções avessas às prescrições do nosso ordenamento jurídico, sendo inconcebível permitir que descubram, efetivamente, a real envergadura desse novo
“aliado”, utilizando-o em sua integralidade para fins ilícitos.
Em suma, não significa, em hipótese alguma, promover o congestionamento
de leis, tampouco anular a legislação penal existente. Neste sentido, vale invocar a
preleção de José Paulo Sepúlveda Pertence, o qual. ao se deparar com a necessidade de avaliar as conseqüências do avanço tecnológico, assim pontificou:
[...] a invenção da pólvora não reclamou a definição do homicídio para tornar explícito que nela se compreendia a morte
dada a outrem mediante arma de fogo” (HC. 76.689-PB, 1ª
Turma do STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 6.11.1998, p.
3 apud NALINI, 2004, p. 406).
Todavia, ao lado do teor acima declinado, o qual certamente se aplica
àquelas condutas que lesionem bens jurídicos já tutelados, onde a informática
atua apenas como um novo instrumento ou modus operandi inovador, há outra
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
277
questão de crucial importância e que não pode ser descartada: a concepção de
bem jurídico não pode ser estática, devendo estar aberta às mudanças sociais e
aos progressos do conhecimento científico. Fala-se, então, em condutas inéditas,
o que implica, necessariamente, uma ampliação da área acobertada pelo manto
das normas penais. Daí, a necessidade de uma nova escrituração nesse sentido.
Por derradeiro, nesta mesma senda, impende destacarmos o Projeto de Lei
nº 89/03 o qual, embora ainda se encontre em fase de tramitação pelo Congresso
Nacional, prevê uma punição de três meses a um ano de detenção e multa para
aquele que acessar indevidamente um meio eletrônico ou sistema informatizado.
Pretende também o mesmo penalizar com detenção de seis meses a um ano e
multa a conduta do indivíduo que fornecer, indevidamente ou sem autorização,
informação obtida em meio eletrônico ou sistema informatizado.
8.
CONCLUSÃO
A informática, como todo paradigma tecnológico, gera bônus e encargos,
de modo que a nova era vivenciada, qual seja, a era da informação ou infovia,
irrefragavelmente, revolucionou a conjuntura social sob diversos prismas.
O surgimento de um sistema de conexão mundial, como a Internet, além
de atuar como expressiva ferramenta de labor, de entretenimento e de integração entre os povos, também fomentou a expansão de influxos maléficos à sociedade, cooperando não só para o declínio da decência humana, bem como conferiu certas “comodidades” a uma indigesta vertente social, representada pelos
transgressores da ordem jurídica. Nesse aspecto, expressões como hackers,
crackers, lammers, phreakers, insiders, dentre outras, passaram a definir
uma nova gama de infratores.
Desta feita, coadjuvantes decorrentes dos avanços informáticos, tais
como, o anonimato e o imediatismo, propiciaram não apenas novas formas de
se cometerem delitos já definidos na lei penal, como também foram os responsáveis pelo surgimento de condutas inéditas, tidas como indesejáveis e
carecedoras de tipificação.
Nasceu, assim, o crime de informática, conceituado como sendo toda conduta típica e antijurídica em que o meio de execução (crime de informática
impróprio) ou o objeto juridicamente tutelado (crime de informática próprio) corresponda a um equipamento tecnológico.
Isto posto, é inarredável que, nesses casos, a aplicação do Direito Penal se
faz necessária. Não se pode olvidar que, em face do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, a jurisdição do Estado Democrático de Direito,
indelevelmente, está presente nessa órbita. Portanto, todas as normas penais
aplicáveis a qualquer indivíduo, desde que observado o preceito da reserva
legal, também incidirá no âmbito virtual.
278
faculdade de direito de bauru
Assim, forçoso reconhecer que não se há cogitar, hodiernamente, na inaplicabilidade das normas constantes da Parte Especial do Código Penal brasileiro à criminalidade na informática, conquanto o fato constitutivo do delito se
exprima na própria lei de modo exaustivo. Vale dizer, nesse ponto, quando ocorrer o preenchimento do requisito da tipicidade.
Ademais, recursos provenientes dos sistemas de interpretação, tal
como, a interpretação histórico-evolutiva, cuja utilização visa a arrostar contextos de perplexidade em sede de criminalidade tecnológica, consubstanciam-se em um expediente juridicamente lídimo. Ressalte-se, ainda, que a lei
é inteligível, a significar que o teor inserto no seu bojo deve acompanhar os
avanços sociais, isto é, para que seja considerada eficaz, impende que a
mesma caminhe concomitantemente com a realidade, sob pena de termos de
criar, a cada dia, novos tipos penais.
Todavia, identificamos algumas condutas que, não obstante o alto grau de
reprovabilidade social, permanecem como atípicas.
Bem por isso, quando se coloca em pauta o tema da tecnologia, aqui evidenciado pela informática, inevitavelmente retine a expressão futuro e, em se
tratando de assegurar o porvir da humanidade, bem como a premência em retermos a impunidade que tanto nos aflige, conceitos como o de bem jurídico não
podem obstacularizar a salvaguarda do direito.
Logo, no afã de afrontar as tarefas contemporâneas e também de possibilitar o maciço emprego dos benefícios oferecidos pela informática, sem
maiores temores, faz-se mister uma reformulação nos instrumentos jurídicopenais, denotando que os dilemas inerentes ao século XXI não podem ser,
devidamente, dirimidos mediante instrumentos intelectuais que permeavam
o século XVIII.
Por derradeiro, é de suma relevância consignar que não se está aqui advogando a inflação legislativa.Antagonicamente, primamos por uma atividade legiferante parcimoniosa, atilada e diligente, conquanto de enunciação acessível ao
leigo, exauriente no seu escopo e estritamente técnica.
A rigorosa aplicação da lei voltada aos fins sociais e às exigências do
bem comum, os sistemas interpretativos e, primordialmente, o bom senso
ético e científico acurado associados aos preceitos essenciais esculpidos pelo
artigo 5º da Constituição Federal, são, indubitavelmente, ferramentas
extraordinárias no que tange às distorções jurídicas impostas pela sociedade
tecnológica. Contudo, não bastam para tanto. Embora exista a possibilidade
de se aplicar, em vários casos, as normas incriminadoras previstas no Código
Penal, urge, pois, que sejam preenchidas as lacunas existentes, para que se
erradique a atipicidade de diversas condutas, socialmente reprováveis, relacionadas ao objeto informático.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
279
REFERÊNCIAS
ARAS, Vladimir. Crimes de informática: uma nova criminalidade. Jus Navegandi,
Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001. Disponível em:<http://www1.jus.com.br/
doutrina/texto.asp?id=2250>. Acesso em: 06 mar. 2004.
BARBOSA, Marco Antônio. O direito do passado e o futuro do direito. Revista do curso
de direito do centro universitário da FMU, São Paulo, n. 25, p. 85-91, 2003.
BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. O crime na era da informação. Jus Navegandi,
Teresina, a. 7, n. 61, jan. 2003. Disponível em:<http://www1.jus.com.br/
doutrina/texto.asp?id=3675>. Acesso em: 06 mar. 2004.
CASTRO, Carla Rodrigues de Araújo. Crimes de informática e seus aspectos processuais.
2.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.
COSTA, Marco Aurélio Rodrigues da. Crimes de informática. Jus Navegandi, Teresina, a.
1,
n.
12,
mai.
1997.
Disponível
em:<http://www1.jus.com.br/
doutrina/texto.asp?id=1826>. Acesso em: 27 fev. 2004.
DELMANTO, Celso. et.al. Código penal comentado. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Informática e criminalidade: primeiras linhas.
Ribeirão Preto: Nacional de Direito, 2001.
FERREIRA, Ivette Senise. A criminalidade informática. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO
FILHO, Adalberto (Coords.). Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru:
Edipro, 2001. cap. 7, p. 207-237.
FRANCO, Alberto Silva. et.al. Código penal e sua interpretação jurisprudencial.
5.ed.rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
GOMES, A.L.C.N. A informática como meio de execução dos crimes de furto, dano e
estelionato. Revista da Ajuris, São Paulo, n. 88, t. 1, p. 27-34, 2002.
GOMES, Luiz Flávio. Da política criminal paleorepressiva ao modelo político-criminal
consensual. In:______ Suspensão condicional do processo penal: o novo modelo de
justiça criminal. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1995. cap. 3, p. 55-81.
GRECO, M.A.; MARTINS, I.G.S. (Coords.). Direito e internet: relações jurídicas na sociedade informatizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2001. v. 1.
MIRANDA, Marcelo Baeta Never. Abordagem dinâmica aos crimes via internet. Jus
Navegandi,
Teresina,
a.
4,
n.
37,
dez.
1999.
Disponível
em:<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1828>. Acesso em: 06 mar. 2004.
MOREIRA, Rômulo de Andrade. Globalização e crime. Jus Navegandi, Teresina, a. 6, n.
53, jan. 2002. Disponível em: <http://www1.jus.com.br doutrina/texto.asp?id=2477>.
Acesso em: 06 mar. 2004.
280
faculdade de direito de bauru
NALINI, José Renato. Perspectivas e desafios do direito penal no séc. XXI. In: SARTORI,
Ivan Ricardo Garisio (Coord.). Estudos de direito penal: aspectos práticos e polêmicos.
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 373-409.
PAIVA, Mário Antônio Lobato de. Os institutos do direito informático. Jus Navegandi,
Teresina, a. 6, n. 57, jul. 2002. Disponível em:<http://www1.jus.com.br
doutrina/texto.asp?id=2571>. Acesso em: 06 mar. 2004.
PAIVA, Mário Antônio Lobato de. Primeiras linhas em direito eletrônico. Jus Navegandi,
Teresina, a. 7, n. 61, jan. 2003. Disponível em:<http://www1.jus.com.br
doutrina/texto.asp?id=3575>. Acesso em: 28 fev. 2004.
ROSA, Fabrizio.Crimes de informática. Campinas: Bookseller, 2002.
SILVA, José Geraldo da. O princípio da legalidade. In:______ Direito penal brasileiro.
São Paulo: Editora de Direito, 1996, cap. 8, p. 94-101.
SIQUEIRA, Paulo Hamilton. O direito na sociedade da informação. Revista do curso de
direito do centro universitário da FMU, São Paulo, n. 25, p. 61-71, 2003.
WILLIAMS, Phil. Crime organizado e cibercrime: sinergias, tendências e reações.
Revistas Eletrônicas. São Paulo, p. 1, 06 ago. 2001. Disponível em:
<http://usinfo.state.gov/jornals/itgic/0801/ijgp/ig080108.htm>. Acesso em: 10 fev.
2004.
A assistÊncia social brasileira e portuguesa:
um estudo comparativo*
Egli Muniz
Assistente social.
Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Professora e diretora da Faculdade de Serviço Social de Bauru e membro do Núcleo de
Investigação e Prática em Direito do Centro de Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino.
RESUMO
O principal objetivo deste estudo é identificar os traços comuns e discrepâncias entre a política pública da assistência social brasileira, a partir de sua inscrição no campo da Seguridade Social na Constituição Federal de 1988, e a portuguesa, refletindo sobre critérios de definição e regulação. Como parâmetros
de análise, adotaram-se indicadores utilizados por autores europeus que vêm
desenvolvendo pesquisas comparativas sobre a política de assistência social, na
última década.1 Caracteriza-se como uma investigação comparativa, desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e documental, principalmente das leis
maiores da assistência social dos dois países. Traçamos alguns paralelos entre
essas leis, discutindo similitudes e disparidades, concluindo-se que, em ambos
os países, a assistência social apresenta traços bastante similares. No entanto, a
lei brasileira é mais avançada, do ponto de vista dos direitos sociais, porem ainda
*
1
Pesquisa desenvolvida em Portugal, financiada pela CAPES, como parte da tese de doutorado da autora.
Lödemel,1992; Ian Gough et al, 1997, Serge Paugan, 1999.
282
faculdade de direito de bauru
não se efetivou concretamente, caracterizando o que Santos2 denomina de
Estado Paralelo.
Palavras-chave: Bem Estar Social, Regimes de Assistência Social, Cidadania.
1.
INTRODUÇÃO
É muito recente o interesse pela investigação transnacional sobre a assistência social, porém na última década, surgiram algumas pesquisas abrangendo
países da OECD, desenvolvidas por Ivar Lödemel (1992), Ian Gough, Jonathan
Bradshaw, John Ditch, Tony Eardley e Peter Whiteford (1997), John Ditch
(1998), Serge Paugan (1999), estimulados pelo trabalho pioneiro de EspingAndersen3 em relação aos regimes de bem estar, inegavelmente no bojo dos golpes contra o Welfare State, durante os anos 70 e 80.
É notório o aumento da demanda por assistência social, por diferentes
fatores. Um deles refere-se ao aumento da taxa de desemprego, pelo impacto
das novas tecnologias nos processos de produção, enxugando postos de trabalho, bem como pelo ingresso crescente de mão de obra feminina no mercado de
trabalho. Outro fator relevante relaciona-se às mudanças na forma e estrutura
familiar – lares chefiados por pais sozinhos ou por pessoa sem nenhum grau de
escolaridade, maior número de divórcios, menos estabilidade - que tornam esses
grupos familiares sujeitos a maior risco de pobreza. Ressalte-se que é indiscutível o claro vínculo entre pobreza e dependência da assistência social, principalmente porque seus demandatários não têm acesso ao seguro social.
Convém salientar ainda que entendemos a assistência social como política
pública, no campo da Seguridade Social, dever do Estado, portanto, e direito do
cidadão, que provê os mínimos sociais, entendidos como o conjunto de provisões efetivadas por meio de benefícios, serviços, programas e projetos, para
garantir o atendimento às necessidades básicas.4
Da mesma forma, constata-se o impulso que o próprio Banco Mundial e a
União Européia vêm dando à assistência social, quer vinculando o fornecimento
de ajuda ao desenvolvimento de esquemas de proteção social que reduzam
pobreza, quer enfatizando o potencial da assistência social para um nível mínimo de garantia de renda.
2
3
4
SANTOS, Boaventura Sousa. O Estado e a Sociedade em Portugal (1974-1988). Porto:
Afrontamento, 1990
ESPING ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do Welfare State. Lua Nova, n. 24, set.
1991.
O autor estabeleceu três modelos de bem estar social: liberal, corporativista e social democrata, baseado na maneira como repartem as responsabilidades entre o estado, o mercado e a
família.
Lei n. 8742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
283
Portanto, as relativamente recentes pesquisas comparativas internacionais
sobre a assistência social não aconteceram por acaso.
Lödemel5 distinguiu quatro principais tradições européias de assistência social.
O critério relevante de análise foi o caráter local ou nacional da gestão da assistência,
relacionando-o com a maior ou menor manutenção de dois dos principais princípios
da precedente Lei dos Pobres:6 prova de recursos e a subsidiariedade.7
Nos países latinos do sul da Europa com menor extensão e menor desenvolvimento do Estado de Bem Estar, encontra-se um regime incompleto e diferenciado, no dizer do autor. As leis nacionais de assistência social foram introduzidas recentemente, baseadas em esquemas categoriais para os cidadãos incapacitados - portadores de deficiência, idosos, viúvas – sendo difícil, na análise de
Lödemel,8 diferenciá-los do seguro social. Os elementos de atendimento ou controle social são centrais para os legisladores desses países.
Gough e outros pesquisadores9 ampliam esta análise incluindo os
vinte e quatro países da OCDE, tomando como parâmetros: a extensão e
relevância da assistência social, bem como a estrutura dos programas assistenciais e seus resultados, auferidos através dos níveis dos benefícios e das
taxas de substituição.
De acordo com sua tipologia, Portugal é classificado como um regime
de assistência social rudimentar, apontando características já assinaladas
por Ferrera e Lodemel: esquemas nacionais por categorias, cobrindo grupos
específicos, principalmente idosos e deficientes; programas compensatórios
aplicados localmente, articulados a testes de recursos. A assistência social
em dinheiro tende a se integrar com tratamento social e outros serviços. Os
benefícios são bastante restritos e estão fora dos parâmetros do restante da
Europa.
5
6
7
7
8
9
LODEMEL, I. Regimes europeus de Bem Estar Social. Tradução de Alves, R. M.R. Central
Bureau of Statics of Norway , Statistisk Sentralbyra, 7, Oslo, 1992.
Ressalte-se que nas décadas de 1940 a 1960, a repressiva Lei dos Pobres foi abolida pelas nações
da Europa Ocidental, sendo esta ruptura a pedra de toque no desenvolvimento dos estados de
bem estar social. Os principais focos destas leis foram o princípio liberal da menor elegibilidade, que implica a manutenção do valor de benefícios assistenciais sempre abaixo do valor
dos salários e o confinamento dos pobres nas Casas de Trabalho (Workhouses), pago com atividade laborativa obrigatória.
Como elucida Mestrimer, o princípio da subsidiariedade é um dos princípios básicos da
Doutrina Social da Igreja, segundo o qual “o Estado deve ajudar os membros do corpo social,
sem contudo impedi-los de fazer o que podem realizar por si mesmos”, fundamentado na
anterioridade natural das pessoas e da comunidade sobre o Estado. Cabe ao Estado subsidiar
as pessoas a alcançar os seus fins, nunca substituí-las.
MESTRIMER, M. L. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo: Cortez, 2001.
Opus cit,1992, p. 86
GOUGH, I. ET AL. Assistência Social nos países da OECD. Trad. Guerreiro, A. D. publicado originalmente no Journal of European Social Policy, v. 7, London: Sage Publications., p. 17-48, 1997.
PAUGAM, S. Revenue minimum et politiques d’ insertion. Intervenção Social, 15/16, Lisboa,
1997, p. 15-47.
284
faculdade de direito de bauru
Serge Paugan10 introduziu a discussão de dois outros parâmetros: os critérios de definição da “população atendida” e das ajudas sociais, distinguindo três
regimes de assistência social ou modos de regulação da pobreza: regulação autocentrada, regulação negociada e regulação localizada. Classifica os países da
Europa do Sul no modo de regulação localizada, pois segundo ele, a responsabilidade principal por esta regulação é do escalão local, a definição das populações atendidas é feita por categorias, a determinação das ajudas obedece à lógica do estatuto e o modo de intervenção é clientelista.
Para comparar a assistência social portuguesa e brasileira, tomaremos por
base os critérios estabelecidos por esses autores, sem, contudo, a preocupação
de caracterizar um regime brasileiro de assistência social, mas de adotar alguns
indicadores que permitam a comparação e, dentro dos limites impostos pelo
artigo, faremos uso basicamente da Constituição Federal de 1988 e a Lei
Orgânica da Assistência Social brasileiras e a Lei 17/2000 que aprovou as bases
gerais do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social de Portugal.
Ressalte-se que os estudos comparativos entre países vêm sendo bastante
utilizados, particularmente numa época de intensa globalização, pela possibilidade de aprendizado mútuo de conhecimentos e experiências, bem como para
evidenciar as diferenças relativas à capacidade de resposta dos governos e instituições às demandas sociais.
2.
A ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTUGUESA E BRASILEIRA
Em Portugal, a assistência social foi incorporada à Segurança Social no
período após a revolução de 1974, quando passa a ser mais insistentemente
conhecida pela designação de ação social, englobando duas áreas distintas: a de
administração de subsídios assistenciais, denominados também de prestações
financeiras ou benefícios, e a de provisão de serviços assistenciais. Sua inclusão
como componente do sistema integrado de segurança social a faz aproximar-se
dos critérios definidores de uma política social, configurando-se como atribuição de direito, reconhecida de natureza pública e estatal, embora “sem uma
materialização correspondente a seus princípios funda(menta)dores”.11
A partir de 1984, a negociação para integração na Comunidade Européia exigiu a elevação de alguns padrões jurídicos e de políticas sociais, que se fizeram presentes na Lei de Bases da Segurança Social, Lei 28, de 14 de agosto de 1984. Esta
Lei estabelece, para consecução dos objetivos que se propõe, três ramos orgânicos:
o regime geral (contributivo), o regime não contributivo e a ação social.
10 RODRIGUES, F. Assistência Social e políticas sociais em Portugal. Porto: Departamento
Editorial do ISSSPcoop e Centro Português de Investigação em História em Trabalho Social,
1999, p 210.
11 PORTUGAL, LEI 28, 1984, Art. 33.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
285
À ação social, como é denominada a assistência social em Portugal, cabe
assegurar proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças e
jovens, deficientes e idosos e outras pessoas em situação de carência econômico-social, concretizando-se em equipamentos e serviços e complementando a
proteção garantida pelos regimes, com objetivos de “promoção e reparação de
situações de carência, disfunção e marginalização social e a integração comunitária, com particular atenção aos grupos mais vulneráveis”.12
Em meados da década de 1990, sob as tensões provocadas pelo peso do
desemprego, as alterações demográficas resultantes do envelhecimento e da
baixa natalidade, bem como o débil crescimento econômico, Portugal inicia as
discussões para a reforma da Segurança Social. A Comissão designada para tal
publica, em dezembro de 1997, o Livro Branco da Segurança Social, o qual apresenta as diretrizes que deverá orientar o sistema de proteção social português,
propondo que ele se organize numa “visão sistêmica” estruturando-se em: sistema de segurança social, que inclui os subsistemas previdenciário e de solidariedade, sistema de ação social, que abrange os subsistemas público e privado; e
sistema de complementaridade.
Os princípios e diretrizes apontadas no Livro Branco da Segurança Social
foram consubstanciados na Lei 17/2000, que aprovou as bases gerais do sistema
de solidariedade e de segurança social. A Lei estruturou-o em três subsistemas:
de proteção social de cidadania, de caráter não contributivo, abrangendo o regime de solidariedade e a ação social; o subsistema previdenciário, destinado a trabalhadores, portanto de caráter contributivo, abarcando os regimes de segurança social; e o subsistema de proteção à família. Este último se aplica à totalidade
dos cidadãos13 e tem como objetivo garantir a compensação de encargos familiares acrescidos quando ocorram eventualidades previstas em lei, deficiência e
dependência, através de prestações pecuniárias e eventualmente prestações em
espécie, com vistas a assegurar melhor cobertura dos riscos sociais, podendo,
ambas as prestações serem cumulativas a eventual atribuição de prestações da
ação social.14
No subsistema de proteção social de cidadania, o regime de solidariedade
cobre os riscos de “ausência ou insuficiência de recursos econômicos dos indivíduos e dos agregados familiares para a satisfação das suas necessidades mínimas e para a promoção da sua progressiva inserção social e profissional, invalidez, velhice, morte”, bem como a “insuficiência das prestações substitutivas dos
rendimentos da atividade profissional por referência a valores mínimos legalmente fixados”.15 Concretiza-se através das prestações do Rendimento Mínimo
12
13
14
15
PORTUGAL, Lei 17/2000, Art. 41.
Ibidem, Artigos 42 e 45, ítens 1,3 e 4.
Ibidem, Art. 26, alíneas “a” a ”e”.
PORTUGAL, COMISSÃO DO LIVRO BRANCO DA SEGURANÇA SOCIAL, 1997, p. 211.
286
faculdade de direito de bauru
Garantido, pensões e complementos sociais, podendo ainda prever a concessão
de prestações em espécie, a serem regulamentadas em lei. As prestações poderão ser objeto de contrato de inserção, firmado com os beneficiários.
A ação social, por sua vez, tratada na Subseção III, Artigos 34 a 38, concretiza-se mediante prestações pecuniária, em espécie, utilização da rede de
equipamentos e serviços e apoio a programas de combate à pobreza, disfunção,
marginalização e exclusão sociais.
Apresenta para o sistema de ação social o objetivo de:
desenvolvimento integrado de uma pluralidade de funções,
nomeadamente as de reparação de situações de carência e desigualdade sócio econômica, dependência e exclusão social, da
melhoria da qualidade e do nível de vida e do desenvolvimento
e máxima utilização do potencial das capacidades individuais
na ação sobre o meio natural e social.
Complementa acrescentando que a ação social se sustenta ”numa solidariedade de expressão nacional que supõe a combinação da solidariedade familiar, dos grupos de vizinhança, das comunidades locais e do voluntariado
social”,16 instituindo o princípio da subsidiariedade, que, sabidamente, diminui
a responsabilidade do Estado na garantia da provisão e financiamento da assistência social.
O princípio é reiterado no artigo 35, alínea “h”, que preconiza a “valorização das parcerias, constituídas por entidades públicas e particulares, para uma
atuação integrada junto dos indivíduos e das famílias” bem como na alínea “i”:
“estímulo do voluntariado social, tendo em vista assegurar uma maior participação e envolvimento da sociedade civil na promoção do bem-estar e uma maior
harmonização das respostas sociais” e reafirmado também, claramente, no artigo 38, aqui transcrito:
1. O exercício da ação social é efetuado diretamente pelo
Estado, através da utilização de serviços e equipamentos públicos, ou em cooperação com as entidades cooperativas e sociais
e privadas não lucrativas, de harmonia com as prioridades e os
programas definidos pelo Estado com a participação das entidades representativas daquelas organizações.
16 Note-se que estamos usando neste estudo o termo subsidiariedade com a conotação que lhe é
dada claramente neste artigo da Lei portuguesa. O Estado exerce papel subsidiário em relação
à família e à comunidade, representada aqui pelas entidades assistenciais.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
287
2. O exercício público da ação social não prejudica o princípio
da responsabilidade dos indivíduos, das famílias e das comunidades na prossecução do bem estar social.
3. O exercício da ação social rege-se pelo princípio da subsidiariedade,17 considerando-se prioritária a intervenção das entidades com maior relação de proximidade com os cidadãos.
Observe-se que o documento destaca ainda os princípios da seletividade
e personalização das suas formas de intervenção e respostas às situações protegidas, assinalando que a dinâmica da realidade sobre a qual incide sua ação, “faz
com que o seu campo de aplicação pessoal não deva ser considerado objeto de
um quadro legal portador de rigidez, mas antes de grande flexibilidade”. Por
outro lado, o próprio documento ressalta que, diferentemente do quadro do sistema de segurança social, os variados tipos de respostas ou formas através das
quais concretiza suas funções “não se perfilam em termos de direitos subjetivos
exigíveis administrativa e judicialmente”.18 Isto remete, indubitavelmente, à
prova de recursos, um dos principais vetores estruturantes dos regimes de assistência social da Europa do Sul.
Sem dúvida, estes fatores oportunizam a discricionariedade na definição
das ajudas, dependendo de critérios adotados ad hoc pelos profissionais responsáveis pelo estudo social (prova de recursos), apontando ainda para um
modo de intervenção marcadamente individualista, dando margem ao clientelismo, tão a gosto da cultura dos países da Europa do Sul. A população atendida, portanto, não é também definida globalmente, a partir, por exemplo, de
linhas de pobreza.
Conforme o documento, a gestão do subsistema público cabe a serviços
especializados da administração direta e indireta do Estado e às autarquias
locais, nos termos definidos em lei; a gestão do subsistema privado é exercida
por instituições particulares de solidariedade social sem fins lucrativos, podendo também caber a outras pessoas coletivas de natureza privada,19 reiterando a
análise de Paugan, Lodemel e Gough em relação ao caráter predominantemente local assumido pela administração da assistência nos países da Europa do Sul,
designadamente Portugal.
O financiamento segue as mesmas diretrizes, isto é, o subsistema público
apóia-se na responsabilidade de toda a coletividade nacional, sendo financiado
pelo Estado pela via da fiscalidade; o subsistema privado apóia-se fundamentalmente na responsabilidade das pessoas, famílias, grupos e comunidades inte17 PORTUGAL, COMISSÃO DO LIVRO BRANCO DA SEGURANÇA SOCIAL, 1997, p 211.
18 Ibidem, 1997, p 24.
19 BRANCO, F. J. A face lunar dos direitos sociais. 2001. Tese (Doutorado em Serviço Social).
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 159.
288
faculdade de direito de bauru
ressados, pelo que o financiamento é assegurado pelos recursos próprios das
respectivas instituições, sem prejuízo de co-participações financeiras do Estado.
O Rendimento Mínimo Garantido - RGM, instituído em âmbito nacional
pela Lei 19-A, de 29 de junho de 1996, também tardiamente em relação à maioria dos países da Europa Ocidental, se constitui um avanço do ponto de vista de
sua abrangência universalizadora, definindo globalmente a população atendida,
bem como por se constituir um benefício individual, concedido a pessoas maiores de 18 anos, ou menor se grávida ou com criança a seu encargo. Articula-se a
tratamento social, estabelecido a partir de um acordo de inserção celebrado
entre o titular e a entidade gestora do programa, o qual prevê as obrigações do
titular e dos familiares e os apoios a conceder pelo Estado e organização da
sociedade civil parceira. Na análise de Branco,20 o RGM filia-se à concepção de
direito processual de Rosanvallon21 em que a titularidade, uma vez reconhecida,
confere ao beneficiário um conjunto de direitos e deveres.
No Brasil, a assistência social apenas foi galgada juridicamente ao status de
política social em 1988, quando a chamada Constituição Cidadã inscreveu-a no
campo da Seguridade Social, compreendida, de acordo com o artigo 194, como
“um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, na sua convenção 182,
de 1952, subscrita pelo Brasil.22
Seguridade Social é a proteção que a sociedade proporciona a
seus membros, mediante uma série de medidas públicas contra
as privações econômicas e sociais, que de outra forma derivariam no desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência, como conseqüência de enfermidade, maternidade, acidente
de trabalho ou enfermidade profissional, desemprego, invalidez, velhice e morte e também a proteção de assistência médica
e de ajuda às famílias com filhos.
Como destaca a autora, uma política de proteção social compõe o conjunto de direitos de civilização de uma sociedade ou o elenco das manifestações
de solidariedade de uma sociedade para com os seus membros. É uma política
estabelecida para a preservação, segurança e dignidade a todos os cidadãos.
Surge, portanto, como um conjunto de direitos públicos, decorrentes de um
20 Apud Branco, ibidem, p. 167.
21 Apud SPOSATI, A. Minimos sociais e seguridade social: uma revolução da consciência de
cidadania. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, v. 55, 1997, p. 26.
22 Informação prestada a autora (2 de abril de 2003).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
289
direito natural, isto é, as pessoas têm direito a um mínimo de bem estar, sem
qualquer pré-requisito.
A Constituição brasileira de 1988 inscreve-a ainda como não contributiva,
o que faz dela uma política desmercadorizada, isto é, um campo não mercantil.
Assim, os seus serviços não podem ser adquiridos no mercado, garantindo-se a
irrestrita gratuidade. Do ponto de vista da cidadania, este é grande avanço em
relação a Portugal, que estabelece a co-participação do usuário na forma de
pagamento de serviços e equipamentos sociais, de acordo com os seus rendimentos e dos respectivos agregados familiares (Art. 39 da Lei 17/2000, que aprova as bases gerais do sistema de solidariedade e de segurança social português).
A LOAS, por sua vez, acrescenta ainda a “supremacia do atendimento às
necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica (Art. 4º,
inciso I), reiterando sua condição de política desmercadorizada e exige que os
orçamentos estabeleçam os gastos sociais com absoluta prioridade. Destaque-se
que o princípio da desmercadorização é reiterado no artigo 3º, o qual estabelece que as entidades prestadoras de assistência social sejam não mercantis.
Na realidade, o momento não é favorável à desmercadorização, pois este é
um dos alvos preferidos do projeto neoliberal, já em franco avanço no Brasil
quando da aprovação da LOAS. Sabe-se, no entanto, que, como a própria
Constituição, nossa Lei expressa concepções muitas vezes divergentes, revelando o jogo de forças em presença no cenário onde foi construída.
O artigo 203 da Seção IV da Constituição Federal de 1988, que trata especificamente da assistência social, estabelece, que ela “será prestada a quem dela
necessitar”. Balera23 afirma que a intenção do legislador foi a de estabelecer a
universalidade, pois a assistência social brasileira é política de seguridade social,
na mesma linha do que é proposto no Art. 194, que trata da Seguridade Social,
no seu parágrafo único, inciso I, que coloca a “universalidade da cobertura e do
atendimento” como seu primeiro objetivo. Fundamenta-se na doutrina da proteção integral: aos que podem contribuir, o seguro social (previdência social) e
aos que não podem, o direito à assistência social. Assim, toda a sociedade brasileira estaria integralmente protegida.
Alguns autores concordam com essa posição, entendendo que ela será
prestada a todos que dela necessitarem, como é o caso de Sposati24 que cita a
política de saúde, a qual é mais reconhecida de fato como universal, e que
efetivamente é também prestada a quem dela necessita, pois como na assistência social, a pessoa só vai buscar os serviços e benefícios da saúde quando
deles necessita.
23 SPOSATI, A São Paulo, Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social, PUCSP,
1999. Notas de aula na disciplina: Assistência Social: tendências e debates.
24 Conforme informação prestada em entrevista concedida à autora em 2 de abril de 2003.
290
faculdade de direito de bauru
No entanto, é inegável que essa colocação dá margem a certa ambigüidade. As ações de assistência social estão dirigidas, genericamente, a quem delas
necessitar, mas seu conteúdo tende a estar restrito a situações de vulnerabilidade ou de ausência de capacidade contributiva.
Por outro lado, o Art. 4º da LOAS, que trata dos princípios que deverão reger
a assistência social no Brasil, no inciso III, apresenta como um deles a “universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário alcançável pelas demais
políticas”. Existe uma interpretação corrente que a assistência social é universal na
medida em que possibilita o acesso dos seus destinatários às demais políticas
sociais, o que, na verdade, também provoca certa ambigüidade.
Alguns ainda interpretam a expressão “a quem dela necessitar” como se a
assistência social fosse destinada ao ”necessitado”, culpabilizando assim o indivíduo pela sua necessidade e desresponsabilizando a sociedade de sua obrigação de oportunizar os direitos sociais a toda a sua população.
Como em nenhum momento a Lei Orgânica da Assistência Social, que
regulamentou a Constituição nesse aspecto, não determina os parâmetros para
uma definição global, para toda a nação, desse “a quem dela necessitar”, não
havendo também, até o momento, nenhuma legislação complementar que o
faça, os critérios de elegibilidade acabam sendo decididos na prática “caso a
caso”, personalisticamente, da mesma forma que, explicitamente, a Lei portuguesa determina. Esse fator acaba conduzindo conseqüentemente, à “prova de
recursos” e à discricionariedade, a qual, junto com o princípio da subsidiariedade, se constituem marcas do regime de assistência social português.
Mesmo o benefício de prestação continuada, garantido pelo Art. 203 (inciso V ) da Constituição Federal de1998 à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso, exige “que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”.
Pode-se ponderar que, no Brasil, nos últimos anos, estão sendo discutidas
as linhas de pobreza como critérios para repasse dos recursos federais e estaduais aos municípios mais pobres. Contudo, no âmbito local, a definição dos
auxílios ou a inserção nos serviços ainda é regulada individualmente e sujeita a
discricionariedade dos agentes.
Como em Portugal, a Constituição brasileira coloca a Seguridade como responsabilidade do Estado e da sociedade. Naquele país, como comentado, fica
claro o princípio da subsidiariedade. No Brasil, a Constituição vê a Seguridade
como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade”. No entender de Wagner Balera,25 o espírito da Constituição é estabelecer a solidariedade, entendida como princípio de justiça social entre Estado
e Sociedade, e não a subsidiariedade.
25 PORTUGAL, Lei 17/2000, Art. 35, alínea “d”, l.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
291
Embora, como discutido anteriormente, o espírito da Constituição brasileira e da própria LOAS tenha sido o de responsabilizar o Estado pela assistência
social, poderíamos considerar que, na prática, o princípio é tão válido e materializado quanto em Portugal. Na realidade, a presença das entidades de assistência social, representando a “Sociedade Providência” brasileira, é tão forte
como das IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social portuguesas.
Sabe-se que a influência do pensamento neoliberal no Brasil constituiu-se um
forte ataque à Constituição, e inúmeras tentativas têm sido feitas para que a
sociedade, através do tão acalantado Terceiro Setor, se responsabilize especialmente pelos serviços da assistência social.
Outro princípio similar é a “garantia da eqüidade e da justiça social no
relacionamento com os cidadãos”26 que na LOAS é apresentado como “respeito
à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade (....), vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade”, bem como “igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações
urbanas e rurais”.27
Ao determinar o respeito à dignidade do cidadão, busca superar o caráter clientelista, paternalista e tutelar com que sempre foi prestada. Procura ainda
“recompor a igualdade entre os destinatários da Assistência Social, ao não fazer
distinção entre capacitados e incapacitados para o trabalho”, como analisa
Pereira28 e facilitar o acesso aos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como aos recursos oferecidos pelo poder público, ao propor,
ainda no artigo 4º, inciso V, sua ampla divulgação.
Nos demais princípios, as duas leis, embora não sejam contraditórias, se
distanciam uma da outra.
A lei portuguesa apresenta, ainda no artigo 34, além dos que já foram
citados: o desenvolvimento social através da qualificação e integração
comunitária (alínea c) e utilização eficiente dos serviços e equipamentos
sociais, com eliminação de sobreposições, lacunas de atuação e assimetrias
na disposição geográfica dos recursos envolvidos (alínea g), o que sinaliza
para a necessidade de um claro diagnóstico local, evidenciando necessidades
e demandas, bem como articulação dos serviços e equipamentos em rede. Já
foram citados, na análise do regime de assistência social português, os princípios da “contratualização das respostas, numa óptica de envolvimento e responsabilização dos destinatários” (alínea “e”), bem como a “personalização
26 BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social, Art. 4º , incisos III e IV.
27 PEREIRA, P. A política social no contexto da seguridade social e do Welfare State: a particularidade da assistência social. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, v. 56, 1998, p. 72.
28 ALMEIDA, M.H.T. Federalismo e Políticas Sociais. in: AFFONSO, R.B.A E SILVA, L.B.
Descentralização e Políticas Sociais. São Paulo: FUNDAP, 1996.
292
faculdade de direito de bauru
seletividade e flexibilidade das prestações e dos apoios sociais, de modo a
permitir sua eficácia” (alínea “f ”).
A “divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios
para sua concessão” (Inciso V ), o último princípio apresentado, revela-se mais
pragmático, possibilitando elementos disciplinadores da ação.
Almeida29 ressalta, oportunamente, que a preocupação dominante na
LOAS foi estabelecer um “modelo não assistencialista” de assistência social, buscando romper com a concepção ainda hegemônica na sociedade brasileira, e
também em estabelecer os “mecanismos participativos de decisão”. Priorizou-se,
assim, no entender da autora, os princípios, em detrimento dos procedimentos,
que poderiam estabelecer os mecanismos para sua concretização.
Nesse sentido, a subseção da Lei portuguesa que trata da ação social,
embora bem mais sucinta é bastante mais específica, estabelecendo procedimentos que podem facilitar sua concretização.
Com relação aos destinatários, ambas se destinam aos cidadãos mais vulneráveis, particularmente crianças, jovens, portadores de deficiência e idosos. A
Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo CNAS, em dezembro de
1998, entende os seus destinatários como as pessoas pertencentes a formas fragilizadas de sociedade familiar, comunitária ou societária. São os segmentos
excluídos involuntariamente das políticas sociais básicas e das oportunidades de
acesso a bens e serviços produzidos pela sociedade, com prioridade para os indivíduos e segmentos populacionais urbanos e rurais em: a) condições de vulnerabilidade próprias do ciclo de vida, que ocorrem predominantemente em crianças de zero a cinco anos e em idosos acima de sessenta anos. b) condições de
desvantagem pessoal resultante de deficiências ou de incapacidades, que limitam ou impedem o indivíduo no desempenho de uma atividade considerada
normal para a sua idade e sexo, face ao contexto sócio-cultural no qual se insere. c) situações circunstanciais e conjunturais como abuso e exploração comercial sexual infanto-juvenil, trabalho infanto-juvenil, moradores de rua, migrantes, dependentes do uso e vítimas de exploração comercial de drogas, crianças
e adolescentes vítimas de abandono e desagregação familiar, crianças, idosos e
mulheres vítimas de maus tratos.
A esse propósito, Sposati30 afirma:
A assistência social incide principalmente sobre aqueles que não
são reconhecidos na agenda pública, na sociedade de mercado,
29 SPOSATI, A Desafios para fazer avançar a política de assistência social no Brasil. Serviço Social
e Sociedade, São Paulo, p. 54-82, 2001.
30 PORTUGAL, LEI 17/2000, Art. 35, alínea “a” e BRASIL, LEI 8.742/1993, Art. 1º.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
293
principalmente pelo fato de não terem recursos para serem consumidores [...]. O processo político da assistência social precisa
alterar a relação deste contingente humano com o Estado, tensionando o modelo de contrato social que os exclui.
OBJETIVOS
Podemos identificar, em relação aos objetivos, que ambas as leis propõem
para a assistência social a “satisfação das necessidades básicas”.31 A LOAS brasileira, na realidade, coloca inicialmente a satisfação de necessidades básicas,
mas em seguida fala de provisão dos mínimos sociais, o que também parece ser
o caso de Portugal, pois embora a alínea “a” do Art. 26, que se refere ao Regime
de Solidariedade, fale em “satisfação de necessidades mínimas”, aponta a “satisfação das necessidades básicas dos indivíduos e das famílias” como um dos princípios orientadores da ação social (Art. 34, alínea a).
A questão dos mínimos sociais tem provocado um acirrado debate. É tão
polêmica que seminários têm sido promovidos no Brasil para discussão do
tema32 e inúmeras produções têm sido publicadas.33
Sposati34 entende que discutir os mínimos sociais significa discutir o “padrão
societário de civilidade”, ou seja, o padrão de vida básico que se quer para a sociedade brasileira, ou os “padrões básicos de inclusão e de cidadania”, respaldando-se no
conceito de seguridade social estabelecido pela OIT – Organização Internacional do
Trabalho, associado à própria idéia de welfare state, a qual, no limite, é um projeto
de integração nacional, um projeto de Nação, como afirma Viana35 e “é nesse sentido
que Sposati entende os mínimos”, afirma o autor. Lembra ainda Sposati (1997, p. 36)
que “é preciso incluir garantias de desenvolvimento das possibilidades humanas dentre os mínimos sociais, como padrão básico de cidadania”, ou “uma nova perspectiva
[para a assistência social] é a de resignificar as necessidades sociais daqueles fora do
contrato social em um patamar básico de inclusão”.
No entanto, a própria autora36 reconhece que faz menção ao padrão de
vida básico e não somente a mínimos sociais porque considera que há uma
dupla interpretação do termo: “uma que é restrita, minimalista; e outra que considero ampla e cidadã. A primeira se funda na pobreza e no limiar de sobrevivência e a segunda em um padrão básico de inclusão”.
31 Núcleo de Seguridade e Assistência Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
São Paulo, 1994; Secretaria de Estado da Assistência Social e Fundação do Desenvolvimento
Administrativo – FUNDAP, São Paulo, 1999.
32 SPOSATI , 1997, p. 36.
33 IBIDEM, p. 36
34 VIANNA, 1999, p. 17),
35 Opus Cit, 1997, p. 88-89.
36 PEREIRA, P., 1999, p. 88-89.
294
faculdade de direito de bauru
Para Potyara Pereira,37 mínimo e básico são conceitos distintos. O primeiro, explica a autora, “tem conotação de menor, de menos, em sua acepção mais
ínfima, identificada com patamares de satisfação de necessidades que beiram a
desproteção social”. Básico, contudo, continua Pereira, “expressa algo fundamental, principal e primordial, que serve de base de sustentação indispensável
e fecunda ao que a ela se acrescenta”, requerendo respostas mais substanciais.
Na realidade, ambas as leis falam em necessidades básicas e mínimos
sociais (Brasil), ou necessidades sociais mínimas (Portugal). O conceito de mínimo, na verdade, pode dar a entender que o legislador pensou em versões mitigadas dos direitos de cidadania. Fica a indagação: por que ambas as leis colocam
em primeiro lugar o conceito de necessidades básicas e em seguida apontam
para “necessidades básicas mínimas” ou “mínimos sociais”?
Estudos desenvolvidos por Doyal e Gough38 indicam que existem dois conjuntos de necessidades básicas, objetivas e universais, os quais devem ser concomitantemente satisfeitos, para que todo ser humano possa realizar qualquer
outro objetivo ou desejo socialmente valorado: saúde física e autonomia.
Efetivamente, são precondições para se alcançarem objetivos universais de participação e libertação, o que exige, certamente, políticas sociais sérias e podem
se constituir em parâmetros para o estabelecimento dos “mínimos”.
Efetivamente, este dispositivo da LOAS não foi regulamentado até hoje,
trazendo com isto a ausência de balizamento a respeito dos mínimos a serem
providos e das necessidades a serem satisfeitas, isentando o Estado de sua atribuição de provisão social pública, o que, da mesma forma, acontece em
Portugal.
A “prevenção e erradicação de situações de pobreza”, como enuncia a lei
portuguesa, ou o “enfrentamento da pobreza”, como define a brasileira, são
ainda apontados como um de seus objetivos mais ambiciosos, ainda que indiquem que a consecução desses objetivos far-se-á de forma integrada às demais
políticas setoriais.39 Registre-se que a lei portuguesa aponta o objetivo da prevenção de situações de pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais. À
parte o ecletismo ideológico aí enunciado,40 este objetivo não é citado nenhuma
vez na lei brasileira, que nos parece mais coerente, ideologicamente.
37 apud PEREIRA, 2000, p. 68.
38 Lei 17/2000, de Portugal, Art. 34, inciso I e BRASIL, Lei 8.742/1993, do Art. 2º, Parágrafo único.
39 O termo exclusão social denota claramente a concepção de que sua raiz está na desigualdade
social, provocada pela concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos e acumulação da
miséria para muitos, o que exclui o indivíduo do acesso aos bens e serviços que a sociedade
tem produzido tão amplamente. Os termos “disfunção” e “marginalização” revelam a concepção de que a sociedade é um todo harmônico e perfeito e os indivíduos é que são disfuncionais
ou marginais ao sistema. De acordo com esta visão, basta trabalhar os indivíduos, adaptandoos ou ajustando-os à sociedade.
40 PORTUGAL, Lei 17/2000, Art. 34, inciso I e BRASIL, Lei 8.742/1993, Art. 2º Parágrafo único.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
295
A LOAS, em seu artigo 2º, reproduzindo o artigo 203 da própria
Constituição, apresenta ampla hibridez nos objetivos que atribui à assistência social:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei.
Diz o parágrafo único deste artigo:
A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos
mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.
Se analisarmos o sentido das palavras proteção e amparo, veremos que há
bastante semelhança entre os dois termos, ou melhor, são praticamente sinônimos. Proteção, do latim protectio, protectionis, significa ato ou efeito de proteger, defesa; apoio, amparo, socorro; auxílio, ajuda. Proteger: tomar a defesa de
alguém ou de alguma coisa, defender, evitar a destruição, preservar, resguardar.
Amparo, por sua vez, significa ação de amparar (do latim amparare); esteio, proteção, arrimo, auxílio; refúgio, abrigo.41
Depreende-se que a intenção do legislador, atentando para o parágrafo
único, foi a de atribuir à assistência social a função de tomar a defesa daquelas
pessoas em situação de pobreza, ou de vulnerabilidade pessoal ou social, desprovidas das garantias dos mínimos sociais, o que lhe atribui, sem dúvida, um
caráter de política de defesa de direitos.
41 O workfare vem sendo visto como uma nova versão do bem estar social e como parte das
políticas ativas de mercado de trabalho. Lodemel e Trichey (2000, p. 6) definem workfare
como programas e esquemas que exigem que as pessoas trabalhem em troca de benefícios
assistenciais, que vão desde propostas que enfatizam a necessidade de romper com a dependência do benefício, chamadas de programas de integração, até as propostas de inserção,
cuja intencionalidade é se contrapor aos processos de exclusão social numa linha de discriminação positiva.
296
faculdade de direito de bauru
Pode-se concluir que a hibridez dos objetivos apresentados no texto da Lei
permite certa flexibilidade, e com isso abre um leque de possibilidades na sua
aplicação.
No entanto, restringe o direito, ao estabelecer a promoção da integração
ao mercado de trabalho como um dos objetivos, deixando evidente que a assistência social se articula com “tratamento social”, na linha do workfare.42 Sinaliza,
ainda, uma meta extremamente ilusória, uma vez que o nível de emprego no
Brasil é um dos mais baixos do mundo e o número de pobres, dos mais elevados, ressaltando-se ainda a intensa seletividade do mercado de trabalho, tão exigente e competitivo.
Por outro lado, a Constituição avança ao instituir nacionalmente um único
esquema de benefício, embora categorialmente, para grupos específicos: o idoso
e portador de deficiência. No entanto, a LOAS43 restringe ainda mais o benefício,
pois estabelece o teto de uma renda mensal inferior a um quarto do salário mínimo per capita como condição para sua concessão. Na sua aplicação, tornou-se
ainda mais residual, pois, quando foi implementado, eram atendidos apenas
16% da demanda de idosos e 22% da demanda de portadores de deficiência,
cada vez mais submetidos a rigorosos testes de elegibilidade em sucessivas revisões. Em 1998, foram contemplados 295 mil idosos, correspondendo a 33,08%
da população idosa em situação de pobreza e 552 mil pessoas portadoras de
deficiência, correspondendo a 66,92% da população portadora de necessidades
especiais também em situação de pobreza.44
Segundo estudos de Sposati,45 no Brasil seriam 17 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência, se considerarmos o percentual estabelecido pela
Organização Mundial da Saúde (10% do total da população), dos quais 8%
teriam renda até 1/4 de salário mínimo, o que implicaria uma demanda potencial para o BPC de 1.370.597 brasileiros portadores de deficiência. Na sua estimativa, a cobertura atinge 60% desta demanda, restando ainda 40% a ser alcançada, cálculo que se aproxima da estimativa acima.
Com relação ao BPC destinado ao idoso, contudo, a análise demonstra que
os 403 mil beneficiários atendidos em 2000 superaram em 20% a estimativa de
que o Brasil teria 316 mil pessoas com mais de 65 anos com renda até ? de
salário mínimo per capita. Sposati46 ressalta, no entanto, que a política de saúde
42 BRASIL, Lei 8.742/1993, Art. 2º, INCISO V.
43 A projeção dos dados foi elaborada com base nos índices de população idosa brasileira e portadora de deficiência brasileira apresentados na Política Nacional de Assistência Social e no
volume de beneficiados indicados na Mensagem ao Congresso Nacional apresentada pelo expresidente Fernando Henrique Cardos (2002, p. 215).
44 SPOSATI, A Desafios para fazer avançar a política de assistência social no Brasil. Serviço
Social e Sociedade, São Paulo, p. 54-82, 2001, p. 15-16.
45 Ibidem, p. 16.
46 ALMEIDA, opus cit, p. 23.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
297
brasileira considera idosa a pessoa acima de 60 anos e que o teto de ? do salário
mínimo como renda per capita é extremamente restritivo. Se fosse adotado este
critério de renda, o benefício deveria ser estendido a 1,5 milhão de pessoas, o
que significaria quase triplicar o número atual.
DIRETRIZES
Quanto às diretrizes, embora não especificamente sob este título, são
apontadas pela Lei portuguesa no Art. 38, que trata do “exercício público da
ação social”, discutido quando analisamos o tema da subsidiariedade, tão bem
explicitado na referida Lei.
A LOAS, por sua vez, aponta três diretrizes: I – “descentralização políticoadministrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando
único das ações em cada esfera de governo”; II – “participação da população,
por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”; e III – “primazia da responsabilidade do
Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo”.
Em relação à primeira, fica evidente que a intenção do legislador foi a de
possibilitar a gestão democrática do “sistema descentralizado e participativo da
assistência social, constituído pelas entidades e organizações de assistência
social (...), que articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área”, como
estabelece o Art. 6º da LOAS.
No entanto, pesquisa realizada sobre o federalismo, no Brasil, pela
Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, do Estado de São
Paulo, através do Instituto de Economia do Setor Público, no período de julho
de 1993 a dezembro de 1994, em todas as regiões do país, revela que, dentre as
quatro políticas sociais estudadas – educação, saúde, assistência social e habitação – a assistência social foi a que havia mudado menos do ponto de vista da
descentralização e redistribuição efetiva de competências e atribuições entre instâncias de governo.47
A autora assinala três fatores responsáveis pela ausência de reforma efetiva de cunho racionalizador e descentralizador:
a inexistência de uma política nacional de descentralização no
âmbito federal; a importância do aparato federal de assistência
47 Não foi encontrado no dicionário o termo patronagem usado pela autora. Contudo, patronear
significa, entre outros, “tomar ares de patrão, falar em tom de patrão” (GRANDE
DICIONÁRIO LAROUSSE CULTURAL DA LÍNGUA PORTUGUESA, 1995), do que se
depreende que a palavra deve ter sido utilizada para demonstrar o tipo de relação coronelista
do governo federal com suas bases de apoio.
298
faculdade de direito de bauru
como instrumento de patronagem48 e de negociação política
entre Presidência da República, suas bases no Congresso e seus
apoios nos estados; e a fragilidade política da coalizão de apoio
às propostas reformistas.
O farto diagnóstico dos inúmeros problemas da assistência social no país,
como a concepção assistencialista das organizações responsáveis pela sua execução, a superposição de programas e recursos das três esferas de governo, o
clientelismo das ações, a fragmentação e pulverização institucional, a baixa qualidade do atendimento e outros, não se materializaram em iniciativas definidas
de reforma, denuncia Almeida.49
Embora a lei tenha efetuado alguma reorganização de competências e atribuições entre as esferas de governo, estabelecendo funções mais normatizadoras e reguladoras para a União, os Estados e municípios, especialmente, mantêm
ampla área de competências concorrentes na prestação de serviços assistenciais
e nas situações de emergência. São bastante ambíguas, ainda, as formas de transferência dos recursos federais para o financiamento das atividades redistribuídas
para os estados e municípios.
No bojo das reformas implementadas em razão do ajuste fiscal, foram
apresentadas pela equipe econômica, nesse período, propostas de extinção do
Ministério de Bem-Estar Social e a transferência de todas as ações de corte assistencial para as unidades subnacionais. O objetivo, no entanto, não era descentralizar ou modernizar a assistência, mas cortar os gastos.50
A pesquisa da FUNDAP aponta, também, como impasses ao processo de
descentralização da assistência social à época, a ausência de pressão pela reforma por parte dos estados e municípios, além da inexistente capacidade de articulação e ação coletiva da ampla clientela dos programas assistenciais, diferentemente do que aconteceu com a saúde, a exemplo.
Em 1994, permanecia ainda uma forte centralização decisória e de recursos nos aparatos federais e elevada pulverização de agências executoras, bem
como precária articulação entre os níveis de governo e grande descontinuidade
nas ações. Essa estrutura favorecia as pressões conservadoras e a penetração dos
interesses clientelistas. Para tornar a situação mais complexa, programas assistenciais, como a Campanha de Combate à Fome, são criados fora da área da
assistência social.
Em 1995, assume o presidente Fernando Henrique Cardoso e, pela
Medida Provisória 813, de 1º de janeiro desse ano, extingue o Ministério da
48 Opus cit, p. 23.
49 Ibidem, p. 26.
50 MUNIZ, E. A assistência social para seus gestores: desvendando significados. 1999,
Dissertação. (Mestrado em Serviço Social). Universidade Estadual Paulista, Franca, p. 83.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
299
Integração e Bem-Estar Social, a LBA (Legião Brasileira de Assistência) e CBIA
(Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência), órgão que havia substituído a
antiga FUNABEM na formulação da política nacional para a criança e adolescente. Os programas de assistência social são integrados ao Ministério da
Previdência e Assistência Social.
Até aí, a Medida atendeu às expectativas ou recomendações de grupos que
militavam na área. Entretanto, sérios complicadores foram introduzidos pelo
fato de a assistência à criança e adolescência ter ficado vinculada ao Ministério
da Justiça e a assistência ao portador de deficiência, à Secretaria dos Direitos de
Cidadania, também do Ministério da Justiça. Novo golpe é aplicado à diretriz do
comando único das ações, fragmentam-se as instituições e pulverizam-se os
recursos.51
A situação torna-se ainda mais complexa com a criação do Programa
Comunidade Solidária, dirigido pela esposa do presidente, consolidando-se o
papel da “primeira dama” aliada à assistência social, e incentivando a continuidade dessa figura nos estados e municípios, exaustivamente condenada em diagnósticos anteriores por concorrer para a institucionalização do clientelismo, do
proselitismo eleitoreiro e outros valores tão impregnados na cultura brasileira,
o qual acabou exercendo papel concorrente à Secretaria de Estado da Assistência
Social, a qual foi criada pela mesma Medida Promissória, como órgão encarregado de formular e coordenar a Política Nacional de Assistência Social, assumindo as competências da Secretaria da Promoção Humana, do extinto Ministério
do Bem-Estar Social, da Fundação Legião Brasileira de Assistência, além de parte
das competências da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência.
Hoje essa Secretaria. está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome.
Parece-nos que com a recente aprovação da nova Política Nacional da
Assistência Social, em 22 de setembro de 2004, que cria o Sistema Único da
Assistência Social – SUAS, muitos desses problemas deverão ser solucionados.
A ânsia pela democratização da sociedade brasileira que marcou a constituinte afiançou a “participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os
níveis”. (Art. 204, incisos I e II). Este é, sem dúvida, o maior avanço instituído
pela Constituição nessa área, efetivado através da criação dos Conselhos
Nacional, estaduais e municipais de assistência social na maioria dos municípios
brasileiros.
A diretriz da “primazia da responsabilidade do Estado na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo”, em tese elimina qualquer conotação de subsidiariedade.
51 YASBEK, M. C. Terceiro setor e despolitização. Inscrita. Brasília, v. 6, p. 13-18, jul. 2000.
300
faculdade de direito de bauru
No entanto, o pensamento neoliberal, hegemônico no país, nos últimos
anos, vem deslocando o trato da questão social para a esfera das organizações
sociais, família e comunidade, provocando o que Yasbek52 vem denominando
de refilantropização da assistência social. A autora considera que, nos anos mais
recentes, a presença do setor privado ou terceiro setor “vem assumindo uma
posição de crescente relevância, confirmando o deslocamento de ações públicas
estatais no âmbito da proteção social para a esfera privada”, ainda que na assistência social essa presença seja uma tradição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatam-se, portanto, inúmeras características similares à assistência
social.
Trafegando pelas matrizes teóricas estabelecidas pelos autores que referenciam este estudo, podemos concluir que ambos os países possuem uma lei
nacional da assistência social, que regulam, com maior ou menor precisão, seu
modo de financiamento, gestão e normatização. No caso dos dois países, utilizando a matriz de Paugan (1999), embora não concordando com alguns aspectos de sua classificação em relação a Portugal, consideramos que existe uma
regulação negociada, pelo menos com relação à forma de financiamento em
Portugal, uma vez que o governo central normatiza e leva a discussão para as
Associações das IPSS, e no Brasil, para o CNAS.
Baseando-se nos critérios de Gough et al. (1997), poderíamos afirmar que
a estrutura dos programas assistenciais tende a ser nacional, levando em conta
o papel do governo central em contraposição ao local, em ambos os países, principalmente em relação às normas sobre benefícios, que são regulados nacionalmente, por categoria, no caso do benefício de prestação continuada brasileiro, e
de forma unitária, no caso do Rendimento Mínimo Garantido português.
A subsidiariedade, categoria proposta por Lodemel (1992), no nosso
entender, está presente de fato na assistência social dos dois países, embora, as
Leis maiores a tenham inscrito como dever do Estado, como foi discutido anteriormente. No entanto, concretamente, a assistência social só é prestada quando
o indivíduo não consegue prover, por seus próprios meios, suas necessidades
básicas de subsistência, ou tê-las providas pela família ou ainda pela comunidade, por meio das entidades de assistência social.
A discricionariedade, que parece sempre articulada à prova de recursos e
à intervenção clientelista, também é uma das características propostas por
Lodemel e Paugam encontradas nos dois países. Parece evidente também, em
ambas as legislações, a assistência social vinculada a “tratamento social”, quando
a LOAS propõe, a exemplo, o objetivo da inserção ao mercado de trabalho, aliado à proteção e amparo.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
301
Assim, verifica-se que a análise de Lodemel, Gough e Paugan para a assistência social portuguesa é extremamente pertinente para a brasileira.
Nos dois países, a assistência possui uma lei nacional, mas é gerida localmente.
No Brasil, com o agravante de uma legislação regulamentar totalmente incipiente, o
que provoca a fluidez de responsabilidades e a fraca identidade da política.
O princípio da subsidiariedade é efetivado em ambos os países mediante a
desresponsabilização do Estado na provisão da política, assumida quase que
totalmente pela sociedade civil, através das tradicionais entidades privadas, de
cariz religioso e cunho caritativo e paternalista, personalista e clientelista, que
marginalizam o indivíduo no processo de atendimento, concebendo a pobreza
como incapacidade pessoal e opondo-se frontalmente à efetivação da cidadania.
Em ambos os países, a população atendida não é definida globalmente,
com base em um critério nacional, e as ajudas estabelecidas com base no estatuto, o que leva à discricionariedade na sua concretização, concedendo por
mérito aquilo que seria esperado usufruir por direito, colocando em causa os
princípios da igualdade e justiça social, bem como trazendo implícita a prova de
recursos e a seletividade.
Embora o nível dos benefícios em Portugal seja baixo em relação à Europa,
no Brasil o único benefício de âmbito nacional, o BPC, é extremamente residual,
focalizado nos mais miseráveis, com uma baixa cobertura, portanto, e também
categorial, apenas para idosos e portadores de deficiência.
Concluímos que tanto como Portugal, o Brasil pode se classificar como um
regime de assistência social incompleto e diferenciado, na visão de Lodemel, ou
rudimentar, de acordo com Gough.
Embora a Constituição brasileira e a própria LOAS tenham apontado para
a efetivação da assistência social como política no campo da proteção social,
como uma política de direitos, acreditamos que podemos considerar a análise
de Gough para a assistência social portuguesa extremamente pertinente para a
assistência social brasileira: “promessas constitucionais extravagantes e direitos
sociais incipientes, aliados à fraca implementação”.
Não resta dúvida que a emergência da LOAS expressa uma mudança fundamental na concepção da Assistência Social, que se afirma como direito, como
uma das políticas estratégicas de combate à pobreza, à discriminação e à subalternidade em que vive grande parte da população brasileira, com conseqüências
inegáveis para a mudança de concepção e sua concretização, mas ainda muita
luta será necessária para que ela se efetive como tal.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M.H.T. Federalismo e Políticas Sociais. in: AFFONSO, R.B.A E SILVA, L.B.
Descentralização e Políticas Sociais. São Paulo: FUNDAP, 1996.
302
faculdade de direito de bauru
BALERA, W. A Seguridade Social: conceito e polêmicas. In: Núcleo de Seguridade e
Assistência Social. Mínimos de cidadania. Ações afirmativas de enfrentamento à exclusão
social. São Paulo: Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. V. 4. 1994.
BRASIL. Lei Orgânica da Assistência Social. Diário Oficial da República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 7 de dezembro de 1993.
BRANCO, F. J. A face lunar dos direitos sociais. 2001. Tese (Doutorado em Serviço
Social). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 159.
ESPING ANDERSEN G. As três economias políticas do Welfare State. Lua Nova, set. 91,
v. 24, p. 85 – 116.
FERRERA, M. Modelo Meridional de Bem Estar Social na Europa. Tradução de Alves,
M. R S. Journal of European Social Policy, v. 6, p 17-37, 1996.
GOUGH, I. et AL. Assistência Social nos países da OECD. Trad. Guerreiro, A. D. publicado originalmente no Journal of European Social Policy, v. 7, London: Sage
Publications., p. 17-48, 1997.
LODEMEL, I. Regimes europeus de Bem Estar Social. Tradução de Alves, R. M.R. Central
Bureau of Statics of Norway , Statistisk Sentralbyra, 7, Oslo, 1992.
MESTRIMER, M. L. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo:
Cortez, 2001.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Política Nacional de
Assistência Social. Brasília, dezembro de 1998.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Norma Operacional
Básica e Sistemática de Financiamento da Assistência Social. Dezembro de 1998.
MUNIZ, E. A assistência social para seus gestores: desvendando significados. 1999,
Dissertação. (Mestrado em Serviço Social). Universidade Estadual Paulista, Franca, p.
83.
PAUGAM, S. Revenue minimum et politiques d’ insertion. Intervenção Social, 15/16,
Lisboa, 1997, p. 15-47.
PEREIRA, P. A Assistência Social na perspectiva dos direitos. Brasília: Thesaurus.1996.
_______. A política social no contexto da seguridade social e do Welfare State: a particularidade da assistência social. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, v.56, p.60-76.
PORTUGAL. Lei no 17/2000. Aprova as bases gerais do sistema de solidariedade e de
segurança social. Diário Oficial da República. p. 3813 – 3825.
PORTUGAL. Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Secretaria de Estado da
Segurança Social e das Relações Laborais. Comissão do Livro Branco da Segurança
Social. Livro Branco da Segurança Social. 1997
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
303
RODRIGUES, F. Assistência Social e políticas sociais em Portugal. Porto: Departamento
Editorial do ISSSPcoop e Centro Português de Investigação em História em Trabalho
Social, 1999.
SANTOS, B. S. O Estado e a sociedade em Portugal. Porto: Afrontamento, 1990.
SPOSATI, A. Mínimos sociais e seguridade social: uma revolução da consciência da
cidadania. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, v. 55, p. 9-38, 1997.
_______ Desafios para fazer avançar a política de assistência social no Brasil. Serviço
Social e Sociedade, São Paulo, p. 54-82, 2001.
_______Regulação social tardia: características das políticas sociais latino-americanas
na passagem entre o segundo e terceiro milênio. In Fórum Social Mundial. Porto Alegre,
2002, (s.p.)
YASBEK, M. C. Terceiro setor e despolitização. Inscrita. Brasília, v. 6, p. 13-18, jul.
2000.
parecer
REGIME GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS E ESPECIAL
DOS MILITARES – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA
ADOÇÃO DE REGIME PRÓPRIO AOS MILITARES
ESTADUAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 40, 20, 42 E
142, 3º, INCISO X, DO TEXTO SUPREMO - PARECER.
Ives Gandra da Silva Martins
Professor Emérito da Universidade Mackenzie, da UNIFMU e
Presidente do Centro de Extensão Universitária.
CONSULTA
A consulente, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, honra-me
com consulta precedida das seguintes considerações, formulando, ao final, três
quesitos:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PARA OS MILITARES ESTADUAIS
Situação:
1. Necessidade legal de um Regime Próprio de Previdência Social
para os militares estaduais, em face dos dispositivos constitucionais vigentes.
Análise:
1. A reforma previdenciária efetuada na Constituição Federal
pela Emenda Constitucional n° 41, de 2003, trouxe a lume questão de suma importância para a definição do Regime
Previdenciário dos Militares dos Estados e dos Territórios.
308
faculdade de direito de bauru
2. Basicamente, essa modificação constitucional distingue dois
regimes previdenciários, a saber: o Regime Geral de Previdência
Social, que abarca todos os trabalhadores regidos pela legislação trabalhista, e o Regime Próprio de Previdência Social, destinado aos servidores públicos e aos militares.
3. Interessa-nos discorrer sobre o Regime Próprio de Previdência
Social para os servidores públicos e para os militares, vez que a
pergunta que se faz, diante dos ditames constitucionais é, se os
militares, estaduais e federais, devem integrar esse regime em
conjunto com os servidores públicos, ou se devem ter um regime
próprio previdenciário distinto daqueles.
4. As disposições constitucionais que regulam a matéria relativa
aos militares estaduais, ponto que nos interessa, são:
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
§ 1°. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8°, do art. 40, § 9°; e do art. 142, §§ 2° e 3°,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do
ad. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas
pelos respectivos governadores.
§ 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército
e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na discIiplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se
à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1°. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem
adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças
Armadas.
§ 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei
as seguintes disposições:
(...)
X — a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
309
do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais
e de guerra.
5. De plano, verifica-se que, tanto para os militares estaduais
quanto para seus pensionistas, há necessidade de lei específica do
respectivo ente estatal, para regular-lhes os direitos. E, para os
militares estaduais, isso se extrai da combinação do contido no §
1º do art. 42 com o contido no inciso X do § 3° do art. 142, resultando na conclusão de que “lei estadual específica disporá sobre
os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferências do militar estadual para a inatividade, os direitos, os
deveres, consideradas as peculiaridades de suas atividades”.
6. Por óbvio que o legislador constituinte, ao deixar para a legislação estadual específica a regulação das regras de inatividade
e de direitos dos militares estaduais, não o fez por acaso, mas
sim, levou em consideração as dimensões do Brasil e as diversas
nuances culturais que nele subsistem, segundo a realidade
sócio-econômica de cada ente federado. E, nem poderia ser diferente, afinal o “estresse” vivido por um policial militar do sertão
da Bahia, não é igual àquele de um policial militar, de mesmo
posto ou graduação, atuando na periferia da cidade de São
Paulo ou num morro da cidade do Rio de Janeiro.
7. Essa tendência descentralizadora é uma constante na
Constituição Federal desde a publicação da Emenda
Constitucional n° 18/98, que dispôs sobre o regime constitucional dos militares.
8. Uma das primeiras modificações que ela estabeleceu no texto
constitucional foi separar o gênero agente público em duas espécies: os servidores públicos e os militares.
9. Isto se conclui da observação na alteração determinada pelo
artigo 2° da referida emenda, que deu nova denominação às
Seções II e III do Capítulo VII do Título III da Constituição
Federal, passando elas a denominarem-se, respectivamente,
“DOS SERVIDORES PÚBLICOS” e dos “MILITARES DOS ESTADOS,
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”.
10. Juridicamente, podemos inferir que todos os agentes públicos
da Administração Pública que não forem militares serão servidores públicos. Isso se justifica na medida em que verificamos as
diferenças de destinação existente entre as categorias.
310
faculdade de direito de bauru
Diferenças que já se destacam no momento da seleção para
ingresso nas respectivas carreiras. Para o serviço público, em
regra, exige-se um conhecimento técnico prévio para o desempenho de suas funções, ao passo que, contrariamente, para o interessado que queira ser militar, exige-se apenas o conhecimento
escolar comum, segundo a carreira a ser abraçada, pois todo o
seu ofício será ensinado pelo Estado.
11. Mas, as diferenças não param por aí. Dos agentes da
Administração Pública, em geral, exige-se eficiência, probidade,
dedicação e interesse pela causa pública, porém, no âmbito do
serviço público comum, tal empenho está restrito somente ao
bom desempenho das respectivas funções, não indo além disso.
Do militar espera-se um pouco mais de dedicação, haja vista o
seu juramento de empenhar a própria vida para a defesa da
sociedade e da sua Pátria, além de outras peculiaridades que
ressaltam as especiais diferenças entre os militares e os demais
funcionários públicos, tais como:
11.1. alto grau de letalidade e ferimentos em defesa da sociedade, deixando viúvas e órfãos;
11.2. riscos à vida, à saúde e à integridade física, tanto na atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, como
na atividade de combate a incêndios, resgate e salvamentos;
11.3. regime de trabalho policial militar sujeito a variações de
horários, prolongamentos e antecipações de escala de serviço,
com previsão legal de tal situação que os impossibilita de receber horas extras e remuneração por trabalho noturno superior
ao diurno;
11.4. instituição baseada na hierarquia e disciplina, com características disciplinares rígidas, necessárias à garantia da lei, da
ordem e dos poderes constituídos;
11.5. vedação constitucional aos direitos de sindicalização e greve;
11.6. sujeição aos rigores do Código Penal Militar e Código de
Processo Penal Militar, além das legislações penais e processuais
comuns, essenciais ao controle da Força;
11.7. possibilidade de reversão de Oficiais ao serviço ativo nas
situações previstas em lei, bem como alcance das disposições do
Regulamento Disciplinar e Código Penal Militar aos militares da
reserva e reformados;
11.8. vedação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que
somente é compensado pela sua aposentadoria com vencimentos integrais, iguais aos dos militares da ativa;
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
311
11.9. vedação ao aviso-prévio;
11.10. vedação a participação nos lucros e ao SeguroDesemprego;
11.11. vedação ao direito de receber o 13º salário proporcional
ao tempo de serviço.
12. Diante disto é que entendeu o legislador constitucional de
destacar o militar brasileiro, federal ou estadual, em sistema
jurídico próprio, vez que não há como igualar situações desiguais, iniciando-se tal distinção pela separação de ambos os
sujeitos em setores específicos do texto constitucional.
13. Assim, a distinção fática justifica a distinção jurídica entre
os servidores públicos e os militares, destacada no artigo 42 da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 18/98, cuja
redação transcrevemos acima.
14. A tendência descentralizadora iniciada em 1998, foi ratificada pela Emenda Constitucional n° 41/03, ao definir, no § 20
do art. 40, uma ressalva para a existência de apenas um regime
próprio de previdência social, como segue:
Art. 40 ....
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de
previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em
cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, X.
15. Desse texto, depreende-se que, tanto no âmbito da União, quanto no âmbito dos Estados Federados, poderão subsistir dois regimes
próprios de previdência social, um para os servidores civis e outro
para os militares. E, para que não restem dúvidas, esclarecemos
que a União terá dois regimes próprios de previdência, um para os
servidores civis e outro para os militares; e, cada um dos Estados
terá duas unidades gestoras de regime próprio de previdência, um
para os seus servidores civis e outro para os seus militares.
16. Outro ponto que só vem confirmar o presente entendimento,
reside no fato de que do art. 40 da Constituição Federal, dispositivo este, inserido na Seção II - Dos Servidores Públicos, somente se aplica ao militares dos Estados o contido em seu § 9º, que
trata da contagem recíproca de tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal, ratificando o entendimento de que nada
além disso se aplicaria aos militares dos Estados, cabendo,
como já afirmado, a uma lei específica estadual dispor sobre o
regime próprio de sua previdência social e não uma lei federal
estabelecendo regras gerais.
312
faculdade de direito de bauru
17. Igual situação ocorre para os militares das Forças Armadas,
vez que, para eles, nada mais do art. 40 lhes é aplicável, em face
da revogação do inciso IX do § 3º do art. 142, efetivada pela EC.
n. 41/03, sendo certo que até o momento dessa revogação aplicavam-se a esses militares as disposições dos § 70 e 8° do art. 40.
18. E o principal fundamento para tal entendimento encontrase no fato de que a lei estadual específica regulará direitos dos
militares estaduais e não há como negar que o regime previdenciário é um direito de todos os trabalhadores, haja vista o contido no art. 194 da Constituição Federal, que estabelece:
“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (Grifamos).
19. Também não há que se negar o entendimento de que, se o disposto no § 20 do art. 40 da Constituição Federal fosse no sentido de
uma unidade gestora única do regime de previdência tanto para os
militares quanto para os demais servidores públicos, logo, as regras
dos § 14 a 16 do art. 40 seriam a eles estendidas, o que não ocorre,
pois, o próprio art. 42 definiu que do art. 40 somente se aplicam aos
militares estaduais as disposições do seu § 9°.
20. Não obstante, caso toda essa fundamentação constitucional
não seja suficiente para esclarecer as “nuances” de um regime
próprio de previdência social dos militares estaduais, devemos,
então, buscar respaldo nos fundamentos lógicos dos termos utilizados nessa digressão.
21. Assim, cumpre destacar o sentido do vocábulo “próprio”.
22. Nosso vocabulário pátrio indica que próprio é o que pertence a; peculiar; particular; natural; adequado; apropriado; oportuno; conveniente; idêntico; exato; certo; preciso; verdadeiro;
autêntico; qualidade ou feição especial.
23. Ora, se o regime dos militares estaduais é próprio não é lógico aplicar-se-lhe as regras de outro regime pois, se era para se
seguirem as mesmas regras não deveria o Constituinte ter-lhes
indicado a necessidade de regras diferentes, como demonstrado
na ressalva do § 20 do art. 40.
Diante dessas considerações, indaga-se:
Existe a necessidade jurídica de um Regime Previdenciário
Próprio dos Militares Estaduais, regulado em lei estadual específica, diversa da lei que regula o regime próprio dos servidores
públicos?
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
313
Trata-se de um “poder-dever”?
Pressupõe, se afirmativa a resposta, a criação ou recepção, conforme o ente federativo, de legislação pretérita sobre Unidade
Gestora própria?
RESPOSTA
A resposta poderia resumir-se à concordância com todos os termos da fundamentação da consulta e encerrar-se por aqui.
São, rigorosamente, corretos, jurídicos e constitucionais os elementos exegéticos trazidos pela consulente para justificar a necessidade de um regime próprio da previdência para militares estaduais.
Os militares dos Estados já deveriam ter, há muito tempo, um regime previdenciário exclusivo, não sendo sua outorga pelos entes federativos regionais que possuam polícias militares- uma faculdade, mas um “poder-dever”, em visão
mais abrangente que aquela de apenas ser exercida, em hipótese vinculada à
soberania popular.1
Não só os militares têm direito a regime próprio como os Estados devem
– e não podem se furtar a assim agir - outorgá-los, de imediato, risco de estarem
se omitindo, inconstitucionalmente.2
A Constituição de 1988 determinou a existência de dois grandes regimes de
previdência social, um para os trabalhadores do segmento privado e outro para aqueles que atuarem no setor público, na disciplina estatutária. Impôs, por outro lado,
regime único para servidor público, o que levou, os assim denominados “celetistas”
a serem incorporados à categoria dos estatutários, ainda no Governo Collor, com
implicações econômicas e nas finanças públicas, que não cabe aqui esmiuçar.3
1
2
3
Maria Helena Diniz, citando Othon Sidou, justifica concepção restrita da teoria do poderdever: “PODER-DEVER. Ciência Política. Autoridade emanada da cidadania e concentrada no
eleitorado, para manifestar-se no exercício da soberania popular (Othon Sidou)” (Dicionário
Jurídico, vol. 3, J-P, Ed. Saraiva, 1998, p. 617).
Celso Ribeiro Bastos ensina: “Havendo algum direito assegurado pela Constituição, mas que
esteja obstaculizado pela inexistência de uma norma que torne efetiva a norma constitucional,
pode o Poder Judiciário, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, reconhecer a inércia que, se cometida pelo Poder Legislativo, a este será dado ciência para que
adote as medidas necessárias, no sentido de suprir a omissão” (Comentários à Constituição do
Brasil, 4º vol., tomo III, Ed. Saraiva, 2000, p. 269).
Estava o artigo 39 da Constituição de 1988 assim redigido: “A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações públicas.
§ 1 “A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para
cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas
à natureza ou ao local de trabalho.
314
faculdade de direito de bauru
A meu ver, já se admitia, desde o início, implicitamente, dois regimes jurídicos próprios entre os servidores públicos, um para os militares, outro para os
servidores em geral, por força do Título V da lei suprema.
De rigor, foi a E.C. n. 41/03, todavia, que, claramente, explicitou a natureza nitidamente distinta dos dois regimes, declarando, de forma inequívoca, a
diferenciação, dentro do regime próprio dos servidores públicos, e abrindo
espaço para um regime especial previdenciário dos militares.
Dúvida não há mais sobre a separação do regime geral da previdência,
daquele do regime próprio dos servidores públicos, como também para mim
dúvida não há mais de que o regime previdenciário dos militares pode e deve
ser distinto daquele dos demais servidores públicos.4
O primeiro dispositivo a ser examinado é o artigo 42 da Constituição
Federal, lembrando-se que o capítulo VII da Constituição Federal, dedicado à
Administração Pública, cria duas disciplinas administrativas de direito e obrigações, ou seja, a da seção II, dedicada aos “servidores públicos”, e a da Seção III,
dedicada aos “militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. Vale
dizer, é a própria Constituição que diferencia, nitidamente, do ponto de vista de
direitos e obrigações, os dois regimes de servidores públicos, um deles destinado a todos os demais servidores, que não sejam militares, e um específico para
os militares dos Estados, Distrito Federal e dos inexistentes Territórios.
4
§ 2 “Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX”.
José Cretella Jr. assim o comentou: “Regime jurídico administrativo é o que submete o poder
público e o agente público às regras do direito administrativo, que se caracterizam, em relação
ao direito privado, seja porque conferem à Administração prerrogativas sem equivalente nas
relações privadas, seja porque impõem à sua liberdade de ação sujeições mais estritas do que
às que se submetem os particulares entre si (cf. Rivero, Droit administratif, 12 ed., 1987, p. 43).
Ao regime administrativo contrapõe-se o regime privatístico.
Há, desse modo, no que diz respeito ao agente público, dois regimes, o regime jurídico de
direito público, ou estatutário, e o regime jurídico de direito privado, ou celetista. Os dois regimes jurídicos, o estatutário e o trabalhista, coexistiam, lado a lado, muito antes de 5 de outubro de 1988.
A regra jurídica constitucional de 1988, art. 39, “caput”, determina, agora, que, no âmbito das
respectivas competências, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir regime jurídico único para os servidores públicos da Administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas” (V Comentários à Constituição 1988, Forense
Universitária, Rio de Janeiro, 1991, p. 2391).
Escrevi: “O último dispositivo sobre as Forças Armadas introduzido pela Emenda
Constitucional n. 18/98 é o dispositivo acima.
Faz menção à lei que cuida dos limites de idade para ingresso e para aposentadoria compulsória, assim como cuida de diversas outras condições para que um militar passe para a inatividade.
Refere, o constituinte, ainda, que a lei explicitará direitos, deveres, remuneração, prerrogativas
e as situações especiais da vida militar, em face da peculiaridade de suas atividades, neles
incluindo aquelas decorrentes de compromissos internacionais ou de guerra eventual”
(Comentários à Constituição do Brasil, 5º vol., Ed. Saraiva, 2000, p. 203).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
315
Se tal não bastasse, o § 1º do artigo 42, assim está redigido:
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas
pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98) (grifos meus),
ressaltando-se, de início, que a expressão:
além do que vier a ser fixado em lei,
abre espaço diferencial para os militares, em nível de obrigações e deveres, se
comparados com os demais servidores.
Suas obrigações e deveres são de natureza, manifestamente, diversa.5
Vejamos o que dispõem os dispositivos, que impõem obrigações adicionais
para aqueles que seguem a vocação militar.
De início, direitos políticos amplos chocam-se com o exercício da função
militar, ao ponto de o seu titular ser obrigado a opções restritivas que os demais
servidores não estão.
O § 8º do artigo 14 está assim redigido:
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da
atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no
ato da diplomação, para a inatividade,
5
Pinto Ferreira ensina: “A polícia militar é privativa das corporações militares, com atividade
exercida por profissionais militares. É denominada comumente Força Pública.
Tem por missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
O corpo de bombeiros militares tem a missão de executar as atividades de defesa civil. Os
bombeiros militares formam um corpo de agentes do governo organizados sob a forma militar que se encarrega do serviço público de segurança e combate a incêndios, perigos e acidentes que tumultuam e ameaçam a segurança pública.
As polícias militares e corpos de bombeiros militares constituem forças auxiliares do Exército,
estando subordinados, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos Estados,
Distrito Federal e Territórios” (Comentários à Constituição Brasileira, Saraiva, 1992, v. 5, p.
245).
316
faculdade de direito de bauru
em clara diminuição de opções funcionais ou políticas do militar, em face a
outros servidores públicos.6
Se o § 9 do artigo 40, cuja dicção se segue:
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
não os distingue dos demais servidores, o mesmo não se diga do artigo 142, §
2º e 3º, cujo discurso é o seguinte:
§ 2º - Não caberá habeas-corpus em relação a punições disciplinares militares.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei,
as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 18, de 1998)
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças
Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego
público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
6
Manoel Gonçalves Ferreira Filho assim o comenta: “Elegibilidade dos militares. Em princípio,
o militar que é alistável pode ser candidato, preenchidas, é claro, as exigências legais. Da inscrição de sua candidatura, contudo, resultam certos efeitos relativamente à sua condição de
militar, que regulam os incisos deste parágrafo, adiante comentados”, continuando:
“Afastamento. No direito anterior (Emenda n. 1/69, art. 150, § 1.0, a) militar que, contando até
cinco anos de serviço, se candidatasse, seria excluído do serviço ativo. O texto acima parece
dizer que isso não mais é exigido. Entretanto, se assim for, não haverá diferença na situação
aqui prevista e na do militar com mais de dez anos de serviço, que regula o inciso seguinte.
Assim o afastamento da atividade pode ser interpretado como significando deixar a condição
de militar da ativa” e concluindo: “Agregação. Se o militar, ao inscrever-se como candidato,
contar com mais de dez anos de serviço ativo, sua candidatura importa, automaticamente, a
sua agregação para fins de interesse particular. Ou seja, afasta-o temporariamente do serviço
ativo. O afastamento perdurará até, no máximo, a diplomação dos eleitos, quando passará para
a inatividade, se eleito.
E isso em caráter definitivo. Findo o mandato, não poderá reverter ao serviço ativo, em tempo
de paz. Caso não eleito, reverterá à ativa” (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol.
1, Ed. Saraiva, p. 127/128).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
317
III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse
em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não
eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos
de afastamento, contínuos ou não transferido para a reserva,
nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado
a partidos políticos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada
em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII,
XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998).
É fantástico o elenco limitativo da livre atuação do militar, com especial destaque aos incisos II, III, IV, este proibindo taxativamente, diferentemente do que ocorre com os demais servidores, a sua sindicalização e o
direito de greve. O inciso V impõe a vedação de vida política-partidária,
sobre estarem, os demais incisos, enquadrando o militar em regime mais
318
faculdade de direito de bauru
sóbrio, mais severo, mais limitativo e com muito mais obrigações que de
todos os demais servidores.7
É interessante notar que é a Constituição Federal, no que concerne ao inciso X do § 3º do artigo 142, que outorga à lei estadual a função de definir requisitos próprios e regionais para o militar, também em clara demonstração de que
o constituinte fez questão de outorgar à competência legislativa dos Estados, a
conformação de um regime próprio administrativo para regular os aspectos
mencionados no referido inciso X.8
O § 2º do artigo 42, introduzido pela E.C. n. 18/98 e assim redigido:
§ 2º. Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40,
§§ 4º. e 5º; e aos militares do Distrito Federal e dos Territórios, o
disposto no art. 40, § 6º,
deixou claro, por outro lado, que aos pensionistas militares aplicar-se-á lei específica – repito específica - para seu regime, de rigor, explicitando regime próprio especial que, a meu ver, já se configurava na redação original da
Constituição de 1988. Para evitar dúvidas, entretanto, de que não só os aposentados, mas os pensionistas devem possuir regime próprio especial previdenciário, é que se acrescentou o § 2º, visto que do artigo 42 já defluia a necessidade
de regime diverso para a aposentadoria dos militares.9
7
8
9
Sobre o inciso IV do artigo 142 escrevi: “A sindicalização e a greve são proibidas para os militares.
O dispositivo parece-me salutar.
A sindicalização não tem sentido. Os militares representam a categoria de servidores públicos
de maior relevância para o País, pois encarregados da proteção da pátria.
Se, de um lado, todos os demais servidores são importantes, nenhum deles se reveste, nos momentos de crises internas ou internacionais, da importância do militar. E, em um mundo que ainda
não abandonou o recurso extremo da guerra, havendo, no ano 2000, inúmeros focos de conflitos
armados entre as nações e dentro delas permanecendo’, a categoria é fundamental.
Em meu livro “Desenvolvimento econômico e segurança nacional - Teoria do limite crítico”
fiz um levantamento da história humana a partir das guerras, mostrando que, mesmo na
época da Pax Romana, havia guerras de fronteira e inúmeros conflitos na Ásia. Certamente as
haveria também na África e na América, dados, todavia, que, à falta de documentos privados,
não foi possível levantar.
Permitir a sindicalização seria, portanto, admitir que os sindicatos pudessem impor às Forças
Armadas seus pontos de vista e reivindicações, em detrimento do interesse nacional.
Quem escolhe a carreira das armas sabe, de antemão, que não poderá sindicalizar-se, até por respeito à hierarquia, condição fundamental para que haja ordem e comando nas Forças Armadas.
A greve, em momento de crise institucional ou de ameaça externa, poderia, inclusive, colocar
em risco toda a nação, por falta de defesa” (Comentários à Constituição do Brasil, 5º vol., Ed.
Saraiva, 2000, p. 189/190).
Uadi Lammego Bulos ensina que o § 1º do artigo 42: “abre a possibilidade de lei ordinária
regular matérias relacionadas ao regime jurídico dos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios” (Constituição Federal Anotada, Ed. Saraiva, 5ª. ed., 2003, p. 701).
Escrevi, ao comentar o texto da CF de 1988, antes da E.C. n. 20: “Algumas polícias militares são
tão importantes que seu contingente é quase tão grande quanto o do Exército instalado naquela unidade da Federação, quando não superior.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
319
É relevante notar que, muito embora o artigo 142 “caput” seja dedicado,
exclusivamente, às Forças Armadas, o fato de os §§ 2º e 3º explicitadores de seu
regime jurídico, serem aplicados aos militares dos Estados, torna os regimes
idênticos, devendo-se considerar que o caput do artigo 42 têm dicção praticamente igual à do 142, por falar em
“instituições”
“organizadas com base na hierarquia e disciplina”,
requisitos essenciais para militares federais ou estaduais.10
O aspecto mais relevante, todavia, da imposição constitucional de um regime próprio especial, faz-se no inciso X do artigo 142, que fala em “lei estadual”
(por dicção do § 1º do art. 42).
Cuidará entre outros aspectos:
“da transferência para a inatividade”
“sobre direitos e deveres”
“sobre remuneração”
“sobre prerrogativas”
“sobre outras instituições especiais”
“sobre as peculiaridades de sua atuação”,
em meridiana prova de que, entre tais direitos, o da inatividade e aposentadoria, ou
pensão de seus dependentes, depende de lei específica. Repito: específica.11
De rigor, a soma dos contingentes das polícias militares, civis e corpos de bombeiros deve ser
superior ao das Forças Armadas, cujo papel primacial é a defesa externa, enquanto aqueles
devem manter a segurança interna, diariamente. O inimigo externo é eventual, enquanto o inimigo interno da sociedade é permanente, crescendo o número de facínoras e marginais na
medida em que crescem a pobreza, os desníveis sociais, o uso de drogas, a perda de valores, o
subemprego e o desemprego, a superpopulação das cidades e a deletéria mídia que mais deforma que forma a população.
A título de exercer a liberdade de expressão do pensamento e de assegurar que cada um viva
qualquer tipo de vida, mesmo que de libertinagem total, a imprensa falada, televisada e escrita mais deforma que forma, pois o “bom comportamento” não é notícia e o “mau comportamento” o é, razão pela qual as notícias são sempre de fatos não edificantes” (Comentários à
Constituição do Brasil, 5ª. vol. ob. cit. p. 218/219).
10 Escrevi: “As características maiores das Forças Armadas são a rígida disciplina e a hierarquia rigorosa, não cabendo a seus integrantes qualquer veleidade opinativa contra as determinações ou as
pessoas de seus superiores, mesmo após estarem na reserva. Em outras palavras, os oficiais da
reserva não podem fazer críticas aos oficiais da ativa, podendo ser punidos” (ob. cit. p. 163).
11 André Tavares ensina: “Wroblewski considera que “sem razões suficientes não se deveria atribuir aos termos interpretados nenhum significado especial, diverso do significado que esses
termos têm na linguagem natural comum”. Especificando esse entendimento para o campo
constitucional, Celso Bastos pondera: “Em certo sentido, pode-se afirmar que a Constituição
não tolera o vocábulo técnico” “ (Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 2003, p. 77).
320
faculdade de direito de bauru
Neste ponto, concordo, também, com os argumentos correspondentes à
intenção demonstrada pelo constituinte de outorgar aos Estados a definição de
tais regras –e não a União. Fê-lo, em face da enorme diversidade, problemas, riscos e ação de policiais militares, conforme as peculiaridades próprias das diversas unidades federadas do país.12
A descentralização, no caso, se justifica plenamente, por força das características e profundas diferenças existentes, entre as regiões que conformam um
país continental como o Brasil.
E aqui cabe uma breve menção à E.C. n. 18/98.
Como já me referi atrás, há um especial regime próprio de direito administrativo para os servidores militares dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
daqueles aplicáveis aos demais servidores públicos, separação criada, de forma
inequívoca, pelo artigo 2º da referida emenda, assim redigida, que repito:
Art. 2º. A seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição
passa a denominar-se “DOS SERVIDORES PÚBLICOS” e a Seção III
do Capítulo VII do Título III da Constituição Federal passa a denominar-se “DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS”, dando-se ao art. 42 a seguinte redação:
Art. 42 Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §. 8º; do art. 40, §. 3º; e do art. 142, §§ 2º. e 3º.,
cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas
pelos respectivos Governadores.
12 Carlos Maximiliano ensina que: “O grau menos adiantado de elaboração científica do Direito
Público, a amplitude do seu conteúdo, que menos se presta a ser enfeixado num texto, a grande instabilidade dos elementos de que se cerca, determinam uma técnica especial na feitura das
leis que compreende. Por isso, necessita o hermeneuta de maior habilidade, competência e cuidado do que no Direito Privado, de mais antiga gênese, uso mais freqüente, modificações e
retoques mais fáceis, aplicabilidade menos variável de país a país, do que resulta evolução mais
completa, opulência maior de materiais científicos, de elemento de certeza, caracteres fundamentais melhor definidos, relativamente precisos. Basta lembrar como variam no Direito
Público até mesmo as concepções básicas relativas à idéia de Estado, Soberania, Divisão de
Poderes etc.
A técnica da interpretação muda, desde que se passa das disposições ordinárias para as constitucionais, de alcance mais amplo, por sua própria natureza e em virtude do objeto colimado
redigidas de modo sintético, em termos gerais” (Hermenêutica e aplicação do Direito, Ed.
Forense, 9a. ed., 1979, p. 304).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
321
§ 2º. Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40,
§§ 4º. e 5º; e aos militares do Distrito Federal e dos Territórios, o
disposto no art. 40, § 6º.
Tenho para mim que todos os agentes públicos são servidores públicos, só
que a E.C. distingue um regime próprio e geral de servidores públicos civis e um
regime próprio especial de servidores militares.
E esta divisão projeta implicações na disciplina da atividade e da inatividade.
Agiu bem, o constituinte, em tornar clara tal divisão, explicitando algo que,
a meu ver, já vinha implícito no texto original da Constituição de 1988, visto que
os servidores militares submetem-se a forma diversa de atuação, de seleção e de
preparação para a atividade e inclusive para inatividade, em relação aos servidores públicos do regime próprio geral.13
De início, é bom lembrar que, como a consulta menciona, é exigida qualificação técnica maior, nos concursos de servidor público em geral, que, quando
aprovado, na seleção estará já preparado para exercício de sua função.
O militar, não. Seu conhecimento escolar é comum e tudo o que aprenderá para exercer a sua função de risco, deverá receber do Estado. Preparação,
educação, conhecimento das regras militares, de rigor, todo o seu ofício deve ser
ensinado pelo Estado.14
Não é diferente do serviço militar das Forças Armadas. Como professor, há 15
anos, da Escola do Comando e Estado Maior do Exército, conheço bem a preparação
dos selecionados para a carreira ofertada exclusivamente pelo Estado, inclusive –nas
Forças Armadas- para os coronéis, que deverão ser selecionados para o generalato.
13 Orlando Soares escreve: “A expressão ‘Forças Armadas’ corresponde ao conjunto de instituições militares permanentes, técnica e hierarquicamente organizadas, instruídas, equipadas e
disciplinadas, que se destinam a defender, na ordem interna, os princípios da legalidade, a integridade do território nacional e as instituições fundamentais do Estado, bem como a garantir
a execução da sua Constituição; e, na ordem externa, a repelir ou revidar pelas normas o ataque do inimigo ou o ultraje à honra e à soberania da pátria” (Comentários à Constituição da
República Federativa do Brasil, Forense, 1990, p. 528).
14 Rosah Russomano esclarece: “Embasadas na ‘hierarquia e na disciplina’, são, necessariamente,
hierarquizadas. Há, assim, atuação de várias vontades, cabendo, porém, apenas à vontade de
um indivíduo ou de um grupo (no caso de órgãos colegiados), que se encontram na cúpula da
organização militar, os pronunciamentos decisivos.
Notamos, assim, diversos degraus, que conduzem da base à cúspide da estrutura. Existe uma
superposição de vontades. Os que estão abaixo, sob o ângulo hierárquico, devem acatar e obedecer aos que se acham acima.
Como decorrência da hierarquia, surge a disciplina, da qual nasce, a seu turno, o dever de
sujeição e obediência. Não há organização hierárquica que não acarrete as obrigações peculiares à disciplina.
Justamente na hierarquia militar, pelas suas características, estes deveres intensificam-se. São
mais rigorosos do que na órbita civil, mesmo em se tratando do setor da administração, configurado pela polícia” (Curso de direito constitucional, 4. cd., Freitas Bastos, 1984, p. 322).
322
faculdade de direito de bauru
Freqüentam curso de um ano, na “Praia Vermelha”, para se habilitarem, não só, em
artes marciais e em funções específicas dos militares, mas também para a aquisição de
amplo conhecimento da conjuntura política, econômica, jurídica e social do país.15
O servidor público do regime geral já vem preparado para o exercício de sua
função, a partir do concurso de ingresso. Só se aperfeiçoará a partir de sua aprovação.
O servidor militar, tudo receberá do Estado para a função que exercerá, passando a
estar sujeito a regras muito mais rígidas e duras do que o servidor do regime geral.
Ao servidor público de regime próprio geral exige-se a observância dos
princípios pertinentes ao art. 37, ou seja, eficiência, moralidade, publicidade,
legalidade, impessoalidade nos atos que pratica. Apenas é-lhe imposto tais atributos no exercício de sua função, a que deve dedicação. Não é, todavia, obrigado a dar a vida por seu trabalho e nem pode a Administração exigir que o faça.
O militar, não. Exige-se dele muito mais dedicação, inclusive de empenho
de sua própria vida.16
Com particular clareza, a consulente coloca, no texto de sua consulta, as
características próprias do servidor militar, aquilo que o distingue do regime
próprio geral dos servidores civis, são a saber:
15 Escrevi: “As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, em primeiro lugar. É a sua feição
maior. Historicamente, desde as primitivas eras, as forças militares objetivavam, nos velhos
impérios orientais (da China até o complexo de civilizações do próximo Oriente), a conquista ou a defesa.
Principalmente após os romanos, tal missão do exército ficou bem clara, visto que, pela primeira vez, utilizaram-se do direito como instrumento de conquista, aplicando-o durante os
dois mil e cem anos de seu domínio (711 a.C. a 1492 d.C.).
A segunda grande missão das Forças Armadas é a garantia que ofertam aos poderes constitucionais, o que vale dizer, se o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, quem
garante os poderes constituídos são as Forças Armadas. Quando Nélson Hungria, desconsolado, no golpe de estado que derrubou Café Filho, disse que o Supremo Tribunal Federal era um
arsenal de livros, e não de tanques — e, por isso, nada podia fazer para garantir o governo,
podendo apenas mostrar uma realidade, qual seja, a de que sem a garantia das Forças Armadas
não há poderes constituídos, definiu os verdadeiros papéis das duas instituições.
Por fim, cabe às Forças Armadas assegurar a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer dos poderes constituídos, ou seja, por iniciativa dos Poderes Executivo, Legislativo ou
Judiciário, forem chamadas a intervir.
Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem, e não para rompêlas, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado” (Comentários à Constituição do Brasil, 5º vol., ob. cit. p. 165/167).
16 José Cretella Júnior ensina: “A segurança das pessoas e das coisas é elemento básico das condições universais, fator absolutamente indispensável para o natural desenvolvimento da personalidade humana. Proclamada inviolável pelo Direito, não fica, porém, livre de forças exteriores, pessoais e impessoais, que ameaçam a todo instante a paz física e espiritual dos indivíduos.
Tais ameaças que se erigem em perigo contra o qual a personalidade oferece, primeiro, a própria força particular, em seguida, a força organizada do meio social — pelo motivo muito simples de que a ameaça dirigida a uma pessoa constitui ameaça indireta a toda a coletividade —
precisam ser coibidas. Nisto é que consiste a ordem pública, noção chave do Direito
Administrativo, constituída, no sentido administrativo do termo, como um certo minimum de
condições essenciais a uma vida social conveniente” (Polícia e poder de polícia, RT 608:7, jun.
1986).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
323
11.1. alto grau de letalidade e ferimentos em defesa da sociedade, deixando viúvas e órfãos;
11.2. riscos à vida, à saúde e à integridade física, tanto na atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, como
na atividade de combate a incêndios, resgate e salvamentos;
11.3. regime de trabalho policial militar sujeito a variações de
horários, prolongamentos e antecipações de escala de serviço,
com previsão legal de tal situação que os impossibilita de receber horas extras e remuneração por trabalho noturno superior
ao diurno;
11.4. instituição baseada na hierarquia e disciplina, com características disciplinares rígidas, necessárias à garantia da lei, da
ordem e dos poderes constituídos;
11.5. vedação constitucional aos direitos de sindicalização e
greve;
11.6. sujeição aos rigores do Código Penal Militar e Código de
Processo Penal Militar, além das legislações penais e processuais
comuns, essenciais ao controle da Força;
11.7. possibilidade de reversão de Oficiais ao serviço ativo nas
situações previstas em lei, bem como alcance das disposições do
Regulamento Disciplinar e Código Penal Militar aos militares da
reserva e reformados;
11.8. vedação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que
somente é compensado pela sua aposentadoria com vencimentos integrais, iguais aos dos militares da ativa;
11.9. vedação ao aviso-prévio;
11.10. vedação a participação nos lucros e ao Seguro
Desemprego;
11.11. vedação ao direito de receber o 13º salário proporcional
ao tempo de serviço.
Como se percebe, dúvida não existe - em face da explicitação da implicitude do
constituinte originário - sobre a existência de dois regimes jurídicos distintos para os
servidores públicos (regime próprio geral) e para os servidores militares (regime próprio especial), a justificar, na ativa e na inatividade, regimes jurídicos também distintos, no que concerne às obrigações, remunerações, aposentadorias e pensões.
E tal distinção ficou, definitivamente, assegurada pela E.C. n. 41/03, ao
inserir o § 20 no art. 40, com a seguinte dicção:
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio
de previdência social para os servidores titulares de cargos
324
faculdade de direito de bauru
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art.
142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003).17
Claramente, da leitura do artigo 40, em sua redação atual, se depreende:
a) todos aqueles que são titulares de cargos efetivos são servidores públicos;
b) são servidores públicos, os militares e os demais agentes públicos efetivados, para efeitos da previdência social;
c) não pode haver mais de um regime próprio de previdência social para
os servidores públicos;
d) não pode haver mais de uma unidade gestora do respectivo regime, em
cada ente estatal;
e) o regime próprio de previdência social para as forças armadas e para os
militares de Estados, Distrito Federal e dos inexistentes territórios é distinto dos demais regimes, por expressa ressalva do § 20 do artigo 40 e
do artigo 142 § 3º, X;18
f ) conseqüentemente, sua unidade gestora há de ser também distinta, em
face da ressalva da dicção final do § 20.
Há dois regimes jurídicos para os dois tipos de servidores públicos. Não é,
portanto, só uma prerrogativa federal, mas também dos Estados, DF., na medida em que o artigo 142, § 3º, inciso X estende aos militares destes entes federativos a disciplina legal pertinente aos militares federais.
Desta forma, a outorga, aos militares federais, de regime próprio especial
e diferenciado não representou violação, mas cumprimento de princípio consti17 Na ADIN 3.128, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(CONAMP), o Supremo Tribunal Federal, ao formatar a unidade do regime geral de previdência extensível no concernente ao teto ao regime dos servidores, declarou que: “a) o fato de
alguns serem inativos ou pensionistas dos Estados, do DF ou dos Municípios não legitima o
tratamento diferenciado dispensado aos servidores inativos e pensionistas da União, que se
encontram em idêntica situação jurídica” (Informativo do STF n. 357, disponível no endereço
eletrônico www.stf.gov.br). A expressão “que se encontra em idêntica situação jurídica” está a
admitir que em situações diversas os regimes são também diversos.
18 Na ADIN 2024-MS claro ficou que apenas os servidores ocupantes de cargos efetivos podem
ser aposentados: “EMENTA: STF — Tribunal Pleno 27/10/1999 — AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 2024-2 DISTRITO FEDERAL.
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE.
1.- Ação direta de inconstitucionalidade: seu cabimento — afirmado no STF desde 1926 para
questionar a compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais ou materiais
impostos pela Constituição ao poder constituinte derivado: precedente.
II. Previdência Social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/98):
Submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim como os de outro
cargo temporário ou de emprego público ao regime geral da previdência social: argüição de
inconstitucionalidade do preceito por tendente a abolir a “forma f do Estado” (CF, art. 60, §
40, 1): implausibilidade da alegação: medida cautelar indeferida”.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
325
tucional de sua separação, a mesma imposição maior sendo estendida aos legisladores estaduais, por força da lei suprema.
Aliás, é a própria Constituição Federal que, no referido artigo 40, determina, por força do artigo 42 § 1º, que, do artigo 40 dedicado ao regime geral dos
servidores públicos, só se aplica o § 9 assim redigido:
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98),
em nítida comprovação de que os regimes são distintos, devendo as unidades
gestoras serem também distintas.
É de se observar a revogação, pela E.C. n. 41/03, do inciso IX do artigo 142,
o que remete à possibilidade de aplicação dos §§ 7º e 8º do artigo 40 ao regime
próprio especial das Forças Armadas, substituído pela nova norma do § 20 do
artigo 40, na mesma emenda, a qual faz EXPRESSA RESSALVA à sua adoção para
militares estaduais e do Distrito Federal. Ora, na medida em que apenas o § 3º
inciso X do art. 142 é citado, é de se entender que a disposição aplica-se, integralmente, aos militares da União e às polícias militares.
Estão os referidos dispositivos revogados e atuais assim redigidos, repetindo alguns para efeitos de comparação:
Art. 142 - IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/1998) (Revogado pela Emenda
Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
Art. 142- X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas,
os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
Art. 40 - § 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor
falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor
em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto
no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98 e revogada pela E.C. 41/03)
326
faculdade de direito de bauru
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por
morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até
o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado
à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados
e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98 e revogada pela E.C.
41/03)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Art. 40 - § 20 - Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de
cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142,
§ 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
Art. 142 - § 3 - X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições
de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os
deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compro-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
327
missos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998).19
Ora, se por força do artigo 194 da C.F., todos os cidadãos brasileiros têm
o direito à previdência, seja no regime geral para os trabalhadores não governantes, seja no regime próprio dos servidores públicos e se a própria
Constituição distingue no regime próprio dos servidores, um regime geral para
todos os servidores civis e um regime especial para os militares, como demonstrei, na presente consulta, em que o § 20, do artigo 40, EXPRESSAMENTE
EXCEPCIONA AS FORÇAS ARMADAS E POLÍCIAS MILITARES do regime geral dos
servidores, é de se entender, por decorrência, que o constituinte impõe, a criação de um regime previdenciário próprio especial e sua respectiva unidade gestora, de resto, conformado pela não- aplicação dos §§ 14 a 16 do artigo 40 destinados exclusivamente ao regime próprio geral dos servidores públicos civis.20
De tudo, há de se concluir que o regime jurídico da atividade e da inatividade, com formação e características diferentes entre os servidores públicos civis
e os militares, tem implicação na sua remuneração, subsídios, aposentadorias e
pensões, sendo dois regimes jurídicos distintos e específicos para duas categorias diversas de servidores, com tratamento constitucional também diverso para
a atividade e para a inatividade, inclusive da unidade gestora, também excepcionada pelo § 20 do artigo 40 da C.F.
19 A justificação, inclusive, da distinção de regimes pode-se ler na Súmula 55 do STF assim redigida: “Militar da reserva está sujeito a pena disciplinar”, o que vale dizer, sua responsabilidade
funcional transcende a própria reserva.
20 Os artigos 194 “caput” e §§ 14 a 16 do artigo 40 estão assim redigidos:
“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”;
“Art. 40 § 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que
trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para
a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98 e revogado pela E.C. 41/03).
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no
que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza
pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)”.
328
faculdade de direito de bauru
Como as normas constitucionais, nesta matéria, são de aplicação imediata,
não constitui, a criação de um regime próprio de aposentadoria e pensão para
os militares de Estados e do Distrito Federal, faculdade de legislar, mas autêntica imposição constitucional, risco de sua omissão poder ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do
artigo 103, § 2º assim redigido:
§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência
ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias.21
É de se lembrar, por fim, que o Estado de São Paulo tem sua própria unidade gestora instituída pela Lei n. 452 de 02/10/74 e, a meu ver, recepcionada
pela Constituição de 1988, visto que entendo que o duplo regime próprio (geral
e especial) já havia, desde 1988, implicitamente, tendo sido apenas explicitado
pela E.C. n. 41/03, como atrás demonstrei.
Respondo, pois, às três questões formuladas pela consulente que
a) impõe a Constituição Federal a instituição de dois regimes jurídicos, no
que concerne aos servidores públicos, distintos para a Previdência, um
para os servidores em geral e outro para militares estaduais, por força
do art. 40, § 20, 42 e parágrafos e 142 § 3º inciso X da lei suprema.
b) não se trata de uma faculdade, mas de um poder-dever, podendo o
Estado que não elaborar a lei do regime distinto, ser acionado e poder
ser declarada a inconstitucionalidade por omissão do governo que não
instituiu o duplo regime para os servidores em geral e para os militares
em especial.
c) a Lei n. 452/74, que instituiu a Caixa Beneficente da Polícia Militar, foi
recepcionada pela Constituição de 1988, tendo sido ex abundantia reiterada a recepção pela E.C. n. 41/03.
S.M.J.
São Paulo, 10 de Junho de 2005.
21 Gilmar Ferreira Mendes informa sobre a jurisprudência do STF a respeito, dizendo: “As decisões
proferidas nesses processos declaram a mora do órgão legiferante em cumprir dever constitucional de legislar, compelindo-o a editar a providência requerida. Destarte, a diferença fundamental
entre o mandado de injunção e a ação direta de controle da omissão residiria no fato de que,
enquanto o primeiro destina-se à proteção de direitos subjetivos e pressupõe, por isso, a configuração de um interesse jurídico, o processo de controle abstrato da omissão, enquanto processo
objetivo, pode ser instaurado independentemente da existência de um interesse jurídico específico” (Controle Concentrado de Constitucionalidade, Ed. Saraiva, 2001, p. 325/326).
assunto especial
Operadores do Direito:
novos desafios sob o prisma do Direito de Família
“...são os restos do amor que batem às portas do Judiciário”
Rodrigo da Cunha Pereira
Investigando a parentalidade
Maria Berenice Dias
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Vice-Presidente Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM.
Palavras-chave: Filiação natural da procriação, presunção de paternidade, de maternidade, “posse de estado de filho”, “filiação socioafetiva”, desbiologização da paternidade, filho ilegal, filho atual, filho real, vínculo jurídico de parentalidade, filho
desejado, filho do afeto, “uniões homoafetivas”, heteroafetivas, família substituta,
guarda, tutela, adoção.
QUEM É O PAI?
Para a Biologia, pai sempre foi unicamente quem, por meio de uma relação sexual, fecunda uma mulher que, levando a gestação a termo, dá à luz um
filho. O Direito, ao gerar presunções de paternidade e maternidade, afasta-se do
fato natural da procriação para referendar o que hoje se poderia chamar de
“posse de estado de filho” ou “filiação socioafetiva”. Assim, a desbiologização da
paternidade, ainda que pareça ser um tema atual, já era consagrada há muito
tempo, aliás, desde a época dos romanos, pelo aforismo pater est is quem nuptiae demonstrant.
DO FILHO PRESUMIDO
O Código Civil considera concebido na constância do matrimônio o filho
nascido pelo menos 180 dias após o casamento de um homem e uma mulher ou
332
faculdade de direito de bauru
300 dias após sua dissolução (art. 3381). Essa presunção busca prestigiar a família, ou, conforme Zeno Veloso, preservar a paz das famílias”,2 único reduto em
que era aceita a procriação. Desvincula-se o legislador da verdade biológica e
gera uma paternidade jurídica baseada exclusivamente no fato de alguém haver
nascido no seio de uma família constituída pelos sagrados laços do matrimônio.
A ciência jurídica conforma-se com a paternidade calcada na moral familiar.3
Como afirma Taisa Maria Macena Lima, verdade e ficção se confundem no vínculo jurídico paterno-filial.4
DO FILHO ILEGAL
A necessidade social de preservação do núcleo familiar – ou melhor, preservação do patrimônio da família – levou a lei a catalogar os filhos de forma
absolutamente cruel. Fazendo uso de uma terminologia encharcada de discriminação, distinguia filhos naturais, ilegítimos, espúrios, adulterinos e incestuosos.
Essa classificação tinha por critério único a circunstância de a prole haver sido
gerada dentro ou fora do casamento, isto é, proceder ou não de justas núpcias
dos genitores, para usar a expressão de Clóvis Bevilaqua.5 A situação conjugal do
pai e da mãe refletia-se na identificação dos filhos, conferindo ou subtraindo não
só o direito à identidade, mas o direito à própria sobrevivência. Basta lembrar o
que estabelecia o art. 358 do Código Civil em sua redação originária: Os filhos
incestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos. Como lhes era vedado investigar a paternidade, não podiam sequer buscar alimentos. O próprio
Bevilaqua já se insurgia contra tal dispositivo, ao afirmar:
A falta é commettida pelos Paes e a deshonra recáe sobre os filhos,
que emm nada concorreram para ella. A indignidade está no facto
do incesto e do adullterio, e a lei procede como se ella estivesse nos
fructos infelizes dessas uniões condemnadas. Acaba o mestre por
trazer as palavras indignadas de CIMBALI: Estranha, em verdade, a
lógica desta sociedade e a justiça destes legisladores que, com
imprudente cynismo, subvertem, por completo, os mais sagrados
1
2
3
4
5
As referências são ao Código Civil de 1916 com correspondência no art. 1.597 do Código Civil
de 2002.
VELOSO, Zeno. Direito Brasileiro da Filiação e Paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 13.
GUIMARÃES, Luís Paulo Cotrim. A presunção da paternidade no casamento e na união estável in Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Coordenador: Rodrigo da Cunha
Pereira, Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, 2002, p. 366.
LIMA, Taisa Maria Macena de. Filiação e biodireito: uma análise das presunções em matéria de
filiação em face da evolução das ciências biogenéticas. Revista Brasileira de Direito de Família,
nº 13, jun/2002, pp. 144.
BEVILAQUA, Clóvis. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917, p. 327.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
333
princípios da responsabilidade humana, fazendo do réo victima e
da victima reo, condenando a expiar, inexoravelmente, a pena de
um crime, que não cometeu.6
Depois de alguns equívocos legislativos, a Lei nº 883, de 21/10/1949, assegurou a possibilidade de haver o reconhecimento dos filhos havidos fora do
matrimônio, após a dissolução do casamento. Mas, enquanto o genitor se mantivesse no estado de casado, o direito de investigar a paternidade servia para o
fim exclusivo de buscar alimentos, tramitando a ação em segredo de justiça.
Ainda assim, tais filhos só teriam direito, a título de amparo social, à metade da
herança que viesse a receber o filho legítimo ou legitimado.
A Lei do Divórcio, em boa hora, assegurou a todos os filhos o direito à herança em igualdade de condições, afastando o tratamento diferenciado da prole.
DO FILHO ATUAL
A concepção não mais decorre exclusivamente do contato sexual, e o casamento deixou de ser o único reduto da conjugalidade. As relações extramatrimoniais já dispõem de reconhecimento constitucional. Também não se pode
mais deixar de albergar no âmbito do Direito de Família as relações homoafetivas, apesar de posturas discriminatórias e preconceituosas, que, por puro conservadorismo, insistem em não emprestar visibilidade a ditos vínculos familiares.
A Constituição Federal alargou o conceito de entidade familiar, emprestando especial proteção não só à família constituída pelo casamento, mas também à união estável formada por um homem e uma mulher e à família monoparental, assim chamada a convivência de um dos genitores com sua prole.
Consagrou a nova ordem jurídica como direito fundamental o direito à convivência familiar, adotando a doutrina da proteção integral. Transformou a criança
em sujeito de direito, afastando-se do sistema anterior que privilegiava o interesse
do adulto. Deu prioridade à dignidade da pessoa humana, abandonando a feição
patrimonialista da família para fins de identificação do indivíduo. O § 6º do art. 227
da Carta Constitucional proibiu qualquer designação ou discriminação relativa à
filiação, assegurando os mesmos direitos e qualificações aos filhos nascidos ou não
da relação de casamento e aos filhos havidos por adoção.
A legislação ordinária não define a família, limitando-se o Estatuto da
Criança e do Adolescente a identificar família natural como sendo a comunidade formada pelos pais, ou qualquer um deles, e seus descendentes. A lei menorista cria a expressão “família substituta” para permitir a colocação de crianças e
adolescentes, sem, no entanto, declinar a estrutura ou o formato de tais famílias.
6
Op. cit., p. 332.
334
faculdade de direito de bauru
A família sofreu alterações estruturais, tornou-se nuclear. Além disso, o
ingresso das mulheres no mercado de trabalho as afastou do lar, o que acabou por
se refletir nos papéis paterno-filiais. Cada vez mais está o pai não só auxiliando, mas
dividindo as tarefas domésticas e participando do cuidado para com a prole. Esse
crescente envolvimento tem levado o homem a reivindicar uma participação mais
efetiva na vida do filho. Mesmo quando os pais deixam de viver sob o mesmo teto,
mantém-se a convivência física e imediata dos filhos com ambos os genitores, o que
levou ao surgimento da figura da guarda compartilhada.
DO FILHO REAL
A possibilidade de identificação da verdade genética alcançou um altíssimo
grau de certeza por meio dos chamados exames de DNA, o que ocasionou uma
reviravolta nos vínculos de filiação. Desencadeou uma corrida na busca da verdade real, em substituição à verdade jurídica definida muitas vezes por presunções legais.
De outro lado, avanços científicos, permitindo a manipulação biológica
popularizaram a utilização de métodos reprodutivos, como a fecundação assistida homóloga e heteróloga, a cessão do útero, a comercialização de óvulos ou
espermatozóides, a locação de útero, e isso sem falar na clonagem.
Diante desse verdadeiro caleidoscópio de situações, cabe perguntar como
estabelecer os vínculos de parentalidade.
A resposta não pode mais ser encontrada exclusivamente no campo genético, pois situações fáticas idênticas ensejam soluções substancialmente diferentes. Assim, não há como identificar o pai com o cedente do espermatozóide.
Também não dá para dizer se a mãe é a que doa o óvulo, a que aluga o útero ou
aquela que faz uso do óvulo de uma mulher e do útero de outra para gestar um
filho, sem fazer parte do processo procriativo.
Ante essa nova realidade, imperiosos novos referenciais, pois não mais se
pode buscar nem na verdade jurídica nem na realidade biológica a identificação
dos vínculos familiares. Como afirma Jédison Daltrozo Maidana, a coincidência
genética deixou de ser o ponto fundamental na análise dos vínculos familiares.7
DO FILHO DESEJADO
Cada vez mais a idéia de família se afasta da estrutura do casamento. A possibilidade do divórcio e do estabelecimento de novas formas de convívio, o reconhecimento da existência de outras entidades familiares e a faculdade de reco7
MAIDANA, Jédison Ronei Daltrozo. O fenômeno da paternidade socioafetiva: a filiação e a
revolução da genética. Disponível no site www.ibdfam.com.br.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
335
nhecer filhos havidos fora do casamento operaram verdadeira transformação no
conceito de família. Assim, é necessário ter uma visão pluralista, que albergue os
mais diversos arranjos familiares, devendo ser buscado o elemento que permita
enlaçar no conceito de entidade familiar o relacionamento de duas pessoas. O
desafio dos dias de hoje é identificar o toque diferenciador das estruturas interpessoais a permitir inseri-las no Direito de Família.
Esse ponto de identificação só pode ser encontrado pelo reconhecimento
da existência de um vínculo afetivo. É o envolvimento emocional que leva a subtrair um relacionamento do âmbito do Direito Obrigacional – cujo núcleo é a
vontade – para inseri-lo no Direito de Família, cujo elemento estruturante é o
sentimento do amor, o elo afetivo que funde as almas e confunde os patrimônios, fazendo gerar responsabilidades e comprometimentos mútuos.
Essa nova realidade também se impõe nas relações de filiação. Conforme
João Baptista Villela:
As transformações mais recentes por que passou a família, deixando de ser unidade de caráter econômico, social e religioso
para se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade
e companheirismo, imprimiram considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade.8
A mudança dos paradigmas da família reflete-se na identificação dos vínculos de parentalidade, levando ao surgimento de novos conceitos e de uma linguagem que melhor retrata a realidade atual: filiação social, filiação socioafetiva,
posse do estado de filho.
Todas essas expressões nada mais significam do que a consagração, também
no campo da parentalidade, do mesmo elemento que passou a fazer parte do
Direito de Família. Tal como aconteceu com a entidade familiar, agora também a
filiação passou a ser identificada pela presença de um vínculo afetivo paterno-filial.
O Direito ampliou o conceito de paternidade, que passou a compreender o parentesco psicológico, que prevalece sobre a verdade biológica e a realidade legal.
Cabe o questionamento feito por Rodrigo da Cunha Pereira: Podemos definir o pai como o genitor, o marido ou companheiro da mãe, ou aquele que cria
os filhos e assegura-lhes o sustento, ou aquele que dá seu sobrenome ou mesmo
seu nome?9 A resposta só pode ser uma: nada mais autêntico do que reconhecer
como pai quem age como pai, quem dá afeto, quem assegura a proteção e garante a sobrevivência.
8
9
VILLELA. João Baptista. Desbiologização da Paternidade. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, nº 21, 1979, p. 404.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica. Belo
Horizonte: Del Rey, 1999, p. 144.
336
faculdade de direito de bauru
A filiação socioafetiva corresponde à realidade que existe, e juridicizar a
verdade aparente garante a estabilidade social. A posse do estado de filho
revela a constância social da relação entre pais e filhos, caracterizando uma paternidade que existe, não pelo simples fato biológico
ou por força de presunção legal, mas em decorrência de elementos
que somente estão presentes, frutos de uma convivência afetiva.10
DO FILHO DO AFETO
No atual estágio da sociedade, não mais se questiona a origem da filiação.
Ante as facilidades que os métodos de reprodução assistida trouxeram, hoje é
possível a qualquer pessoa realizar o sonho de ter um filho. Para isso, não precisa ser casado, ter um par ou mesmo manter uma relação sexual. A essa realidade não se pode fechar os olhos. Igualmente não dá mais para crer que os
casais de pessoas do mesmo sexo, por não disporem de capacidade reprodutiva, simplesmente não podem ou não devem ter filhos.
Esses vínculos que passaram a ser chamados de “uniões homoafetivas”11 se
constituem da mesma forma que as uniões heteroafetivas. A presença de um vínculo de afeto leva ao comprometimento mútuo, e o enlaçamento de vidas de
forma assumida configura uma entidade familiar. Muitas vezes, um ou ambos são
egressos de relacionamentos heterossexuais de que adveio prole. Quando, após
a separação, o genitor que fica com os filhos em sua companhia resolve assumir
sua orientação sexual, passando a viver com alguém do mesmo sexo, imperioso
questionar a posição do companheiro frente ao filho do guardião. À evidência,
ele não é nem o pai nem a mãe do menor, mas não se pode negar que a convivência gera um vínculo de afinidade e afetividade. Afora isso, o parceiro do genitor muitas vezes participa da formação e criação da criança, zelando por seu
desenvolvimento e educação, podendo até assumir o seu sustento.
Se esse convívio acaba gerando um forte vínculo de afetividade, ambos, o
pai e seu companheiro, passam a exercer de forma conjunta a função parental,
tornando-se imperioso constatar a presença de uma filiação socioafetiva. Como
lembra Sérgio Resende de Barros: O afeto é que conjuga. Apesar de a ideologia
da família parental de origem patriarcal pensar o contrário, não é requisito
indispensável para haver família que haja homem e mulher, pai e mãe.12
10 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de filho: paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 54.
11 Expressão cunhada pela autora na obra intitulada União Homossexual: o preconceito e a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
12 BARROS, Sérgio Resende de. A ideologia do afeto. Revista Brasileira de Direito de Família.
Porto Alegre: Síntese, Jul-Ago-Set. 2002, v. 14, p. 9.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
337
Vetar a possibilidade de juridicizar dito envolvimento só traz prejuízo à
própria criança, pois ela não vai conseguir cobrar qualquer responsabilidade
nem fazer valer qualquer direito com relação a quem de fato também exercita o
“pátrio poder”, isto é, desempenha função paternal, hoje nominado de “poder
familiar”.
Outra possibilidade cada vez mais comum é o uso de bancos de material
reprodutivo, que permite que um do par seja o pai ou a mãe biológica enquanto o outro genitor fica garantido pelo anonimato. Para quem usa tal método e é
casado ou vive em união estável, o cônjuge ou companheiro assume a paternidade, tanto que, pelo novo Código Civil, essa é uma das hipóteses em que se
opera a presunção de paternidade.13 Utilizando o par homossexual os mesmos
métodos reprodutivos, impedir que o parceiro do pai biológico tenha um vínculo jurídico com o filho gestado por mútuo consenso é olvidar tudo o que vem
a Justiça construindo com relação aos vínculos familiares a partir de uma visão
ampliativa que melhor atende à realidade social.
Cabe trazer, como exemplo, o procedimento levado a efeito por um par
inglês, que utilizou o sêmen de ambos para fecundar uma mulher, a qual
veio a dar à luz um casal de gêmeos bivitelinos. Por desígnio mútuo, não foi
investigada a filiação biológica dos filhos. Também as mulheres que resolvem
ter um filho extraem o óvulo de uma, que, fertilizado in vitro, é implantado
no útero da outra, que vem a dar à luz. Em ambos os casos, é imperioso perguntar: afinal, quem são os pais dessas crianças? Qualquer resposta que não
reconheça que os bebês têm dois pais ou duas mães está se deixando levar
pelo preconceito.
Imprescindível reconhecer que não há restrição alguma nem pode haver
qualquer obstáculo legal para impedir o uso de tais práticas. Muito menos descabe tentar encontrar alguma justificativa para afastar a criança de seu lar e da
companhia de quem considera seus pais. Tais posturas afrontam cânones consagrados constitucionalmente, como o direito à liberdade e o respeito à dignidade da pessoa humana. Igualmente infirmam o princípio do melhor interesse da
criança, que tem direito à convivência familiar.
Diante de situações já estabelecidas, para a identificação do vínculo parental, cabe questionar se goza a criança da posse do estado de filho. Reconhecida
a existência de uma filiação socioafetiva, com relação aos dois parceiros, imperativo afirmar a possibilidade – ou melhor, a necessidade – de ambos, ainda que
sejam do mesmo sexo, estabelecerem um vínculo jurídico, visando principalmente à proteção de quem, afinal, é filho dos dois.
13 O novo Código Civil, no art. 1.597, além de repetir todo o elenco de presunções de paternidade, nos mesmos moldes da legislação anterior, criou novas presunções nas hipóteses de inseminação artificial homóloga e heteróloga.
338
faculdade de direito de bauru
O que cabe é tão-só perquirir o modo de “legalizar” essa situação dentro
do sistema jurídico pátrio.
O Estatuto da Criança e do Adolescente regula de forma minudente uma
gama extensa de situações para reforçar os vínculos parentais, possibilitando a colocação de menores em “família substituta” mediante guarda, tutela ou adoção.
Não identifica o ECA o formato dessa estrutura familiar, o que permite concluir que não necessita corresponder ao que o próprio Estatuto chama e define
como família natural: a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles, e
seus descendentes (art. 25). Assim, possível reconhecer como “família substituta” uma só pessoa, conclusão da qual não se pode fugir tanto pelo fato de a
Constituição Federal considerar família também o vínculo monoparental, como
porque o Estatuto autoriza que maiores de vinte e um anos, independente do
estado civil, adotem (art. 42).
De outro lado, descabe afastar a possibilidade de ser conferida a guarda de
uma criança a mais de uma pessoa. Ora, diante da falta de definição do que seja
família substituta, é possível sustentar que a entidade familiar formada por duas
pessoas do mesmo sexo pode ser reconhecida ao menos como uma família substituta. A mesma linha de raciocínio pode ser utilizada para a concessão da guarda ao
par, se nenhum for o pai biológico, ou somente ao companheiro do genitor.
O instituto da guarda não é regulamentado nem no Código Civil nem na
Lei do Divórcio. Ambas as leis se limitam a identificá-la como um atributo do
poder familiar a ser deferido ao genitor com quem o filho passa a residir. Mas a
guarda configura verdadeira coisificação do filho, que é colocado muito mais na
condição de objeto do que de sujeito de direito. Tal qual o conceito de propriedade (que pode se desdobrar em nua-propriedade e usufruto, posse direita e
posse indireta), também o poder familiar e a guarda admitem igual fracionamento. Ambos os pais o detêm, mas a guarda fica com um deles, sendo assegurado ao outro apenas o direito de visita.
Sob a denominação de “guarda”, cuida o ECA da situação de crianças e adolescentes que não convivem com qualquer dos pais, ou seja, que estão em situação
de risco, com “direitos ameaçados ou violados” (art. 98). Independente de sua
situação jurídica, a lei visa a regularizar a “posse” de fato, com a colocação em família substituta, o que não implica a suspensão nem a extinção do poder familiar (art.
33). Também pode ser deferida a guarda, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela ou adoção. Ditas possibilidades dão a entender que a situação de
guarda possui caráter precário e provisório. No entanto, o próprio Estatuto determina que o poder público estimule, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças órfãs ou abandonadas (art. 34), a deixar evidenciada a possibilidade de tal situação perpetuar-se
no tempo. Assim, ainda que, em um primeiro momento, possa parecer que a concessão da guarda serve para atender a situações emergenciais em caráter temporá-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
339
rio, tanto a falta de previsão de qualquer termo de sua vigência, como a inexistência de um procedimento para a regularização dessa precária situação mostram que
a guarda pode ser definitiva.
Cabe questionar se há óbices em se regularizar a situação dos lares homossexuais exclusivamente por meio do instituto da guarda. O § 3º do art. 33 do
ECA diz: a guarda gera a condição de dependência, para todos os efeitos de
direito, inclusive previdenciários. Resta a dúvida sobre se essa dependência
gera, por exemplo, efeitos sucessórios. Ou seja, se concorre o menor à sucessão
hereditária do guardião. Se a resposta é negativa, o falecimento de um ou ambos
os guardiões deixará o menor em total abandono, sem qualquer direito. Fácil
reconhecer a frágil situação dessa criança pela falta de definição de responsabilidades, o que, além de gerar extrema insegurança, também pode ser fonte de
um grande desamparo.
Igualmente, a ausência de uma terminologia adequada que identifique a
relação que se estabelece entre o guardião e o menor sob guarda e sua revogabilidade a qualquer tempo podem gerar sentimento de insegurança e medo,
tanto para um como para o outro. Por isso, não se pode limitar ao instituto da
guarda a forma de estabelecer uma vinculação jurídica de parceiros do mesmo
sexo com quem está sob seus cuidados, uma vez que essa modalidade protetiva
não garante todo o leque de direitos que a Constituição Federal assegura aos
cidadãos de amanhã.
A precariedade da situação de um menor nessas condições não se coaduna com os princípios atuais do Direito de Família, que privilegiam a consolidação dos vínculos afetivos. Tanto a colocação de uma criança em uma família substituta, como a concessão da guarda para regularizar uma situação de posse, sem
a mínima cautela de atender ao melhor interesse da criança, considerando a temporariedade e revogabilidade, podem levar a estados de total instabilidade.
Outra modalidade de filiação é a construída no amor, na feliz expressão
de Luiz Edson Fachin, ao dizer que na adoção os laços de afeto se visualizam
desde logo, sensorialmente, superlativando a base do amor verdadeiro que
nutrem entre si pais e filhos.14 O Estatuto da Criança e do Adolescente atribui ao
adotado a condição de filho para todos os efeitos, desligando-o de qualquer vínculo com os pais biológicos.
Cabe perquirir se há algum obstáculo legal para que seja concedida a adoção de uma criança a um casal homossexual. E, sendo ela filha biológica de um
deles, há algum óbice para ser concedida a adoção ao parceiro do genitor? A resposta só pode ser negativa. A única exigência para o deferimento da adoção é a
constante do art. 43 do ECA, ou seja, que apresente reais vantagens para o ado14 FACHIN, Luiz Edson. Elementos Críticos do Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999,
p. 16.
340
faculdade de direito de bauru
tado e se funde em motivos legítimos. Vivendo a criança com quem mantém um
vínculo familiar, de forma sadia e segura, excluir a possibilidade de adoção para,
por exemplo, institucionalizá-la só virá em seu prejuízo, comprometendo seu
normal desenvolvimento. Não se pode olvidar que a lei não veda a possibilidade de duas pessoas adotarem, ainda que elas não sejam casadas nem vivam em
união estável. O ECA permite que, mesmo divorciado ou separado judicialmente, o par possa adotar. Ora, pelo divórcio, dissolve-se o vínculo do casamento
(parágrafo único do artigo 2º da Lei do Divórcio), e a permissão da adoção conjunta resta por autorizar, afinal, que duas pessoas, sem qualquer liame entre si,
adotem uma mesma criança.
De outro lado, o simples fato de se tratar de uma relação homoafetiva não
impede que o filho de um possa ser adotado pelo seu companheiro do mesmo
sexo, pois, modo expresso, é permitido que um dos cônjuges ou companheiros
adote o filho do outro (parágrafo único do art. 41).
Assim, diante do conceito aberto de família substituta, e em face da possibilidade de duas pessoas, ainda que sem qualquer vinculação, virem a adotar,
nada obsta a que duas pessoas, independentemente do seu sexo, adotem uma
criança.
Nem na Lei dos Registros Públicos se encontra óbice a que se proceda ao
registro indicando como genitores duas pessoas do mesmo sexo.
A verdade real é que goza o filho da posse de estado,
a prova mais exuberante e convincente do vínculo parental,
conforme enfatiza Zeno Veloso, que questiona: se o genitor, além
de um comportamento notório e contínuo, confessa, reiteradamente, que é o pai daquela criança, propaga este fato no meio
em que vive, qual a razão moral e jurídica para impedir que
esse filho, não tendo sido registrado como tal, reivindique, judicialmente, a determinação de seu estado?15
15 VELOSO, Zeno. Direito Brasileiro da Filiação e Paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 28.
Súmula 309: um equívoco que urge ser corrigido!
Maria Berenice Dias
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Vice-Presidente Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM.
Palavras-chave: Alimentos, imposição do dever alimentar, execução da dívida de alimentos, interpretação restritiva, inadimplemento voluntário, inescusável, sumular a matéria,
Súmula 309, jurisprudência referendando normas, retificação, retrocesso do STJ.
Como o direito à vida é o mais sagrado de todos os direitos, é necessário
gerar mecanismos que garantam o cumprimento da obrigação de prover o sustento de quem não tem condições de manter-se sozinho.
Essa é a razão de o direito a alimentos receber regramento especial. Não
só a ação para buscar a imposição do dever alimentar dispõe de lei própria, mas
também outro não é o motivo de a execução da dívida de alimentos dispor de
várias formas procedimentais para obter o seu adimplemento de maneira mais
ágil e eficaz. O tratamento diferenciado justifica-se por si só. Entre a liberdade e
o direito à vida, há de assegurar a sobrevivência de quem necessita perceber alimentos. Tanto é assim que a garantia constitucional que impede a prisão por
dívidas comporta exceções (CF, art. 5º, LXVII): não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de
obrigação alimentícia...
Daí a possibilidade de buscar a execução de obrigação alimentar sob pena
de coação pessoal. O procedimento está consagrado no artigo 733 do Código de
Processo Civil, que autoriza a citação do devedor para, em três dias: efetuar o
pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena
342
faculdade de direito de bauru
de prisão de um a três meses. Também a Lei de Alimentos, para assegurar o pagamento dos alimentos, permite o decreto de prisão do devedor até 60 dias (Lei
5.478/68, art. 19).
Normas rigorosas tendem a ser interpretadas de forma restritiva, havendo
uma busca incessante de contornar o seu verdadeiro sentido. A postura dominante é limitar ao máximo esta modalidade de cobrança, que, na prática, sempre se revelou como a de maior eficiência e efetividade imediata. Decretada a
prisão, acaba o devedor pagando a dívida. Mas, como há diferentes limites temporais de aprisionamento, a tendência é não admitir a imposição da pena por
período superior a 60 dias. Até com referência ao regime prisional há a recomendação de o cumprimento da pena ocorrer em regime aberto, sob a justificativa de permitir que o devedor trabalhe e, então, possa pagar os alimentos.
Na tentativa de assegurar o uso dessa forma executória, a jurisprudência
consolidou-se no sentido de admitir o rito do apenamento somente com referência a três prestações alimentícias vencidas à data da propositura da demanda.
O fundamento, de todo insubsistente, é que dívida anterior a tal período perde
sua natureza alimentar, passando, em um passe de mágica, a dispor de feição
indenizatória.
De outro lado, como a lei fala em ‘execução de sentença ou decisão’, há
quem negue tal rito quando os alimentos foram fixados por acordo, ainda que
referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria ou pelos advogados dos
transatores, e apesar de tais avenças constituírem títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 585, II). Há, inclusive, decisões que olvidam a regra que determina a aplicação supletiva do processo de conhecimento (CPC, art. 598) e
sequer admitem a citação do devedor por hora certa ou edital.
Também sob o mesmo fundamento havia expressivo número de julgados
que negavam a aplicação de distinto dispositivo da lei processual. Diz o artigo
290 do Código de Processo Civil que, em se tratando de obrigação constituída
em prestações periódicas – como o é a obrigação de pagar alimentos –, a condenação compreende as prestações vencidas no curso do processo. Porém, enorme era a dificuldade de invocar dita regra para o processo executório, impondo
ao credor que, a cada três meses, ingressasse com nova ação, transformando a
cobrança dos alimentos em um punhado de demandas.
Apesar de todos esses desencontros, a jurisprudência tendia a admitir o
uso da execução coacta para a cobrança das três parcelas vencidas antes da propositura da demanda, safando-se o devedor da prisão somente mediante o pagamento de toda a dívida: as parcelas objeto da execução e mais as que se venceram até a data do efetivo pagamento.
A falta de uniformidade das decisões judiciais levou o STJ a sumular a
matéria (Súmula 309): O débito alimentar que autoriza a prisão do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que se
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
343
vencerem no curso do processo. Ainda que correta a definição do que deve ser
considerado adimplemento da dívida, ou seja, que no seu montante se incluem
as parcelas vencidas durante a tramitação da execução, o enunciado contém
mácula que impõe imediata retificação. De forma absolutamente equivocada,
estabelece que o período de abrangência da execução corresponda somente às
prestações vencidas antes da citação do devedor, e não às impagas antes da propositura da ação. Tal assertiva se afasta dos próprios antecedentes indicados
como parâmetro para sua edição, que não sufragam o mesmo entendimento.
Sete deles, de modo expresso, indicam como marco a data do ajuizamento da
ação e somente três dos julgados invocados fazem referência à data da citação.
Urge, portanto, que a Súmula seja retificada, pois baseada em jurisprudência que não serve para referendar a normatização levada a efeito. A mudança, frise-se, se faz urgente, sob pena de se incentivar que o devedor se esquive
da citação, esconda-se do Oficial de Justiça e, de todas as formas, busque retardar o início da execução, pois, enquanto não for citado, não se sujeita a ser
preso. Claro que o devedor vai tornar-se um fugitivo! Quanto mais tempo levar
para ser citado, mais parcelas serão relegadas à modalidade executória cuja efetividade é consabidamente ineficaz em se tratando de obrigação de alimentos.
Significa que as mensalidades pretéritas só poderão ser cobradas pelo rito da
penhora, sujeitando-se o credor a esperar pela venda em hasta pública de algum
bem de que o devedor eventualmente seja proprietário (CPC, art. 732).
Assim, ainda que o enunciado mereça aplausos pela definição do termo
final da dívida, o retrocesso em que incidiu o STJ, no que diz com o início da
obrigação a ser cumprida sob pena de prisão, acaba deixando de assegurar o
direito à sobrevivência para privilegiar a liberdade daquele que não tem a responsabilidade de garantir a subsistência a quem deve alimentos.
A súmula, até ser corrigida, está a ferir de morte o direito à vida.
O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA
JURISDICIONAL ALIMENTAR
Flávio Luís de Oliveira
Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná.
Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito da Instituição Toledo de Ensino – Bauru – SP.
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual.
Advogado.
Palavras-chave: Direito fundamental, alimentos, tutela interdital, técnica processual
1.
INTRODUÇÃO
No âmbito do direito processual constitucional, a tutela constitucional do
processo (assentada em dois pilares estruturais: o acesso à justiça e o devido
processo legal) tem por fim assegurar a conformação dos institutos processuais
aos valores constitucionais.
Assim, a tutela estatal deve realizar os direitos dos cidadãos e o princípio
do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da
Constituição Federal, constitui a principal garantia da satisfação destes direitos
visando à realização dos fins do Estado.
Logo, essa realidade normativa impõe a construção de procedimentos adequados às peculiaridades do direito material, bem como a materialização de ações fáticas
no sentido de se observar o fundamento da República, qual seja, a dignidade humana, nos exatos termos do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.
346
faculdade de direito de bauru
Nesta linha, no âmbito da atuação do Poder jurisdicional, a consagração deste
fundamento enseja a releitura de vários conceitos tidos como estanques a fim de
ensejar a inclusão social com base nos valores do Estado Democrático de Direito.
Para tanto, o direito à tutela jurisdicional não só requer a consideração dos
direitos de participação e de edição de técnicas processuais adequadas, como se
dirige à obtenção de uma prestação do juiz, em tempo razoável, sempre na perspectiva de realização dos direitos fundamentais.
Partindo-se destas premissas, frisante particularidade decorre da análise,
ainda que perfunctória, de alguns aspectos inerentes à garantia constitucional da
tutela especifica do dever de sustento, como corolário do direito à vida.
2.
A IDENTIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PROVISIONAIS DIANTE DA DIVERSIDADE PROCEDIMENTAL
Ressalte-se, inicialmente, que a delimitação estrutural e funcional da tutela dos alimentos ditos ‘provisórios’ e daqueles denominados ‘provisionais’ constitui um dos temas mais interessantes em sede de alimentos.1
Nesta linha, Sérgio Gischkow Pereira afirma que
a diferenciação entre as duas espécies é apenas terminológica e
procedimental; em essência, em substância, são idênticas, significam o mesmo instituto, a saber, prestações destinadas a assegurar ao litigante necessitado os meios necessários para se manter na pendência da lide.2
Como se vê, a análise da função dos alimentos provisórios e provisionais não é capaz de ensejar qualquer distinção. Ao contrário, ambas as categorias apresentam uma identidade funcional. Portanto, diante do critério
funcional, poder-se-ia alegar que ambas hipóteses (alimentos provisórios e
alimentos provisionais) são aptas a prover, desde logo, o requerente que
necessita de alimentos, ‘satisfazendo’ o direito estampado no pedido inicial.
Por outro lado, o critério estrutural não é apto a determinar que o provimento de fixação de alimentos provisionais, somente por estar disciplinado
no processo cautelar, caracterizaria uma medida cautelar. Significa dizer,
1
2
Cf. OLIVEIRA, Flávio Luís de. A antecipação da tutela dos alimentos provisórios e provisionais cumulados à ação de investigação de paternidade. São Paulo: Malheiros, 1999.
p. 40.
PEREIRA, Sérgio Gischkow. Ação de alimentos. 3ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1983. p. 49. Neste sentido, a professora Iara de Toledo Fernandes salienta que “os pontos de
contato fixam-se quanto à função: há um sentido (essência) de provisão tanto nos provisionais quanto nos provisórios.” (FERNANDES, Iara de Toledo. Alimentos Provisionais. São
Paulo: Saraiva, 1994, p. 152).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
347
portanto, que os alimentos provisionais são, na verdade, alimentos provisionais antecipados.3
Entretanto, a inaptidão do critério estrutural para a determinação dos alimentos provisionais como medida cautelar, visto que ambos são ‘alimentos antecipados’, aliada ao fato, no âmbito funcional, de que ambos materializam a provisão (no sentido de prover) do demandante, não dispensa a análise da diversidade procedimental entre os alimentos provisórios e provisionais.
Certamente, ambas as espécies têm por finalidade substancial prover o
requerente da medida. Todavia, a tutela diferenciada prevista na Lei n.º 5.478/68,
além de permitir a utilização das técnicas de coerção e sub-rogação, é concedida apenas a quem disponha de prova da relação de parentesco, decorrente da
autoridade parental.
Diante disso, o procedimento da Lei em comento possibilita a fixação imediata dos alimentos provisórios para atender à situação de necessidade premente do alimentando, que tem o ônus de demonstrar, initio litis, o dever de sustento. Logo, o artigo 4º da Lei n.º 5.478/68 é cogente, imperativo, dando ao
magistrado uma atribuição impositiva. Assim, o juiz não pode, preenchidos os
requisitos legais, deixar de fixar os alimentos provisórios.
Constata-se, assim, que o autor deve comprovar, previamente, a relação de parentesco, a permitir imediata ‘agressão’
ao patrimônio do devedor para satisfação prática do crédito alegado.4
3
4
Perceba-se que “este problema pode ser resumido numa frase: tantos os alimentos ditos “provisórios” quanto os provisionais, regulados pelo CPC, são alimentos antecipados. São os mesmos alimentos que seriam obtidos através da sentença final que provasse a ação de alimentos,
os quais, em virtude de urgência, concedem-se antecipadamente. Isto significa, em última análise, que, ao conceder o magistrado alimentos, “provisórios” que o sejam, ou provisionais, ele
o fará a custa de sentença final, esvaziando-a do seu principal componente eficacial. Uma vez
concedidos os alimentos, a sentença final de procedência que reconhecer o dever de prestar alimentos, antecipadamente concedido, tal como, numa ação de reintegração de posse, por
exemplo, apenas confirmará a liminar que haja sido outorgada ao autor. Tanto na liminar possessória como em todas as demais liminares ‘antecipatórias’, cuida-se de uma única lide, sobre
a qual se opera, para retirar-lhe um elemento da sentença final de procedência, trazendo-o
para a fase liminar do procedimento. Quando isto ocorre, a sentença final esvazia-se de um
componente eficacial, precisamente aquele que fora antecipado. É uma questão, portanto, de
estrutura, não de função. (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. v. 3. p. 329).
Em sentido contrário, a professora Iara de Toledo Fernandes aduz que, “em síntese, dando
expressão ao nível estrutural para a distinção, postule-se a terminologia “provisionais” para a
tutela cautelar e “provisórios” para os alimentos pleiteados nas tutelas definitivas.” (FERNANDES, Iara de Toledo. Alimentos Provisionais. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 152).
OLIVEIRA, Flávio Luís de. A antecipação da tutela dos alimentos provisórios e provisionais
cumulados à ação de investigação de paternidade. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 41.
348
faculdade de direito de bauru
Portanto, “a concessão de alimentos provisórios não depende da discrição
do juiz, nem a atuação deste se exerce em juízo de probabilidade, dispensado,
como é, o exame da aparência do direito e do risco de dano.”5
Ao contrário, tratando-se de alimentos provisionais, que poderiam ser
pedidos por quem fosse apenas “um provável credor”, como se daria, por exemplo, nas hipóteses de obrigação alimentar, a fixação da prestação alimentícia,
ainda que, via cognição sumária, sujeita-se à verificação da probabilidade da existência da pretensão afirmada.
Com efeito, dispõe o artigo 854 do Código de Processo Civil que, na petição
inicial, exporá o requerente as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. Daí por que, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo, “o
requerente poderá pedir que o juiz, ao despachar a petição inicial e sem audiência
do requerido, lhe arbitre, desde logo, uma mensalidade para mantença.”6
Portanto, a diversidade procedimental entre as duas tutelas, concedidos os
provisionais em razão de probabilidade e os provisórios quando demonstrado
inicialmente o dever de sustento conduz, ainda, a outra conseqüência: enquanto os alimentos provisionais são devidos até o julgamento dos recursos ordinários, salvo revogação anterior à sentença ou se o acórdão desfavorecer o autor,
os provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 13, parágrafo 3º da Lei n.º 5.478/68.
Vale dizer, a fixação de alimentos provisórios pode sofrer apenas modificação em relação ao valor. Logo, pode haver uma variação, podem ser diminuídos ou majorados, mas a revogação, por expressa disposição legal, somente
poderá ocorrer no julgamento do recurso extraordinário.
Feitas estas observações, pode-se concluir que o procedimento específico
inerente à tutela dos alimentos provisórios, regulado pela Lei n.º 5.478/68, enseja a concessão de antecipação da tutela, visando a satisfação do direito de forma
imediata em face do peculiar interesse de ordem pública que a informa.
Portanto, as peculiaridades da tutela jurisdicional, ainda que prestada via
cognição sumária, inerente aos alimentos provisórios e provisionais, apesar de
ostentarem a mesma estrutura e função, permitem uma sistematização acerca do
tema, de forma a concluir pela diversidade procedimental, bem como, dos âmbitos de incidência.
Como dito, tratando-se de ação alimentar típica, ajuizada por quaisquer
dos filhos menores não emancipados, em razão do dever de sustento devida5
6
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. A tutela de urgência e o direito de família. São Paulo:
Saraiva, 1998. p. 86.
BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil, 17 jan. 1973. “Deve-se, portanto, distinguir as duas ações: a)
ação de alimentos provisórios, que compete a quem tem direito de receber alimentos; b) ação de
alimentos provisionais, pela qual o seu autor pede alimentos.” (FERREIRA, Pinto. Investigação de
paternidade, concubinato e alimentos. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 147).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
349
mente comprovado (artigo 1566, inciso IV, do Código Civil), assegura-se-lhes a
ação especial da Lei 5.478/68, caso em que lhes serão concedidos alimentos provisórios previstos no artigo 4º desta lei.
Por outro lado, tratando-se de obrigação alimentar decorrente, por exemplo, de negócio jurídico (contrato e testamento), de fato gerador da responsabilidade civil, ou ainda, da relação de parentesco entre parentes em linha reta,
excluída a hipótese inerente à autoridade parental, ou colateral, o julgador deverá investigar, dependendo do caso concreto, vários fatores, dentre eles a condicionalidade representada pelo binômio necessidade-possibilidade, a comprovação do dano nas hipóteses de alimentos indenizativos, etc.
Reafirme-se, por oportuno, que no trato das relações jurídicas, das quais
se irradiam direitos e obrigações alimentares, devem-se separar, nitidamente,
àquelas concernentes à existência da sociedade conjugal, as que derivam da
união estável, da responsabilidade civil, as que dizem respeito à relação de
parentesco e, dentre estas, as oriundas da autoridade parental.
Sendo assim, tal concepção permite vislumbrar que a tutela inerente ao dever
de sustento (obrigação de sustento) concerne aos alimentos provisórios, da mesma
forma que a tutela inerente aos alimentos pertinentes à sociedade conjugal, à união
estável, à responsabilidade civil e as que dizem respeito à relação de parentesco,
excluído, por óbvio, o dever de sustento, materializam hipóteses de obrigação alimentar, concernentes, portanto, aos alimentos provisionais.7
Em suma, sob esta óptica, a diferença entre alimentos provisórios e alimentos provisionais decorre dos diferentes pressupostos que informam a distinção entre dever de sustento e a obrigação alimentar.8
Logo, tratando-se de alimentos decorrentes do dever de sustento, é perfeitamente possível classificar a tutela alimentar, sob a óptica do direito material,
7
8
“Estes distintos tipos de procedimento se originaram remotamente da forma interdital romana e, mais proximamente, das inhibitiones do processo germânico medieval, a denotar a coexistência, ao longo da história, de dois sistemas processuais perfeitamente diferenciados, resultantes de adequação condizente com situações e valores distintos da lide material.” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Comentários ao Código de Processo Civil. v. 8. Tomo 2. Rio de
Janeiro: Forense, 1988. p. 385).
Assim, poder-se-ia dizer, embora pareça simplista, que a tutela dos alimentos provisórios está
para o dever de sustento, assim como a tutela dos alimentos provisionais está para a obrigação
alimentar. “Tais enunciados não conflitam agora com o disposto no art. 13, caput, da Lei
5.478/68, mas com ele se conformam, na medida em que ali se estabelecia a aplicabilidade da
Lei de Alimentos às ‘ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação do casamento’, no que
couber; ora, nesta sede, aqui não mais caberia a aplicação subsidiária (‘no que couber’) da lei
especial, porquanto a legislação processual superveniente estatuiu medida cautelar específica
“nas ações de desquite e de anulação de casamento” (CPC, art. 852, I), cuja aplicabilidade se
sobrepõe ao dispositivo genérico e eventual do art. 13 da Lei de Alimentos, restringindo-se,
portanto, os alimentos provisórios do art. 4º tão apenas às ações de alimentos típicas, deduzidas com base na Lei 5.478/68.” (CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1994. p. 667).
350
faculdade de direito de bauru
em alimentos (provisórios) preventivos mandamentais (inibitórios) e alimentos
(provisórios) preventivos executivos, bem como em alimentos (provisórios)
reintegratórios mandamentais e alimentos (provisórios) reintegratórios executivos, a serem prestados, diante da necessidade de efetividade da tutela dos direitos, na forma antecipada.
Ademais, no que tange aos alimentos decorrentes da obrigação alimentar
é possível vislumbrar, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a tutela inerente aos alimentos (provisionais) ressarcitórios, prestados na forma específica ou pelo equivalente, a serem efetivados, caso seja necessário, na forma
antecipada.9
3.
ALIMENTOS (PROVISÓRIOS) PREVENTIVOS: MANDAMENTAIS (INIBITÓRIOS) E EXECUTIVOS
Em princípio, cumpre analisar o momento a partir do qual decorre a obrigação de sustento, pois este aspecto materializa outra peculiaridade desta espécie em confronto com outras obrigações.
Na verdade, o dever de sustento, muito embora o vínculo de parentesco (nascimento) já esteja estabelecido e, diante da omissão do genitor, a obrigação legal violada, materializando a prática do ato ilícito, é a partir do dia da ciência da pretensão
deduzida em juízo que as prestações alimentares serão exigidas pelo filho.
Como se sabe, “la obligación de alimentos será exigible desde que los
necesitase para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se
abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.”10
Destarte, em nosso ordenamento, o artigo 13, § 2º da Lei n.º 5.478/68 consagra que os alimentos fixados retroagem à data da citação. Trata-se do princípio
in praeteritum non vivitur que significa, sobretudo, que a prestação alimentar,
dado o fim a que se destina, deve ser cumprida súbita e tempestivamente. Isto
porque a pessoa que tinha o direito a pedir alimentos e não os reclamou, não
deixou por isso de viver e não se torna, pois, necessário sustentá-la pelo tempo
que já decorreu, mas sim para o futuro.11
9
Devido à delimitação do tema, a referência está sendo efetivada apenas com o intuito de
demonstrar, nitidamente, a independência entre o ilícito e o dano, bem como, os reflexos da
distinção entre dever e obrigação, no que tange à tutela alimentar. Neste aspecto, vide OLIVEIRA, Flávio Luís de. A jurisdição na perspectiva da dignidade da pessoa humana. Revista
Nacional de Direito, Ribeirão Preto, v. 53, p. 11-18.
10 COLIN, Ambrósio; CAPITANT, H. Curso elemental de derecho civil. Madrid: Instituto
Editorial Reus, 1952. p. 801.
11 Una delle questioni più discusse e più delicate in materia di obbligazione alimentare ex lege, sotto
l‘impero del codice del 1865, era quella che rifletteva il momento di decorrenza dell’obbligo della
prestazione fra congiunti. Essa è stata risoluta dal nuovo codice che, all’ art. 439, ha disposto che,
gli alimenti son dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora
dell’obbligato, quando questa costituzione sia dentro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale, in
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
351
A justificativa não reside numa presumida renúncia do alimentando, ou
numa presumida ausência da necessidade, mas sim no fundo prático a que o instituto se destina: assegurar a existência de uma pessoa, fim este que naturalmente respeita ao futuro e não ao passado.12
Sendo assim, antes de tudo, é forçoso reconhecer uma proteção eficiente
à preservação dos direitos da personalidade, sendo certo que tal desiderato
somente será alcançado sob a forma da tutela preventiva.13
Com efeito, não cabe restringir a tutela da pessoa à reparação do dano.14
Importa dizer, não é possível tutelar negativamente o ser humano. Ao contrário,
a atualidade demonstra a necessidade de proteger a pessoa em um sentido positivo, contribuindo para o pleno e livre desenvolvimento de sua personalidade.
Esta tutela positiva se apresenta, prioritariamente, de ordem preventiva.
omaggio all’antico principio ‘in praeteritum non vivitur’, il quale vuol dire che, poichè, pel tempo
anteriore, l’alimentando ha vissuto ciò significa che egli há potuto sostenersi senza il concorso
dell’obbligato. Gli alimenti mirano ad assicurare l’esistenza di una persona, e ciò riguarda il futuro
non il passato. Dato lo scopo, si può dire che il debito giorno per giorno si estingue e rinasce, si
estingue per il passato e rinasce per el futuro.” (DEGNI, Francesco. Il dirito di famiglia nel nuovo
códice civile italiano. Padova: Cedam. 1943, p. 495). Por esta razão “en todo caso el acreedor de alimentos debe guardarse cuidadosamente de una negligencia prolongada, porque una jurisprudencia constante, aunque sin fundarse en ningún texto, le prohibe pedir después el pago de los atrasos
de us pensión, anteriormente vencidos y que hubiera descuidado reclamar a su debido tiempo: ‘los
alimentos no se retrasan’; es ésta una regla de derecho consuetudinario, a base de presunción: se
considera que el retraso constituye prueba de que el acreedor no se encontraba en la necesidad y
podía prescindir de una ayuda de que no se há servido.” (JOSSERAND, Louis. Derecho Civil.
Buenos Aires: Bosch Y Cia., 1952, p. 321). Com efeito,“tem-se por razoável que não se reconheçam
devidos os alimentos para um tempo em que o alimentando não os solicitara ao parente obrigado
e com possibilidade de atendê-lo. Aqui se fazem sentir as necessidades gerais de certeza e segurança, pois o obrigado precisa saber ao certo o momento em que deve alimentos para se colocar numa
situação de poder realizar a prestação.” (OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de; MUNIZ; Francisco
José Ferreira. Direito de Família. Porto Alegre: Sergio A. Fabris, 1990, p. 51).
12 Logo, para a adequada tutela dos alimentos decorrentes do dever sustento, não há que se falar
em uma técnica voltada ao passado, inerente à sentença condenatória, mas em uma tutela
capaz de prevenir o ilícito ou a sua repetição. Com efeito, diante do princípio in praeteritum
non vivitur, materializaria um enorme contra-senso negar a utilização da tutela inibitória,
sobretudo na forma antecipada, aos alimentos decorrentes da autoridade parental.
13 “O funcionamento do mecanismo processual corresponderá ao que dele se espera na medida
em que concorra de forma efetiva para evitar a lesão, ou quando menos para impedir que continue a produzir-se. As providências jurisdicionais de índole puramente repressiva ou sancionatória têm nesse campo valor reduzido, se é que algum têm. Ora, o repertório legal das medidas preventivas, no Brasil e alhures, é sabidamente insatisfatório; e, por paradoxal que possa
afigurar-se, a sua pobreza agrava-se justamente no domínio onde mais aguda se faz a necessidade prática da tutela: para proteger a posse e a propriedade ainda se dispõe de remédios prestadios, mas a farmacopéia jurídica chega em geral às raias da penúria no que concerne às relações não patrimoniais – precisamente numa área de problemas cuja solução, sem tais remédios, oscila entre os níveis da precariedade e da mistificação.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Processo civil e direito à preservação da intimidade. In: Temas de direito processual. São
Paulo: Saraiva, 1980. p. 05).
14 Reitere-se que esta restrição derivou, dentre vários fatores, da equiparação, no que concerne à responsabilidade civil, entre ilícito e dano. Note-se, contudo, que a tutela inerente ao dever de sustento não leva em consideração o dano, daí ser incoerente a utilização da tutela ressarcitória.
352
faculdade de direito de bauru
Assim, os modelos tradicionais de proteção da pessoa fracassam, porque
não levam em consideração a necessidade de prevenir que se produzam atentados contra o ser humano em um futuro imediato.
Logo, com o propósito de se antecipar às prováveis agressões que se pode
cometer contra a pessoa, é que se inclui, nos mais recentes ordenamentos jurídicos, tutelas de caráter preventivo. Nesta linha, a tutela inibitória visa a evitar a
consumação de um ilícito, ou em caso de já ter ocorrido o ilícito, obter sua imediata cessação.
Note-se, portanto, que tal ação, que não tem natureza repressiva, mas preventiva, brinda a pessoa com relativa segurança jurídica. “En este orden de ideas,
se hace evidente la supremacía de las perspectivas preventivas respecto aquéllas
represivas en lo que concierne a la protección de la persona.”15
Entretanto, como dito, para a efetividade da tutela jurisdicional é imprescindível a predisposição de técnicas de coerção e sub-rogação de modo a interferir no
resultado que o processo pode proporcionar no plano do direito material.16
Nesta linha, importante frisar que
o dever de alimentar pode ser cumprido com o facere, e não apenas com o dare, ou, pelo menos, em forma combinada (facere e
dare). A execução em dinheiro é a mais vulgar; porém nada
impede que, convindo o alimentante, salvo se razões militam
para que se exclua a prestação in concreto, se prestem alimentos
em hospedagem e sustento.17
Tecnicamente, assim,
a obrigação de sustento se define como uma obrigação de fazer;
enquanto a obrigação alimentar consubstancia uma obrigação
de dar. Apenas quando se verifica a impossibilidade de coabitação dos genitores, mantido o menor na companhia de um deles,
ou de terceiros, é que a execução da obrigação de sustento (obrigação de fazer) se resolve na prestação do equivalente (obrigação de dar); e passa a representar assim uma forma suplemen15 SESSAREGO, Carlos Fernández. Protección a la persona humana. In: Daño y protección a la
persona humana. Buenos Aires: La Rocca, 1993, p. 21-80.
16 “Como a ordem, para ser efetiva, depende de multa, isto é, como a multa objetiva convencer o demandado a observar a ordem de fazer ou de não-fazer contida na sentença ou na
tutela antecipatória, é imprescindível a análise da multa como meio de imposição da tutela inibitória.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica. São Paulo: Revista dos tribunais. 2000, p. 63).
17 MIRANDA. Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 9. Rio de
Janeiro: Borsói, 1971. p. 241.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
353
tar colocada à disposição do filho para a obtenção dos meios de
subsistência e educação.18
Destarte, se o artigo 644 do Código de Processo Civil sempre permitiu a
incidência de multa cominatória nas obrigações de fazer e, se o dever de sustento pode ser prestado através de um fazer, é inegável que sempre houve fundamento para a incidência de multa, nítida técnica coercitiva, no que tange aos
alimentos decorrentes da autoridade parental.
Por esta razão, há muito, Alcides de Mendonça Lima, ao tecer comentários
ao artigo em testilha, sustentou que, “enquanto não faz, nas obrigações de fazer;
ou enquanto faz, nas obrigações de não fazer, o devedor poderá ficar sujeito ao
pagamento de pena por dia de atraso.”19
Entretanto, paradoxalmente, a doutrina apenas visualiza a prisão como
meio coercitivo para o cumprimento do dever de sustento, sendo certo que a
coerção física, de longe, é muito mais rígida e comprometedora do que a coerção patrimonial. Logo, nas hipóteses em que o devedor possua patrimônio, a
cominação da possibilidade de prisão, visando cessar a repetição do ilícito, por
força do disposto no artigo 733, § 1º do Código de Processo Civil, infringiria o
artigo 620 do mesmo diploma legal.
Assim,
conforme al art. 666 bis del Cód. Civil, si el alimentante no cumple com el pago de las cuotas fijadas en la sentencia, el juez, a
pedido do alimentando, puede imponer sanciones conminatorias o astreintes, cuyo propósito es compeler a esse cumplimiento. Las astreintes pueden ser reducidas o dejadas sin efecto si
cesa la resistencia del alimentante al pago de los alimentos, ya
que ellas no constituyen una pena civil, ni una indemnización
de daños y perjuicios, sino un medio de presión de la voluntad
18 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos tribunais. 1994, p. 406. Sendo
assim, a guarda compartilhada, como meio de manter (ou criar) os estreitos laços afetivos
entre pais e filhos, estimula o genitor não-guardião ao cumprimento do dever de sustento in
natura, consistente numa nítida obrigação de fazer. (Cf. GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda
compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2000. p. 110).
19 LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 6, tomo 2. Rio de
Janeiro: Forense, 1974. p. 778. Logo, sob esta ótica, a cominação de multa não se limitava apenas às hipóteses de execução fundada em título, pois levava em consideração a natureza da
obrigação (de fazer ou não fazer). Atualmente, a redação do artigo 461 do Código de Processo
Civil demonstra o acerto daquela tese. Por outro lado, tratando-se de alimentos provisórios,
portanto, decorrentes do dever de sustento, o artigo 27 da Lei n.º 5.478/68 sempre permitiu a
aplicação supletiva das disposições do Código de Processo Civil, de forma que sempre foi possível a cominação de multa visando o cumprimento da obrigação de sustento.
354
faculdade de direito de bauru
del destinatario de un mandato judicial a fin de vencer su resistencia o contumacia al cumplimiento de lo debido u ordenado.
Verificada la finalidad perseguida, desaparece la causa que las
motivó y no procede su mantenimiento ni su reajuste.20
Poder-se-ia objetar que a norma em comento, inerente ao direito argentino,
permite a fixação da multa somente na sentença, limitando-se, portanto, na maioria das vezes, às hipóteses de ilícito já praticado. Entretanto, em virtude da redação
dos artigos 287, 461 e 461-A, do Código de Processo Civil brasileiro, as ações de
obrigação de fazer e não fazer e de dar coisa certa e incerta podem ser implementadas com a cominação de multa diária, via cognição sumária, independentemente
de requerimento da parte, não havendo dúvida, portanto, da possibilidade de aplicação da coerção patrimonial, inclusive, na forma preventiva.21
Assim, a fixação das astreintes22 ficará ao prudente critério do juiz que,
dentre outros aspectos, levará em conta um reiterado descumprimento do dever
de sustento pelo alimentante, a justificar a incidência da multa em proporção
que possa evitar a prática, a continuação ou repetição do ilícito.
Logo, diante das peculiaridades dos alimentos decorrentes do dever de
sustento, é plausível que se tema o inadimplemento, principalmente na forma
continuada, justificando, assim, a utilização de outra forma de coerção judicial,
consistente na imposição de multa diária para a hipótese de descumprimento da
obrigação, sem, entretanto, alterar a natureza da tutela.23
20 BOSSERT, Gustavo A. Régimen jurídico de los alimentos. Buenos Aires: Astrea. 1999, p. 526.
Neste sentido, ZAVALÍA, Fernando López de. La tutela de las obligaciones de hacer, y de no
hacer en el derecho argentino. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 5, p. 422-444,
maio/ago. 1997; MADOZZO, Luis Ramon. Derecho procesal civil: medidas conminatorias.
Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 1, p. 154-160, jan./abr. 1996.
21 Note-se, contudo, que, “como importa saber os resultados que estão sendo produzidos no
plano do direito material, até para que se possa indagar se o processo está correspondendo
àquilo que dele se espera, a ‘tutela liminar’ que pode ser postulada em uma ação inibitória ou
em uma ação de remoção do ilícito, com fundamento nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC, deve
ser classificada como tutela inibitória antecipada ou tutela de remoção do ilícito antecipada, e
não como tutela cautelar.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica. São Paulo: Revista
dos tribunais. 2000, p. 58).
22 “As astreintes correspondem a uma coação de caráter econômico, no sentido de influírem no
ânimo do devedor, psicologicamente, para que cumpra a prestação de que se está esquivando.
É combinação de tempo e de dinheiro. Quanto mais o devedor retardar a solvência da obrigação, mais pagará como pena. Daí o conceito de Liebman: ‘chama-se astreinte a condenação
pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a obter do devedor o cumprimento da obrigação de fazer
pela ameaça de uma pena suscetível de aumentar indefinidamente. A medida é cominatória, e
não expiatória. Sua finalidade é de fazer o devedor cumprir a obrigação.” (LIMA, Alcides de
Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense. 1974, p. 775).
23 A coerção patrimonial não ostenta finalidade ressarcitória; ao contrário, visa desestimular o
obrigado a descumprir a obrigação. De fato, as astreintes não visam obrigar o réu a pagar o
valor que elas exprimem, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Nesta
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
355
Nesta linha, poder-se-ia argumentar que o alimentante que, porventura
não tenha condições de cumprir a obrigação, por maior razão, não terá condições de cumprir a obrigação acrescida da cominação diária.
Este argumento padece de um grave equívoco, pois não consegue vislumbrar que a outra forma de coerção, consistente na prisão do obrigado, por razões
lógicas, não satisfaz a pretensão do autor.
Ademais, ainda que se concretize a prisão do alimentante, esta forma de
coerção, além de não evitar a repetição do ilícito, não é apta, por si só, a removê-lo, como se depreende, inclusive, do disposto no artigo 733, § 2º do Código
de Processo Civil. Logo, se é certo que a prolação da ordem, fundada exclusivamente na cominação de multa diária, visando a remover, ou inibir a repetição de
ilícitos, também não é apta, por si só, a removê-los ou evitá-los, não menos certo
que, nas hipóteses em que o alimentante tenha condições de cumprir a obrigação de sustento, seria eficaz para evitar que o adimplemento se verificasse
somente na iminência da prisão civil, fato não raro na prática forense.
Além disso, se é certo que a coerção patrimonial não garante ao alimentando que o seu direito não será novamente violado, o mesmo pode se dizer em
relação à ordem para o cumprimento da obrigação, sob pena de prisão.
Outrossim, as astreintes, além de substituírem a ordem de prisão, que muitas
vezes se revela inoperante, evitam ensejar um ambiente de violência física,
embora amparada em lei.24
Portanto, é perfeitamente possível a concessão da tutela inibitória visando
impedir a prática do ilícito consistente no inadimplemento do dever de sustento, ou a sua repetição, caracterizando, assim, os alimentos (provisórios) preventivos mandamentais (inibitórios) que, diante da peculiaridade do caso concreto,
deverá ser concedido na forma antecipada.
Ademais, em seara dos alimentos decorrentes do dever de sustento, a tutela inibitória em face de ilícito de eficácia continuada pode persuadir o réu a cessar ou mesmo remover o ilícito e, neste sentido, pode conduzir a um resultado
idêntico àquele que pode ser proporcionado pela tutela reintegratória.25
linha, “o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. (...)
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação na forma
específica.” (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais. 1997. p. 673).
24 Não se pretende, com isto, negar a aplicação da coerção física, tampouco relegar o ‘discutível’
roteiro estabelecido nos artigos 16, 17 e 18 da Lei n.º 5.478/68, mas, sobretudo, diante da utilização fungível das técnicas inerentes à execução direta e indireta, difundir o emprego da coerção patrimonial no âmbito da tutela alimentar, especialmente no que concerne aos alimentos
decorrentes do dever de sustento.
25 “Como diz Genaro Carrió, ‘los juristas (no todos) se dan cuenta (no simpre) de estas cosas.
Cuando no los obsesiona el afán de alcanzar una inalcanzable seguridad, o el deseo de presentar, com fines didácticos, un cuadro de perfiles nítidos, libre de zonas grises, reconocen que ‘las
categorías jurídicas no presuponen identidad com las categorías y conceptos de otras ciencias,
sino que se inspiran más bien en los conceptos vulgares’ (Rotondi, Istituzioni di Diritto Privato,
356
faculdade de direito de bauru
Por esta razão, é freqüente a necessidade de cumulação de pedido reintegratório com pedido preventivo, inclusive, no âmbito dos alimentos decorrentes
do dever de sustento.
Pense-se, por exemplo, na hipótese de não cumprimento da obrigação de
sustento. Indubitavelmente, tal fato constituiria um ato ilícito e, como se sabe, o
alimentário poderá pleitear que o julgador determine o recebimento de alugueres e outras rendas do devedor, nos termos do artigo 17 da Lei n.º 5.478/68,
cominando, para a hipótese de continuação do ilícito, a incidência de multa,
medida inerente aos meios coercitivos. Assim, determinará a remoção do ilícito
independentemente da vontade do réu, bem como desestimulará o obrigado a
descumprir o dever de sustento.
Por outro lado, o magistrado pode determinar o pagamento dos alimentos
vencidos, sob pena de prisão, cominando, para a hipótese de continuação do ilícito, a incidência de multa, ou ainda, ordenar o pagamento dos alimentos vencidos sob pena de multa diária, cominando também, para a hipótese de continuação do ilícito, a incidência das astreintes.
Estes exemplos, além de ratificarem a fungibilidade das técnicas processuais que, aliadas à cognição sumária do julgador, permitirão, sempre que possível, a tutela específica do dever de sustento, comprovam, sobretudo, que a
tutela reintegratória, assim como a tutela preventiva, pode se valer das técnicas
mandamentais e executivas.
Outrossim, no que tange aos alimentos (provisórios) preventivos executivos, cujos meios de execução independem da vontade do alimentante, nada
impede a utilização, diante da probabilidade do não cumprimento da obrigação
de sustento, da tutela preventiva executiva que, em virtude do justificado receio
de ineficácia do provimento final, poderá ser concedida na forma antecipada,
visando a evitar a prática, a continuação ou repetição do ilícito.
Pense-se, por exemplo, nas hipóteses em que o genitor, trabalhador autônomo, de forma intermitente, reitera a prática de ilícito consistente no inadimplemento do dever de sustento. Caso venha a obter emprego, com renda fixa,
em localidade diversa, será possível, em face da probabilidade da reiteração da
prática do ilícito, a concessão de tutela preventiva executiva consistente no desconto em folha de pagamento que, diante do receio de ineficácia do provimento final, será concedida na forma antecipada. Tal provimento seria inerente aos
alimentos (provisórios) preventivos executivos antecipados, ou seja, uma das
formas de tutela específica do dever de sustento.
p. 412), y admiten que por fuerza ‘tenemos que tropezar con la imprecisión o relatividad de los
conceptos jurídicos’, pues existen numerosas zonas de transición, en las que el jurista debe
estar alerta para no caer en una peligrosa geometría jurídica.” (CARRIÓ, Genaro R. apud
MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. São Paulo: Revista dos tribunais. 1998, p. 425426).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
357
Perceba-se que, nas hipóteses em que o genitor esteja cumprindo a obrigação
de sustento, este fato, em razão da probabilidade da prática do ilícito, aferida em
virtude de vários inadimplementos anteriores, não impedirá a concessão da tutela
preventiva (mandamental ou executiva), inclusive na forma antecipada.
Sin embargo, dado que se trata de prestaciones sucesivas que tienem la misma causa, teniendo en cuenta que resulta imprescindible asegurar la cobertura de las necesidades del alimentado,
por el carácter asistencial de la cuota, la jurisprudencia prevaleciente coincide en hacer lugar ao pedido de embargo para
garantizar el cumplimiento de alimentos futuros cuando particulares ciscunstancias permitem inferir que no habrá un cumplimiento voluntario, aunque señalándose el carácter excepcional com que debe adoptarse la medida, ya que se trata de obligaciones aún no vencidas.
Procede, entonces la medida para garantizar los alimentos futuros cuando reiterados incumplimientos anteriores del demandado permitem suponer que hay riesgo de que incurram en nuevos incumplimientos, creando así una grave situación al alimentado, también cuando es posible inferir la intención del
deudor insolventarse mediante la enajenación o el ocultamiento de sus bienes, para tornar imposible el cumplimiento forzado
de su obligación en el futuro; también cuando se prueba su
intención de abandonar el país.
En tales casos, se configura el peligro en la demora que significaria aguardar al vencimiento de cada cuota futura para adoptar medidas tendientes al cobro; encuanto a la verosimilitud del
derecho resulta incuestionable ya que el crédito surge de la
cuota fijada en la sentença o el convenio homologado.26
É certo, outrossim, que estas hipóteses dependem do arcabouço probatório, a emergir no contexto da demanda. Todavia, tais fatores não podem constituir obstáculo para a admissão da tutela, pelo menos como possibilidade de prevenção do ilícito.
Com efeito,
la naturaleza de la función del juez no es reparar el daño, si
puede evitarlo, porque lo contrario reduce la función de los jue26 BOSSERT, Gustavo A. Régimen jurídico de los alimentos. Buenos Aires: Astrea. 1999, p. 521522.
358
faculdade de direito de bauru
ces y puede llegar a transformarlos en espectadores privilegiados de la consumación del perjuicio injusto, máxime en la esfera de los derechos personalísimos, donde se ha hecho carne la
evidencia de que la reparación pecuniaria es siempre insuficiente y donde está en juego el derecho de ser dejado a solas,
calificado como el más amplio de los derechos y el derecho más
valioso para los hombres civilizados.27
Como é óbvio, a tutela dos direitos inerentes à vida parte da premissa da
não ocorrência do ilícito, pois, se assim não fosse, para ter direito à tutela do
direito, este direito teria que estar violado; logo, a tutela atuaria de forma negativa, o que não se coaduna com os direitos da personalidade, de cunho estritamente não patrimonial.
De fato, nos exatos termos do artigo 12 do Código Civil, “pode-se exigir
que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei”.
Sendo assim, como a tutela inerente ao dever de sustento caracteriza uma
prestação de fazer ou de dar inerente aos direitos da personalidade, o sistema
processual, rompendo a ‘camisa de força’,28 deverá instrumentalizar, através de
técnicas adequadas às peculiaridades do direito material, de maneira eficaz, a
tutela alimentar, racionalizando, assim, a tarefa do judiciário.
4.
ALIMENTOS (PROVISÓRIOS) REINTEGRATÓRIOS: MANDAMENTAIS
E EXECUTIVOS
Como dito, o dever de sustento nasce da lei; é uma obrigação ex lege.29
Logo, tratando-se de violação de um dever legal, o ilícito, independentemente
27 GHERSI, Carlos Alberto. Teoría general de la reparación de dãnos. Buenos Aires: Astrea. 1999,
p. 408.
28 “O princípio de que o processo deve, tanto quanto possível, satisfazer o direito como se ele
estivesse sendo cumprido voluntariamente pelo devedor, a evidenciar o caráter instrumental
do processo, por si só, já seria capaz de romper a camisa de força com que a ciência do processo se vestiu ao reduzir o fenômeno executivo exclusivamente à execução obrigacional, estruturada em esquemas rígidos e esteriotipados, liberando-o para adequar-se, instrumentalmente, ao direito material que lhe cabe tornar efetivo e realizado.” (SILVA, Ovídio A. Baptista da.
Curso de processo civil. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1998, p.149).
29 Perceba-se que, “si el título de una obligación es la ley, las regras a las que dicha está sujeta son
aquellas que la misma ley señala.” (LOPEZ, Blas Piñar. La prestación alimentícia en nuestro
derecho civil. Madrid: Reus. 1955, p. 7). “Conforme a lo expuesto, la ley, al estabelecer el derecho y la obligación alimentaria, fundada en los vínculos de familia, no hace sino reconocer la
existencia del deber moral de solidaridad existente entre parientes y cónyuges, para convertirlo en la obligación civil de prestar alimentos. De manera que la fuente de la obligación alimentaria, fundada en los vínculos de familia, es la ley.” (BOSSERT, Gustavo A. Régimen jurídico de los alimentos. Buenos Aires: Astrea. 1999, p. 02).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
359
da existência de dano, deve ser removido desde logo. Para tanto, revela-se fundamental a técnica antecipatória.30
Assim, quando fixa os alimentos decorrentes do dever de sustento, o julgador não investiga a ocorrência de dano, conceito estranho à tutela dos alimentos provisórios, não havendo que se falar em tutela ressarcitória, mas numa
técnica que visa a remoção do ilícito de eficácia continuada.
Na verdade, em alguns casos, será fundamental a remoção do ilícito, via
cognição sumária, visando a evitar que somente a sentença viesse a determinar
o cumprimento do dever legal, a partir da constituição em mora do devedor.31
Nestas hipóteses, será fundamental a concessão da antecipação da tutela
dos alimentos decorrentes do dever de sustento, invertendo o ônus do tempo
do processo, tornando, assim, efetiva a prestação da tutela.
Destarte, nos termos da Lei n.º 5.478/68, o julgador não declarará que o
alimentante deve cumprir a obrigação de sustento e, por não tê-la cumprido, o
condenará; ao contrário, o julgador ordenará, ao final, o pagamento de um
quantum, cuja quantia será idêntica, ou não, àquela fixada nos termos do artigo
4º da cogitada Lei e que, por razões óbvias, comporta as técnicas mandamental
e executiva, desde logo. Com efeito, “o crédito alimentar mereceu generosas
atenções do legislador. Exemplo frisante deste singular tratamento desponta na
predisposição de vários meios executórios.”32
Uma delas consiste na possibilidade de receber o demandante as
quantias que lhe sejam devidas mediante desconto em folha de
pagamento. Esse expediente, prático e vantajoso para o credor, porque dispensa as formalidades e percalços inerentes ao procedimento da apreensão e expropriação forçada de bens, não encontra dificuldade quando o devedor tiver a situação de funcionário público,
militar, diretor ou gerente de empresa, empregado sujeito à legislação do trabalho, ou outra equiparável, não se devendo considerar
taxativa a enumeração do artigo 734, caput: o essencial é que se
trate de pessoa remunerada periodicamente, de maneira constante,
por trabalho ou profissão que exerça.33
30 “Remover o ilícito não significa apenas remover um ato concreto, de eficácia continuada, mas
também eliminar uma situação de ilicitude que pode concretizar-se em uma atividade ilícita
ou na não-observância de um fazer, imposto por norma legal.” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Tutela específica. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, . p. 140).
31 De outra forma, a sentença serviria mais para ‘indenizar’ o requerente que para satisfazê-lo,
com a probabilidade de se tornar inoperante, devido, inclusive, ao princípio in praeteritum non
vivitur que, indubitavelmente, também se refere ao presente.
32 ASSIS, Araken. Manual do Processo de Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 683.
33 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. Rio de janeiro: Forense.
2000, p. 260. Por outro lado, partindo-se da premissa que a situação econômica do obrigado
não possibilite o desconto em folha de pagamento ou a expropriação de alugueres de prédios
360
faculdade de direito de bauru
Outrossim, a remoção do ilícito consistente no inadimplemento do dever
de sustento também pode se verificar em virtude dos meios coercitivos (físico ou
patrimonial). Neste caso, com o cumprimento da obrigação de sustento em atraso, o ilícito de eficácia continuada restaria removido.
Como se vê, quando o julgador determina o pagamento sob pena de prisão ou sob pena de multa, está, na verdade, utilizando uma técnica mandamental que visa remover ou cessar a repetição do ilícito.
Sendo assim,
la fijación de astreintes queda librada al prudente criterio
del juez, quien, entre otros aspectos, tendrá em cuenta si el
solicitante invoca un simple incumplimiento de un mes
determinado, lo que difícilmente induzca a la fijación de
sanciones, o si en cambio, señala un reiterado incumplimiento del alimentante, que tipifica una conducta, en cuyo
caso las astreintes resultan justificadas.
Lo razonable es que ante un retardo o incumplimiento de
pago total, a requerimiento del alimentista se intime al deudor a cumplir adecuadamente su obligación, bajo apercibimiento de astreintes; en caso de mantenerse la resistencia, se
hará efectivo el apercibimiento, estableciéndose la sanción
pecuniaria respecto a los períodos que se deben y respecto de
los posteriores. Aun cuando se dispongan otras medidas
para inducir al cumplimiento, podrán disponerse astreintes;
de manera que éstas no se hallan supeditadas a la esterilidad de aquellas otras medidas.34
Assim, esta ordem (mandamento) pode pressionar o réu a remover o ilícito e, neste sentido, conduzir a um resultado idêntico àquele que pode ser proporcionado pela tutela reintegratória, fundada na técnica de sub-rogação. Logo,
caso o requerido venha a efetuar o pagamento dos alimentos vencidos, em relação à estes, estaremos diante de uma tutela tipicamente reintegratória, embora
fundada numa técnica coercitiva.
ou de quaisquer outros rendimentos do devedor, a tutela reintegratória, em relação ao ilícito
materializado nas obrigações vencidas, poderá ser efetivada através do meio expropriatório
consistente na penhora, nos termos dos artigos 646 e 732 do Código de Processo Civil, bem
como, do artigo 18 da Lei n.º 5.478/68.
34 BOSSERT, Gustavo A. Régimen jurídico de los alimentos. Buenos Aires: Astrea. 1999, p. 527528. Assim, “l’astreinte può essere chiesta, pronunciata e liquidata anche là dove l’inadempimento o il ritardo non abbia, in effetti, arrecato nessun danno al creditore.” (CENDON, Paolo.
Le misure compulsorie a carattere pecuniario. Processo e tecniche di attuazione dei diritti.
Napoli: Jovene, 1989. p. 298).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
361
Destarte, tendo em vista o princípio da elasticidade processual, nada impede a formulação de pedido reintegratório, que utilize, dependendo das peculiaridades do caso concreto, as técnicas inerentes à coerção e sub-rogação.
Outrossim, como já foi dito, em alguns casos, a utilização da coerção patrimonial revelar-se-á mais útil às diversas situações de direito material, notadamente nas hipóteses em que se tem entendido que, em se tratando de prestações vencidas, não está presente àquela ‘função alimentar’, que justifica a utilização da medida tão grave como a prisão do devedor.
Por outro lado, na hipótese em que o obrigado, em virtude da cominação
dos meios de coerção, passe a cumprir o dever de sustento a partir da intimação
da ordem, o ilícito, referente aos alimentos vencidos, não estará removido.35
Portanto, em suma, no âmbito da tutela dos alimentos provisórios, não há
como olvidar a possibilidade da cumulação de pedido reintegratório, confortado pelos meios de coerção ou pelos meios de sub-rogação, com pedido inibitório, sendo este implementado pela cominação de multa, visando impedir a continuação ou repetição do ilícito.36
Deixe-se claro, contudo, que isto não significa dizer que não haja tutela
ressarcitória que veicule o direito à alimentos ou que a tutela alimentar sempre
se caracterize como uma tutela que visa prevenir ou remover o ilícito.
É evidente, porém, que a tutela específica do dever de sustento sempre se
caracterizará como uma tutela preventiva mandamental (inibitória) ou executiva, ou
ainda, reintegratória mandamental ou executiva, prestadas isoladamente ou, havendo compatibilidade, em conjunto. Este âmbito esgota os alimentos provisórios.
Note-se, outrossim, que a tutela que veicula os alimentos indenizativos,
decorrentes de fato danoso, ostenta natureza ressarcitória, cuja efetividade pode
ser assegurada, inclusive, pelo arresto, que, por razões óbvias, não terá caráter
preventivo na perspectiva do direito material, ostentando, apenas, o caráter preventivo sob a ótica processual. Todavia, os alimentos provisionais não se esgotam nesta hipótese.37
35 Nesta hipótese, dependendo do período em atraso, segundo a jurisprudência dominante, não
será possível a aplicação da prisão, o que evidencia, outrossim, a utilidade da coerção patrimonial, sem afastar, todavia, a possibilidade da utilização dos meios de sub-rogação, como, por
exemplo, o meio expropriatório.
36 “Esse entendimento é reforçado pela orientação consagrada na recente reforma do Código de
Processo Civil, uma vez que ao juiz foram conferidos poderes para determinar as medidas executivas – quer sub-rogatórias, quer coercitivas – mais adequadas ao caso concreto. Assim, foi
assinalada a tendência em ampliar ao máximo, observados apenas os limites impostos pela
situação concreta, os instrumentos à disposição do juiz para garantir a efetiva prestação da
tutela específica.” (GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta. São Paulo: Revista dos tribunais. 1998, p. 231).
37 Basta pensar, por exemplo, nos alimentos provisionais concedidos em virtude da relação de
parentesco na linha reta, excluída a hipótese de dever de sustento (alimentos provisórios), ou
na linha colateral, bem como, nos casos inerentes à sociedade conjugal, ou ainda, relativos à
união estável. “Contudo, no plano jurídico, isto não significa que os alimentos ‘provisionais’
362
faculdade de direito de bauru
Nesta linha, embora possa traduzir uma insurgência em relação ao tema,
estas peculiaridades, especialmente sob a óptica da independência do ilícito e
do dano e da distinção entre dever e obrigação, justificam a análise, ainda que
perfunctória, dos alimentos provisionais ressarcitórios.
5.
A TUTELA ALIMENTAR RESSARCITÓRIA (OBRIGAÇÃO ALIMENTAR)
DIANTE DA TUTELA ALIMENTAR PREVENTIVA E REINTEGRATÓRIA
(DEVER DE SUSTENTO): REFLEXO DA DISTINÇÃO ENTRE ILÍCITO
E DANO
Reafirme-se, em princípio, que a tutela ressarcitória leva em consideração
a ocorrência de dano, exigindo, em regra, o elemento subjetivo, isto é, a culpa
ou o dolo.
Entretanto, como já foi dito, a obrigação de indenizar pode surgir sem
qualquer ilicitude do ato. Destarte, se é mais freqüente a indenização dos danos
causados por atos ilícitos, devido à distinção entre ilícito e dano, é perfeitamente possível que a indenização resulte de um ato sem qualquer ilicitude.38
Sendo assim, diante de danos oriundos da prática de atos lícitos, como não
é possível a prevenção ou remoção de tais atos (lícitos), a única tutela concebível, nestas hipóteses, é a tutela ressarcitória.
Com efeito, por força do artigo 947 do Código Civil brasileiro, quando se
trate de obrigação de reparar o dano, derivados de atos ilícitos ou atos lícitos, a
pretensão à restauração ao status quo ante, deve, na medida do possível, se dar
in natura e, somente quando isso seja impossível, é que, em lugar disso, se há
de exigir a indenização em dinheiro.
Destarte,
a indenização em natura tende à eliminação dos danos concretos ou reais. Por ela, procura-se restabelecer o estado de fato que
existia ao tempo da infração. A indenização em pecúnia presta
o valor do que se perdeu ou do dano causado. Ambas tem por
finalidade recompor, ainda que somente pelo valor, o que era.39
não sejam provisórios, pois podem ser revogados a qualquer tempo. Por outro lado, os alimentos ‘provisórios’ materializam a provisão (no sentido de prover) do requerente, devido à
natureza eminentemente satisfativa. (...) Daí resulta a impropriedade do termo ‘alimentos
definitivos’.” (OLIVEIRA, Flávio Luís de. A antecipação da tutela dos alimentos provisórios e
provisionais. São Paulo: Malheiros. 1999, p. 50). Com efeito, a identidade estrutural e funcional dificulta a sistematização do tema, perfeitamente possível, contudo, diante da diversidade
procedimental, compreensível à luz do âmbito de incidência.
38 Basta pensar, por exemplo, nos artigos 929 e 930 do Código Civil. “Quando o sistema jurídico
atribui a alguém, por ato lícito, o dever de reparar o dano causado, é o princípio da incolumidade da pessoa e dos bens que está à base das regras jurídicas.”
39 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 9. Rio de
Janeiro: Editora Borsói. 1971, p. 26.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
363
Frise-se, contudo, que na hipótese dos alimentos previstos no artigo 948,
inciso II, do Código Civil, o direito tutelado ostenta natureza extrapatrimonial e,
portanto, não pode ser um reflexo da equivalência entre os respectivos instrumentos. Importa dizer, se é certo que é possível, embora não seja a forma ideal,
tutelar um direito de conteúdo não patrimonial através do equivalente pecuniário, não menos certo é o fato de que a tutela prestada em pecúnia não é apta,
por si só, a justificar a natureza patrimonial do direito tutelado.40
Indubitavelmente,
el valor de la vida humana no resulta apreciable com criterios
exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe
ceder frente a una comprensión integral de los valores, materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana
y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se
trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar
una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según
el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes
económicos com el trabajo. Resulta incuestionable que en tales
aspectos no se agota la significación de la vida de las personas,
pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida
económica integran también aquel valor vital de los hombres.41
Com efeito,
casos há em que o sistema jurídico cria pretensão à indenização,
por parte de terceiro. O terceiro que sofre o dano pode, segundo as
circunstâncias, ser legitimado à indenização. Assim, se morre A,
que estava obrigado a alimentar B, ou B e C, quer por força de lei,
quer em virtude de negócio jurídico, o ofensor, por ato ilícito ou,
conforme a espécie, por ato lícito, tem de prestar a B, ou a B e C,
os alimentos que A teria de prestar, se vivo fôsse.42
40 Destarte, a indenização em dinheiro, não há de confundir-se com a prestação prometida em
dinheiro.”.
41 GHERSI, Carlos Alberto. Teoría general de la reparación de daños. Buenos Aires: Astrea. 1999,
p. 414.
42 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 9. Rio de
Janeiro: Editora Borsói. 1971, p. 38.
364
faculdade de direito de bauru
Nesta linha, Zannoni adverte que
si el daño es indirecto, es decir, perjuicio patrimonial que acaece como consecuencia de la lesión o menoscabo de un interés
extrapatrimonial de la víctima, la reposición no puede interesar
el bien jurídico personal afectado, pues sólo es posible, a lo
sumo, indemnizar las consecuencias patrimoniales (daño emergente o lucro cesante) que el menoscabo o pérdida de esse interés extrapatrimonial provoca. Veamos algunos ejemplos. El
homicio hace nacer la obligación de indemnizar a los damnificados indirectos (cónyuge supérstite e hijos menores – art. 1084,
Cód. Civil-, u otros damnificados) lo necesario para su subsistencia, u otros lucros del muerto, en función de la pérdida de la
vida que allegaba esos recursos econômicos a tales damnificados, No hay reparación in natura posible, pues ello equivaldría
a resucitar al muerto.43
Entretanto, diante destas peculiaridades e, principalmente, da finalidade da
prestação alimentar, não se revela adequado sujeitar a pretensão aos entraves do procedimento ordinário, materializados, sobretudo, no binômio condenação-execução.
Logo, tratando-se de alimentos provisionais ressarcitórios, a hipótese se
amolda às tutelas específicas da obrigação alimentar. Advirta-se, porém, que não
se trata de almejar a restituição ao estado anterior no que tange à vítima, fato
indubitavelmente impossível, mas tão somente o cumprimento da obrigação alimentar que, comumente, será prestada em pecúnia.44
Outrossim, diante das peculiaridades do caso concreto, nada impede que
a obrigação seja prestada através de um fazer, ou ainda, conjugando o fazer e o
dar. Portanto, de qualquer forma, a hipótese está perfeitamente ajustada às prescrições dos artigos 461 e 461-A, do Código de Processo Civil, permitindo, assim,
a utilização das técnicas de coerção e sub-rogação, a fim de tornar efetiva a tutela do direito alimentar, inclusive, na forma antecipada.
43 ZANNONI. Eduardo A. El dano en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Astrea. 1993, p. 224.
44 “Com efeito, consistindo a prestação alimentícia em uma obrigação de dar quantia certa em
dinheiro, a sua tutela executiva deveria ser prestada, em princípio, através da execução por
quantia certa. No entanto, a peculiaridade dos créditos alimentares justifica, e até mesmo
impõe ao legislador, a utilização de meios executivos diferenciados (...). Nessa perspectiva, é
oportuno sublinhar, desde logo, que a regra do art. 732, mandando que a execução das prestações alimentícias se faça segundo o procedimento da execução por quantia certa, não deve
ser entendida literalmente. Na verdade, numa interpretação sistemática, tal dispositivo é de ser
compreendido como a determinação (óbvia) do legislador, no sentido de que, se infrutíferos
os meios executivos específicos para satisfazer as prestações alimentícias, sejam aplicadas as
regras da execução por quantia certa.” (GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 1998, p. 215).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
6.
n.
44
365
CONCLUSÕES
Portanto, a conjugação das técnicas mandamental e executiva, além de
demonstrar a insuficiência da classificação trinária (tradicional) das ações, revela, sobretudo, a racionalização do custo-benefício do processo no plano temporal, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.
Assim, os mecanismos de coerção e sub-rogação dispostos no ordenamento jurídico, aplicáveis à luz do princípio da proporcionalidade, demonstram a
prioridade e a importância da tutela específica, ressaltando o corolário da ‘elasticidade processual’.
Dentre estes procedimentos, construídos à luz das diversas situações de
direito material, implementadas pelos diferentes graus de cognição do julgador,
frisante particularidade depreende-se do dever de sustento.
Destarte, embora se trate de um direito vinculado à personalidade, materializado em um dos meios de se usufruir o direto à vida, de caráter nitidamente não patrimonial, o dever de sustento, calcado na autoridade parental, além de
justificar a restrição à liberdade do alimentante, comporta a utilização dos meios
de sub-rogação e coerção.
Por esta razão, a obrigação de sustento se qualifica por uma infungibilidade meramente jurídica que não se confunde com o caráter alternativo da prestação, consistente no fazer ou dar, ou ambos, a ensejar o poder-dever do julgador no que concerne à utilização fungível das técnicas processuais, de maneira
a tutelar adequadamente o direito material.
Outrossim, diante da violação do dever de sustento, não há que se falar em
uma tutela voltada ao dano, pois as suas peculiaridades não condizem com o
paliativo sistema de conversão em perdas e danos.
Assim, sob esta óptica, é possível afirmar que a predisposição de técnicas
mandamentais e executivas à tutela alimentar, já demonstrava, há muito, a incoerência da equiparação entre o ilícito e o dano para efeito de reparação civil, pois,
muito embora a prática do ilícito, o ordenamento jurídico, nesta hipótese, não
se contenta com a conversão em perdas e danos.
É inolvidável que o procedimento contemplado pela Lei de Alimentos sempre denotou a especificidade dos ‘alimentos provisórios’ em relação aos ‘alimentos provisionais’. Assim, como se vislumbra, ainda que num olhar rápido, ou
– para ser mais preciso – via cognição sumária, as peculiaridades do ‘dever’
quando comparado com a ‘obrigação’, em todas as suas modalidades.
Poderíamos experimentar a mesma sensação quando pronunciássemos: ‘tenho’
(alimentos provisórios) ou ‘peço’ (alimentos provisionais).
Entretanto, como a tutela alimentar não está catalogada dentre os ‘procedimentos especiais’, era preciso justificar este poder ‘interdital’ de forma a manter íntegra a classificação trinária das ações. Sendo assim, o legislador, além das
366
faculdade de direito de bauru
prescrições contidas na Lei n.º 5.478/68, entendeu ‘seguro’ permitir, expressamente, como se depreende do artigo 733 do Código de Processo Civil, a execução de ‘decisão’ que fixa alimentos.
Assim, a tutela inerente ao dever de sustento, importa dizer, de um direito da personalidade, por caracterizar uma prestação de fazer, ou de dar, meramente infungível, admite, em busca de uma solução no interesse do beneficiário, a teor do disposto no artigo 4º da Lei n.º 8.069/90, a utilização das técnicas
mandamental e executiva, com a predisposição dos meios de coerção e subrogação, de modo a permitir a satisfação do direito a alimentos, inclusive, de
forma antecipada.
Como se vê, é inegável que os artigos 461 e 461-A, do Código de Processo
Civil, permite-nos reconhecer, no âmbito do dever de sustento, uma tutela específica, a qual podemos designar de ‘tutela específica do dever de sustento’, um
verdadeiro ‘interdito alimentar’, caracterizado não apenas pela cognição sumária e pelo juízo de verossimilhança, mas, sobretudo, pela ‘internalização’ das eficácias executiva e mandamental, de modo a superar a rigidez do processo de
conhecimento e a ser proclamado com a mesma facilidade com que se proclama
os ‘interditos possessórios’, embora como maior ênfase, devido ao seu conteúdo não patrimonial.
Assim, poderíamos nos referir à tutela específica do dever de sustento, inerentes aos alimentos provisórios, como uma tutela preventiva (mandamental
(inibitória) ou executiva) ou reintegratória (mandamental ou executiva), prestadas isoladamente ou, havendo necessidade, em conjunto, principalmente via
cognição sumária.
Nesta linha, revela-se perfeitamente possível, na ação que tenha por objeto o fazer ou a entrega de coisa, a concessão da tutela específica, aplicando-se as
disposições previstas nos artigos 287, 461 e 461-A do Código de Processo Civil,
inclusive no que tange à imposição de multa diária ou a adoção das medidas
necessárias para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente.
Isto demonstra, indubitavelmente, que a ciência processual tem procurado preordenar os mecanismos necessários à efetividade da tutela jurisdicional
específica, fundamento da instrumentalidade do processo.
Portanto, cabe aos operadores do direito, através de imprescindível “reforma ideológica”, contribuírem para que os entraves à efetividade do processo
sejam enfrentados e, sobretudo, superados.
REFERÊNCIAS
ASSIS, Araken de Assis. Da execução de alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1998.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
367
BOSSERT, Gustavo A. Régimen jurídico de los alimentos. Buenos Aires: Astrea, 1999.
CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
CENDON, Paolo. Le misure compulsorie a carattere pecuniario. Processo e tecniche di
attuazione dei diritti. Napoli: Jovene, 1989.
COLIN, Ambrosio; CAPITANT, H. Curso elemental de derecho civil. Traducción por
Demófilo de Buen. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1952.
DEGNI, Francesco. Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano. Padova:
Cedam, 1943.
FERNANDES, Iara de Toledo. Alimentos provisionais. São Paulo: Saraiva, 1994.
FERREIRA, Pinto. Investigação de paternidade, concubinato e alimentos. São Paulo:
Saraiva, 1984.
________ Curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1998.
GHERSI, Carlos Alberto. Teoría general de la reparación de daños. Buenos Aires:
Astrea, 1999.
GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.
GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1998.
LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. v. VI, tomo II.
Rio de Janeiro: Forense, 1974.
LOPEZ, Blas Piñar. La prestación alimenticia en nuestro derecho civil. Madrid: Reus,
1955.
MADOZZO, Luis Ramon. Derecho procesal civil: medidas conminatorias. Revista de
Direito Processual Civil, Curitiba, v. 1, p. 154-160, jan./abr. 1996.
MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
________Tutela específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil.
Tomo IX e X. Rio de Janeiro: Forense, 1976.
_______ Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo VII. Rio de Janeiro:
Forense, 1997.
______ Tratado de direito privado. tomo IX e XXVI. Rio de Janeiro: Borsói, 1971.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Processo civil e direito à preservação da intimidade. In:
Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1980.
_______ Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: Temas de Direito Processual.
São Paulo: Saraiva, 1980.
368
faculdade de direito de bauru
_______ Notas sobre o problema da efetividade do processo. In: Temas de Direito
Processual. São Paulo: Saraiva, 1984.
_______ O novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
___________ Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1997.
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. A tutela de urgência e o direito de família. São
Paulo: Saraiva, 1998.
________ Comentários ao Código de Processo Civil, v. VIII, tomo II. Rio de Janeiro:
Forense, 1988.
OLIVEIRA, Flávio Luís de. A tutela antecipatória e os alimentos provisionais: uma breve
análise. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 9, p. 471-472, jul./set. 1998.
________ A antecipação da tutela dos alimentos provisórios e provisionais cumulados à ação de investigação de paternidade. São Paulo: Malheiros, 1999.
________ O caráter não patrimonial do dever de sustento na perspectiva constitucional. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 39, p. 163-176, 2004.
_________ A jurisdição na perspectiva da dignidade da pessoa humana. Revista
Nacional de Direito, Ribeirão Preto, v. 53, p. 11-18.
OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de; MUNIZ, Francisco José Ferreira. Direito de família (Direito Matrimonial). Porto Alegre: Sergio A. Fabris, 1990.
SESSAREGO, Carlos Fernández. Protección a la persona humana. In: Daño y protección
a la persona humana. Buenos Aires: La Rocca., 1993.
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil. v. 1, 2 e 3, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1998.
_______ Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1996.
ZANNONI, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial
Astrea, 1993.
ZAVALÍA, Fernando López de. La tutela de las obligaciones de hacer, y de no hacer en el
derecho argentino. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 5, p. 422-444,
maio/ago. 1997.
A alteração do regime de bens autorizada
judicialmente: como proceder para que ela
produza efeitos?
Lydia Neves Bastos Telles Nunes
Mestre e Doutora em Direito pela PUC-SP.
Professora nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito
da Instituição Toledo de Ensino - Bauru.
Professora Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Integração do Centro de
Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino-Bauru.
Professora Orientadora do Núcleo de Iniciação Científica da Faculdade de Direito de Bauru-ITE.
Palavras-chave: Família, regime patrimonial do casamento, princípios dos regimes de
bens, alteração do regime na constância do vínculo, posicionamentos para produzir efeitos, registro da sentença, (ou) lavratura da escritura pública (com registro e averbação),
cônjuges, ou um deles, empresários.
O matrimônio não é só relação jurídica, mas – e antes de tudo
– relação moral. O direito apenas dá normas à expressão exterior do casamento. Daí os seus múltiplos efeitos: uns grafados,
por sua importância, como deveres e direitos decorrentes do ato
do matrimônio; outros, de menor alcance, que entram na dedução dos assuntos à medida que se faz sentir a sua influência, e
outros, enfim, de caráter moral, que são corolários imediatos da
afeição recíproca. Só o estudo dos primeiros compete à técnica
do direito (MIRANDA: 2001, 105).
370
1
faculdade de direito de bauru
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A família é objeto de preocupação de todos os povos porque é fundamental para a sobrevivência da espécie humana, reconhecida que é como célula
mater da sociedade.
A família originada pelo casamento não é a única entidade que tem proteção especial do Estado, após a Carta Magna de 1988; todavia, só ela tem a regulamentação cogente a respeito dos regimes de bens a vigorar na relação matrimonial, e, assim, ela será objeto dos comentários que serão elaborados.
O casamento civil produz efeitos civis, pessoais e patrimoniais para as relações entre os cônjuges, entre esses e terceiros de boa-fé que com eles celebram
negócios jurídicos, e também entre os cônjuges e os filhos de cada um deles e
os comuns.
Diante de tal afirmação, constata-se a importância do estudo das questões
patrimoniais do casamento, bem como a estrutura dos regimes de bens durante
o matrimônio.
A comunhão de vida (individua vitae consuetudo), que o casamento estabelece entre a mulher e o marido, não pode deixar de
exercer influência sobre os bens que os cônjuges trazem para o
casal e sobre os que de futuro adquirirem (PEREIRA: 1956, 160).
O regime patrimonial do casamento é o estatuto de bens das pessoas casadas, entendendo-se por bens todos os direitos que têm valor pecuniário.
2.
PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS REGIMES DE BENS ADOTADOS
PARA O CASAMENTO
O ordenamento jurídico brasileiro, para regular as questões patrimoniais
do casamento, fundamentou-se em três princípios: o da variedade de regimes, o
da liberdade das convenções antenupciais e o da mutabilidade justificada do
regime adotado.
O princípio da variedade de regimes. A lei civil brasileira não impõe um
só regime matrimonial aos nubentes, mas oferece quatro tipos diferentes: o da
comunhão universal, o da comunhão parcial, o da separação e o da participação
final dos aqüestos. Este último, embora inovação do Código Reale, já é adotado
como regime legal em vários países (Alemanha, Áustria, Suíça, entre outros), e
como regime convencional, na França, por exemplo.
Os diversos regimes estabelecidos pela lei civil podem ser classificados em
dois grandes grupos: o dos regimes comunitários e o dos regimes não comunitários. No primeiro grupo estão incluídos os regimes em que se estabelece patri-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
371
mônio comum dos cônjuges, e no segundo grupo estão os regimes em que só
existe patrimônio particular de cada um dos cônjuges.
Os regimes comunitários são os que atendem à comunhão de vidas que se
estabelece com o casamento. Os regimes não comunitários são os que dão maior
liberdade de ação para os cônjuges na administração e disposição do patrimônio particular, uma vez que não necessitam da anuência do consorte para atos
de alienação, conforme dispõe o Art. 1.647 do Código Civil: “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro,
exceto no regime da separação absoluta: ...” (grifou-se).
O princípio da liberdade das convenções antenupciais. O Código Civil
não fixa imperativamente um regime determinado, com exclusão de todos os
outros. Como corolário do princípio da variedade de regimes, constata-se a
liberdade que os nubentes têm de escolher o regime que lhes convier.
Essa liberdade também permite aos nubentes a combinação dentre os
vários regimes existentes, criando um especial, através da estipulação de cláusulas, que deverão respeitar a ordem pública e os bons costumes.
Leciona San Tiago Dantas a respeito da liberdade das convenções, tendo
como objeto o regime de bens a vigorar no casamento:
A idéia que prevalece na consciência jurídica moderna é de que,
sobre o regime de bens, os cônjuges podem estipular livremente
quanto queiram. Isto já vem da Antigüidade, do tempo em que
se estipulava no pacto antenupcial o dote, com todas as suas
peculiaridades e formas. Hoje, pelo contrato antenupcial, as
partes podem convencionar o regime que preferirem e podem
mesmo estabelecer, a respeito de certas categorias de bens, normas próprias extravagantes, que não estão geralmente contidas
em alguns dos regimes típicos estabelecidos. A solução do legislador brasileiro é diferente da do suíço. O suíço manda que se
escolha, no pacto antenupcial, um dos regimes típicos. O legislador brasileiro vai mais longe, permitindo: ou que se escolha
um dos regimes típicos, ou que se escolha um regime original,
sendo que, pela disposição dos regimes conhecidos, podem-se
introduzir peculiaridades a respeito de certas classes de bens
(DANTAS: 1991,263).
A escolha do regime que vigorará durante o casamento, se for pelo regime
legal (da comunhão parcial de bens), ficará constando do assento do casamento. Do contrário, optando os nubentes por outro regime, far-se-á a escritura do
pacto antenupcial. Portanto, pode ser afirmado, como fez Pontes de Miranda,
que a determinação do regime de bens no casamento é de tão relevante inte-
372
faculdade de direito de bauru
resse público e particular que se tornou necessário presumir-se a existência de
pacto tácito, a fim de se submeterem os bens dos cônjuges a um dos sistemas
cardiais (MIRANDA: 1971, 214).
O pacto antenupcial, portanto, é facultativo, porém necessário, quando os
nubentes fazem a opção por regime de bens diverso do legal, que por esse motivo é denominado regime supletivo (NUNES: 2005, 77).
Excepcionalmente, em alguns casos, a lei determina que o casamento
deverá se realizar sob o regime da separação de bens, denominado regime obrigatório da separação de bens. O artigo 1.641 do Código Civil estabelece:
É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas
suspensivas da celebração do casamento;
II - da pessoa maior de sessenta anos;
III – de todos os que dependerem, para casar, de suprimento
judicial.
O princípio da mutabilidade justificada do regime adotado é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Na vigência do CC 1916, o princípio
norteador dos regimes de bens do casamento era o da imutabilidade do regime adotado.
Desde há muito, os doutrinadores das várias partes do planeta condenam
a adoção da imutabilidade dos regimes de bens no casamento, uma vez que significa uma restrição à liberdade dos cônjuges, no tocante ao regime de bens no
seu casamento. Muitas vezes, é recomendável a alteração do regime de bens, e,
quanto aos terceiros, basta que a lei estabeleça a ressalva aos seus direitos, como
fez o atual Código Civil.
Ensina o Professor Diogo Leite de Campos:
A proteção de terceiros obter-se-á facilmente se a lei estipular
que as alterações à convenção antenupcial, não podem vir prejudicar esses terceiros. Tendendo-se, assim, como aliás propõe a
generalidade dos autores, tanto em Portugal como nos outros
países, para uma imutabilidade flexível e controlada. Os cônjuges deverão poder alterar as convenções antenupciais, desde que
fundamentem essa alteração e ela seja aprovada pelo tribunal
(CAMPOS: 1997, 385).
O Código Reale não impõe requisitos para o pedido de modificação do
regime matrimonial. É aconselhável, para que se evite fraudes, condicionar o
exercício dessa faculdade a requerimento de ambos os cônjuges. Inadmissível a
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
373
alteração unilateral. Também necessário a justificação do pedido, que será acolhido pelo juiz, se os motivos forem plausíveis (NUNES: 2005, 81).
O pedido de modificação do regime de bens adotado no casamento, tendo
sentença favorável e, em conseqüência, autorizando a alteração, deverá ser levada a registro para que se tenha a publicidade necessária, e assegurar os direitos
cujos títulos sejam anteriores àquele registro.
Já ensinava o Professor Orlando Gomes, muito antes da vigência do novo
Código Civil:
Conviria, por último, admitir a mutação do regime matrimonial
adotando-se a seguinte regra: ‘Se a desordem nos negócios de qualquer dos cônjuges puser em risco os interesses da família, o juiz, a
requerimento do outro, pode determinar a separação de bens, ressalvado os direitos de terceiros.’ A modificação do regime matrimonial exigirá sentença judicial. A mulher poderá defender-se, e aos
filhos do casal, contra as estroinices ou os desacertos do marido,
usando o remédio judicial que se lhe ofereceria. A modificação não
seria permitida unicamente nessas circunstâncias excepcionais. (...)
O direito de Família aplicado, isto é, aquele que disciplina as relações patrimoniais entre os cônjuges, não possui o cunho institucional que se atribui ao Direito de Família puro. Tais relações se estabelecem mediante pacto pelo qual tem os nubentes a liberdade de
estipular o que lhes aprouver. A própria lei põe à sua escolha diversos regimes matrimoniais e não impede que combinem disposições
próprias de cada qual. Por que proibir que modifiquem cláusulas do
contrato que celebraram, mesmo quando o acordo de vontades é
presumido pela Lei? Que mal há na decisão de cônjuges casados pelo
regime da separação de o substituírem pelo da comunhão? (GOMES:
1984, 18 e 19p.).
Alguns países já adotam a possibilidade de alteração do regime de bens, na
constância do casamento, podendo ser mencionada a Alemanha, Suíça, França,
Itália e Espanha.
No BGB, está assim estipulado no parágrafo 1.408:
Os cônjuges podem regular as suas relações jurídico-patrimoniais por contrato (contrato nupcial), em particular [podem]
também, depois da celebração do casamento, invalidar ou
modificar o regime de bens.
Na legislação francesa, os cônjuges, de comum acordo, estão
autorizados a mudar completamente o regime de bens (por
374
faculdade de direito de bauru
exemplo, substituir completamente o regime de separação pelo
regime de participação final nos aqüestos) ou a realizar modificações parciais (transferir a administração ao marido dos bens
próprios de sua mulher). (OLIVEIRA e MUNIZ: 1990, 376).
3.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS NA CONSTÂNCIA
DO CASAMENTO
O Art. 1.639 do Código Civil no seu parágrafo 2º estabelece:
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização
judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a
procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de
terceiros.
Os cônjuges que pretendem a alteração do regime de bens adotado para
o seu casamento devem atender os seguintes requisitos: que o regime de bens
seja legal ou convencional e não obrigatório; que haja concordância de ambos
os cônjuges na modificação pretendida; que haja motivação do pedido e que
essa motivação seja relevante para operar-se a alteração do regime de bens; que
o pedido de ambos os cônjuges seja deferido pelo juiz; e que sejam respeitados
os eventuais direitos de terceiros, conforme lição do Professor Nelson Nery
Junior (NÉRY JUNIOR: 2005, 776).
Se um dos cônjuges não concorda, impossível será o pedido. Neste caso,
não se admite o suprimento judicial do consentimento porque o cônjuge tem
direito de manter o regime de bens adotado para o casamento. Sendo o pedido
de modificação situação excepcional, deve ter interpretação restritivamente.
Assim, pode ser dito, conforme ensina o Professor Nelson Nery Junior,
que é incabível pedido judicial contencioso. É juridicamente
impossível, ensejando extinção do processo sem julgamento do
mérito (CPC 267 VI), porque a lei somente autoriza a modificação do regime de bens se ambos os cônjuges estiverem de acordo
quanto a isso.
Alteração do regime de bens. Requisitos. Jornada ISTJ 113:
É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges,
quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por
ambos os cônjuges será objeto de autorização judicial, com ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após
perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
375
O pedido de modificação do regime de bens adotado deve ser dirigido ao
juiz competente, segundo as regras de organização judiciária, por ação própria,
em procedimento de jurisdição voluntária, sendo postulado por advogado
comum.
A solenidade exigida para a alteração cuida para que os cônjuges realizem
suas pretensões sem causar prejuízos a terceiros, o que se alcança através de
exame cuidadoso que o magistrado faz no pedido apresentado.
Não existe prazo mínimo ou máximo, após o casamento, para que se possa
pleitear a alteração.
Na petição inicial, devem os requerentes estabelecer, à semelhança do que
se faz no pacto antenupcial, todas as cláusulas que pretendem a respeito do regime de bens que vigorará após a modificação. Se os cônjuges fizerem a opção por
um dos regimes estabelecidos na lei civil, basta que façam a menção do regime,
e as regras legalmente estabelecidas, regularão as relações patrimoniais naquele
casamento.
A motivação do pedido deverá ser relevante. Os motivos caprichosos não
serão considerados pelo magistrado. O fato de os cônjuges passarem a ter atividades profissionais próprias e autonomia financeira, sendo conveniente a existência de patrimônios separados e autônomos, é motivo suficiente para que o
juiz autorize a alteração, desde que assegurados os direitos de terceiros até a
data do registro da modificação.
A regra a ser observada é a seguinte: a mudança de regime de
bens apenas valerá para o futuro, não prejudicando os atos jurídicos perfeitos; a mudança poderá alcançar os atos passados se
o regime adotado (exemplo: substituição de separação convencional por comunhão parcial ou universal) beneficiar terceiro
credor, pela ampliação da garantias patrimoniais. Em relação
aos terceiros, especialmente os credores, aplica-se o princípio
geral fraus omnia corrumpit, não podendo a mudança de regime permitir aos cônjuges que ajam fraudulentamente contra os
interesses daqueles (LÔBO: 2003, 235).
Deferida a modificação requerida, como proceder para que a alteração
produza efeitos no mundo jurídico?
Existe o entendimento de que a sentença que defere o pedido de alteração
do regime de bens determina a expedição de Alvará que autoriza a escritura pública que deverá ser lavrada (tal qual sucede com o pacto antenupcial), e esta será levada a registro junto ao Oficial de Registro Civil, à margem do assento do casamento,
bem como junto ao Oficial do Registro de Imóveis. Deve-se também ser providenciada a averbação junto à matrícula dos imóveis pertencentes aos cônjuges reque-
376
faculdade de direito de bauru
rentes da modificação, conforme dispõe a Lei n. 6.015/73, Lei de Registro Públicos
para as convenções antenupciais, no Art. 167, inc. I, 12 e inc. II, 1.
No caso de serem os cônjuges, ou um deles, empresários, a alteração do
regime de bens deve ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas
Mercantis, a exemplo da exigência que se faz ao pacto antenupcial, e a eventual
partilha de bens na dissolução da sociedade conjugal, conforme dispõe o
Código Civil nos Artigos 979 e 980.
“(...) Deferida a modificação do regime de bens do casamento de
comunhão parcial para separação, devendo constar da escritura pública que ficam ressalvados os direitos de terceiros” (12ª.
Vara Central de Família e Sucessões de São Paulo-SP, Proc. N.
000.03.026973-3, Juiz João Batista Silvério da Silva, Sentença de
11.4.2003, in Cadernos jurídicos da Escola Paulista da
Magistratura, n. 15, maio-junho/2003, São Paulo, pp. 33/40).
Constata-se, atualmente, a tendência crescente da adoção da escritura
pública para a prática de atos diversos. Tem-se notícia de Projeto de Lei que
prevê a separação consensual do casal por meio de escritura pública, afastando
do judiciário a homologação do acordo estabelecido pelos ex-consortes, tendo
a participação apenas do representante do Ministério Público que fiscaliza o
cumprimento da lei.
Assim, a escritura pública, para concretizar a modificação do regime de
bens autorizada judicialmente, estaria consoante a moderna tendência da adoção da via administrativa para a prática de atos referentes às relações familiares.
Deve ficar consignado outro entendimento, no sentido da desnecessidade
da escritura pública para que a alteração do regime de bens que vigora no casamento produza efeitos no mundo jurídico.
A sentença que acolhe o pedido de modificação determina a expedição de
mandato judicial, que deverá ser levado a registro, conforme mencionado anteriormente, obedecendo às disposições sobre o registro do pacto antenupcial.
Se, no pedido inicial, formulado pelos cônjuges e submetido à apreciação
judicial, ficar minuciosamente estabelecida a alteração pretendida, desnecessária
a escritura pública, bastando o traslado, que apresentado ao Oficial do Registro,
seria o documento hábil para os registros necessários.
Alteração do regime de bens. Ato judicial. Desnecessidade de
lavrar-se escritura pública. “A pretensão deduzida pelos recorrentes que pretendem adotar o regime da comunhão universal
de bens é possível juridicamente, consoante estabelece o CC 1639
parágrafo 2º e as razões postas pelas partes são bastante ponde-
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
377
ráveis, constituindo o pedido motivado de que trata a lei e que
formulado pelo casal. Assim, cabe ao julgador a quo apreciar o
mérito do pedido e, sendo deferida a alteração de regime, desnecessário será lavrar escritura pública, sendo bastante a expedição do competente mandato judicial. O pacto antenupcial é
ato notarial: a alteração do regime matrimonial é ato judicial
(TJRS, 7ª. Câm. Civ., Ap. 70006423891-Farroupilha, rel. Des.
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 13.82003, v.u.) (NERY
Jr.: 2005, 776).
Conclui-se afirmando: tendo a lei estabelecido que a alteração do regime
de bens na constância do casamento deve ser promovida mediante pedido justificado que será submetido à apreciação judicial, a sentença que acolher o pedido, e, em conseqüência, autorizar a modificação, deverá ser o instrumento hábil
para o registro, sendo desnecessário que se lavre escritura pública, até por motivo de economia, uma vez que o pedido judicial já enseja despesas ao casal, com
custas processuais e honorários advocatícios.
Exigir que a alteração seja promovida por instrumento público, dará
ensejo a novas despesas, que seriam evitadas com a expedição de mandato
judicial, o qual deverá preencher os requisitos necessários para que se proceda ao registro.
A alteração do regime de bens na constância do casamento deve obedecer a uma série de requisitos que se observados, tornam o ato judicial,
autêntico.
A lei não estabelece, para a produção de efeitos, a forma solene do ato a
ser levado a registro, como faz com o pacto antenupcial. Portanto, deve ser
entendido que a sentença é a materialização da pretensão dos cônjuges, apreciada pelo juiz, e que atende aos requisitos necessários para produzir todos os
efeitos no mundo jurídico.
A título de comparação, deve ser lembrado, aqui, a aquisição da propriedade pela usucapião, que se completa com o registro da sentença que julga procedente o pedido do usucapiente.
Da mesma forma, a sentença que acolhe o pedido de modificação do regime de bens no casamento, é título hábil ao registro.
O tema encontra-se, ainda, sem um posicionamento firmado pelos nossos
Tribunais.
Mostrou-se que existem decisões nos dois sentidos: para que a modificação autorizada possa produzir seus efeitos, a sentença deverá ser registrada, ou,
a escritura pública deverá ser lavrada.
378
faculdade de direito de bauru
REFERÊNCIAS
Código Civil Alemão. Traduzido diretamente do alemão por Souza Diniz, Rio de Janeiro:
Record, 1960.
GOMES, Orlando. O novo Direito de Família. Porto alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
1984, 18 e 19p.
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil comentado: direito de família, relações de parentesco, direito patrimonial: arts. 1.591 a 1.693, volume XVI / Paulo Luiz Netto Lôbo; Álvaro Villaça Azevedo (coordenador), São Paulo: Atlas, 2003.
MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito de Família, v. 2 (Direito Matrimonial). v. 6 (Parte
Geral) e tomo VIII (Parte Especial), atualizado por Vilson Rodrigues Alves, v. 2,
Campinas: Bookseller, 2001.
________________. Tratado de Direito Privado. Parte especial. Tomo VIII, 3a. ed.,
Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971.
NERY Jr., Nelson. Código Civil comentado e legislação extravagante: atualizado até 15
de junho de 2005. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3ª. ed. rev., atual. E
ampl. Da 2ª.ed. do Código Civil anotado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. Direito de Família. Regime Matrimoniais de Bens.
Leme (SP): J.H.Mizuno, 2005.
OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de e MUNIZ, Francisco José Ferreira. Direito de
Família (Direito Matrimonial), Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1990.
PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direitos de Família. Anotações e adaptações ao Código
Civil por José Bonifácio de Andrade e Silva, 5a. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956.
DESBUROCRATIZAÇÃO DO DIVÓRCIO CONVERSÃO.
PROJETO DE LEI QUE PREVÊ A CONVERSÃO AUTOMÁTICA
DA SEPARAÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA EM DIVÓRCIO,
DECRETADA JUDICIALMENTE, APÓS DECORRIDO
O PRAZO LEGAL1
Maria Isabel Jesus Costa Canellas
Advogada civilista atuante e Professora de Direito Civil na Faculdade
de Direito de Bauru – SP – ITE.
Mestre em Direito pela Instituição Toledo de Ensino e em Letras pela USC – Bauru.
Supervisora Editorial da RIPE – Revista do Instituto de Pesquisas e
Estudos (DivisãoJurídica) da ITE - Bauru.
Presidente do Núcleo Regional do IBDFAM (Bauru - SP).
Pesquisadora-membro do Núcleo de Pesquisa Docente da
Faculdade de Direito de Bauru – ITE.
Membro da equipe dirigente do NIC da ITE –
Núcleo de Iniciação Científica da Instituição Toledo de Ensino.
RESUMO
O presente trabalho apresenta uma análise crítica de um Projeto de Lei, o
qual recebeu o n.º 5.698/2005, de autoria do Deputado Ivo José (PT – MG) na
Câmara dos Deputados. Propõe o Projeto de Lei a alteração de dois dispositivos
1
Projeto dispensa nova ação para divórcio após separação. Pauta – 26/9/2005 15h14, homepage:http://intranet.Camara.gov. Br/internet/agencia/comente.asp?pk=75434, recebida em
3/10/05, 17h45 por e-mail: ‘[email protected]’.
380
faculdade de direito de bauru
do novo Código Civil brasileiro, prevendo a conversão automática da separação
definitiva em divórcio, decretada judicialmente, após decorrido o prazo legal,
sem que qualquer das partes tenha manifestado arrependimento durante esse
interregno de tempo.
Palavras-chave: Análise crítica, Projeto de Lei, Câmara dos Deputados, de ofício, separação judicial, divórcio, manifestação de arrependimento, espaço de tempo legal.
1.
A POSTULAÇÃO CAUSAL DO PROJETO DE LEI
O Projeto de Lei N.º 5.698/2005, do deputado IVO JOSÉ (PT-MG), que institui o divórcio conversão ex officio, após decorrido o prazo de um ano, contado este do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação
judicial definitiva, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de
corpos do casal, sem que qualquer das partes tenha manifestado arrependimento durante esse interregno de tempo, encontra-se na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC), da Câmara Federal, em caráter conclusivo.2
A legislação civilista atual, o novo Código Civil de 2002 (Lei 10.406 de
10/01/2002), frustrou a grande expectativa dos operadores do direito de família
porque a matéria, eivada de críticas e questionamentos, não sofreu os ajustes
exigidos pela evolução doutrinária e jurisprudencial, incidiu em várias incoerências, lacunas na lei e, ainda, retrocedeu em alguns aspectos.3 Além disso,
manteve as figuras da separação judicial e do divórcio nos mesmos moldes ultrapassados da lei revogada.
Se aprovado o Projeto de Lei, com certeza dará início a uma avalanche de
avanços significativos, correções necessárias, solucionando os impasses provocados pelas lacunas na lei, e no que diz com a temática da separação judicial e
do divórcio no Código Civil de 2002.
No entanto, para que se proceda à análise da postulação causal do Projeto
de Lei, é necessário relembrar alguns aspectos relevantes, atinentes à matéria.
Em primeiro lugar, deve-se partir do novo conceito de família.
Reconhece o estudioso Rodrigo da Cunha Pereira4 que, desde as últimas
décadas do século passado, a família, perdeu a importância como um núcleo
essencialmente econômico e de reprodução onde prepondera a superioridade
2
3
4
Tramitação.
O
PL
5698/05
será
analisado
em
caráter
conclusivo.
homepage:http://intranet.Camara.gov. Br/internet/agencia/comente.asp?pk=49806, enviada
em 3/10/05, 17h36 por e-mail: ‘[email protected]’.
LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil Aplicado, v 5: direito de família. São Paulo: RT, 2005,
p. 137.
A culpa no desenlace conjugal. In Direito de Família e Ciências Humanas. São Paulo: Jurídica
Brasileira, 2000, (Cadernos de Estudos: n. 3), p. 136.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
381
masculina, para tornar-se, antes de tudo, o espaço do companheirismo e do
afeto. Igualdade, solidariedade, afeto e amor são os valores nos quais se fundamenta a família moderna. Este momento histórico está vinculado, como se disse,
ao declínio do patriarcalismo, que por sua vez vincula-se ao movimento feminista iniciado na década de 60. Os valores morais vêm se alterando nas últimas
décadas. A conjugalidade não é mais a mesma prevista no Direito positivo. Os
estudiosos do Direito de Família vêm proclamando à exaustão, que o Direito de
Família está evoluindo para a desbiologização da paternidade e a legislação mostra a relevância da filiação sócio-afetiva.
Com o rompimento da vida em comum ou do relacionamento íntimo dos
conviventes (casados ou não), emerge uma das mais dolorosas formas de perda:
a separação. A separação de casais, principalmente dos pais, significa desmontar
uma estrutura: de caráter patrimonial, emocional e, por vezes, espiritual; de “status” perante a sociedade, solidão e culpa para alguns, revanchismo para outros
etc., instalando-se, freqüentemente, o litígio conjugal.
O processo judicial, seja amigável ou litigioso, geralmente é sustentado em
uma situação de desafeto, desamor, cobrança, vingança e até de ódio - quando
o casal não está preparado para separar as questões objetivas das subjetivas.
Com todo esse borbulhante clima familiar, fácil entender porque a separação e
o divórcio, principalmente quando litigiosos, se transformam em um eternizante processo de degradação do outro, onde o sofrimento é a marca principal,
segundo o pensamento de Rodrigo da Cunha Pereira. Vai mais longe o autor, ao
afirmar que:
O Judiciário é o lugar onde as partes depositam seus restos. O
resto do amor e de uma conjugalidade que deixa sempre a sensação de que alguém foi enganado, traído. Como a paixão arrefeceu e o amor obscureceu, o “meu bem” transforma-se em “meus
bens”. E aí um longo e tenebroso processo judicial irá dizer
quem é o culpado da separação. Enquanto isso, não se separa.
O litígio, aliás, é uma forma de não se separar, pois enquanto
isso a relação continua. Já que não podem relacionar-se pelo
amor, relacionam-se pela relação prazerosa da dor.5
É importante lembrar que, no passado, quando o Código Civil de 1916
entrou em vigor, em 1.º de janeiro de 1917, o casamento, em nosso País, era
indissolúvel. O que se denominava de “desquite” (ou seja, não quite, alguém em
débito para com a sociedade) autorizava a separação judicial dos cônjuges, mas
não rompia e nem dissolvia o vínculo matrimonial.
5
Ibid., p. 138.
382
faculdade de direito de bauru
Semelhante situação ocorre no presente, a separação judicial, embora com
nova roupagem, foi mantida e põe fim à sociedade conjugal, mantendo ainda
íntegro o vínculo matrimonial, de forma que os cônjuges não poderão convolar
novas núpcias, sem atender o prazo previsto em lei para sua conversão em
divórcio. Desse modo, conforme esclarece o professor Eduardo de Oliveira
Leite, a separação judicial é, pois, uma medida preparatória da ação do divórcio:
pode ocorrer dissolução da sociedade conjugal, sem a dissolução do vínculo
matrimonial, mas toda dissolução do vínculo matrimonial acarreta o fim da
sociedade conjugal.6
Toda separação é judicial, isto é, depende da decisão ou da homologação
judicial; entretanto, o gênero “judicial” admite duas espécies, a saber:
A - Separação judicial consensual (ou, por mútuo consentimento dos
cônjuges se forem casados por mais de 1 ano) art. 1.574. Somente é admissível
se o casamento perdurar por mais de um ano, manifestada “amigavelmente”
pelo casal, a vontade de se separarem perante o juiz. Nesse caso, ato contínuo,
a convenção será homologada.
Este artigo e seu “ilegítimo” parágrafo são as únicas regras do novo Código
que regulam a separação consensual.
Deve ser ressaltado, neste ponto do trabalho, o sentido interessante e próprio que adquirem as palavras, uma vez compreendidas e incorporadas ao linguagem popular. É o caso, por exemplo, da matéria que ora está sendo apresentada ao leitor, descrita pela jurista Maria Berenice Dias:7
Como o desfazimento do vínculo do casamento depende de
chancela estatal, a ação que visa à sua desconstituição será
sempre judicial. No entanto, convencionou-se reservar o uso da
expressão “separação judicial” quando a ação é intentada por
um dos cônjuges, na qual necessariamente terá o autor que justificar o pedido, imputando ao outro a “culpa” pela separação.
Quando mútua é a vontade das partes e o pedido é formulado
de forma conjunta, chama-se de separação amigável ou consensual, ainda que a ação não deixe de ser judicial. Portanto,
quando se fala em separação judicial se está a referir à ação
proposta por um cônjuge contra o outro. Se o réu anuir ao pedido, ocorre a conversão da separação judicial em separação consensual, ainda que tal não subtraia a juridicidade da demanda.
6
7
Ob. cit., pp. 138-141.
Da Separação e do Divórcio. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha
(Coords.). Direito de família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 69.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
383
B - Separação judicial litigiosa (ou não-consensual), efetivada por iniciativa da vontade unilateral de qualquer dos consortes ante as causas legais –
arts. 1.572 e 1.573, combinados com art. 1.566; destacando-se entre a variada
tipologia do processo contencioso, a separação judicial litigiosa, com fundamento na culpa de um dos cônjuges.
Luiz Felipe Brasil dos Santos, no belíssimo trabalho, “A Separação Judicial
e o Divórcio no novo Código Civil brasileiro”,8 apregoa:
A contundente crítica de PONTES DE MIRANDA permite constatar
que a adoção do princípio da culpa como fundamento do desquite (e, depois, da separação judicial) constituiu sempre tradicional foco de controvérsia. Já em 1979, o insigne civilista JOÃO
BAPTISTA VILLELA insurgia-se veementemente contra a incorporação desse princípio em nosso ordenamento jurídico, afirmando:
“Vício seríssimo da lei é o de ainda se estruturar sobre o velho e
decadente princípio da culpa. A mais significativa evolução, que
se processa hoje no mundo em matéria de divórcio, é o abandono
do princípio da culpa ( Verschuldensprinzip) em favor do princípio da deterioração factual (Zerruttugsprinzip). De um lado, não
cabe ao Estado intervir na intimidade do casal para investigar
quem é culpado e quem é inocente nesta ou naquela dificuldade
supostamente invencível. Depois, haverá algo mais presunçoso do
que se crer capaz de fazê-lo? Dizer quem é culpado e quem não o
é, quando se trata de um relacionamento personalíssimo, íntimo
e fortemente interativo como é o conjugal, chegaria a ser pedante, se antes disso não fosse sumamente ridículo. Nem os cônjuges,
eles próprios, terão muitas vezes a consciência precisa de onde
reside a causa de seu malogro, quase sempre envolta na obscuridade que, em maior ou menor grau, impregna todas as relações
humanas” (citado por RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, in A
Sexualidade vista pelos tribunais, 2. ed. Porto Alegre-RS: Síntese,
IBDFAM, já./mar., 2002, p. 225).
Observe-se que a eficácia jurídica só ocorre com a decisão ou homologação judicial da separação, que perderá sua eficácia com a reconciliação – art.
1.577. A propósito, talvez a única “vantagem” da separação judicial: consensual
ou litigiosa é que a condição de separado permite, a todo tempo que as partes
restabeleçam a sociedade conjugal, por ato regular do juiz, nos mesmos autos
8
In Revista Brasileira de Direito de Família, v. 3, n. 12. Porto Alegre: SÍNTESE, IBDFAM,
jan./mar., 2002, p. 148.
384
faculdade de direito de bauru
do processo original. Tal não ocorre com o casal que se divorcia – pode se reconciliar, de fato. Só haverá reconciliação de direito se voltar a casar novamente com
a mesma pessoa.
Com referência às causas da separação litigiosa, a nova legislação retrocedeu, pois, além de ter criado um verdadeiro “embaralhamento” nos dispositivos legais, para usar a expressão da jurista Maria Berenice Dias, cometeu verdadeiros equívocos, colocando em choque, por exemplo, os efeitos da sentença da
separação (art. 1.575) com as seqüelas da separação judicial (art. 1.576); a necessidade de fazer a partilha de bens na ação de separação judicial (arts. 1.575 e
1.576) e posicionamento contrário, expresso no art. 1.581, todos do Código
Civil vigente.
Por fim, as três espécies de separação litigiosa, constantes na Lei do
Divórcio permanecem presentes no novo sistema codificado, a saber:
A – A separação litigiosa como sanção, ocorre quando um dos cônjuges imputar ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deves conjugais e a insuportabilidade da vida em comum (art. 1.572). Os deveres conjugais
são aqueles arrolados no atual art. 1.566. Quanto à insuportabilidade da vida em
comum, a determinação é casuística e de ordem subjetiva, cabendo a cada cônjuge alegá-la e comprová-la (art. 1.573. Por outro lado, esclarece Luiz Felipe
Brasil Santos9, já invocado no presente artigo, que:
Nesse sentido, aliás, foi a proposta (não acolhida, pela
Comissão de Redação da Câmara Federa) da Comissão de
Acompanhamento do Código Civil, do Instituto Brasileiro
de Direito de Família – IBDFAM, formulada nos seguintes
termos: [Grifou-se]
“...o art. 1.573, surpreendentemente – em formulação que lembra o antigo art. 317 (hoje revogado), do CCB – trata de elencar
os motivos que ‘podem’ ensejar a ‘impossibilidade da vida em
comum’. Trata-se, é certo, de hipóteses meramente exemplificativas (‘podem’), mas de todo desnecessárias, ante a formulação
genérica do artigo anterior.
‘Ademais, para tornar ainda mais patente a incongruência e desnecessidade desse rol de hipóteses, o parágrafo único do art. 1.573,
em regra que merece encômios, concede, de forma bastante abrangente, ao juiz a possibilidade de ‘considerar outros fatos, que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum’.
Vê-se, assim, que o Projeto não guarda coerência, pois (1) em um
primeiro momento, formula hipóteses relativamente abertas
9
Ibid., pp. 151-154.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
385
(nos moldes da LD), (2) depois, sem qualquer necessidade, exemplifica motivos específicos e, finalmente, (3) para arrematar, dá
total liberdade ao juiz para considerar quaisquer outras causas.
Ou seja, primeiro abre uma janela, depois fecha a janela e, por
fim, abre todas as janelas e até mesmo a porta!
Impõe-se, pois, uma melhor sistematização, com a adoção de
uma regra única, coerente, e que enseje certa liberdade ao juiz
para decretar a separação judicial sempre que ficar evidenciada a impossibilidade da manutenção da sociedade conjugal
pela insubsistência da affectio conjugalis, com ou sem ocorrência de culpa.
B – A separação litigiosa como falência, ocorre quando qualquer dos
cônjuges prova a ruptura da vida em comum há mais de 1 (um) ano consecutivo e a impossibilidade de sua reconstituição (art. 1.572, § 1.º).
C – A separação litigiosa como remédio, ocorre quando um dos cônjuges está acometido de grave doença mental de cura improvável (art. 1.572, §§
2.º e 3.º). O prazo a doença para obtenção da separação que, na lei divorcista,
era de cinco anos, passa, agora, a ser de dois anos.
Aduz o jurista Eduardo Oliveira Leite:10
A possibilidade do juiz negar a separação nas hipóteses de separação falência e separação remédio, prevista no art. 6.º da Ldi, quando verificasse que ela poderia constituir causa de agravamento
das condições pessoais ou da doença do outro cônjuge ou determinar ... conseqüências morais de excepcional gravidade para os
filhos menores, deixa de existir no novo sistema codificado.
2.
ESPÉCIES DE DIVÓRCIO, PRAZOS E APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI
A separação e o divórcio são dois institutos com um só fim e, ainda que se trate
de institutos distintos, merecem apreciação conjunta, pois ambos são elencados
como modalidades que põem fim à sociedade conjugal (inc. III e IV do art. 1.571),
mas a identidade entre eles termina aí. Isto ocorre porque o próprio § 1.º deste artigo estabelece a principal distinção entre os dois, ao especificar que somente a morte
e o divórcio dissolvem o casamento, ou seja, rompem o vínculo matrimonial.11
Nesse mesmo sentido, destaca a desembargadora Maria Berenice Dias:12
10 Op. Cit., p. 143.
11 Ibid., p. 65.
12 Ibid., pp. 65-66.
386
faculdade de direito de bauru
Paradoxalmente, a separação põe termo ao casamento, mas não o
dissolve, flagrando-se uma certa incongruência entre tais afirmativas. Dizer que a sociedade conjugal “termina” pelo divórcio e
pela separação, mas que o casamento só se “dissolve” pelo divórcio [e pela morte] causa, no mínimo, uma certa perplexidade.
A redação atual do art. 1.580 do novo Código reafirma as duas hipóteses
de divórcio: indireto ou via conversão e o divórcio direto.
O divórcio indireto (ou via conversão) dá-se após o transcurso do lapso
temporal de 1 (um) ano, contado como termo inicial, o trânsito em julgado da
sentença de separação, ou retroagindo a contagem do prazo à data da concessão da medida cautelar de separação de corpos. No caso de conversão em divórcio da separação judicial, não constará referência à causa que a determinou - §
1.º e pode ser requerido por qualquer das partes.
O divórcio direto poderá ser requerido por um ou ambos os cônjuges, no
caso de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. - § 2.º.
Se aprovado, o Projeto de Lei N. 5.698/20005 altera os artigos 1.577 e
1.580 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – novo Código Civil brasileiro, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, tendo cumprido
um período de vacância de um ano, após sua publicação, e substituído o
Código Civil antigo, elaborado em 1916. Nesse sentido, dispõe a redação dos
referidos dispositivos legais:
PROJETO DE LEI N. 5698 DE 2005
(Deputado Ivo José – PT-MG)
Altera os artigos 1577 e 1580 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei institui o divórcio ex officio, quando decorrido
o prazo de um ano da decretação da separação judicial sem que
qualquer das partes tenha manifestado arrependimento.
Art. 2°. O artigo 1577 do Código Civil passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo
como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a sociedade
conjugal, enquanto não decretado o divórcio.
Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito
de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado,
seja qual for o regime de bens. (NR)”
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
387
Art. 3°. O artigo 1580 do Código Civil passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou da decisão
concessiva da medida cautelar de separação de corpos, o juiz,
de ofício, converterá a separação em divórcio, se nenhuma das
partes alegar arrependimento.
§ 1º. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou.
§ 2º. O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os
cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de
dois anos. (NR)”
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A “JUSTIFICAÇÃO” DO
DEPUTADO IVO JOSÉ PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE
SUA AUTORIA
De tudo o que foi demonstrado e dito a respeito da análise crítica do
Projeto de Lei, o qual recebeu o n.º 5.698/2005, de autoria do Deputado Ivo José
(PT – MG) na Câmara dos Deputados, torna-se oportuno conhecer seus comentários, para bem entender-se o porquê de sua finalidade social. A esse respeito,
afirma seu autor:
JUSTIFICAÇÃO
Atualmente, grande parte dos casais separados judicialmente, embora não
se reconciliem, também não ingressam com a ação de divórcio para extinguir o
vínculo conjugal. Tal fato se deve aos elevados custos que representa, para maioria das famílias brasileiras, a necessidade de, via de regra, se submeter a dois processos judiciais para por fim ao casamento.
De fato, a exigência de se entrar com a ação de divórcio após decorrido um
ano da decisão que decretou a separação judicial resulta em acréscimos de despesas, prolonga sofrimentos evitáveis e expõe de maneira excessiva a intimidade
e a vida privada do casal no espaço público dos Tribunais.
Tendo isso em vista, o presente Projeto de Lei institui o divórcio ex officio,
quando decorrido o prazo de um ano da decretação da separação judicial sem que
qualquer das partes tenha manifestado arrependimento. Acredito que esse procedimento, sem estimular a dissolução do casamento, enxuga o Judiciário, ao evitar que,
após um ano da separação seja autuado novo pedido, dessa vez para o divórcio.
388
faculdade de direito de bauru
Não é nossa intenção, com a presente proposta, incentivar ou apoiar a ruptura de matrimônios. Seguimos firmes apoiando os princípios tradicionais que
delinearam essa sagrada instituição.
Feitas essas breves considerações, conclamo meus nobres pares a aprovarem o Projeto de Lei
Sala das Sessões, em de de 2005.
Deputado IVO JOSÉ
Considerando que interpretar é descobrir o sentido e o alcance da norma
jurídica, toda lei está sujeita a interpretação, não apenas as obscuras e ambíguas,
conforme é ensinado nas Academias de Direito. Assim e, a princípio, o sentido e o
alcance do artigo 1.º, do Projeto de Lei,13 objeto do presente trabalho, tem-se que:
Homologado ou decidido por sentença a separação judicial, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando eventual manifestação de arrependimento. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou mesmo da decisão concessiva cautelar de separação de corpos, os autos serão conclusos ao juiz, que converterá, de ofício, a separação em divórcio.
Apenas a título de esclarecimento, o significado da locução latina ex officio, que se traduz “oficialmente” ou “de ofício” é o ato processual que se pratica por imposição ou determinação legal, ou segundo os termos da lei, quando
no desempenho de uma função, sem que se torne necessário pedido ou requerimento das partes interessadas ou contendoras.
Parece não restar dúvida, enfim, em cultura como a nossa, de que grande parte dos casais separados judicialmente, embora não se reconciliem, também não ingressam com a ação de divórcio para extinguir o vínculo conjugal,
não regularizando seu estado civil, podendo esse comportamento gerar difíceis problemas para a nova família constituída, principalmente de natureza
sucessória.
Nesse quadro, encontram-se principalmente aquelas pessoas que buscam
no casamento sua realização pessoal, na situação de família, porque esta é um
organismo destinado a promover e garantir a dignidade da pessoa e o pleno
desenvolvimento de todas as suas potencialidades, ou seja, lugar de tutela da
vida e da pessoa humana. Logo, quando a família sente que falhou nesse papel,
pondo em risco a dignidade das pessoas e o processo de sua personalização,
ensina Antonio Cezar Peluso:14 “o interesse normativo na conservação do víncu13 “Art. 1.º Esta lei institui o divórcio ex officio, quando decorrido o prazo de um ano da decretação da separação judicial sem que qualquer das partes tenha manifestado arrependimento”.
14 PELUSO, Antonio Cezar. A culpa na separação e no divórcio (Contribuição para uma Revisão
Legislativa). In “Direito de Família e Ciências Humanas”. (Coords. Eliana Riberti Nazareth,
Maria Antonieta Pisano Mota). São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. (Caderno de Estudos: n.
2), p. 49.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
389
lo matrimonial e na coesão da família se desvanece... a separação e o divórcio
aparecem, então, como soluções extremas mas necessárias”.15
Não acredito que este fato se deve aos elevados custos de se submeter a dois
processos judiciais para pôr fim ao casamento, mesmo porque a ética profissional
do advogado determina que se tome por base a Tabela de Honorários Advocatícios.
O que encarece alguns tipos de ações, como uma partilha de grande porte e montante, seja por ato inter vivos seja por causa da morte, são os altos recolhimentos
de tributos e custas processuais. De resto, para aqueles que não podem realmente
pagar o mínimo, há outros meios como, por exemplo, os órgãos assistenciais: a
Procuradoria do Estado, a Assistência Judiciária da OAB e outros.
Conforme já afirmado, o processo judicial, seja amigável ou litigioso, geralmente é sustentado em uma situação de desafeto, de desamor, de cobrança, de
vingança e até de ódio – principalmente. Ora, com a separação judicial definitiva, as pessoas se livram daquele estado de sofrimento que enfrentavam junto a
ela e não querem sequer recordar “daquele dia” de degradação e, muitas vezes,
culpa, remorso.
Aliás, já foram lembradas alhures, as palavras de Rodrigo da Cunha Pereira
sobre o fim do amor. Diz o autor: “Os restos do amor levados ao Judiciário, para
que o Juiz sentencie quem é o culpado, acabam transformando-se, muitas vezes,
em verdadeira história de degradação da outra parte. Cada cônjuge quer atribuir
ao outro a culpa pelo fim do casamento”.16
Plena de verdade também se encontra a justificação do Deputado, de que
os verdadeiros operadores familistas sabem que não devem ocupar o Judiciário
para desenvolver longas demandas, com intensa carga de litígio e de ressentimentos, pois a falência conjugal é sempre obra de dois, dentro de uma relação
nupcial, em que foi prometida eterna fidelidade etc... A tentativa de conversão
dessas ações litigiosas em consensuais é dever do bom profissional.
Finalmente, quanto ao fato de esses procedimentos “incentivarem” mais
separações e divórcios, é atitude da ignorância ou de hipocrisia.
A propósito desse mesmo fato, quando da entrada em vigor da
Constituição brasileira de 1988, houve temor, a princípio, pois muitos leigos e
até mesmo operadores do direito afirmavam que as inovações constitucionais
vinham desintegrar a família; que a união estável, institucionalizando o concubinato, era um incentivo à promiscuidade, responsabilizando a liberdade dos
sujeitos pelo grande número de separações e divórcios. Sem dúvida, a crítica era
dirigida, principalmente, ao Direito de Família, que fora elevado ao plano da Lei
Maior - entre as normas constitucionais.
15 A culpa na separação e no divórcio (Contribuição para uma Revisão Legislativa). In “Direito
de Família e Ciências Humanas”. (Coords. Eliana Riberti Nazareth, Maria Antonieta Pisano
Mota). São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. (Caderno de Estudos: n. 2), p. 4.
16 A culpa no desenlace conjugal. Ob. cit., p. 146.
390
faculdade de direito de bauru
Na verdade, é cediço que quando os cônjuges chegam a procurar o Poder
Judiciário para uma separação judicial ou divórcio é porque o lar já está completamente desestruturado - está desfeito. Daí, a inutilidade e o desgaste, tanto
para o casal mas também para o Judiciário de dois procedimentos para manter,
juridicamente, durante o breve período de um ano, uma união que não existe
mais. A separação judicial não tem mais razão de ser como “estágio probatório”
de acesso ao divórcio. Igualmente, a noção de culpa perdeu o significado que
lhe atribuía o legislador civil. Na verdade, as inúmeras causas que levam o casal
a pleitear a dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo matrimonial estão
no sentimento e no coração.
REFERÊNCIAS
DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Direito de família e o novo
Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, pp. 65-66, 69.
DIAS, Berenice. Novos tempos, novos termos. In: Boletim IBDFAM – Instituto Brasileiro
de Direito de Família. Seção: Artigos – n. 24, ano 4, jan./fev., 2004, p. 5.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil brasileiro: direito de família. 17. ed. De
acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, v. 5, 2002.
FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
______. Família, direitos e uma nova cidadania. In: Família e cidadania: o novo CCB e
a vacatio legis – Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Coordenação
de Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, p. 15-22, 2002.
FACHIN, Rosana. Em busca da família no novo milênio. In: Família e cidadania: o novo
CCB e a vacatio legis – Anais do III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Coordenação
de Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, p. 59-69, 2002.
FARIAS, Cristiano Chaves de. Redesenhando os contornos da dissolução do casamento
(Casar e permanecer casado: eis a questão). In: Afeto, ética, família e o novo Código Civil
- Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. Coordenação de Rodrigo da
Cunha Pereira. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, p. 105-126, 2004.
FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser. Conjugalidade: descasamento, recasamento
e fim do amor. In: A família na travessia do milênio - Anais do II Congresso Brasileiro
de Direito de Família. Coordenação de Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, p. 93-104, 2000.
FIUZA, Ricardo (coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002.
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito civil: estudos. Belo Horizonte: Del
Rey, 2000, p. 21-31
LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito civil aplicado: direito de família, v. 5. São Paulo:
RT, 2005, pp. 137, 138-141, 143.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
391
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Repersonalização das famílias. In: Revista brasileira de direito
de família, n. 24. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, jun.-jul., p. 136-156, 2041.
MADALENO, Rolf. A infidelidade e o mito causal da separação. In: Revista brasileira de
direito de família, n. 11. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, out.-nov.-dez., p. 148-160,
2001.
PELUSO, Antonio Cezar. A culpa na separação e no divórcio (Contribuição para uma revisão legislativa). In: Direito de Família e Ciências Humanas. (Coords. Eliana Riberti
Nazareth, Maria Antonieta Pisano Mota). Caderno de Estudos n. 2, São Paulo: Jurídica
Brasileira, 2000. (Caderno de Estudos n. 2), pp. 4, 49, 146
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A culpa no desenlace conjugal. In Direito de Família e
Ciências Humanas. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, (Cadernos de Estudos: n. 3), pp.
136, 138, 146.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao direito civil constitucional.
Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
Projeto dispensa nova ação para divórcio após separação. Pauta – 26/9/2005 15h14,
homepage:http://intranet.Camara.gov.Br/internet/agencia/comente.asp?pk=75434, recebida em 3/10/05, 17h45 por e-mail: ‘[email protected]’.
SANTOS, Luiz Felipe Brasil. A separação judicial e o divórcio no novo Código Civil brasileiro. In: Revista brasileira de direito de família, n. 12. Porto Alegre: Síntese, jan./
mar., 2002, pp. 148, 151-154.
SILVA, Denise Maria Perissini da. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface da psicologia com direito nas questões de família e infância. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2003.
Tramitação. O PL 5698/05 será analisado em caráter conclusivo. homepage:http://intranet.Camara.gov. Br/internet/agencia/comente.asp?pk=49806, enviada em 3/10/05,
17h36 por e-mail: ‘[email protected]’.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 3 ed. Atualizada de acordo
com o Novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 2002.
A RESPONSABILIDADE PARENTAL CONJUNTA
APÓS A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO
Ney Lobato Rodrigues
Advogado.
Mestre em Direito Constitucional pelo Centro de Pós-Graduação da ITE.
Professor do Núcleo de Pesquisas e Integração do Centro de Pós-Graduação da ITE.
Pesquisador do Núcleo de Pesquisa Docente da Faculdade de Direito de Bauru/ITE, Professor de
Filosofia do Direito da Faculdade de Direito de Bauru/ITE.
Doutor, Livre Docente, Associado e Professor Titular de Bioquímica
pela UNESP, campus de Botucatu.
Aline Panhozzi
Acadêmica da Faculdade de Direito de Bauru/ITE.
Integrante do Núcleo de Pesquisas e Integração do Centro de Pós-Graduação da ITE e do
Núcleo de Iniciação Científica da Faculdade de Direito de Bauru/ITE.
Suéllen Siqueira Marcelino Marques
Quintoanista da Faculdade de Direito de Bauru/ITE.
Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas das Ciências Jurídicas
e Biológicas da Faculdade de Direito de Bauru/ITE.
RESUMO
Tendo em mente que a família é a base da sociedade, o presente trabalho
aborda, de uma forma genérica, a guarda dos filhos no Direito de Família
Brasileiro, dando-se especial ênfase à guarda compartilhada.
394
faculdade de direito de bauru
Embora este modelo de guarda – a guarda compartilha - ainda não tenha
sido instituída no ordenamento jurídico pátrio, esta merece uma especial atenção, vez que cada vez mais cresce o número de filhos com pais separados ou
divorciados.
A separação e o divórcio têm como maiores prejudicados os próprios
filhos que, na maioria dos casos, têm o contato com um dos pais muito diminuído, se não extirpado, prejudicando, assim, o crescimento da prole em vários
aspectos, como sociais, afetivos e psicológicos, resultando este último, muitas
vezes, em quadros depressivos.
Desta forma, procurou-se defender que a guarda compartilhada, ou seja, o
modelo de guarda em que a prole vive alternadamente com ambos os pais, como
sendo a melhor modalidade de guarda, desde que haja um mútuo consenso, não
podendo assim derivar de uma imposição legal.
Ademais, outro fundamento forte para a defesa da guarda compartilhada é
o fato de ela, por um lado, resguardar os direitos e deveres dos pais igualmente, tornando efetivo o Princípio da Igualdade entre homens e mulheres; e, por
outro lado, proporcionar um melhor desenvolvimento à prole, vez que ambas as
figuras, tanto paterna quanto materna, estarão constantemente presentes em
suas vidas, participando na tomada das decisões importantes, dividindo experiência e, acima de tudo, convivendo em harmonia.
Palavras-chave: guarda, guarda compartilhada, poder familiar.
1.
INTRODUÇÃO
Todo homem, ao nascer, torna-se membro integrante de uma entidade
natural, comumente chamada de organismo familiar, e a ela se conserva ligado
durante toda a sua existência. Mesmo com a constituição de uma nova família,
pelo casamento, os vínculos anteriores permanecem.
A família reveste-se, dentro de todas as instituições públicas e privadas, da
maior relevância, pois é ela o núcleo fundamental sólido em que se baseia toda
a organização social. Literalmente, como a própria Lei Maior do nosso país declara em seu art. 226, “a família é a base da sociedade”.
Segundo a definição de Clóvis Beviláqua, direito de família
é o complexo dos princípios que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam as relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal, a dissolução desta, as
relações entre os pais e filhos, o vínculo do parentesco e os institutos complementares da tutela, de curatela e da ausência.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
395
Assim, a família, a priori, é formada pelo casamento. Hodiernamente,
incluem-se no conceito de família, ou de entidade familiar, como bem elucida a
Constituição Federal, em seu parágrafo 4°, do artigo 226, a família monoparental – aquela formada por um dos pais e o(s) filho(s) – ou, até mesmo, a família
oriunda da união estável (inciso anterior ao mencionado alhures).
Também taxa nossa Lei Maior que o casamento, incluindo neste contexto
a união estável, se baseia na reciprocidade dos sexos. Esta união dos sexos ocorre, vulgarmente falando, por puro instinto animal, a fim de perpetuar a posse
recíproca de suas faculdades sexuais.
Nesta relação, o indivíduo humano se torna uma res - o que é contrário ao
direito de humanidade em sua própria pessoa -; entretanto, se pessoa é adquirida pela outra como uma res, esta mesma pessoa também adquire igualmente a
outra forma, reciprocamente, e desta forma, estabelece personalidade.
Pelas mesmas razões, a relação das pessoas casadas entre si é uma relação
de igualdade, no que diz respeito à posse mútua da res, com a finalidade precípua de perpetuar a espécie humana, aliada, obviamente, aos prazeres da carne.
Da procriação, segue-se o dever de preservar e criar os filhos. Entretanto,
os filhos, enquanto pessoas, têm um direito in natu original, que se difere do
mero direito hereditário, quer seja, de serem criados aos cuidados dos pais até
serem capazes de subsistirem por si próprios.
Desse modo, o que foi gerado – o filho - é uma pessoa, e é impossível pensar em um ser dotado de liberdade pessoal como sendo gerado apenas por processo físico, sem o desprendimento da responsabilidade dos pais, que a seu livre
arbítrio coloca-o no mundo. Este ato gerar prole sem o consentimento da
mesma vincula os pais à obrigação de deixá-la satisfeita com a condição assim
adquirida, de filhos.
Assim, os pais não podem considerar seus filhos uma res de sua própria
criação, como antigamente, onde o alto número de filhos por casais se dava em
função da necessidade de pessoas para trabalharem no campo, em economia
familiar. Esta situação não é mais passível de ser admitida nos dias atuais, pois os
filhos são seres dotados de liberdade, não podendo ser considerados um mero
objeto, que se manipula da forma que achar mais adequada.
Além do apresentado acima, é inerente aos deveres dos pais o controle e
instrução dos filhos enquanto estes forem incapazes. Toda esta instrução deve
continuar até que a criança atinja o período de emancipação.
Porém, como nada no direito nem na sociedade é estático, o direito de família vem apresentando mudanças. Mudanças essas conseqüentes das próprias
mudanças sociais, uma vez que o direito e a sociedade estão intimamente ligados.
A título de exemplo, antes, o pai era o cabeça da família, restando à mãe os afazeres domésticos. As mudanças econômicas fizeram com que as mulheres abandonassem seus lares em busca de empregos para complementarem a renda familiar.
396
faculdade de direito de bauru
As separações dos casais, sejam consensuais ou litigiosas, estão se tornando cada vez mais freqüentes no meio social. Não obstante, permanece inabalável a idéia de família, sustentando que a convivência familiar é um direito da
criança e do adolescente, não podendo este direito restringir-se em decorrência
da dissolução da sociedade conjugal.
A presente pesquisa procura determinar e avaliar, como se resolve o poder
familiar após a dissolução da sociedade conjugal, mais especificamente com relação à guarda da prole.
Os psicólogos, os assistentes sociais e os operadores do Direito devem se
irmanar, pois mesmo em sua dor e frustração, os pais conseguem enxergar que
os filhos também estão desapontados e sofrendo; repartir a guarda pode engendrar elementos importantes para a restauração e reparação de aspectos internos
de todos os atingidos.
Conforme pode ser observado no “Novo Código Civil Comentado”
(FIUZA, 2004), a dissolução da sociedade conjugal não altera os direitos e deveres inerentes aos pais, exceto no que diz respeito à guarda dos filhos.
No capítulo especial destinado à proteção da pessoa dos filhos, dispõe que
na dissolução da sociedade conjugal, pela separação judicial, por mútuo consentimento ou pelo divórcio direito consensual, observar-se-á a concordância
dos cônjuges, sobre a guarda dos filhos. É o que dispõe o artigo 1583 e seguintes do Código Civil instituído pela Lei n.° 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
Nosso legislador, na edição desse artigo, omitiu erroneamente a possibilidade de acordo da guarda pelos pais, após a dissolução do vínculo conjugal pelo
divórcio, porém esta deficiência já foi levada à Câmara para ser analisada.
2.
CONCEITO DE GUARDA
O vocabulário guarda “é derivado do antigo alemão wargen (guarda, espera), de que proveio também do inglês warden (guarda), que formou o francês
garde, pela substituição do w em g, empregado em sentido genérico para exprimir proteção, observância, vigilância e administração” (SILVA, 2002, p. 365-366).
Ademais, a guarda de filho é locução indicativa, seja do direito ou do
dever, que compete aos pais, ou a um dos cônjuges, de ter em sua companhia
os filhos, ou de, simplesmente, protegê-los nas diversas circunstâncias indicadas
na lei civil. E guarda, neste sentido, tanto significa custódia como a proteção que
é devida aos filhos pelos pais.
No desenho da guarda compartilhada, os nossos tribunais, data vênia,
não atingiram a evolução jurídica do tempo contemporâneo. Assim, é que
Grisard Filho (2000), corroborando esta problemática jurídica, formulou o
seguinte pensamento
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
397
a custódia física ou custódia partilhada é uma nova forma de
família na qual, pais divorciados, partilham a educação dos
filhos em lares separados. A essência do acordo da guarda compartilhada reflete o compromisso dos pais de manter dois lares
para seus filhos e de continuar a cooperar com o outro na tomada de decisões.
Segundo o conceito genérico de guarda, apresentado por Oliveira (2000),
entende-se ser um conjunto de direitos e deveres que certas pessoas exercem
por determinação legal, ou pelo juiz, de cuidado pessoal e educacional de um
menor de idade.
Strenger (1998, p. 32) define guarda como um poder e um dever, submetido à um regime jurídico através do qual faculta àquele que a detiver prerrogativas para o exercício da proteção e amparo necessários para a criação da prole.
3.
TIPOS DE GUARDA – ALGUMAS REFLEXÕES À GUARDA COMPARTILHADA
No sistema jurídico brasileiro, há previsão de três formas de guardas: a
guarda alternada, aninhamento ou nidação e a guarda exclusiva. Há, em projeto, um novo modelo para a resolução do problema ocasionado pela dissolução
da sociedade conjugal, da qual gerou prole, que, inclusive, já possui previsão em
ordenamentos jurídicos alienígenas, como nos Estados Unidos da América,
Canadá, Itália e França, a qual é denominada guarda conjunta ou guarda compartilhada, objeto de análise do presente trabalho.
A guarda alternada corresponde a joint physical custody e deriva do direito anglo-saxão; segundo Bruno (2002, p. 27-39), os genitores ficam com a criança ou adolescente, por um tempo estabelecido de forma equânime e exclusiva.
Ao término do período temporal, os papéis se invertem, passando aquele que
exercia apenas a guarda jurídica a exercer a guarda material e vice-versa.
A grande crítica a respeito dessa guarda é a violação do princípio da continuidade do lar, o que prejudica os hábitos, valores e padrões da personalidade
do filho, gerando uma grande instabilidade emocional.
Na guarda chamada de aninhamento ou nidação, cabe a cada um dos pais
conviver com os filhos em residência fixa, por períodos alternados, onde o deslocamento de residência caberá aos pais e não aos filhos, em contrário ao modelo mencionado acima. Critica-se essa modalidade de guarda por ser ela onerosa,
já que os pais teriam que sustentar três residências.
Por fim, o último tipo de guarda, atual, do ordenamento jurídico brasileiro, a guarda dividida, ou como também pode ser chamada, guarda exclusiva, em
que um dos pais exerce a guarda jurídica e material, cabendo ao outro apenas o
398
faculdade de direito de bauru
exercício do direito de visitas periódicas, o que contradiz o princípio da isonomia e, ainda, afasta os filhos da convivência diária com seus pais.
Estas formas de guardas são severamente criticadas pelos psicólogos, pelos
assistentes sociais e pelos operadores do Direito, pois elas não estabelecem um
relacionamento estável com seus pais, havendo inúmeras mudanças de locais de
moradias, o que gera, conseqüentemente, um ambiente familiar não-cristalizado.
Por todas essas críticas, quanto ao futuro dos filhos após a dissolução da
sociedade conjugal, o legislador pátrio vem estudando uma melhor forma de
resolver estas questões, baseando-se no modelo já usado em outros países, o
que se fez através de dois projetos de lei1 elaborados para instituir no Brasil a
chamada guarda compartilhada.
4.
ALGUMAS REFLEXÕES ACERCA DA GUARDA COMPARTILHADA
Motta (2002, p. 79, 96) entende que, no termo guarda compartilhada, o
genitor, que não tem a guarda física, não se limitará a supervisionar a educação
dos filhos, mas sim cabendo a ambos os pais a participação efetiva dela, como
detentores de poder e autoridade iguais para tomarem decisões diretamente
concernentes aos filhos, seja quanto à sua educação, religião, cuidados com a
saúde, formas de lazer, estudos, etc.
De qualquer forma, a repercussão positiva desta modalidade guarda é
devida pela continuação do relacionamento do adolescente ou da criança com
seus genitores. Ela não impõe aos filhos a escolha por um dos genitores como
guardião, o que é a angústia e medo de magoar o preterido. Além do mais, a
guarda compartilhada possibilita a isonomia dos direitos e deveres inerentes ao
poder familiar, como o dever de sustento, guarda, educação dos filhos menores,
declarados no artigo 229 da Constituição Federal e no inciso IV do artigo 1566
do Código Civil, combinado com o artigo 22 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
As mães têm as responsabilidades divididas com os pais, e com isto, há um
aumento no respeito mútuo entre os genitores. Filhos abandonados total ou
parcialmente têm dificuldades em lidar com sentimentos gerados por este abandono, o que traz conseqüências imprevisíveis no futuro.
Estas crianças apresentam um núcleo depressivo, levando-as a sentimento
de baixa-estima, como, por exemplo, o fato de não serem merecedoras de amor.
Infelizmente, aliadas a estas conseqüências, Sergio (2000, p. 135) menciona uma de grande importância e incidência nos casos concretos, que é a ausência da figura paterna. Essa lacuna de paternidade gera um sentimento de perda
muito grande nos filhos, em especial nas filhas que, muitas vezes, buscam suprir
1
Projetos de Lei n.° 6.315/2002 e n.° 6.350/2002, abordados no item cinco deste trabalho.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
399
esta falta, mesmo que inconscientemente, em pessoas mais velhas, como tios,
avós, e, até mesmo, em namorados.
Assim, a modalidade de guarda compartilhada permite que ambos os pais
possuam a guarda jurídica e física dos filhos, facilitando a convivência entre eles,
e o mais importante, com igualdade entre os cônjuges, tanto no direito de guarda quanto no direito de participar das decisões importantes da vida da prole.
Muito embora ainda não haja nenhuma norma positiva expressa que regulamente este tipo de guarda, já se é possível falar, na prática, desse modelo, através dos dispositivos encontrados na Constituição Federal, na Lei de Divórcio e
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A igualdade entre homens e mulheres, a igualdade dos direitos e deveres
exercidos na sociedade conjugal e o Princípio da Dignidade Humana e
Paternidade Responsável, constantes na Constituição Federal, nos artigos 5°,
inciso I, 226, § 5° e 226, §7°, respectivamente, são os dispositivos que pressupõem a inconstitucionalidade do favorecimento da guarda em proveito de um
dos cônjuges, colocando em detrimento o direito do outro.
Assim, embora não haja previsão expressa quanto a esta modalidade de
guarda, ela é a que melhor resguarda os direitos e deveres, garantindo, por um
lado, uma isonomia plena aos pais, e, por outro lado, um desenvolvimento emocional, familiar, econômico, afetivo, etc., melhor aos filhos, pois estes terão sempre a figura daqueles presentes em suas vidas.
Do já mencionado, pode-se concluir que os dispositivos legais que preferem a guarda dos filhos à convivência materna, especificamente o artigo 10, § 1°
da Lei de Divórcio, não foram recepcionados pela Constituição Federal, por, justamente, violarem o Principio da Igualdade entre Homens e Mulheres, conforme
relatado alhures.
Ademais, a própria Lei de Divórcio trouxe dispositivos que permitem, implicitamente, a fixação da guarda compartilhada, como se observa em seu artigo 13, que
dispõe que é facultado ao juiz regular, de forma diversa, a situação dos filhos com seus
pais, conforme observado o caso concreto, bem como o artigo 9° desta mesma lei,
que permite aos cônjuges acordarem sobre a guarda de seus filhos.
Tais entendimentos vêm corroborar a plausibilidade da adoção do modelo de guarda compartilhada defendida neste trabalho.
5.
PROJETOS DE LEI SOBRE A GUARDA COMPARTILHADA
Dois são os Projetos de Lei que abordam o tema da guarda compartilhada:
um de autoria do Deputado Federal Feu Rosa, de n.° 6.315/2002 e outro de autoria do Deputado Federal Tilden Santiago, de n.° 6.350/2002.
O primeiro Projeto de Lei de n.° 6.315/2002 acrescentava um parágrafo único
ao artigo 1583 da lei n.° 10406 de 10 de janeiro de 2002, na qual permite a guarda
400
faculdade de direito de bauru
compartilhada se houver acordo na tratativa entre os pais. É considerado um projeto razoável e humano. Entretanto, é mister informar que o uso indiscriminado e
sem critério poderá levar a guarda compartilhada ao descrédito.
O segundo Projeto de Lei que acrescentava dois parágrafos ao art. 1583 ao
Código Civil. Entretanto, porém, este apresenta dúvidas quanto à sua viabilidade, por autorizar a imposição (grife-se) deste modelo de guarda, sendo tal imposição feito pelo próprio juiz. Ora, pressuposto basilar da guarda compartilhada
é o acordo sinalagmático entre os pais, sendo que uma imposição legal poderia
culminar com a perda das finalidades da guarda, quer seja, o exercício dos direitos e deveres dos pais de forma igual e, por outro lado, o melhor desenvolvimento e crescimento dos filhos. Por este motivo, tal projeto de lei é considerado obsoleto na temática.
Mesmo não tendo ainda a Câmara aprovado o projeto de lei que institui a
guarda compartilhada, não há nenhum impedimento para o juiz fixar a guarda
conjunta ou compartilhada, quando assim os pais decidirem adotar o novo
modelo, pois a regra para a estipulação da guarda é o melhor interesse da criança e a guarda compartilhada busca privilegiar os menores, não cabendo ao judiciário recusar, podendo o juiz, se verificado que os interesses desse menor não
estão sendo protegidos e que ela esta sujeita a discussões freqüentes de seus
pais, regular de maneira diferente, pois o artigo 1586 do CC de 10/01/2002 assim
permitiu.
CONCLUSÃO
O Programa de Atenção à Infância e à Adolescência, da Faculdade de
Psicologia do Campus de Bauru, da UNESP, tem constatado que a maioria das
crianças atendidas com problemas de agressividade, indisciplina, baixo rendimento escolar e apatia se ressente da ausência do pai ou da mãe.
A guarda compartilhada de filhos divorciados é uma arma contra esse
drama que assola a vida das crianças: a falta dos pais, sendo a forma que mais
assegura a igualdade de direitos entre os pais, não mais privando um deles de
realizar plenamente seu poder familiar.
A criança precisa saber e sentir que é aceita, querida, amada e que de alguma forma tem raízes, familiar e afetiva, sem ter que viver em conflitos e disputas
constantes de seus pais, que como este modelo poderão entrar em harmonia
quanto à educação de seus filhos.
Saber quem são os pais, conhecê-los e conviver com eles é parte integrante e fundamental da construção de sua identidade pessoal.
Caberá agora aos operadores do Direito e Psicólogos analisar o que será
mais adequado para o interessa da família e do menor e o que melhor efetiva os
direitos previsto na Constituição Federal do Brasil.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
401
REFERÊNCIAS
BRUNO, Denise Duarte. Guarda compartilhada. Revista brasileira de direito de família.
Porto Alegre: Síntese, n.° 12, p. 27-39.
FIUZA, Ricardo Arnaldo Malheiros; ASSUNÇÃO, Alexandre Guedes; et al. Novo código
civil comentado, 3ªed. São Paulo: Saraiva, 2004.
GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. São Paulo: RT, 2000, p.102.
MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Guarda compartilha: novas soluções para novos tempos. Direito de família e ciência humanas. Cadernos de estudos brasileiros. São Paulo:
Jurídica brasileira, n.° 3, 2002, p. 79-96.
OLIVEIRA. J. M. Leoni Lopes de. Guarda, tutela e adoção. 3ªed.. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2000.
SERGIO, Nick. Guarda compartilhada: um enfoque no cuidade doas filhos de pais separados ou divorciados. In: BARRETO, Vicente (coord.). A nova família: problemas e perspectivas, 2000, p.135.
SILVIA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 365-366.
O valor do afeto para a dignidade humana
nas relações de Família
Cleber Affonso Angeluci
Advogado.
Mestrando em Direito na Fundação Eurípides Soares da Rocha – Marília - SP
RESUMO
Com o presente estudo, pretende-se vislumbrar a origem da família, muito
ligada à necessidade de proteção do direito de propriedade, buscando evidenciar a alteração do conceito de família, bem como a nova estrutura familiar,
muito mais próxima do sentimento do amor.
Relevante ainda anotar que o afeto é elemento importante para a dignidade humana, vez que está presente na formação da pessoa que é tida como valor
fonte para o direito e, conseqüentemente, o amor, na sua formação, ocupar
lugar de destaque.
Palavras-chave: Família, evolução, dignidade humana, valor, afeto.
INTRODUÇÃO
Pensar na existência da família tal como conhecida hoje, tanto na sociedade brasileira, como no mundo, por certo não reflete a origem e a efetiva transformação pelas quais passou até chegar a tal paradigma.
Modernamente, a família tem por base muito mais a afetividade entre
seus membros e a assistência mútua como finalidade do que qualquer outro
404
faculdade de direito de bauru
fator importante para sua formação e manutenção, muito embora sua origem e desenvolvimento não estivam sempre atreladas a este cunho sentimental e assistencial.
Na Antigüidade, a família servia mais como defesa do patrimônio e perpetuação do que propriamente um manancial de afetividade e prazer. Não era um
núcleo social de prazer e satisfação, mas sim um núcleo sacro e necessário para
a manutenção do culto dos antepassados e necessária para a proteção da propriedade e sua transferência.
Hoje, as formas familiares se modificaram e passaram por determinado
desenvolvimento que culminaram com a necessidade do reconhecimento do
afeto para essas relações, bem como abertura para visão mais humanista do
direito, com vias a valorizar o ser humano e, conseqüentemente, integrá-lo em
um todo social complexo: o Estado.
As diversas formações familiares existentes hodiernamente estão mais próximas à valorização do homem como gênero humano, que propriamente interessadas em proteger e intensificar a propriedade como outrora.
Esse fator é importante porque essa transformação somente aconteceu
sob enfrentamento traumático de preconceitos e a ruptura com um paradigma vigente estagnado e embasado puramente na visão patrimonialista e
religiosa, com o estado e a religião determinando a verdadeira castração
dessa instituição.
O fato social clama por regulamentação e, neste sentido, já é possível
visualizar novos contornos jurídicos para essa estrutura motriz de toda a sociedade: a família, pois é nela que o ser humano se conhece e tem o primeiro
encontro com o semelhante.
Portanto, no bater às portas do século XXI, a necessidade do reconhecimento do afeto pelo direito, com o fim exclusivo de minorar as desigualdades e,
conseqüentemente, evitar e solucionar os conflitos na seara da família se torna
indispensável e extremamente necessário.
Não é mais possível o aprisionamento a um sistema ultrapassado e
injusto, atrelado apenas à legalidade estrita e incapaz de acompanhar o
avanço social da família, havendo a necessidade premente dessa atenção
especial às relações de afeto existentes na família, para a completa formação
da dignidade humana.
1.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORIGEM DA FAMÍLIA
Como afirmado anteriormente, não existe consenso acerca da formação e
evolução da instituição familiar, havendo alguns estudos históricos e sociológicos para demarcar as primeiras formações familiares, as relações de parentesco
e o desenvolvimento dessa instituição.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
405
É necessário ter em mente que a estrutura da família não se pautava pelo
caráter sentimental, não se observava vínculos de afeto e carinho, apesar da família ter existência incontestável.1
Friedrich Engels, apoiando seus estudos em L. H. Morgan, fez um minucioso estudo histórico acerca da origem da família, onde as pessoas transitaram
do estado selvagem à barbárie, e deste, à civilização, cuidando apenas da passagem para última época. Ainda no estado selvagem, o homem simplesmente se
alimentava de tudo o quanto encontrava na natureza, que já estava pronto para
o consumo, não havendo necessidade de produção, época da utilização do arco
e da flecha, culminando com a caça e início da linguagem.
Na época da barbárie, passou ao conhecimento da cerâmica, da agricultura e adestramento de animais, iniciando a produção de alimentos pelo trabalho
humano, época da utilização da espada. Há passagem para a civilização, o
homem desenvolve a elaboração dos produtos da natureza de forma mais elaborada, surgindo, assim, a indústria e a arte, bem como o aparecimento da arma
de fogo.
Engels concluiu pela existência, numa época primitiva, de um comércio
sexual promíscuo, onde cada mulher pertencia a vários homens e cada homem
pertencia a várias mulheres, dentro de uma tribo, desenvolvendo a formação de
união por grupos até excluir as relações sexuais entre pais e filhos e, posteriormente, excluir dessas relações os irmãos.
Mas para esse desenvolvimento, ainda segundo Engels, houve a necessidade de divisão do trabalho e, conseqüentemente, a primeira opressão de classes, pois ao homem coube a propriedade dos instrumentos de trabalho, tendo
em vista ser ele quem trazia os alimentos ao seio familiar.
Dessa forma, quanto maior a quantidade de bens, o homem se tornava
mais forte dentro desse núcleo familiar, o que culminou com o fim da filiação
feminina e o direito hereditário materno, suplantado pela filiação masculina e
direito hereditário paterno.
Nessa época, houve a necessidade de o homem assegurar a fidelidade da
mulher, uma vez que a maternidade era certa e a paternidade não; passou então,
o homem, a exercer o direito de vida e morte sobre a mulher, com vistas a res1
Como afirma Philippe Ariès (ARIÈS, 1978) ao indicar a educação da criação como fato importante na formação familiar: “A família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental. No caso de famílias muito pobres, ela não correspondia a nada além da instalação
material do casal no seio de um meio mais amplo, a aldeia, a fazenda, o pátio, ou a ‘casa’ dos
amos e dos senhores, onde esses pobres passavam mais tempo do que em sua própria casa (às
vezes nem ao menos tinham casa, eram vagabundos sem eira nem beira, verdadeiros mendigos). Nos meios mais ricos, a família se confundia com a prosperidade do patrimônio, a honra
do nome. A família quase não existia sentimentalmente entre os pobres, e quando havia riqueza e ambição, o sentimento se inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas relações de linhagem.”
406
faculdade de direito de bauru
guardar aquela finalidade. Apesar de essa fidelidade ser imposta somente à
mulher, reservado ao homem a infidelidade, surgiu, então, as figuras do amante
da mulher e do marido corneado, ainda segundo Engels.
1.1 Breve conceito de Família
Há quem refute a teoria matriarcal da origem da família, de Engels, baseada na promiscuidade,2 asseverando que a família é um grupo cultural e não natural, com cada um de seus membros desenvolvendo um papel dentro do grupo,
conforme salienta Jacques Lacan, (apud WELTER, 2003, p. 35);
A promiscuidade presumida não pode ser afirmada em parte alguma,
nem mesmo nos casos ditos de casamento grupal: desde a origem existem
interdições e leis. As formas primitivas da família têm os seus traços essenciais de suas formas acabadas: autoridade, se não concentrada no tipo
patriarcal, ao menos representada por um conselho, por um matriarcado ou
seus delegados do sexo masculino; modo de parentesco, herança, sucessão,
transmitidos, às vezes distintamente (Rivers), segundo uma linguagem paterna ou materna. Trata-se aí de famílias humanas devidamente constituídas.
Mas, longe de nos mostrarem a pretensa célula social, vêem-se nessas, quanto mais primitivas são, não apenas um agregado mais amplo de casais biológicos, mas, sobretudo, um parentesco menos conforme aos laços naturais da
consangüinidade.
A família, como um grupamento de pessoas, não pode ser vista unicamente sob o ponto de vista jurídico, também não pode ser conceituada e analisada do ponto de vista sociológico, ou psicológico, ou filosófico apenas, pois em
muito se perderia numa análise tão limitada.3
Para um estudo da família e do direito de família, a interdisciplinaridade,
com outras ciências, além das citadas, é de crucial importância para o entendimento dos ‘papéis’ que cada membro do grupo familiar deve desempenhar,
assim também para a prevenção e solução de conflitos que possam surgir nesse
campo tão complexo do desenvolvimento humano.
Embora não seja a finalidade do presente estudo, uma análise, ainda que
superficial acerca do conceito de família, será importante para o aclaramento do
que efetivamente representa essa instituição, onde todo ser humano tem seu primeiro contato para o desenvolvimento social.
2
3
Entre outros, Maine e Fustel de Coulanges, Jacques Lacan, Caio Mário da Silva Pereira.
Para se ter uma idéia, “divergem os antropólogos e sociólogos acerca das primeiras formas de
família existentes na humanidade. Isto porque pode-se somente supor, imaginar, como seriam
as relações familiares anteriores à formação da família existente no Direito Romano, sendo que
os estudos sobre a família originária são bem mais de ordem sociológica e antropológica, do
que jurídica” (KLEIN, in BRAUNER, 2001, p. 22).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
407
Dessa forma, a família pode ser vista de um ponto de vista mais amplo,
como as pessoas que descendem do mesmo ancestral, enquanto que num sentido restrito é formada pelos cônjuges ou companheiros e seus descendentes, já
sob o aspecto jurídico,
a família é o conjunto de pessoas ligadas pelo casamento, pela
união estável ou pelo parentesco, decorrendo este da consangüinidade ou da adoção, ou ainda, a ‘comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes’ (AMARAL, in PEREIRA,
1999, p. 331).
Nessa visão, fica patente a ascendência da biologia na determinação do
conceito jurídico de família, uma vez que a descendência do mesmo ancestral,
necessariamente implica conceito de consangüinidade que somente é excluído
pela adoção, que legitima a relação de parentesco.
Esse conceito de família estanque é adotado pelo direito civil brasileiro e
por grande parte no direito comparado, sem a preocupação efetiva com as
outras esferas do conhecimento a respeito da família; esse fato é marcadamente
histórico, pois a gênese dessa instituição está muito mais próxima da proteção a
direitos e à preservação da propriedade, do que propriamente a relação de afinidade entre os membros dessa coletividade.
Algumas modificações acerca desse conceito estão ocorrendo, ainda que
timidamente, uma vez que a própria Constituição Federal traça importante diretriz sobre a amplitude da definição de família, bem como estabelece as obrigações pertinentes não somente à família, mas também ao Estado e à própria sociedade, tendo em vista o reconhecimento de que esse núcleo é a base da sociedade e goza de proteção especial do Estado.4
1.2 A família como necessidade para a proteção da propriedade
A formação familiar, como conhecida, que se assenta muito mais na idéia
humanitária e de auxílio entre seus membros, tem sua formação muito mais próxima à proteção do homem contra o próprio homem, do que mobilizada por
sentimentos de afeto entre os indivíduos.
Não seria impossível supor e atrelar a constituição da primeira formação
familiar no sentido de possibilitar ao homem, enquanto gênero humano, a defesa de sua vida e propriedade,5 como na visão de Hobbes, onde a necessidade de
4
5
Conforme determina a Constituição Federal de 1988, especialmente os dispositivos que tratam ‘Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso’, art. 226 e seguintes.
Ângela Mendes de Almeida afirma que, “estudando as teses de direito sobre família e casamento – em princípio teses de direito civil – verifiquei que o discurso sobre esses temas escor-
408
faculdade de direito de bauru
preservação da vida, no estado de natureza, leva à idéia de um ser não social e
egoísta, que necessita da criação do Leviatã para proteção de sua vida e propriedade de seus semelhantes.
Por que então, a família, também não pode ter origem nesta condição humana de egoísmo e necessidade de proteção, vinculando-se à proteção da propriedade? Neste estado de natureza, onde a luta de todos contra todos reina absoluta,
induz a necessidade do estabelecimento de uma micro-sociedade para a proteção
dos seus membros. Assim, da mesma forma em que o homem outorga ao ‘deus
mortal’, Leviatã, o poder de vida e morte, obrigando e vinculando a todos, a família pode ter-se originado momento anterior, numa escala um tanto menor.
Importa salientar que a formação de tal raciocínio leva à negação da formação familiar primitiva embasada no afeto, tendo em vista principalmente a
preocupação existente com a preservação patrimonial.
De mais a mais, esta atenção exagerada ao patrimônio é também encontrada nas codificações, onde se observa que a disposição referente aos bens
ocupa grande parcela de seus dispositivos, veja a exemplo o próprio Código
Civil, que trata do casamento, das relações de parentesco e se ocupa, em muito,
com as conseqüências patrimoniais advindas desse instituto.
2.
UMA NOÇÃO DE VALOR
Essa preocupação com o patrimônio do membro da família é evidente na
legislação e nas pesquisas, havendo, agora, um despertar para outros elementos
que permeiam as relações familiares, como é o caso do afeto.
Há, também, uma preocupação inquietante: é possível mensurar, valorar,
o sentimento do amor?
O valor é fator de grande inquietação para os juristas e filósofos, especialmente na busca do seu fundamento nas normas jurídicas e para esclarecer a sua
natureza.
É necessário lembrar que o valor fonte para o direito, conforme Kant, é a
pessoa humana, que possui dignidade, enquanto todas as coisas são passíveis de
enquadramento valorativo, pois as coisas valem, segundo este pensador, ainda
que relativamente.6
6
regava sempre para o direito natural. Nessa área, família e casamento eram analisados sob o
prisma do direito natural à propriedade – pois que este era essencialmente o que havia sido
retido pelos juristas, que deixaram de lado os direitos à liberdade e à igualdade como naturais
– concentrando-se nos temas da herança, do regime de comunhão de bens para o casamento
e da ‘neutralidade’ do poder paterno sobre a esposa e os filhos.” (ALMEIDA, 2001, p. 8)
Conforme Immanuel Kant menciona: “No reíno dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está cima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade” (KANT, 1986, p. 77).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
409
Os valores não são somente fatores éticos, relacionados à história do
homem, mas,
Verificamos que entre valor e realidade não existe um precipício;
pois, encontramos um vínculo de polaridade e de implicação,
que não teria a história nenhum sentido, sem o valor, pois, o
valor não se reduz ao real nem pode equiparar-se totalmente
com ele; do contrário, o mesmo perderia sua importância, que é
suplantar a realidade, em função da qual nada se exaure
(PADOAN, 2002, p. 1).
Não é possível apreender o conteúdo dos valores senão no plano
dever=ser, pois como afirma Miguel Reale, “as coisas são vistas enquanto são ou
enquanto valem; e porque valem devem ser. Não existe uma terceira posição
equivalente. Todas as demais situações são redutíveis a essas duas, e, através
delas, elas se ordenam” (REALE, 1994).
Portanto, para o entendimento da ciência do direito, inclusive nas relações
do direito de família, onde a pessoa humana tem o primeiro núcleo social, a
noção de valor é de crucial importância, uma vez que somente sob esse prisma
será possível visualizar a eficácia do direito ao caso concreto, bem como a pessoa humana, enquanto fonte da qual emana o valor fonte.
3.
OS PRINCÍPIOS NO DIREITO
Se há dificuldade em estabelecer coerentemente uma definição específica
de valor para o direito, também não há um consenso sobre a definição de princípio, menos ainda de princípios fundamentais isso porque se pueden distinguir
diversos tipos de principios, y la distinción entre principios que tienen como
objeto derechos individuales y principios cuyo objeto son bienes colectivos
(ALEXY, 2001, p. 677).
No direito de família, os princípios podem ter como objetos direitos individuais; entretanto, a afetação de seu objeto pode atingir bens coletivos, como
defende o autor, o que torna ainda mais evidente e difícil a definição e aplicação
na prática do direito.
Importa, ainda, salientar que se diferenciam dos valores, apesar da utilização equivalente que se lhes possa atribuir, isso porque os princípios são absolutos e constatados, devem ser aplicados não sendo permitida qualquer variação,
o que ocorre com os valores, que oscilam de acordo com elementos históricos,
geográficos, econômicos, entre outros.
Se não bastasse, os princípios não exaurem em si um conteúdo semântico
explícito, mas muitas vezes são expressos por palavras, com conteúdo aberto e
410
faculdade de direito de bauru
que geram tensão ao redor do seu significado, implicando por isso, a quase
impossibilidade de se interpretar os princípios através de uma visão extremamente dogmatizada do direito.
Para Robert Alexy, os princípios são normas que determinam condutas
com baixo grau de determinabilidade, por isso têm baixo grau; um não cede ao
outro, quando em confronto, mas os princípios, quando em colisão, se restringem, isso porque são morfologicamente distintos das regras, justamente porque
admitem, com sua utilização, a solução do problema, ainda que não utilizados
inteiramente (ALEXY, 1993, cap. III).
Certamente, essa conceituação deixa evidente a dúvida; se há hierarquia
entre os princípios de direito fundamental, especialmente porque, se a afirmação for positiva, no sentido de se estabelecerem direitos mais importantes que
outros, conseqüentemente deve ser estabelecida uma hierarquia, como entende
a Suprema Corte alemã, uma jurisprudência de valores.
Alexy admite ser possível a superioridade de direitos entre si, por exemplo, a
dignidade humana ser superior, pois todos os direitos irão garantir a dignidade
humana; mas para tanto, entende que todos os processos de ponderação sejam realizados de forma condicionada, tendo em vista que os princípios são razões prima
facie, enquanto as regras são razões definitivas, traçando com isso a conexão entre
a Teoria dos Direitos Fundamentais e o princípio da proporcionalidade.
Inerente à dignidade humana, à própria condição de vida hodierna, o
afeto é elemento que não pode ser olvidado nas questões relativas ao direito de
família, justamente por ser integrante desse princípio maior: o da dignidade
humana.
4.
A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O AFETO
Pensar na família moderna, olvidando o princípio da dignidade da pessoa
humana, é uma contradição e verdadeira forma de se negar a função primeira da
família: o desenvolvimento de cada um de seus membros.
É evidente que, para isso, há necessidade de estruturar o que se entende
pelo princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a vagueza semântica desse princípio tão fundamental para o direito e especialmente para o direito de família, assim como para as relações de direito de família.
Importa, antes de tudo, fixar entendimento no sentido de que a diferença
entre princípio e valor, para a ciência do direito, é fundamentalmente de grau
de concretização, onde o princípio tem um grau maior, enquanto que no valor
há bipartição entre previsão e conseqüência (CANARIS, 1996, p. 86).
Dessa forma, a dignidade da pessoa humana, como determinada pela
Constituição Federal, tem forte cunho filosófico, pois
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
411
Todo ser humano, sem distinção, é pessoa, ou seja, um ser espiritual, que é, ao mesmo tempo, fonte e imputação de todos os
valores. Consciência e vivência de si próprio, todo ser humano
se reproduz no outro como seu correspondente e reflexo de sua
espiritualidade, razão porque desconsiderar uma pessoa significa em última análise desconsiderar a si próprio. Por isso é que
a pessoa é um centro de imputação jurídica, porque o Direito
existe em função dela e para propiciar seu desenvolvimento
(SILVA, 1998, p. 90).
Por isso, o afeto representa importante elemento para a realização da dignidade humana, pois o ser humano necessita dele para estruturar sua vida,
sendo primariamente obtido no seio familiar.
Por si mesmo, o princípio da dignidade torna evidente também o seu caráter psicológico, especialmente quando observado sob o prisma da interdisciplinaridade, buscando as soluções dos conflitos nas demais ciências, especificamente a Psicologia, a Sociologia e a Filosofia.
Argumento de peso, a sustentar as formações familiares modernas, o princípio da dignidade humana embasa as formações familiares constituídas por pessoas
do mesmo sexo, uma realidade em nossa época que o direito não pode deixar de
disciplinar, sob pena de gerar injustiças e discriminações, o que é inadmissível.
Além disso, talvez seja nessa nova família7 que o afeto demonstra grande
relevo para a formação do indivíduo e satisfação de seus anseios para o completo desenvolvimento.
Essa forma de sociedade, que ainda não foi elevada ao estado de família,
deve ser reconhecida como tal, pois nos dias atuais a família não tem por base
mais a proteção da propriedade e sim a relação afetiva de cada um de seus membros e nesse aspecto,
(...) não se pode negar as ligações afetivas que existem entre pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade é um fato latente na
sociedade, que insiste em fechar os olhos para essa realidade. O
preconceito impera fazendo com que estas pessoas vivam sua
afetividade à margem da sociedade política e juridicamente
organizada. É preciso que se abra o debate para a questão das
7
Não é aceitável o argumento de que a sociedade formada entre pessoas do mesmo sexo seja
uma sociedade civil e não uma entidade familiar, pois este argumento apenas identifica o caráter discriminatório que essas pessoas atravessam na sociedade, uma vez que a finalidade é a
mesma daquela composta por pessoas de sexo diferente. Portanto, além desse argumento ter
um caráter inconstitucional é profundamente preconceituoso e deve por isso mesmo ser totalmente rechaçado.
412
faculdade de direito de bauru
uniões entre pessoas do mesmo sexo, numa perspectiva jurídica
(BRUNET, 2001, p. 80).
Nesta esteira, o clamor desse tipo de união, pelo reconhecimento e respeito, é importante e real, primeiro para não gerar dissabores aos envolvidos sob
essa forma de união, segundo, para que essa família tenha a ‘especial proteção
do Estado’, nos termos da Constituição Federal, garantindo-se, com isso, a dignidade da pessoa humana que se desenvolve sob esta forma familiar, isso porque, como determina a própria autora,
A sociedade só se transforma e completa porque a família evolui. Negar a transformação e a evolução da família é uma atitude conservadora, preconceituosa e opressora, em que se identifica uma estrutura política de manutenção da ideologia dominante. A admissão de novas configurações familiares pressupõe
a admissão de novos agentes participativos e ativos nas decisões
políticas de uma dada sociedade, o que pode não interessar a
determinadas classes que detêm o poder (BRUNET, 2001, p. 81).
Nestas relações familiares, não se pode negar o caráter eminentemente afetivo, que tenta a todo custo ocupar o espaço físico das disposições
puramente patrimoniais, sempre estudadas com maior relevo no campo
familiar, mas que se mostram incapazes de solucionar os conflitos estabelecidos diante dessa nova ordem,
... não se tem conseguido mais a subsunção da norma ao fato
nas questões de direito de família. Os fatos que se concretizam
no mundo não encontram qualquer correspondente legal. A
sociedade é outra, a família é outra e o Direito insiste em se
manter o mesmo (BRUNET, 2001, p. 86).
5.
O AFETO NAS RELAÇÕES DO DIREITO DE FAMÍLIA
Como se pode constatar, é pois, no direito de família, que o afeto tem
maior relevo e implica uma série de conseqüências, ajustes e desajustes das pessoas, justamente porque, dentro dessa célula social básica, o indivíduo encontra
seu primeiro estágio de desenvolvimento.
Em nossa época, falar de relações de família sem tocar na relevância do
afeto, como ponto inerente dessa relação, importa negar aos membros desse
corpo social a verdadeira realidade de vida, ou seja, analisar apenas um ângulo
de uma relação tão complexa, como a familiar.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
413
Afinal, o que é o afeto, tantas vezes mencionado nesse estudo? Talvez conceituá-lo não seja tão importante quanto saber da sua influência e relevância nessas relações, pois como mencionado por Aristóteles “o amor é o sentimento dos
seres imperfeitos, uma vez que a função do amor é levar o ser humano à perfeição”, donde se conclui da necessidade humana para tal sentimento.
O amor não se define, como bem assinalou Gabriel Chalita;
É, sem sombra de dúvida, uma das palavras mais fascinantes
em todos os idiomas, tanto na cultura ocidental quanto na cultura oriental. Até porque, independentemente da língua escolhida, os significados desse termo trazem em seu bojo um caráter
vigoroso e múltiplo. O amor é um conceito diverso, repleto de
contrastes, antíteses, paradoxos e peculiaridades que o tornam
tão singular quanto complexo. Por isso defini-lo é muito mais do
que uma simples demonstração de conhecimento lingüístico, é
antes de tudo uma empreitada desafiadora (CHALITA, 2003, p.
19/20).
Assim, torna-se inimaginável que a vida familiar cotidiana, seja em nossos dias
desenvolvida isoladamente e com o fito exclusivo de proteção e perpetuação da
espécie, como outrora, isso porque o desenvolvimento e facilidades tecnológicas,
bem como a própria característica humana, ao contrário da afirmação de Hobbes,
não é má, nem boa, como defendeu Rousseau, no estado de natureza.8
Portanto, há presença do afeto nas relações entre marido e mulher, companheiro e companheira, pais e filhos, bem como entre irmãos, enfim, em toda
relação familiar, existindo sempre sua presença a ser considerada, eis que inerente a essas relações.
Se não bastasse, o afeto tem fundamento também jurídico a rechaçar qualquer pensamento contrário, pois a própria Constituição Federal expressamente
declara a proteção à comunidade formada pelos pais e seus descendentes,
incluindo, por exemplo, os filhos adotivos, que não têm vinculação biológica,
somente afetiva.
Oportuno salientar a relevância do caráter afetivo, quando em conflito
com dados biológicos:
8
“Parece, a princípio, que os homens nesse estado de natureza, não havendo entre si qualquer
espécie de relação moral ou de deveres comuns, não poderiam ser nem bons nem maus ou
possuir vícios e virtudes, a menos que, tomando estas palavras num sentido físico, se considerem como vícios do individuo as qualidades capazes de prejudicar sua própria conservação, e
virtudes aquelas capazes de em seu favor contribuir, caso em que se poderia chamar de mais
virtuosos àqueles que menos resistissem aos impulsos simples da natureza” (ROUSSEAU,
1987-1988, p. 55).
414
faculdade de direito de bauru
As relações de consangüinidade, na prática social, são menos
importantes que as oriundas de laços de afetividade e da convivência familiar, constituintes do estado de filiação, que deve
prevalecer quando houver conflito com o dado biológico, salvo
se o princípio do melhor interesse da criança ou o princípio da
dignidade da pessoa humana indicarem outra orientação, não
devendo ser confundido o direito àquele estado com o direito à
origem genética, como demonstramos alhures (LOBO, 2004).
Vê-se, hoje, a ocorrência do despertar dos juristas para a relevância do
afeto nas relações familiares, tanto que já há rumores de pleitos indenizatórios
de filhos abandonados afetivamente por seus pais, chegando às Cortes
Superiores.
Pedido de indenização pela dor moral sofrida pelo filho que pretendia apenas ser amado. Amado na acepção mais ampla ou mais restrita do significado do
amor, amado para ter uma formação digna e constituir-se pessoa humana, sentir-se incluído no mundo social do ser humano.
Simultaneamente ao reconhecimento desse valor para a formação humana, há também a preocupação quanto à possibilidade de tornar um sentimento
tão nobre, moeda de mercado, banalizado e relegado a um simples valor monetário, o que o direito não pode permitir sob pena de negação da justiça.
CONCLUSÃO
A família não teve sua origem embasada no afeto, mas sua gênese está
próxima da proteção à propriedade, numa tentativa humana de proteger
direitos, em especial a propriedade. Importa, entretanto, ressaltar que a
família moderna tem por base o afeto nutrido por seus membros, numa verdadeira comunidade, onde o fator menos importante, ao que parece, é a
regulamentação jurídica.
Portanto, o sofrimento contido e suportado hodiernamente tem sua fonte
na formação familiar primitiva que não mais condiz com a realidade vivida neste
início do século XXI, pois a pessoa humana, como valor fonte, tem dignidade e
dentro desse princípio constitucional está, sem dúvida, o direito ao afeto, encontrado no seio familiar.
Para a manutenção do mínimo de dignidade aos membros de cada forma
familiar existente, será necessária a criação de um novo paradigma, uma nova
concepção, inclusive de interpretação, pois somente dessa forma o homem
poderá alcançar a verdadeira felicidade.
Não resta dúvidas de que ao Estado compete o dever de zelar pela família,
que goza de especial proteção sua, devendo efetivá-la de tal forma a permitir um
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
415
encaminhamento de uma estrutura firme e condizente com as necessidades
modernas.
Por outro lado, a relevância do afeto é evidente, pois não há dignidade
para a pessoa humana, se antes não houver desenvolvimento de sua personalidade, desenvolvimento este somente conquistado com o relacionamento socialfamiliar-afetivo entre os membros da família.
Não se pode, porém, fazer do amor uma mercadoria, passível de troca,
pois como elemento indispensável à formação da dignidade da pessoa humana,
faz parte do valor fonte, devendo assim ser considerado.
REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios
Constitucionales, 1993.
ALMEIDA, Ângela Mendes de. Família e história – questões metodológicas.
Disponível em: <www.usp.br.menge-mendes.pdf> acesso em 20 Jun. 2004.
ARIÈS, PHILIPPE. História Social da Criança e da Família. Trad. Dora Flaksman. Rio
de Janeiro: LTC Editora, 1978.
BRUNET, Karina Schuch. A união entre homossexuais como entidade familiar: uma
questão de cidadania. Revista Jurídica, Porto Alegre, RS, nº 281, p. 80-88, Mar. 2001.
_______. Engenharia genética: implicações éticas e jurídicas. Revista Jurídica, Porto
Alegre, RS, nº 274, P. 44-56, Ago. 2000.
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência
do direito. Tradução Antonio Manoel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1996.
CHALITA, Gabriel. Pedagogia do amor: a contribuição das histórias universais
para a formação de valores das novas gerações. São Paulo: Gente, 2003.
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Trad.
Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e
Civil. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril
Cultural, 1983.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Tradução Paulo
Quintela, Lisboa, 1986.
LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família . Jus Navigandi,
Teresina, a. 8, n. 307, 10 mai. 2004. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5201>. Acesso em: 06 abr. 2005.
PADOAN, Adayl de Carvalho. O valor, o direito, a justiça e sua aplicação na norma
jurídica. Disponível em: <www.neofito.com.br> acesso em 20 Jun. 2004.
416
faculdade de direito de bauru
REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e desigualdade entre os
homens. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1987-1988.
WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
O AMOR como fundamento
legitimador do Direito
Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo
Professor de Direito Penal e Processo Penal da UCSal – Universidade Católica do Salvador.
Professor de Direito Penal da FABAC – Faculdade Baiana de Ciências.
Professor de Direito Processual Penal da Escola Superior do Ministério Público da Bahia.
Professor de Direito Processual Penal da Escola dos Magistrados da Bahia.
Analista Previdenciário do INSS – BA.
Pós-graduando em Ciências Penais pela Fundação Faculdade de
Direito – UFBA – Universidade Federal da Bahia.
Sumário: 1. O amor na sociedade atual; 2. A relação amorosa: a intersubjetividade; 3. As
contradições inerentes de amar; 4. Conclusão.
Palavras-chave: Amor em Platão, razão, “multidão solitária”, desejo, relação, reconhecimento do outro, o amor como poder, vínculo x identidade, direito e amor.
1.
O AMOR NA SOCIEDADE ATUAL
Segundo a mitologia grega, quando do nascimento do universo o que
prevalecia era o vazio da desorganização inicial, ou seja, as entidades, os
seres, as coisas e os sentimentos encontravam-se todos segregados. Nesse
contexto, então, foi que o Amor, o qual era representado por Eros1 (e por
Cupido, na mitologia romana), filho de Afrodite e Ares, apareceu como a
força de natureza espiritual que presidiu a coesão de todo o universo logo
após o seu surgimento.
1
MARCUSE, H. Eros e civilização. 4ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
418
faculdade de direito de bauru
Com efeito, o Amor é expressão de conciliação, de mediação, frente à
segregação do universo, é o anseio do homem, como assevera Platão,2 por uma
totalidade do ser, representando o processo de aperfeiçoamento do próprio eu.
De outra maneira, desta feita segundo Sócrates, o amor é “um desejo de qualquer coisa que não se tem e que se deseja ter”.3
Contudo, Platão não reduz o Amor à procura de outra metade do nosso
ser que nos completa;4 o Amor é a ânsia, conforme pensa o filósofo, de ajudar o
eu próprio autêntico a realizar-se. Essa realização se produz na medida em que
a vontade humana tende para o Bem e para o Belo: submete-se o corpo ao espírito e o ato de amar desvincula-se de um determinado indivíduo ou atividade
(ou coisa), ocupando-se com a pura contemplação da beleza.
Convém assinalar, por oportuno, que o pensar o Amor em Platão deve ser
interpretado a partir da premissa de que esse (Amor) subjuga-se à Razão. Sem
que seja feita tal observação, impossível se torna a melhor compreensão do pensamento de Platão acerca do Amor.
Tomadas em consideração tais ponderações, acaba-se por constatar que a
sociedade contemporânea não convive em harmonia com a idéia do Amor.5
Talvez isso se deva à circunstância de o Amor ser, por excelência, um mistério e,
por conseqüência não se deixar compreender (racionalmente), repudiando,
desta forma, todo esboço que se faça de classificação ou definição. Diante dessa
dificuldade em se entender o Amor é que a literatura vê no uso da metáfora o
melhor recurso para se aproximar de sua inteligibilidade.
Por outro lado, esse vácuo conceitual em torno do que seja o Amor, pode
decorrer da dificuldade de expressão do mesmo na sociedade contemporânea
globalizada e capitalista da informação. O crescimento desregrado, desequilibrado e sem planejamento dos grandes centros urbanos gerou o fenômeno da
“multidão solidária”:6 as pessoas convivem lado a lado, mas suas relações são
perfunctórias, dificilmente são prospectadas, sendo raro, nesse cenário, o
encontro verdadeiro. Nessa situação, nota-se, portanto, que o falar muito e o
vender a idéia do sexo, torna-se uma estratégia de acobertamento da impessoalidade essencial das relações, o contato físico simula o encontro.
Entrementes, ainda contemplando o mundo contemporâneo, não só as
relações entre duas pessoas se acham empobrecidas. A banalização dos laços
familiares – não nos importa aqui analisar as causas nem apurar a validade da
2
3
4
5
6
PLATÃO. O banquete. Um dos diversos diálogos de autoria do filósofo.
A presente citação é extraída do último discurso do diálogo – O banquete, no qual Platão atribui a Sócrates (por muitos estudiosos considerados um dos pseudônimos usados por Platão)
a referida definição do que seja o Amor.
ARRUDA ARANHA, Maria Lúcia de. & PIRES MARTINS, Maria Helena. Filosofando –
Introdução à Filosofia. São Paulo: Editora Moderna, 1990.
MILAN, Betty. O que é amor. São Paulo, Brasiliense, 1983 (Coleção Primeiros Passos).
Ob cit., ARRUDA ARANHA, Maria Lúcia de. & PIRES MARTINS, Maria Helena. p. 354.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
419
vicissitude – arremessou abruptamente as pessoas num mundo onde elas contam apenas consigo mesmas. Ainda que se considerem válidas as críticas do autoritarismo da família, permanece inegável a ilação de que essa seja a reserva mínima de afeto do ser humano. Dito de outra maneira, o abandonar a família não é
garantia de ter esse vazio de amor preenchido.Ademais, o trabalho na sociedade
capitalista pós-industrial, animado pela competição e pelo individualismo,
impõe um ritmo extenuante, mesmo para os que têm melhores oportunidades,
e acaba por encarcerar a maior parte das pessoas em um trabalho alienado, rotineiro, repetitivo, de onde é impossível extrair algum prazer ou, em outras palavras, atender a algum desejo.
Do ponto de vista da ciência política, o Amor é decorrência da Democracia.
Somente num Estado Democrático a idéia de Amor pode prosperar, vez que a
Democracia em torno da (res)pública toma como espeque a idéia de igualdade
(justiça) e a negação da exploração. É com essas tintas, o Amor e a Democracia,
que devemos pintar o Estado Contemporâneo, onde a essência e a legitimidade
do Sistema jurídico não se encontram mais na figura do Estado e das normas
produzidas por este,7 mas na Democracia,8 9 a qual tem no Amor a expressão
ideal do Direito.10 11
2.
A RELAÇÃO AMOROSA: A INTERSUBJETIVIDADE
Viemos desenvolvendo a nossa apresentação até aqui ressaltando que o
Amor (Eros)12 é predominantemente desejo. É o desejo que nos impulsiona a
agir, a procurar o prazer e a alegria, nos faz questionar o princípio cartesiano13
de que o homem é um “ser pensante”, pois existe na medida em que pensa. Não
seria ele, sobretudo, um “ser desejante”? Não seria o desejo aquilo que mobiliza
o homem, e a razão o princípio organizador que hierarquiza os desejos e procura os meios para sua realização? Nesse passo, não temos aqui o fito de inverter a perspectiva clássica da superioridade da razão sobre a paixão, mas mostrar
que esses dois princípios estão indissoluvelmente ligados.
Nesse sentido, pensamos que o Amor, e o desejo que desse provém, se
somam à razão, complementando um ao outro, vez que o agir humano não é fórmula singela constituída de departamentos estanques, mas ato fundamentalmente complexo. Se pudéssemos traçar as linhas gerais do agir humano, ainda
7
8
9
10
11
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. Editorial Trotta. Madri, 2000.
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
WARAT, Luís Alberto O Ofício do Mediador. São Paulo: Habitus, 2001.
MONDARDO, Dilsa. 20 Anos Rebeldes: o Direito à Luz da Proposta Filosófico-Pedagógica de L.
A. Warat, Florianópolis: Editora Diploma Legal.
12 MAY, Rollo. Eros e a repressão: amor e vontade. 2ª edição. Petrópolis: Vozes, 1978.
13 DESCARTES, René. O discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
420
faculdade de direito de bauru
que convictos da falibilidade de qualquer tentativa nesse sentido, diríamos que
o agir humano é ato que se origina no desejo, se orienta pela razão e se destina
a alcançar o objeto do desejo inicial. Dito em outras palavras, o ato humano tem
como caminho a soma do desejo+razão+desejo.
Ação humana: ato jurídico.
Ação humana = desejo+razão+desejo.
Resta, ainda, uma pergunta: qual o escopo do desejo? Diante desta indagação, assevera Hegel: “Amar é estender o seu corpo em direção a um outro
corpo; mas é também, mais fundamentalmente, exigir que esse corpo, que ele
deseja, também se estenda; é desejar o desejo do outro”.14 Vale dizer, a finalidade do desejo, entendido este como proveniente do amor, é o respeito à co-existência em sociedade.
Note-se, então, que se a finalidade do desejo é esta, o desejo, necessariamente, pressupõe uma relação15 e o que se deseja sobretudo nesta relação é o
reconhecimento do outro. O amante não deseja se apropriar de uma coisa; ele
deseja, em verdade, capturar a consciência do outro. Dito de maneira mais clara,
o Direito é Amor, na medida que tão quanto o Amor é constituído necessariamente por uma relação, uma relação jurídica, e nessa relação jurídica, o que o
sujeito de direito (o amante) tem como pretensão (desejo) não é o objeto da
relação, mas o reconhecimento da parte contrária (do outro), na medida em que
só por meio do (re)conhecer é que se poderá efetivamente se aproximar da conciliação, da mediação, da pacificação do interesses em conflito na relação.
Qualquer outra solução, que não tenha por fundamento o Amor, será inevitavelmente uma solução artificial e deslegitimada.
Nesse sentido, é que Luis Alberto Warat que outrora entendia o Direito
como Linguagem,16 como um discurso, como um ato de comunicação, hoje compreende como expressão de Amor.17
Convém assinalar, a respeito do assunto, as palavras de Lédio Rosa de
Andrade:
O amor waratiano funda-se na diferença e na autonomia. O
outro como possibilidade de potencializar mudanças em meu
eu. Neste mundo novo, um terceiro autoridade (o juiz), com
poder de impor uma decisão sobre os conflitos de afeto, normalmente agravando-os e descontentando as partes, criandolhes conseqüências psíquicas e físicas, é substituído por um
14
15
16
17
HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
WARAT, Luís Alberto. Introdução Geral ao Direito. Vol. 1. Porto Alegre: Safe, 1994.
WARAT, Luís Alberto. Direito e sua Linguagem. Porto Alegre: Safe, 1995.
ANDRADE, Lédio Rosa de. Direito e amor. Disponível na internet:
http://an.uol.com.br/1999/dez/29/0opi.htm, 29.12.1999.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
421
44
mediador. Este não buscará decidir os conflitos, pois inerentes
ao ser humano. Ele media os envolvidos, tornando-os juízes
deles mesmos, a fim de aprenderem a viver com o conflito, e isso
poderá melhorar a qualidade de vida de todos.18
Lembra-nos ainda o citado autor que
ressalvados os casos meramente patrimoniais (ações entre bancos e seus clientes, por ilustração), as desavenças jurídicas são
afetivas (guarda de filhos, por exemplo). E se são afetivas, falam
de amor e ódio. É claro que Warat não fala do amor romântico,
característico da modernidade ocidental, que contratualiza o
afeto e transforma as relações humanas em atitudes possessivas
autoritárias, na busca vã de uma pseudo-segurança: o outro
torna-se nossa propriedade; a diferença é motivo de briga. Neste
mundo, estamos obrigados, por contrato, a ‘amar’ somente uma
pessoa, e livres para odiar o resto da humanidade. O resultado
é a doença, conforme nos adverte Thomas Mann, pela boca do
Dr. Krokowski, na ‘Montanha Mágica’.19
Oportuno ainda se faz trazer à colação as palavras do próprio Warat:
A mediação é uma forma ecológica de resolução dos conflitos
sociais e jurídicos; uma forma na qual o intuito de satisfação do
desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma
sanção legal. A mediação como uma forma ecológica de negociação ou acordo transformador das diferenças. A mediação é
uma forma alternativa (com o outro) de resolução de conflitos
jurídicos, sem que exista a preocupação de dividir a justiça ou
de ajustar o acordo às disposições do direito positivo. É digno de
se destacar que a estratégia mediadora não pode ser unicamente pensada em termos jurídicos. É uma técnica ou um saber que
pode ser implementado nas mais variadas instâncias. Estou
pensando nas possibilidades de mediação na psicanálise, na
pedagogia, nos conflitos policiais, familiares, de vizinhança,
institucionais e comunitários em seus variados tipos.20
18 ANDRADE, Lédio Rosa de. Direito e amor.
http://an.uol.com.br/1999/dez/29/0opi.htm, 29.12.1999
19 ANDRADE, Lédio Rosa de. Direito e amor.
http://an.uol.com.br/1999/dez/29/0opi.htm, 29.12.1999
20 “Em nome do Acordo: a Mediação no Direito”, Almed.
Disponível
na
internet:
Disponível
na
internet:
422
3.
faculdade de direito de bauru
AS CONTRADIÇÕES INERENTES DE AMAR
3.1 Vínculo x liberdade – o amor como poder
O amor, considerado como o desejo de interação com o outro, impõe, todavia, um tipo de vínculo paradoxal: o ser que ama deve se render ao outro para ser
amado livremente. Desta forma, é possível afirmar que o fascínio é fonte de poder:
o poder de atração de um sobre o outro. Entretanto, tal “cárcere” não pode ser
compreendido como negação da liberdade, posto que a união deva ser circunstância sine qua da expressão cada vez mais enriquecida da nossa sensibilidade e
da nossa personalidade. Nesse sentido, a presença do outro é solicitada na sua
espontaneidade, pois são os sujeitos que escolhem livremente estar juntos.
Saliente-se, então, o quão mais apropriado é o conceito de amor do que o
conceito de verdade até aqui utilizado pela teoria geral do processo. A verdade,
meta última de um processo que tem a pretensão de reproduzir e provar os fatos
da maneira que os mesmos aconteceram no passado, é conceito inatingível e relativo na sua própria natureza. A verdade, na medida em que é fato, é complexa e,
portanto, qualquer fotografia que o processo elabore desse fato, ela sempre terá a
sua imagem distorcida. A verdade, na proporção em que é noção e não é conceito,
é fenômeno que na sua própria existência é relativo. Logo, um Direito que busque
a sua fundamentação exclusiva na norma “dita” pelo Estado, e que tem por escopo
alcançar a verdade por meio do processo, é um Direito pretensioso e que não se
presta ao fim a que se destina, na medida em que é alheio aos esforços da Filosofia
e da Psicanálise, dentre outras ciências afins, e na proporção em que não resolve
satisfatoriamente os conflitos de interesses trazidos através do processo.
Por isso, diante desse quadro, o Amor, arrimado no desejo e no fascínio,
atende melhor à pretensão a que se destina o processo, posto que não vise a
solucionar a lide (conflito de interesses das partes) utilizando-se necessariamente da reprodução de um fato, outrora ocorrido, mas persegue tal solução
tendo em conta os desejos das partes e o poder que o fascínio exerce. Aliás, é
somente tendo em conta o Amor que poderá o Direito solucionar a contento,
por exemplo, “lides” na seara do Direito de Família, vez que deve ser o amor o
fundamento último não da lide (vocábulo já tão desgastado e inapropriado para
uma ciência moderna), mas da mediação e da conciliação.
Por outro lado, o amor21 imaturo, opostamente, é individualista, é “eu” em
vez de “nós”, é dominador. Porém, não é fácil precisar quando o poder gerado
pelo amor ultrapassa os limites. Se é certo que a força do amor está na atração
que um exerce sobre o outro, é de se perguntar: em que momento isso se transforma em desejo de controlar, de manipular?
21 GIKOVATE, Flávio. Falando de amor. São Paulo: M. G. Editores Associados, 1976.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
423
O mundo capitalista, onde se desenvolvem as relações, sustentado no
valor do “ter”, desenvolve formas possessivas e anacrônicas de relação. O ciúme
exacerbado surge nesse contexto como o desejo de domínio integral sobre o
outro. Deixa-se de reconhecer o outro e passa-se a dominar o outro.
Com isso, não estamos consignando que o ciúme, em si próprio, seja patológico e que, portanto, não deva existir. Etimologicamente, ciúme significa
“zelo”: o amor implica cuidado e temor de perder o amado. Sendo assim, se não
queremos a quebra da trama constituída na relação recíproca e se o outro confere consistência à nossa emoção e enriquece nossa existência, penamos com a
própria idéia da perda.
3.2 Vínculo x identidade
. o amor como respeito à individualidade;
. a perda como parte da vida;
. o risco como exigência da juventude.
Existe uma vez mais outra antinomia no amor: ele deve ser uma junção, com a
condição de cada um preservar a sua própria identidade. Isso estabelece que, ao
mesmo tempo, dois seres estejam unidos e permaneçam separados. Nota-se, assim,
que sob a perspectiva do Amor, o homem é tomado enquanto Sujeito de Direito e
não enquanto Objeto do Direito, uma que é livre, consciente, senhor do seu agir.
O Amor22 é a proposta para transcender a si mesmo. Se a pessoa se coloca
no centro de si mesma, não será capaz de ser sensível ao apelo do outro. Verificase, então, que o Amor é também o respeito ao direito do outro. Vê-se, dessa
maneira, que o amor é requisito indispensável para o homem em suas relações
sociais. É isso que ocorre com a criança,23 que espontaneamente se aproxima de
quem melhor atenda às suas necessidades (a educação e o processo de civilização da criança,24 25 a criança como um ser perverso e egocêntrico). Quando essa
maneira de se comportar persiste na vida adulta, obstaculariza o encontro verdadeirol dito de outra forma, o viver em sociedade. A esse respeito, é bem didática a lenda de Narciso, que ao admirar sua face espelhada na água, enamora-se
por si próprio. Isso causa sua morte, pois esquece de se alimentar, tão encantado se encontra com a própria imagem inatingível. O narcisista “morre” na proporção em que torna inviável a relação fecunda com o outro.
Esse comportamento egoísta tende a permanecer durante a adolescência,
vez que esta é momento de transição da vida infantil para a vida adulta. Logo,
22
23
24
25
CONCHE, Marcel. A análise do amor.São Paulo: Martins Fontes, 2002.
FREUD, Sigmund. Obras completas.
PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1969.
PIAGET, Jean. A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
424
faculdade de direito de bauru
por muitas vezes, o adolescente não ama essencialmente ao outro, como um ser
com a sua própria individualidade, mas ama a idéia de Amor. Trata-se do amor
idealizado, romântico, que não vê o outro, mas vê apenas a projeção de si
mesmo e de seus anseios no outro, o que talvez ocorra, em parte, pelo medo de
lançar-se nas contradições do exercício efetivo do amor.
O Amar,26 na sua forma mais sublime requer, necessariamente, a descoberta do outro. Portanto, o amor envolve o respeito, não na sua expressão moralista que corriqueiramente se atribui a esse conceito, não como receio produzido
pelo autoritarismo. Respeito, em latim, respicere, significa “olhar para”, isto é, o
respeito é capacidade de aceitar um indivíduo como ele é, reconhecendo a identidade singular. Isso supõe a preocupação de que a outra pessoa esteja e permaneça como ela é, e não como queiramos que ela seja. O amor exige a liberdade, e não a escravização: o outro não deve ser servo, mas indivíduo. O amor
pleno e maduro é livre e generoso, fundando-se na reciprocidade.
Nesse passo, merece ser reproduzido o pensamento das professoras Maria
Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins acerca da matéria:
O paradoxo da relação amorosa, colocada ao mesmo tempo
como desejo de união e de preservação da alteridade, dimensiona a ambigüidade em que o homem é lançado. Os sentimentos gerados também são ambíguos: são sentimentos de amor e
ódio para com aquele que escolhemos conscientemente, mas de
cuja escolha resultou o abandono de outras possibilidades... O
não saber viver nessa ambigüidade leva certas pessoas ou a procurar a “fusão” com o outro, do que decorre a perda da individualidade, ou a recusar o envolvimento por temer essa perda.27
Contudo, o risco do amor é a separação. Embrenhar-se numa relação amorosa coloca para o amante a possibilidade da perda. Se assim é, podemos então asseverar que a separação é a experiência da morte28 (perda): é a vivência da “morte do
outro” em minha consciência e a vivência de minha morte na consciência do outro.
No momento em que se dá o rompimento da relação, a pessoa necessita
de um tempo para se reestruturar, visto que, mesmo quando mantém a sua individualidade durante a relação amorosa, inegável é também que o tecido do seu
ser passa inelutavelmente pelo outro. Existe, portanto, um período de “luto” a
ser transposto depois da separação, quando, então, se busca novo equilíbrio.
Releva notar, por fim, que uma marca indelével dos indivíduos maduros é
saber conviver com a possibilidade da morte no desenvolvimento natural da sua
26 FROMM, Erich. A arte de amar. Belo Horizonte: Itatiaia.
27 Ob cit., ARRUDA ARANHA, Maria Lúcia de. & PIRES MARTINS, Maria Helena. p. 356.
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
425
vida. Quando falamos em morte, estamos nos referindo às diversas perdas que
permeiam o curso de nossas vivências. Todavia, nas sociedades massificadas, em
que o eu não é satisfatoriamente desenvolvido e trabalhado, as pessoas preferem
não viver, para não ter de viver com a morte. Logo, nota-se que as relações entre
essas pessoas são tão-somente perfunctórias, e é tendo vista esta situação que
Edgard Morin assevera que nas sociedades burocratizadas e aburguesadas, é
adulto quem se conforma em viver menos para não ter que morrer tanto. Porém,
o segredo da juventude é este: vida quer dizer arriscar-se à morte; e fúria de viver
quer dizer viver a dificuldade.
CONCLUSÃO
Diante de tudo quanto foi exposto, oferecemos à reflexão do leitor a presente: a proposta de ver no Amor o fundamento último do Direito.
Estamos cientes do quão pouco ainda foi e é estudado o Amor. Sabemos
que a própria a Filosofia e a Psicanálise já escreveram algumas páginas sobre esse
sublime sentimento humano, mas estamos conscientes de que ainda são muito
poucas folhas.
De outro lado, sabemos do repúdio29 com que é tratada pelo Direito, ou pelo
menos pelos juspositivitas,30 qualquer proposta em torno dessa ciência tendente a
uma abordagem que privilegie ou que perpasse por outras ciências (Filosofia,
Psicologia, Psicanálise, Sociologia, Antropologia e outras), mas mesmo ciente de
todas essas dificuldades, fazemos questão de registrarmos aqui um nova abordagem
acerca do Direito. Não com o intuito de causar perplexidade, nem muito menos de
convencer, mas com o escopo de levar ao leitor a reflexão.31 Se tiver despertado,
pelo menos em um leitor, um furor de uma crítica consistente e fundamentada, já
teremos alcançado o objetivo a que nos propusemos.
28 CARUSO, Igor. A separação dos amantes: uma fenomenologia da morte. 2ª edição. São Paulo:
Cortez, 1982.
29 Nesse sentido, escreve Lédio Rosa: “Esse assunto é tido como estranho, até mesmo ridículo,
nos meios jurídicos. Amor é uma palavra apartada do direito. E não poderia ser diferente, pois
os cursos jurídicos preparam os estudantes para o conflito. O triunfo, já se aprende na prática
forense, é ganhar, se possível esmagar a parte contrária. A demanda jurídica é por natureza
beligerante”, vide ANDRADE, Lédio Rosa de. Direito e amor. Disponível na internet:
http://an.uol.com.br/1999/dez/29/0opi.htm, 29.12.1999.
30 HART, Herbert. A Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 3ª edição. Portugal-Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian.
31 Merece ainda registro a recomendação feita por Lédio Rosa acerca do tema: não devemos
incorrer novamente no “equívoco de Karl Marx, de confiar demais na bondade humana”,
vide ANDRADE, Lédio Rosa de. Direito e amor. Disponível na internet:
http://an.uol.com.br/1999/dez/29/0opi.htm, 29.12.1999.
Núcleo de
pesquisa Docente
Um dos canais de desenvolvimento da Pesquisa e Produção Científica
dos Professores da Graduação na Faculdade de Direito – ITE
(Obra Individual ou Coletiva)
DIREITO DE ACRESCER E SUBSTITUIÇÕES
TESTAMENTÁRIAS
Ricardo da Silva Bastos
Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de Bauru - ITE.
Mestrando em Direito Civil pela PUC/SP.
Membro do Núcleo de Pesquisa Docente da Faculdade de Direito de Bauru/ITE.
Membro do Núcleo de Pesquisa e Integração do Centro de Pós-Graduação
da Instituição Toledo de Ensino de Bauru.
Advogado.
1.
DIREITO DE ACRESCER
1.1 Conceito e fonte histórica
Direito de acrescer é a devolução da parte do co-herdeiro ou co-legatário
que não quis ou não pôde receber, a quem por lei1 ou por disposição conjunta
não especificada, for beneficiado. Para Itabaiana de Oliveira,
o direito de acrescer tem lugar quando o co-herdeiro, ou o colegatário, recolhe a porção do outro nomeado conjuntamente
1
A inserção da “lei”, além da vontade presumida do testador, como parte do conceito do direito de acrescer, dá-se pelo fato de que o acrescer não pertence exclusivamente ao campo da
sucessão testamentária (nem tampouco ao direito sucessório, como veremos adiante), como
na hipótese do art. 1.810 do CC, por exemplo. Portanto, além da vontade presumida do testador (arts. 1.941 e ss. do CC), haverá acrescer em outras disposições legais, fruto da vontade do
legislador, por questão de opção legislativa.
430
faculdade de direito de bauru
na mesma herança, ou no mesmo legado, sem distribuição de
partes, nos casos previstos em lei.2
Giselda Hironaka comenta que o testador pode instituir
em disposição testamentária idêntica ou diversa, herdeiros ou
legatários, sem qualquer disposição acerca da quota-parte que
a cada um deles tocará, quando do recebimento, respectivamente, da mesma herança ou do mesmo legado, legado esse consistente em coisa certa e determinada ou, ainda, não passível de
divisão, uma vez que, se tal ocorrer, presente o risco da coisa se
desvalorizar.3
A importância do direito de acrescer está em regular o destino de uma
parte da herança ou legado, tendo em vista não querer ou não poder o instituído recebê-la e não haver substituto previsto. Como não existe jure representationis na sucessão testamentária, admite a lei seja acrescida a porção da herança ou legado ao herdeiro ou legatário instituído conjuntamente com o faltante.
A doutrina costuma referir-se, quanto à origem do instituto, a três espécies
de disposições conjuntas, realizadas em Roma. Na primeira, a conjunção real (re
tantum), o testador, em cláusulas distintas, institui mais de um herdeiro ou legatário, sem determinar a parte de cada um; na conjunção verbal (verbis tantum),
na mesma cláusula testamentária, o testador opera a mesma transferência, mas
discriminando a parte da cada um; finalmente, na conjunção mista (re et verbis)
o testador, na mesma cláusula testamentária deixa a herança ou um legado a dois
ou mais herdeiros ou legatários, sem, contudo, especificar a parte de cada um
deles. O nosso direito admite o direito de acrescer nas hipóteses de conjunção
real e mista.
O STJ já decidiu que
quando o testador fixa a cota ou o objeto de cada sucessor,
não há direito de acrescer entre os demais herdeiros ou legatários. Ocorre a conjunção verbis tantum quando são utilizadas as expressões partes iguais, partes equivalentes, ou
outras que denotem o mesmo significado, o que exclui o
direito de acrescer.4
2
3
4
Tratado de Direito das Sucessões, Freitas Bastos, 5ª ed., p. 230.
Curso Avançado de Direito Civil, RT, 2ª ed., p.412.
RESP 2003/0118952-5, Rel. Min. Castro Filho, 3ª T., j. 09/03/2004, DJ 19/04/2004 (fonte:
www.stj.gov.br).
Revista do instituto de pesquisas e estudos
n.
44
431
O motivo encontra-se exatamente no fato de que tanto na conjunção real,
como na mista, o testador não especifica os quinhões de cada um, dispondo conjuntamente.5
O art. 1.941 do novo Código Civil, em disposição semelhante ao Código
de 1916 (art. 1.710)6, narra que
quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária,
forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não
determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitála, a sua parte acrescerá à dos co-herdeiros, salvo o direito do
substituto.
O dispositivo legal refere-se à possibilidade do direito de acrescer entre
herdeiros, regulando o instituto, para os legatários, no art. 1.942. Note-se que o
art. 1.941 menciona que ocorrerá o acrescer “quando vários herdeiros, pela
mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança”.
Por este motivo, Sílvio Rodrigues (em obra atualizada por Zeno Veloso) ressalta
que “enquanto o direito de acrescer entre herdeiros só ocorrerá se houver conjunção re et verbis, entre os legatários ele haverá quer nessa hipótese, quer na
de conjunção re tantum”.7
Sendo o dispositivo a exteriorização fictícia da vontade do testador, devese interpretá-lo como sendo “regra dispositiva, de forma que o testador pode
dispor de modo diferente, excluindo o acréscimo e dispondo que, na falta de
algum herdeiro a sua parte vá, por exemplo, aos herdeiros legítimos”.8
1.2 Natureza jurídica
Para Eduardo de Oliveira Leite
5
6
7
8
Itabaiana de Oliveira define bem a disposição conjunta como sendo “aquela em que vários herdeiros, ou legatários, são chamados, coletivamente, para a fruição dos bens do testador, ou de uma
certa porção deles.” Tratado de Direito das Sucessões, cit., p. 230.
“Art. 1.710. Verifica-se o direito de acrescer entre co-herdeiros, quando estes, pela mesma disposição de um testamento, são conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados”.
Direito Civil, vol. 7, Saraiva, 2002, p. 226. Washington de Barros Monteiro, em seu clássico
Curso de Direito Civil, Saraiva, 6º vol., 13ª ed., p. 197, comentando o art. 1.710 do CC anterior, o qual fazia a mesma menção (“mesma disposição testamentária”), entretanto, diz que
“não é imprescindível que a convocação se realize pela mesma frase; ainda que o testador empregue frases diversas, haverá disposição conjunta (re tantum), se atribui indeterminadamente a
mesma coisa a pessoas diferentes neste caso, porém, o bem herdado deve ser indivisível.”
“A regra do artigo 1.941 é simplesmente dispositiva, de forma que o testador pode dispor de modo
diferente, excluindo o acréscimo e dispondo que, na falta de algum herdeiro a sua parte vá, por
exemplo, aos herdeiros legítimos”. Eduardo de Oliveira Leite, Comentários ao Novo Código
Civil, Forense, vol. XXI, 4ª ed., coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, p. 575.
432
faculdade de direito de bauru
o direito de acrescer é uma forma de ordem de sucessão hereditária
indireta, ou seja, uma espécie de chamamento à herança de alguém
que, inicialmente, ou indiretamente não era chamado a essa quota
da herança e que só passa a sê-lo em virtude de alguma vicissitude
ocorrida no momento posterior à abertura da sucessão.9
Caio Mário entende que “pode, sob certo aspecto, configurar-se o ius
accrescendi como se fosse uma substituição presumida na lei, que só tem lugar
na disposição conjunta”.10
Denominar o direito de acrescer de “ordem de sucessão hereditária indireta”
não nos parece a designação mais apropriada. Embora a ordem de vocação hereditária seja, conforme amplo entendimento doutrinário, a melhor forma de cumprir um
desejo presumido do de cujus, sendo este também o fundamento do direito de acrescer, não se deve considerar o acrescer como uma forma de ordem de sucessão hereditária. Primeiro porque aquela pertence especificamente ao campo da sucessão ab
intestato, depois porque o direito de acrescer é conferido a quem já havia sido contemplado, recebendo a parte daquele que não quis ou não pôde aceitar, desde que a
disposição seja conjunta e não haja substituto previsto. Considerar este acrescimento
como ordem de sucessão hereditária indireta parece-nos, neste sentido, um exagero.
Por outro lado, não nos parece apropriado denominá-lo de “substituição presumida na lei”, visto que o direito de acrescer é exatamente o direito do herdeiro ou
do legatário de receber a quota do faltante, desde que a disposição fosse conjunta e
não houvesse um substituto. Caracterizá-lo como uma substituição presumida seria
confundir os institutos, o que não seria, a nosso ver, o mais acertado. Além do mais,
o herdeiro ou legatário favorecido já havia sido contemplado, não devendo ser chamado de substituto, ainda que somente