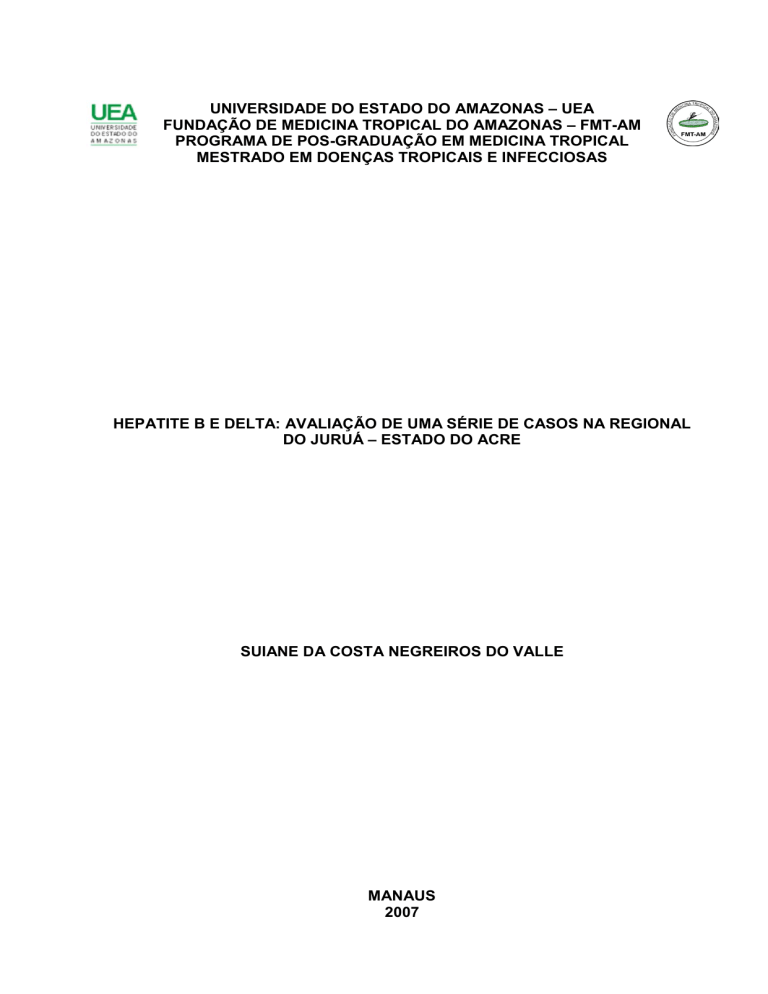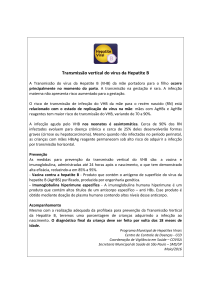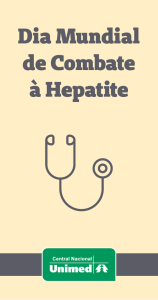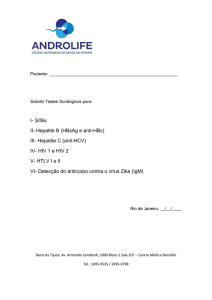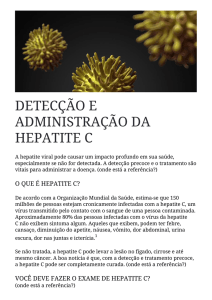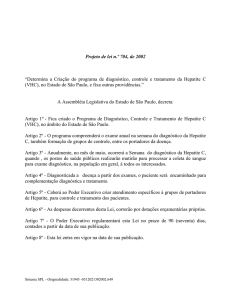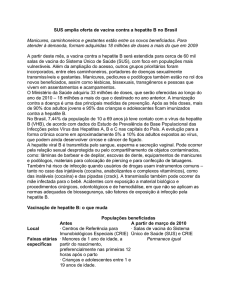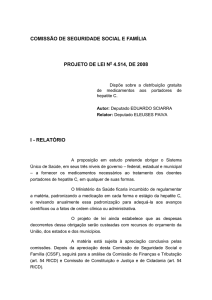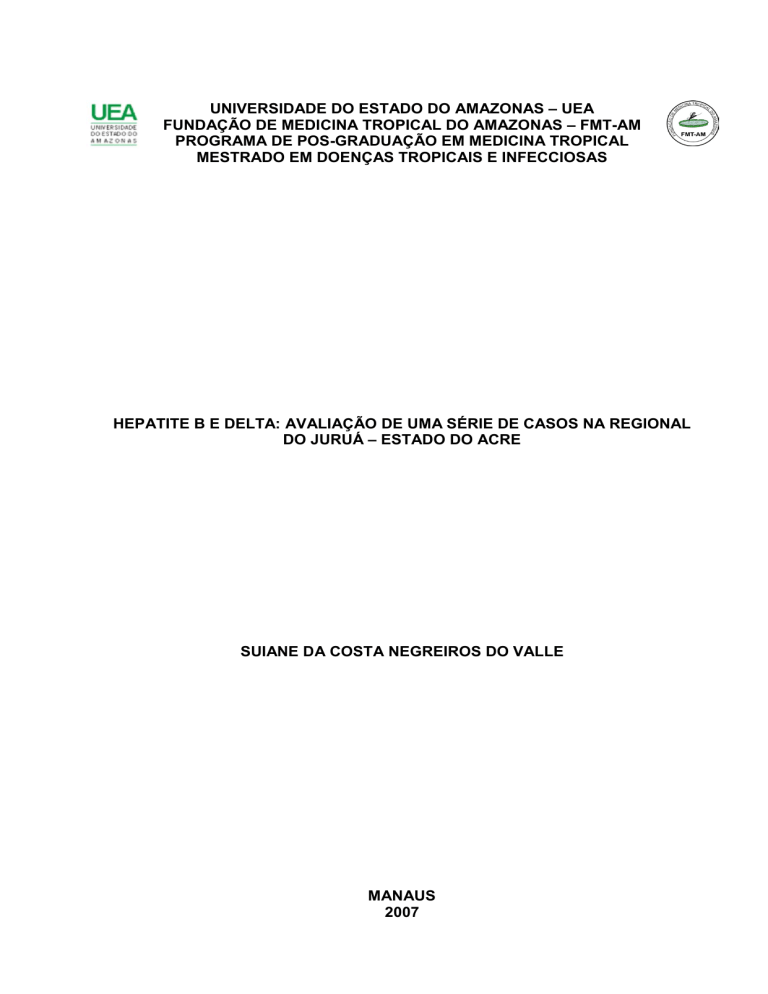
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS – FMT-AM
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
MESTRADO EM DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS
HEPATITE B E DELTA: AVALIAÇÃO DE UMA SÉRIE DE CASOS NA REGIONAL
DO JURUÁ – ESTADO DO ACRE
SUIANE DA COSTA NEGREIROS DO VALLE
MANAUS
2007
i
SUIANE DA COSTA NEGREIROS DO VALLE
HEPATITE B E DELTA: AVALIAÇÃO DE UMA SÉRIE DE CASOS NA REGIONAL
DO JURUÁ – ESTADO DO ACRE
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós Graduação em Medicina Tropical da
Universidade do Estado do Amazonas em
convênio com a Fundação de Medicina
Tropical do Amazonas, como requisito para
obtenção do título de Mestre em Doenças
Tropicais e Infecciosas.
Orientador (a): Prof. Dr. Wornei Silva Miranda Braga
Co-orientador (a): Profª Dra. Flor Ernestina Martinez
MANAUS
2007
iii
“Há duas formas para viver sua vida:
Uma é acreditar que não existe milagre.
A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre.”
Albert Einstein
1879-1955
iv
DEDICATÓRIAS
Aos meus filhos Orsetti Neto e Mariana
Aos pacientes que se fazem presentes na minha formação médica
v
AGRADECIMENTOS
A Deus que no seu infinito amor e misericórdia, sempre foi luz no meu caminho.
A Universidade do Estado do Amazonas, pela iniciativa de tão louvável
empreendimento.
A SUFRAMA, pelo incentivo a Educação e Pesquisa no Estado do Amazonas.
A minha mãe, que pelo exemplo de determinação e coragem, é minha motivação
para ir sempre além.
Aos meus irmãos que foram pilares na ajuda com meus filhos, durante minha
ausência.
Ao meu orientador, Dr. Wornei Braga pela confiança, sua orientação e amizade.
A Dra. Flor Martinez, co-orientadora, por sua colaboração.
A Secretaria Estadual de Saúde do Acre, pelo incentivo e apoio financeiro.
Aos médicos Infectologistas do Acre pela determinação de fazer diferente, tendo
como iniciador o médico Tião Viana.
Aos professores da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, pelo
reconhecimento do meu trabalho como médica residente e apoio na nova etapa da
minha graduação.
Ao professor José Carlos Ferraz Fonseca pela contribuição, através da sua
inestimável experiência.
Aos servidores do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, em especial as funcionárias do
ambulatório Marize e Marciene, do serviço de vigilância epidemiológica, na pessoa
de Lourdes Albuquerque, do serviço de estatística Amílcar, do Laboratório e dos
demais setores que prontamente atenderam sempre que precisei.
Aos servidores do Hospital de Guajará, na ajuda de resgate de pacientes.
Aos servidores das secretarias municipais de saúde (Cruzeiro do Sul, Rodrigues
Alves, Mâncio Lima, Porto Valter, Marechal Thaumaturgo, Guajará e Ipixuna) na
colaboração de dados, através do SINAN, em especial a funcionária Maria Cirlene,
que com sua competência e dedicação fez extensão ao meu trabalho.
Aos servidores do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, pelo apoio logístico com as
amostras de sangue dos pacientes.
Ao Dr. Luís Augusto (LABSUL), pela consideração, colaboração e presteza no
atendimento aos pacientes portadores de hepatite.
vi
A Associação dos Portadores de Hepatite do Acre (APHAC), no nome de seus
servidores, em especial Vânia e Raquel.
Ao médico Edwin Vivanco, pela colaboração no atendimento aos pacientes
portadores de hepatite.
Aos colegas da turma 2005, professores e funcionários do curso de pós-graduação
em Medicina Tropical.
A Dr. Raimundo Paraná e Dr. Hermes Pedreira da Universidade da Bahia e
FIOCRUZ/BAHIA, pela boa acolhida em Salvador e execução das técnicas de
biologia molecular.
A Franesi Ribeiro, pelo companheirismo e incentivo ao novo desafio que me foi
proposto.
Aos amigos em Manaus, os antigos e os adquiridos, em especial Lúcia, que sempre
esteve por perto quando precisei.
A todos que contribuíram direta ou indiretamente para que este trabalho se
concretizasse, mesmo só na torcida ou com uma palavra amiga.
vii
RESUMO
Estima-se que aproximadamente 1/3 da população mundial já teve contato
com o vírus da hepatite B e que cerca de 350 a 500 milhões são portadoras do
antígeno de superfície e desses 18 milhões estão infectados pelo VHD. A região
Amazônica é caracterizada como uma das regiões do mundo de maior ocorrência
dos vírus B e Delta. A clínica de ambas as enfermidades é heterogênea variando
desde formas assintomáticas até quadros fulminantes. Evidências clínicas e
laboratoriais de surtos de hepatite fulminante em comunidades fechadas na
Amazônia brasileira demonstram a presença marcante da doença na região,
justificando assim o presente estudo. Este mesmo, tem como objetivo descrever os
aspectos clínicos e epidemiológicos de uma população com diagnóstico definido de
hepatite B e Delta atendidos no ambulatório de infectologia do Hospital Geral de
Cruzeiro do Sul. Em um estudo descritivo, foi aplicado um questionário para coleta
de dados de prontuário médico e da Ficha de Notificação para as Hepatites Virais,
lançadas no SINAN. Através desse questionário foi possível descrever os fatores
epidemiológicos, clínicos e sorológicos de cada paciente. Foram avaliados 355
pacientes, sendo que 243 originados do prontuário médico, 104 das fichas de
notificação e 8 de atestados de óbito. A taxa de incidência na região variou de
42/100.000hab/ano à 117/100.000hab/ano. Clinicamente foram identificadas todas
as formas clínicas, sendo maior número de pacientes, 84% na forma crônica, com
média de idade 28 anos. Foi encontrada na população geral uma reatividade de
55,6% para Anti-VHD e 78,1% para o Anti-HBe. Óbito foi associada a coinfecção
VHB/VHD. A soroconversão de HBeAg e resposta bioquímica foi de 66,6%, mas nos
pacientes Anti-HBe a resposta variou de 36,8 a 44,6%. A cura ocorreu em 1,7%
(6/353). Os genótipos de VHB encontrados foram A, F e D, com predomínio para o
genótipo A. A associação entre história de hepatite na família demonstra a
importância desses vírus como agente etiológico de doença ictérica em nossa
região, sugerindo a transmissão horizontal intrafamiliar, acometendo indivíduos
jovens e com a co-infecção VHB/VHD expressiva na população estudada.
Palavras-chaves: VHB; VHD; Amazônia; Evolução clínica; Tratamento; Genótipo
viii
ABSTRACT
It is considered that approximately 1/3 of the world population already had
contact with the hepatitis B virus (HBV) and that 350 to 500 million are carriers of the
HBV surface antigen, of those 18 million are infected with hepatitis Delta virus (HDV).
The Amazon region is characterized as one of the highest prevalent areas of HBV
and HDV occurrence. Clinically both viruses are heterogeneous varying from
asymptomatic cases to fulminant forms. Clinical and laboratory evidences of
outbreaks of fulminant hepatitis in closed communities in the Brazilian Amazon
demonstrate the important presence of HBV and HDV disease in the area, justifying
the present study. Its objective is describe the clinical and epidemiological aspects
of a case series of patients with the diagnosis of hepatitis B and Delta assisted at the
clinic of infectious diseases of the General Hospital in Cruzeiro do Sul, Acre. This is a
descriptive study of a case series of patients with the diagnosis of hepatitis B and
Delta infection, a questionnaire was applied for collection of data from hospital
medical records and from the National Health Information System (SINAN).
Epidemiological, serological and clinical information were drown form this instrument.
We studied 355 patients, 243 selected from the medical records of the study hospital,
104 from the National Health Information System, and 8 from death certification
register. Viral hepatitis cumulative incidence rate in the study area varied from
42/100.000 hab/year to 117/100.000 hab/year. We could examine all kinds of
hepatitis B infection clinical spectrum, 84% of chronic forms, with a mean age of 28
years. 55.6% of the studied population was reactive to anti-HDV and 78.1% for AntiHBe. Death was strongly associated with HBV/HDV co infection. HBeAg
seroconvertion was seemed in 66.6% of treated patients, but in anti-HBe patients
biochemical improvement varied from 36.8% to 44.6%. Anti-HBS seroconvertion was
seemed in 1.7% (6/353). We detected HBV A, F and D genotypes, been the
genotype A the most prevalent. The association between a history of hepatitis and
death in families demonstrate the importance these viruses as etiologic agents of
icteric disease in our region, suggesting horizontal familiar transmission, involving
young individuals and with co-infection of HVB/HVD notorally expressive in the
studied population.
Word-key: HBV; HDV; Amazon; Clinical evolution; Treatment; Genotype
ix
LISTA DE TABELAS
Tabela 1
Perfil sorológico da população estudada..................................
30
Tabela 2
Média de idade entre as formas clínicas................................... 31
Tabela 3
Distribuição dos sintomas de hepatite aguda...........................
Tabela 4
Sinais e sintomas hepatite fulminante....................................... 35
Tabela 5
Sinais e sintomas da hepatite crônica....................................... 38
Tabela 6
Resultado histopatológico dos pacientes crônicos submetidos
a biópsia percutânea................................................................. 39
Tabela 7
Sinais e sintomas da cirrose.....................................................
Tabela 8
Fatores de risco envolvidos na transmissão x forma clínica .... 44
Tabela 9
Perfil sorológico nas formas clínicas......................................... 44
Tabela 10
Diagnóstico e evolução das formas clínicas.............................
Tabela 11
Prevalencia e associação com a presença do marcador antiVHD........................................................................................... 46
Tabela 12
Sinais e sintomas associados a presença de VHD................... 47
34
40
45
x
LISTA DE FIGURAS
Figura 1
Estrutura VHB............................................................................
6
Figura 2
Estrutura VHD............................................................................
8
Figura 3
Mapa do estado do Acre............................................................
20
Figura 4
Mapa do estado do Acre com destaque para os municípios
que compõem a regional do Vale do Juruá...............................
21
Figura 5
Distribuição da população estudada por grupo de idade..........
31
Figura 6
Media de ALT por forma clínica.................................................
43
xi
LISTA DE ABREVIAÇÕES
HBsAg Antígeno de superfície do VHB
HBeAg Antígeno e do VHB, responsável pela replicação viral
HBcAg Antígeno do core do VHB
Anti-HBe Anticorpo contra o antígeno e do VHB
Anti-HBcIgG Anticorpo contra o antígeno central do VHB, fração IgG
Anti-HBc IgM Anticorpo contra o antígeno central do VHB, fração IgM
Anti-HBs Anticorpo contra o antígeno de superfície do VHB
AgHD Antígeno do vírus da hepatite delta
Anti-HDT Anticorpos do vírus delta, fração total
Anti-HD IgM Anticorpos do vírus delta, fração IgM
ALT Alanino amino transferase
AST Aspartato amino transferase
DNA VHB Genoma vírus B (Acido desoxirribonucléico)
DST Doenças Sexualmente Transmissíveis
HGCZS Hospital Geral de Cruzeiro do Sul
RNA VHD Genoma vírus delta (Acido ribonucléico)
PCR Reação em cadeia da polimerase
UDI Usuário de drogas intravenosas
VHB Vírus da hepatite B
VHD Vírus da hepatite delta
xii
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO....................................................................................................
1.1 Definição......................................................................................................
1.2 Histórico.......................................................................................................
1.3 Epidemiologia...............................................................................................
1.4 Vírus da Hepatite B e Delta..........................................................................
1.5 Transmissão e história natural.....................................................................
1.6 Diagnóstico..................................................................................................
1.7 Tratamento...................................................................................................
1
1
1
2
5
9
11
13
2 OBJETIVOS........................................................................................................
2.1 Geral...........................................................................................................
2.2 Específicos...................................................................................................
18
18
18
3 MATERIAL E MÉTODOS...................................................................................
3.1 Modelo de estudo.........................................................................................
3.2 Local do estudo............................................................................................
3.3 População do estudo...................................................................................
3.3.1 Critérios sorológicos..............................................................................
3.3.2 Critérios clínicos....................................................................................
3.4 Seleção dos pacientes.................................................................................
3.4.1 Fontes de informações..........................................................................
3.5 Procedimentos.............................................................................................
3.5.1 Procedimento clínico.............................................................................
3.5.2 Testes laboratoriais inespecíficos.........................................................
3.5.3 Testes sorológicos.................................................................................
3.5.4 Testes de biologia molecular.................................................................
3.5.5 Técnica para avaliação do PCR............................................................
3.5.6 Teste de genotipagem...........................................................................
3.6 Análise dos dados........................................................................................
3.7 Considerações éticas...................................................................................
19
19
19
21
22
22
23
23
25
25
25
25
26
27
28
28
29
4 RESULTADOS....................................................................................................
4.1 Formas clínicas............................................................................................
4.1.1 Hepatite aguda......................................................................................
4.1.2 Hepatite fulminante................................................................................
4.1.3 Portador inativo.....................................................................................
4.1.4 Hepatite crônica.....................................................................................
4.1.5 Cirrose...................................................................................................
4.1.6 Hepatocarcinoma..................................................................................
4.2 Coinfecção (VHB/VHD)................................................................................
4.3 Crônicos em tratamento...............................................................................
4.4 Biologia Molecular........................................................................................
30
32
32
34
36
37
39
41
45
48
51
5 DISCUSSÃO.......................................................................................................
53
6 CONCLUSÃO.....................................................................................................
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................
61
62
8 ANEXOS.............................................................................................................
70
1
1 INTRODUÇÃO
1.1 Definição
As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos,
de distribuição universal e que têm em comum o tropismo pelo fígado, pertencentes
a distintas famílias, tais como: Picornaviridae - vírus da hepatite A - descoberto por
Feinstone et al. (1973); Hepadnaviridae - vírus da hepatite B - descoberto por
Alisson e Blumberg (1961); Flaviviridae - vírus da heaptite C - seqüenciado por Choo
et al. (1989); vírus da hepatite D, viróide de planta ou RNA satélite, utilizando o
envelope do vírus B, descoberto por Rizzeto et al. (1977); e Calciviridae (?) - vírus
da hepatite E - observado à microscopia eletrônica por Bradley (1990).
1.2 Histórico
As hepatites virais têm ocorrência registrada desde a 2ª guerra mundial, sob
apresentação de duas formas de contágio da doença: hepatite infecciosa, de
transmissão fecal-oral e hepatite soro homóloga, transmitida por meio do contato
com o sangue e derivados (Havens, 1946; Neef, et al.1946).
A detecção em soro de um aborígine australiano de antígeno que reagia com
o soro de dois hemofílicos politransfundidos, identificado como antígeno austrália por
Blumberg em 1964, fixou definitivamente o primeiro momento dos marcadores
sorológicos para um tipo de hepatite. A partir da descoberta, Blumberg juntamente
com o microbiologista Irving Millman, desenvolveu um teste para identificar o vírus,
tornando o primeiro método de triagem para os doadores de sangue. Mais tarde, em
1976, Blumberg recebia o Prêmio Nobel de Medicina.
Em 1970, Dane e colaboradores demonstraram a natureza completa do vírus
da hepatite B (VHB). Em 1973 a Organização Mundial da Saúde propôs que o termo
hepatite por soro homólogo ou sérica, fosse substituído por hepatite B (Freitas,
2005).
2
A descoberta do antígeno austrália foi um marco para identificação dos vírus das
hepatites. No Brasil os estudos sorológicos foram introduzidos a partir de 1970,
motivadas pela tentativa de esclarecimento da etiologia de surtos familiares de uma
doença, denominada popularmente de “ febre negra de Lábrea ”. E os estudos sobre
o vírus da hepatite Delta (VHD) na região foram iniciados em 1983, quando revelam
a elevada ocorrência deste agente (Bensabatth, 2003).
O diagnóstico específico, através dos testes que avaliam marcadores
sorológicos, busca identificar no soro os antígenos (HBsAg e HBeAg) e os
anticorpos (Anti-HBcAg, Anti-HBeAg e AntiHBsAg), que estão presentes na infecção
dependendo da sua fase evolutiva. Considerado como marcador de prevalência de
infecção, HBsAg (antígeno de superfície do VHB) e AntiHBcT (anticorpo do core do
VHB) (Gonçales Júnior, 2003).
1.3 Epidemiologia
A infecção pelo VHB é considerada a virose mais comum no homem, que
constitui seu reservatório natural. A grande maioria dos casos concentra-se no
sudeste asiático, na Amazônia, na África e no extremo norte da América,
contribuindo com mais de 90% dos casos mundiais e implicado como importante
fator na etiologia de hepatite crônica, cirrose hepática e hepatocarcinoma (Maynard,
1990).
A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de dois bilhões de
pessoas no mundo já tiveram contato com o VHB e que 400 milhões tornaram-se
portadores crônicos (CDC 1991). E subdivide o mundo em três nosoáreas: alta,
média e baixa endemicidade, baseando-se na prevalência da infecção pelo vírus da
hepatite B, através da detecção dos marcadores sorológicos HBsAg ou AntiHBcT.
Áreas de alta endemicidade são aquelas com taxas de prevalência do HBsAg
acima de 7% ou
60% de AntiHBcT positivo; média endemicidade, quando
encontramos 2-7% da população definida como portadora do vírus, ou seja, HBsAg
positivo, ou quando 20 a 60% encontra-se com AntiHBcT positivo. As áreas de baixa
3
endemicidade ocorrem com menos de 2% da população portadora desse vírus, ou
menos de 20% com positividade para AntiHBcT (Halder, 1990).
A prevalência de infecção pelo VHB é considerada baixa, menor que 1% no
norte da América, Austrália e Nova Zelândia, moderada (2-4%) no Japão e alta na
China (5-18%) e Taiwan (12-20%) (Chen, 2000).
Países asiáticos, como Taiwan, considerado com alta endemicidade para os
vírus B e D, apresentam prevalência de 12,6% para o HBsAg e 15,3% para o AntiHDT, considerando os testes realizados nos portadores de VHB (Lu, et al. 2003).
Em áreas endêmicas de hepatite B, a infecção pelo VHD representa grave
problema de saúde pública. Estima-se que 18 milhões de pessoas encontram-se
infectadas pelo VHD entre os 350 milhões de portadores crônicos do VHB no
mundo. O estado de portador crônico do VHB (HBsAg positivo), constitui-se no
principal fator epidemiológico para a propagação do VHD, o que ocorre, por
exemplo, entre as populações nativas da Amazônia brasileira, peruana e
venezuelana (Braga, 2004; Silveira et al. 1999; Arboleda et al. 1995).
A prevalência da hepatite pelo vírus B no Brasil apresenta grande variação
regional, tornando imprudente extrapolar dados de uma região ou cidade para todo
um estado. Essa idéia é reforçada pela alta prevalência encontrada no oeste de
Santa Catarina e Paraná e áreas de baixa prevalência na Amazônia (Souto, 1999).
De acordo com investigações realizadas por Bensabath (1984), o padrão
epidemiológico das infecções pelos vírus B e Delta não é uniforme em toda região
norte do Brasil, sendo mais marcante nas regiões dos vales dos rios Juruá, Purus e
Madeira na Amazônia Ocidental e no vale do rio Tapajós na Amazônia Oriental.
Confirmado por outros estudos, Strauss, et al., 1987; Miranda, et al. 2004.
Vários estudos têm demonstrado a alta endemicidade da infecção pelo VHB
na região Amazônica. Arboleda et al. (1995) no município de Barcelos, Alecrim et al.
(1986) no município de Labrea e Fonseca (1988) nos municípios de Codajás e
Itamarati demonstraram respectivamente positividade de 1,6%, 15,3%, 15,5% e
4
18,3% para HBsAg. A prevalência do Anti-VHD (anticorpo do VHD) em torno de
32%, quando analisado amostras HBsAg positiva.
Braga et al.(2004) no município de Labrea (Amazonas) em trabalho que
estima a prevalência de hepatite B e Delta, após dez anos de introdução da vacina
na região, encontra positividade de 3,3% para o HBsAg e 49,9% para o Anti-HBcT.
O VHD foi encontrado em 30% dos indivíduos com reatividade para o HBsAg. Outro
estudo conduzido no Estado do Amazonas, em gestantes, mostrou uma prevalência
de 3,2% para o HBsAg, com marcada expressão para as regiões do Juruá, Purus e
Madeira, chamando atenção para o risco de transmissão vertical (Kiesslich, 2004).
Bensabath (1973) em pesquisa realizada no município acreano de Sena
Madureira, na população geral identificou reatividade para o HBsAg de 13,4%.
Estudo realizado nas comunidades ribeirinhas dos rios Acre (Acre) e Purus
(Amazonas) por De Paula et al. (2001), encontraram prevalência de 5,2% para o
HBsAg, 66,2% para Anti-HBc (IgG) e 66,6% do VHD nas amostras AgHBs positiva.
Inquérito de soroprevalência de base populacional na região Amazônica,
conduzida por Souto et al. (2004), no Estado de Mato Grosso, foi registrado 2,1% de
portadores do VHB e entre esses portadores 28% tinha marcadores sorológico
positivo para hepatite Delta.
Dados de prevalência do Estado do Acre, a partir de inquérito sorológico
populacional em 12 municípios realizado por Vianna (2003), demonstram índices de
prevalência de 3,4% para o marcador HBsAg, 62,9% para Anti-HBc total e 1,7%
para o Anti-VHD do total de amostras estudadas. Outros estudos que mostram a
importância da infecção na região, foram realizados por Lobato (2002) e Tavares
Neto et al. (2004), com prevalência de 5,1% e 3,3% para HBsAg respectivamente.
Em candidatos a doação de sangue da regional do Juruá, é descrita uma
prevalência 2,5% para HBsAg e 69% para Anti-HBcTotal (dados não publicados).
Em portadores assintomáticos de VHB, foi encontrada uma prevalência de
24% a 34% de anticorpos contra o vírus da hepatite D (anti-VHD) e para os
pacientes com doença crônica pelo VHB de 84,6% a 94,7%. Encontrado ainda, nos
5
casos de hepatite fulminante 74% de reatividade para Anti-VHD (Bensabath et al.
1984; Fonseca et al. 1987).
De acordo com Bensabath e Leão (2003), apesar da desigualdade das
notificações, as taxas referentes à mortalidade por hepatites na região Amazônica
são mais altas que nas demais regiões do Brasil. No estado do Acre, segundo dados
da Secretaria de Vigilância em Saúde/ MS, as taxas de mortalidade pelo VHB são de
24,4 para um milhão de habitantes e de 4,8 para o VHD, sendo maiores que a média
nacional (0,28 para VHB e 0,07 para VHD). (MS/ SVS, 2003).
1.4 Vírus da Hepatite B e Delta
O VHB pertence à família Hepadnaviridae, constituição genômica de uma
molécula de DNA de fita parcialmente dupla. Constitui-se de dois gêneros:
Orthohepadnavírus, que classifica os vírus que infectam os mamíferos e o
Avihepadnavirus, os vírus que infectam as aves (Pringle, 1998).
O VHB (Figura 1) produz dois tipos de partículas virais: incompletas, que são
esféricas e filamentosas, não infecciosas, com 22 nm de diâmetro. Completas, que
são infecciosas, também chamada de partícula de Dane de 42 nm de diâmetro. São
circundadas por um envelope externo protéico (invólucro) que contém os três
antígenos de superfície HBsAg-S; HBsAg-M, com sua seqüência adicional pré-S2;
HBsAg-L, com suas seqüências adicionais pré-S1 e pré-S2. A camada interna,
denominada nucleocapsídeo é icosaedrica constituído por proteínas do cerne
(HBcAg) que circundam o genoma viral e a enzima DNA polimerase, contendo outro
antígeno associado que é o HBeAg (Tiollais et al. 1985).
Embora o VHB seja um vírus DNA ele codifica uma transcriptase reversa e
replica-se através de um RNA intermediário. Após adsorção o vírus penetra nos
hepatócitos e perde o envoltório protéico e a multiplicação do genoma viral ocorre no
núcleo da célula, onde por ação da DNA polimerase, o filamento de DNA é
convertido em fita dupla completa covalentemente fechada circular (cccDNA). A RNA
Polimerase II transcreve o genoma do VHB a partir da forma cccDNA, produzindo o
RNA pré-genoma, o qual é usado como molde para a transcrição reversa, resultando
6
na formação do DNA viral. Uma vez sintetizado, as proteínas do core contendo o
genoma viral adquire o envelope externo (HBsAg). Este processo ocorre no Reticulo
Endoplasmático e Complexo de Golgi e o vírion é liberado a partir do hepatócito por
exocitose e não por lise celular (Seeger e Mason, 2000).
Core
Proteína S do antígeno de
superfície
Proteína M do antígeno
superfície (S+pré-S2)
Proteína L do antígeno de
superfície
(S+pré-S2 + pré-S1)
DNA Polimerase (P)
Fonte: www.netterimages.com
Figura 1 – Estrutura do VHB
O VHB não é um vírus citopático, a evolução da doença depende da resposta
imune do hospedeiro, pois tanto o componente celular quanto o humoral são
necessários para a eliminação do vírus. Ação de linfócitos T citotóxicos (CTL)
oriundos da ativação de LT CD8+ expressos na membrana dos hepatócitos, por
moléculas do Complexo de Histocompatibilidade Principal (MHC) de classe I, é o
principal mecanismo efetor para clareamento do vírus e desenvolvimento de dano
hepático. Por outro lado, a formação de anticorpos e a liberação de citocinas pelos
linfócitos CD4+ de classe II do MHC, como as interleucinas, FNT (fator de necrose
tumoral alfa) e o Interferon gama intensificarão a expressão dos antígenos ao MHC
e a apresentação de peptídeos dos antígenos HBs, HBc e HBe para as células T
killer citotóxicas, contribuindo para a destruição dos hepatócitos infectados (Lee,
1997).
7
O genoma do VHB é um dos menores entre os genomas virais que infectam o
homem, com aproximadamente 3200 pares de bases. A primeira variabilidade
genética do VHB foi reconhecida no antígeno de superfície, permitindo a
classificação de nove subtipos: ayw1, ayw2, ayw3, ayr, adw2, adw4, adrq e adrq+.
Posteriormente é classificada em oito grupos genômicos definidos pelas letras de A
– H, por comparação das seqüências de nucleotídeos do gene pré S/S ou do
genoma completo. Esses genótipos não estão obrigatoriamente correlacionados
com os subtipos, no entanto, todas as cepas de ayw4 e adw4 são agrupadas nos
genótipos E e F respectivamente (Mangnius; Norder, 1995).
A distribuição mundial dos genótipos não é uniforme, encontrando na Ásia
Ocidental, onde se concentra a maioria dos portadores de VHB, o predomínio dos
genótipos B e C. O genótipo A é prevalente no norte da Europa e África. Os
genótipos E e F parecem ser originários de aborígines da África (genótipo E) e do
Novo Mundo (genótipo F). O genótipo F é um dos mais prevalentes em alguns
países da América do Sul e América Central e o mais divergente entre os genótipos
do VHB (Mangnius; Norder, 1995).
No Brasil, os estudos demonstraram maior prevalência do genótipo A,
seguido do genótipo F, exceto para a região sul, onde se observa elevada
freqüência para o genótipo D (Ribeiro, 2006; Viana 2005; Sitnik, 2004; Oliveira,
2003).
Vários estudos tentam correlacionar os diferentes genótipos com a gravidade
dos quadros clínicos resultantes da infecção crônica pelo VHB, assim como a
presença de mutação pré-core. Na correlação clínica com os marcadores
sorológicos, foi observado que genótipos A e G são geralmente encontrados em
indivíduos HBeAg positivo e o C associado à hepatite crônica, cirrose hepática e
carcinoma (Mangnius& Norder, 1995; Conde et al. 2004).
O vírus do VHD (Figura 2) é o único representante do gênero Deltavírus, está
diretamente relacionado ao VHB, pois sendo um vírus defectivo, necessita da
presença do envelope desse vírus para se replicar. É um RNA vírus de hélice
simples, em forma de bastão, semelhante aos vírus RNA das plantas. Foi
8
inicialmente descrito por Rizzeto (1977). Apesar de vários estudos tentarem
correlacioná-lo como agente etiológico da febre negra de Lábrea, somente em 1987
essa correlação ficou definida por Bensabath.
VHD RNA
Ag HBs
Ag HD
Fonte: www.scielo.br/img/fbpe/rsbmt/v35n2/9067f1.giff
Figura 2 – Estrutura do VHD
O VHD codifica uma só proteína, AgHD. A replicação se inicia com adesão do
vírus ao hepatócito, com provável ligação ao mesmo receptor do VHB, com
reconhecimento pela região pré-S1 do HBsAg. É transportado até o núcleo, onde
sofre replicação através da RNA Polimerase e posterior transcrição de AgHD
(Rizzeto, 2003).
Estudos genéticos e seqüenciais do genoma do VHD relatam alta
heterogeneidade desses vírus, com várias seqüências isoladas, sendo identificados
três genótipos diferenciados e denominado tipo I, II (IIa, IIb) e III. São reconhecidos
como mais patogênicos os subtipos IIa e III (Radjef et al. 2001).
A distribuição geográfica desses genótipos tem registro de maior prevalência
do tipo I nas regiões que compreendem os EUA, Europa, norte da África e sul do
Pacifico. O tipo II predomina na Ásia, especialmente Japão e Taiwan e o tipo III
9
aparece apenas na América do Sul, mas precisamente na Amazônia. (Casey et al.
1996; Quintero et al. 2001).
1.5 Transmissão e história natural
Segundo Lee (1997), as formas de transmissão do vírus da hepatite B são
conhecidas, sendo a exposição percutânea ou de mucosas ao sangue contaminado,
a principal via de transmissão. Apresenta ainda outras formas de contágio, como:
transmissão vertical, relações sexuais, uso de drogas intravenosas, transplante de
órgãos ou tecidos, lesões de pele e acidentes ocupacionais envolvendo profissionais
da saúde.
A transmissão intrafamiliar, sugerida em vários estudos, tem os pais e irmãos
como principais reservatórios. Associada a fatores adicionais, como taxa
ocupacional elevada por moradia, infestação de artrópodes e freqüentes lesões de
pele, contribuindo para o padrão de hiperendemicidade do VHB e VHD na
Amazônia. Segundo Brasil et al. (2003) a transmissão domiciliar no Estado do
Amazonas, está demonstrada pela elevada freqüência de infecção pelo vírus da
hepatite B entre os contatos de casos índices das formas fulminantes e alta
prevalência entre os irmãos, sugerindo a presença da circulação viral no ambiente
familiar.
Segundo Lobato (2003), no município acreano de Rio Branco, a prevalência
encontrada nos contatos domiciliares de mãe HBsAg positiva, foi de 21,1 % para o
HBsAg e 60,5% para o Anti-HBc (IgG) enquanto que no grupo comparativo (mãe
HBsAg negativo) a reatividade foi de 2,8% para o HBsAg e 27,4% para o AntiHBcT.
Após a infecção aguda pelo VHB, evoluções diferentes podem ser
observadas nos pacientes infectados em conseqüência a replicação viral e aos
mecanismos envolvidos na resposta imune do hospedeiro, resultante da ação
citotóxica das células T (LOK, 2000). Após infecção aguda 90 a 95% evoluirá para
cura, com negativação do marcador HBsAg, menos de 1% para forma fulminante e
cerca de 5 a 10% manterão a persistência do HBsAg em período superior a seis
10
meses, caracterizando o estado de portador crônico da hepatite B, com evolução
para cirrose em 10% e desses 5% para hepatocarcinoma.
Na hepatite fulminante se desenvolve rápida necrose hepatocelular maciça,
com letalidade bastante alta, alcançando os 80% no Brasil. Os que se recuperam, o
fazem com normalização histológica e funcional na maioria das vezes, exceto se
houver coinfecção com o VHD, onde a evolução para a hepatite crônica é mais
rápida em 45% dos sobreviventes. Diferentemente, quando causada pelo VHB
sozinho, onde a cronificação ocorre em 3% dos casos.(Saracco, 1988; Balik, 1991).
O padrão histológico na forma fulminante associado ao VHD apresenta
necrose hepatocelular moderada, balonização hepatocelular e as células em mórula,
ou espongiócitos, traduzido por necrose lítica com esteatose microvesicular, sendo
este o substrato histológico (Paraná, 1995; Fonseca, 2004).
Fatores estão implicados no desenvolvimento e na evolução da infecção
crônica, sendo eles: época da aquisição da infecção, aspectos relativos à raça, sexo
e genótipo do VHB. A progressão para o estado de portador crônico do VHB é mais
freqüente nos indivíduos infectados pela via vertical ou perinatal, enquanto que a
infecção na idade adulta geralmente leva à recuperação e ao desenvolvimento de
imunidade específica na maioria dos pacientes. Sabe-se que o pior prognóstico está
nos indivíduos que permanecem em fase de replicação, caracterizada pela presença
do HBeAg e/ou DNA VHB elevado no soro (Gonçales Júnior, 2003).
De acordo com Rizzeto (1990) o VHD por ser um agente viral defectivo,
necessita da ajuda funcional do VHB para se manifestar e apresentando semelhante
mecanismo de transmissão. Contudo, em determinadas áreas do norte da América
do Sul, a exemplo da Amazônia brasileira e venezuelana, a transmissão do VHD
poderia ocorrer por exposição inaparente, principalmente relacionada com efrações
da pele após picadas de insetos ou através das mucosas. (Fonseca, 2002). Está
freqüentemente associado a surtos de hepatite fulminante e evolução precoce para
as formas graves de hepatopatia crônica.
11
Estudos epidemiológicos sugeriram que a transmissão pode também ser
intrafamiliar, como demonstrado através de análise filogenética do HDV-RNA, em
algumas populações do sul da Itália onde infecção de VHD é endêmica (Niro et
al.1999).
A história natural da infecção ocorre tanto por co-infecção, como por
superinfecção de um portador do VHB, podendo ser encontradas formas
assintomática, aguda (variando desde formas leves a fulminante) e crônica (Rizzeto,
1990; Farci, 2003; Fonseca, 2004).
A doença aguda pelo VHD por superinfecção ocorre quando o individuo já é
portador do vírus da hepatite B e adquire o vírus da hepatite Delta. Evolução
geralmente grave, não raramente, ocorre curso fulminante e prognóstico ruim, com
cronificação em 70% dos casos. Ao contrário do que acontece na co-infecção, com
aquisição simultânea dos dois vírus, mas com resolução favorável em mais de 95%
dos casos (Saracco et al. 1988).
1.6 Diagnóstico
O diagnóstico é realizado mediante história epidemiológica, clínica e
laboratorial. Clinicamente a infecção pode se apresentar desde a forma de portador
inativo, até a de hepatocarcinoma, podendo passar ou não evolutivamente pelas
formas aguda, aguda fulminante, crônica e cirrose.
O diagnóstico laboratorial é baseado nas alterações de exames específicos e
inespecíficos dependendo da fase evolutiva.
Os exames laboratoriais inespecíficos podem indicar agressão hepática,
tendo as dosagens de aminotransferases séricas, Alanina aminotransferase/
Transamina
Glutâmica
Piruvica
(ALT/TGP)
e
Aspartato
aminotransferase/
Transamina Glutâmica Oxalacética (AST/TGO) como essenciais para o diagnóstico
da doença, podem está três vezes maior que o valor normal ou atingir valores acima
de 1000 UI/l nas hepatites agudas. A persistência dos valores alterados das
aminotransferases por mais de 6 meses é indicativa de provável cronificação.
12
Outros testes como a dosagem de Fosfatase Alcalina e Gama-glutamil
transpeptidase (Gama GT) também demonstram grau de lesão de hepatócitos. A
Albumina sérica baixa e o Tempo de Protombina (TAP) diminuído traduzem
comprometimento do fígado. A dosagem Bilirrubina e suas frações medem grau e
origem da colestase (Lopes, 1997; Thomas, 1990).
O diagnóstico etiológico (Quadro 1) é realizado mediante testes sorológicos,
que avaliam antígenos e anticorpos dos vírus B, com marcadores que expressam as
diferentes fases da doença: fase aguda, crônica e exposição ao vírus ou à vacina. E
também pelos testes moleculares com pesquisas quantitativa e qualitativa do DNA
do VHB.
Quadro 1 - Perfil sorológico e molecular em pacientes com hepatite B
Marcador
Imuniz
.
Infecção
aguda
Infecção
pregressa
Infecção
crônica
Portador
inativo
HBV
oculta
Anti- HBs
Anti-HBc
IgM
Anti-HBc
total
Anti-HBe
AgHBs
+
-
+
+
+
-
-/+
-/+
-
-
+
+
+
+
-/+
-
+
+
-
+
+
+
-/+
-/+
AgHBe
-
+
-
+
-
-
VHB ADN
-
+
-
>105
cópias
<105
cópias
<103
cópias
Como marcador direto da infecção pelo VHD, temos o antígeno do VHD
(AgHD),
com
expressão
no
tecido
hepático,
detectado
por
técnicas
de
imunoperoxidase, não realizado na rotina. Assim, o diagnóstico inicial da infecção
consiste no encontro de marcadores, que são IgM anti – HD e anticorpos totais anti
– HD, principalmente os IgG, encontrado em altos títulos quando a infecção torna-se
crônica. O isolamento do RNA-VHD no soro ou tecido hepático não é método
rotineiro, mas teria importância fundamental no diagnóstico das hepatites crônicas
(Rizzeto, 2003).
13
A detecção do VHD RNA está fortemente associada a danos na célula
hepática, ainda que em pacientes assintomáticos. É um marcador precoce,
detectado no sangue entre 4 e 8 semanas após exposição ao vírus Delta, antes do
início da doença clínica (Sakugawa, et al., 1997).
1.7 Tratamento
Nenhuma forma de tratamento específico encontra-se indicada nas formas
agudas sintomáticas da hepatite B, onde acerca de 95% evolui para a cura.
Naqueles que desenvolvem a forma fulminante, a melhor forma de tratamento é
através do transplante hepático, realizado com grande sucesso e sobrevida em torno
de 80% (Lee, 1997; Ferreira, 2000).
O grande contingente de indivíduos infectados pelo VHB com indicações para
o tratamento específico é representado principalmente pelos doentes com hepatite
crônica e cirrose hepática, objetivando suprimir a replicação viral antes que ocorra
dano irreversível ao fígado (Lok, 2000).
Até há dez anos não existia nenhum medicamento eficaz contra o VHB. Hoje
dispomos pelo menos de cinco medicamentos que podem ser utilizados. Apesar de
tudo, continua sem aparecer algum tratamento que seja capaz de eliminar por
completo a infecção.
O objetivo do tratamento na hepatite B é prevenir a progressão da doença
evitando desenvolvimento de cirrose ou câncer no fígado. A redução ou eliminação
da carga viral parece ser o melhor caminho para se conseguir um bom resultado.
Um dos marcadores utilizados para avaliar efetivamente o resultado do tratamento é
a negativação do marcador sorológico HBsAg. Porém, para escolher uma estratégia
de tratamento, a maioria concorda que a eliminação do HBeAg e a supressão da
carga viral é a melhor escolha que pode ser feita como objetivo do tratamento da
hepatite B (Lok, 2006).
O ideal seria que todos os pacientes com hepatite B fossem tratados. Alguns
autores consideram que como a eficácia dos medicamentos atualmente em uso
14
raramente alcançam a erradicação do vírus, e diante da possibilidade de evolução
danosa ao fígado ser muito lenta, seria razoável não realizar o tratamento dos casos
com pouco dano ao fígado. Por outro lado, como a velocidade de progressão do
dano hepático não pode ser prevista pelos níveis das transaminases ou a carga
viral, seria conveniente sempre se realizar uma biópsia para determinar o estágio da
doença e assim definir a melhor estratégia para determinado paciente (Hadziyannis,
2006).
Consideram-se candidatos ao tratamento, indivíduos que preencham alguns
requisitos básicos: infecção crônica pelo VHB (HBsAg positivo por mais de 6 meses);
presença de replicação viral (HBeAg positivo e/ou DNA-HBV com viremia de 100.000
cópias/ml); ALT elevada; biópsia hepática com atividade moderada/intensa e/ou
fibrose; ausência de contra indicações aos medicamentos. Considerando os
principais fatores preditivos de resposta ao tratamento, ALT elevada e baixa viremia,
refletindo o grau de ativação imunológica do hospedeiro (Cheinquer, 2003).
Os pacientes com hepatite crônica HBeAg negativo, tem sido um desafio, com
duração maior de tratamento e resposta a longo prazo, objetivando retardar a
progressão da doença hepática (Hadziyannis, 2006).
O Interferon (INF) foi a primeira droga aprovada pelo FDA (Food and Drug
Administration) em 1992, para o tratamento da infecção crônica, possui atividade
antiviral e imunomoduladora, porém não produz uma resposta uniforme em todos os
pacientes. Utilizado isolado ou em associação com um análogo de nucleosídeo,
como a Lamivudina, é capaz de eliminar a replicação do VHB em 30% dos pacientes
tratados, evidenciado pelo seu impacto na evolução da doença, sendo observado
nos
pacientes
respondedores,
menor
risco
de
evolução
para
carcinoma
hepatocelular e menor mortalidade (Lok, 2001).
Posteriormente foi introduzido o Interferon Peguilado, com o objetivo de
aprimorar os perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos desfavoráveis do INF-alfa.
Foram desenvolvidas e aprovadas duas moléculas diferentes de INF Peguilado (alfa
2a e alfa 2b), entretanto somente o INF Peguilado alfa 2a foi aprovado para o
15
tratamento da hepatite crônica pelo vírus B, principalmente para os indivíduos
HBeAg negativos (Hadziyannis, 2006).
A descoberta do uso da enzima transcriptase reversa no ciclo de replicação
celular do VHB, motivou o emprego das drogas inibidoras dessa enzima, iniciando
com o emprego da Lamivudina utilizada desde a década de 90, determinando
retardo na progressão da fibrose hepática.
Apresentando dois inconvenientes:
recidivas após o término do tratamento e o desenvolvimento de resistência por
mutação na polimerase do VHB, sendo a mais conhecida a mutação no locus YMDD
(Lai, et al. 1998; Lok, 2001).
O Adefovir, outro medicamento de uso oral, consegue nos pacientes AgHBe
positivos a soroconversão em 12% dos casos no primeiro ano de tratamento e em
29% e 43% no segundo e terceiro ano, respectivamente, com mínima resistência do
vírus. Em pacientes HBeAg negativos o tratamento durante 48 semanas produz a
normalização dos níveis das transaminases em 72%. A principal vantagem do
Adefovir em relação a Lamivudina, é a baixa resistência viral que ele apresenta.
Pacientes que apresentam resistência a Lamivudina devem receber orientação para
utilizar o Adefovir, em monoterapia ou na combinação dos dois medicamentos
(Marcelin, 2003; Hadziyannis, 2003).
Novos análogos de nucleosídeos estão sendo empregados para o tratamento
da hepatite crônica B, como o Entecavir e a Tebivurdina de liberação recente,
aguardando sistematização pelo Programa Nacional de Hepatites.
O Entecavir foi o terceiro medicamento oral aprovado para tratamento da
hepatite B. Ele demonstrou ser mais eficaz que a Lamivudine quando utilizado por um
período de 24 meses, mas ainda não existem dados de seu uso por períodos
maiores. Comparado com a Lamivudina o Entecavir consegue uma maior diminuição
da carga viral, mas a taxa de soroconversão do HBeAg não apresentou maior
diferença. Não foi demonstrado até o momento resistência viral (Lai et al.2006; Chang
et al. 2006).
16
Em relação à Telbivurdina, novo análogo de nucleosideo via oral. Dados de um
estudo que acompanhou 1.367 pacientes durante dois anos mostraram reduções
superiores na carga viral, chegando a níveis não-detectáveis, quando comparado à
Lamivudina (56% vs. 39% de pacientes HBeAg positivos, e em 82% vs. 57% de
pacientes HBeAg negativos) (Lai, et al., 2005; Kim, et al., 2006).
Segundo a experiência de Fonseca (2003), para o tratamento da hepatite
crônica pelo vírus Delta, a única opção viável é o Interferon. As drogas antivirais
como a Lamivudina e Ribavirina não apresentam resultados satisfatórios.
Considerando a rápida progressão da infecção delta para as formas crônicas o único
fator preditivo e determinante da resposta ao Interferon, seria o tempo de duração da
infecção. Portanto, quanto mais precoce o diagnóstico e o início da terapêutica com
tal droga, melhor o valor determinante da resposta.
O uso do Interferon alfa ou beta em altas doses (9 milhões UI 3 vezes por
semana) por tempo prolongado foi capaz de influenciar a história natural da hepatite
crônica delta, com melhora acentuada dos aspectos clínicos e histopatológicos,
apesar da contínua replicação do VHD e recaídas após o término do tratamento
(Niro; Rosina; Rizzeto, 2005).
A associação de Lamivudina com altas doses de Interferon foi utilizada em
alguns pacientes, em um estudo revelando que tal combinação foi incapaz de
erradicar a infecção pelo vírus da hepatite D, apesar do efeito supressor da droga
sobre o VHB. Outro estudo quando comparou esta combinação com Interferon
sozinho mostrou-se superior, até na resposta sustentada (Wolters et al. 2000;
Canbakan et al. , 2006).
Recentemente, em modelo animal de patos cronicamente infectados com o
VHD foi relatada a inibição da viremia, com o análogo de nucleosídeo L-FMAU
(Clevudina), criando novas expectativas de um medicamento oral contra este vírus
(Casey, et al. 2005).
Um alto e significativo percentual de pacientes com hepatite crônica D não
respondem as drogas utilizadas e aqueles com hepatite fulminante e cirrose
17
hepática estabelecida, teriam como única opção de sobrevida o transplante hepático
(Farci, 2004).
Evidências clínicas e laboratoriais de surtos de hepatite aguda em
comunidade fechadas na Amazônia brasileira, culminando com óbitos de várias
pessoas na família e o atendimento de pacientes hepatopatas crônicos na rede
hospitalar e ambulatorial, do município sede da regional do vale do Juruá,
demonstram a presença marcante da doença em nossa região.
A sede da regional do vale do Juruá fica no município de Cruzeiro do Sul, que
é referência secundária na complexidade de atendimento ao Sistema Único de
Saúde, responsável pela cobertura de uma população aproximada de 150.000
habitantes.
Os estudos existentes nessa região estão relacionados com soroprevalência.
Esse projeto específico se propõe a descrever uma população com diagnóstico
clínico estabelecido de VHB e VHD, acompanhada em ambulatório especializado,
durante os cincos anos de funcionamento. Tal descrição abrangeria as formas
clínicas da doença, determinantes epidemiológicos e biomoleculares da população
estudada.
18
2 OBJETIVOS
2.1 Geral
Descrever os aspectos moleculares, clínicos e epidemiológicos da infecção
pelo vírus da hepatite B e Delta em pacientes atendidos no município de Cruzeiro do
Sul- Acre no período de 2001 a 2006.
2.2 Específicos
•
Descrever os casos diagnosticados quanto: sexo, idade, naturalidade,
procedência, grau instrução, ocupação.
•
Identificar possíveis fatores de risco relacionados à transmissão;
•
Descrever as formas clínicas encontradas e evolução da doença, perfil
sorológico, achados laboratoriais e procedimentos de média complexidade,
como: exames de imagem, endoscopia digestiva alta e histopatologia;
•
Descrever a freqüência de Coinfecção VHB/VHD na população estudada;
•
Descrever a evolução clínica e laboratorial dos pacientes submetidos ao
tratamento específico;
•
Descrever os genótipos encontrados nas amostras examinadas, associandoos as formas clínicas.
19
3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Modelo de estudo:
Estudo descritivo, de uma série de casos, retrospectivo (período 2001 a
2005) e prospectivo de casos novos diagnosticados no período de janeiro a
novembro de 2006.
3.2.Local do estudo:
a) Descrição da área estudada:
O estado do Acre está situado na Amazônia Brasileira, no extremo sudoeste
da região Norte, ocupando uma área de 153.194 Km2. Limita-se ao norte com o
estado do Amazonas, ao leste com estado de Rondônia, ao sudoeste com a Bolívia
e o Peru (Figura 3). Administrativamente, é composta por 22 municípios, sendo
Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre.
O estado é dividido em cinco regionais, de acordo com a nova configuração
geopolítica, denominadas de: regional do vale do Juruá, Tarauacá e Envira, alto
Purus, alto Acre e baixo Acre.
O município de Cruzeiro do Sul (Figura 4), sede da regional do Vale do
Juruá, localiza-se na margem esquerda do rio Juruá, distante 640 km da capital Rio
Branco. Limita-se ao norte com Estado do Amazonas, ao sul com o município de
Porto Valter, a leste com o município de Tarauacá e a oeste com os municípios de
Rodrigues Alves, Mâncio Lima e com a República do Peru, com extensão territorial
de 7881 Km2. A população total do município é estimada em 85.765 habitantes,
principalmente
de
adultos
jovens,
com
densidade
demográfica
de
8,55
hab/Km2 (IBGE, 2005).
Era habitado por diversas tribos indígenas, merecendo especial destaque o
grande império dos Nawas, do tronco lingüístico Pano, existindo remanescentes no
interior até os dias de hoje, somando as outras tribos, como: Kaxinawá e Araras. Do
tronco lingüístico Aruak, tem as tribos Ashaninka (antiga Kampas) e Kulinas.
20
Figura 3 – Mapa do estado do Acre
Os nordestinos atraídos pela propaganda de enriquecimento rápido através
da exploração da borracha associado a grande seca nordestina de 1877 foram
importantes na ocupação desse estado. Além dos nordestinos, imigrantes
procedentes do oriente médio, como sírios, libaneses e turcos atraídos pelo intenso
comércio numa época áurea da produção da borracha, também ajudaram na
ocupação, formando cidades, influenciando na constituição de uma cultura peculiar
na Amazônia brasileira.(SOUZA, 2002).
O município conta com três hospitais, com um total de 243 leitos disponíveis,
além de dois Centros e 15 Postos de Saúde, executando os programas de saúde da
família e agentes comunitários. As doenças infecto-contagiosas são causas
importantes dos problemas de saúde da população, exemplificando a Hanseníase,
Malária, Leishmaniose e Hepatite.
O Hospital Geral de Cruzeiro do Sul (HGCZS) oferece os serviços de urgência
e emergência, unidades de internação, centro cirúrgico e ambulatório de
especialidades, inclusive a Infectologia. É referência para o atendimento do SUS
21
para o município de Cruzeiro do Sul e para os demais municípios que compõem a
regional do vale do Juruá (Mâncio Lima, Rodrigues Aves, Porto Valter e Marechal
Thaumaturgo) e dois municípios do estado do Amazonas (Guajará e Ipixuna), que se
localizam a margem esquerda do rio Juruá.
Figura 4 - Mapa do estado do Acre com destaque para os municípios que
compõem a regional do Vale do Juruá
3.3 População do estudo
A população estudada foi composta de pacientes da demanda do serviço de
Ambulatório de Infectologia e Internação Hospitalar do HGCZS, no período de 2001
a 2006, com diagnóstico clínico e sorológico de hepatite viral B e Delta e de
pacientes procedentes da notificação da vigilância epidemiológica, com semelhante
diagnóstico. Os pacientes foram incluídos no estudo de acordo com os critérios
descritos abaixo:
22
3.3.1 Critérios sorológicos
Pacientes infectados com VHB: indivíduos com sorologia positiva para o
antígeno de superfície do VHB (HBsAg); ou Anti HBcTotal isolado (HBsAg e Anti –
HBs negativo).
Pacientes infectados com VHB + VHD: indivíduos com as características
descritas para o VHB e sorologia positiva para anticorpo do antígeno delta (Anti-VHD
Total).
3.3.2 Critérios clínicos
Para o caso de Portador Inativo do VHB, foi caracterizado com o
preenchimento de todos os critérios descritos e para as demais formas clínicas, que
se manifestam de forma heterogênea, foram classificadas de acordo com as
manifestações que estavam presentes na avaliação clínica.
Portador Inativo: presença do marcador sorológico HBsAg por um período
superior a 6 meses, sem sintomas, sem alterações de Aminotransferase (ALT/TGP e
AST/TGO).
Forma aguda: pode ser assintomática ou com presença de sinais e sintomas
inespecíficos, tais como: anorexia importante, náuseas, vômitos, dor abdominal e em
alguns pacientes febre baixa. Posteriormente pode evoluir com icterícia, colúria e
acolia. Nos adultos com menor freqüência a artrite. Hepatomegalia ao exame físico.
História
epidemiológica
compatível.
Elevações
dós
níveis
séricos
de
Aminotransferases e positividade para AntiHBc IgM ou AntiHBcIgG no teste
sorológico.
Fulminante: é uma forma aguda grave conseqüente a insuficiência hepática a
partir do período ictérico, com acentuação dos sintomas dispépticos e persistência
da febre. Observa-se regressão da hepatomegalia. Associa sinais clínicos de
encefalopatia hepática aguda (alterações do sensório, desde forma leve até o coma)
distúrbios metabólicos, hidroeletrolíticos e coagulopatia.
23
Forma Crônica: evolução por mais de seis meses, variando clinicamente em
assintomático, oligoassintomático. Fadiga e sintomas dispépticos são as queixas
mais freqüentes. Estigmas de hepatopatia crônica (eritema palmar, aranha vascular,
ginecomastia, atrofia muscular e circulação colateral) podem está presente,
dependendo do estágio evolutivo. Sinais de descompensação (ascite e/ou
hemorragia digestiva e/ou encefalopatia hepática). Aminotransferases normais ou
alteradas e presença de marcadores sorológicos - AgHBs, AgHBe, AntiHBe e
AntiHBc IgM ou IgG. Histopatologia com sinais de atividade necroinflamatória e
fibrose. Nesta forma se agrupa: Hepatite Crônica, Cirrose e Hepatocarcinoma.
Forma Crônica em tratamento: pacientes com hepatite crônica e cirrose
hepática compensada com indicações de tratamento.
A indicação de tratamento com Interferon e/ou Interferon + Lamivudina e/ou
Lamivudina, foi baseada na resolução do Ministério da Saúde através da Secretaria
da Assistência a Saúde, portaria nº 469 (julho/2002).
3.4 Seleção dos pacientes
Os pacientes atendidos de 2001 a 2006 foram selecionados a partir de uma
lista de censo do serviço de Infectologia, criada naturalmente pela médica
assistente, das Fichas de Notificação computadas no SINAN (Sistema de
Informação Nacional de Agravos de Notificação) e dos registros de óbitos para
identificação dos casos de hepatite fulminante.
3.4.1 Fontes de informações
a) Arquivo de prontuários médico do Ambulatório do HGCZS.
Após consentimento e liberação por escrito da Direção do Hospital Geral de
Cruzeiro do Sul, foram selecionados os prontuários dos pacientes que pertenciam a
lista descrita acima, contendo a hipótese diagnóstica de hepatite viral e confirmação
sorológica para hepatite B. Ao incluir prontuários atendidos pelo Clínico Geral e
Pediatra,
foi
observado
que
acompanhamento na Infectologia.
os
pacientes
identificados
já
estavam
em
24
Os casos novos atendidos no período de janeiro a novembro de 2006 foram
incluídos no estudo no momento do atendimento, após assinatura do Termo de
Consentimento.
No serviço de Infectologia do HGCZS, grande parte das informações contidas
nos prontuários foi registrada pela proponente do projeto, por ser a única médica
infectologista de referência para este tipo de patologia. Assim sendo, a maioria das
informações foram registradas de maneira uniforme porque seguiu um roteiro
padronizado de atendimento em relação à epidemiologia, exame clínico e
procedimento de investigação diagnóstica, através de exames hematológicos,
bioquímicos, sorológicos, exames de imagem, endoscopia digestiva e histopatologia,
de acordo com a necessidade e possibilidade de realização.
b) Serviço de Vigilância em Hepatites das Secretarias Municipais de Saúde
dos municípios de Cruzeiro do Sul (AC), Guajará e Ipixuna (AM) e Secretaria
Estadual - Acre.
Foi feito um levantamento através do SINAN dos casos positivos de hepatites
B e Delta no período de 2001 a 2006 para complementação da casuística, e também
para verificar a abrangência do atendimento do HGCZS em relação aos casos
notificados. Foram impressas as fichas de pacientes com pendência de dados nos
prontuários e pacientes que não faziam parte da casuística.
A inclusão dos municípios de Guajará e Ipixuna no estudo deve – se ao fato
dos pacientes procedentes desses locais serem diagnosticados e atendidos em
nosso serviço.
Caso fosse necessário, os pacientes poderiam ser convocados para
complementação de dados da ficha de investigação ou para coleta de sangue.
Muitos
pacientes
selecionados
da
Ficha
de
Notificação
não
faziam
acompanhamento médico, porque procediam de investigação de surtos ou de
comunicantes de paciente soropositivo para VHB/VHD.
25
c) Serviço de estatística do HGCZS.
Foi feito o levantamento de todos os casos de óbito por hepatite fulminante ou
insuficiência hepática, no período de 2001 a 2006, usando como fonte de informação
o registro de óbito do serviço de estatística do HGCZS, com a finalidade de resgatar
casos não conhecidos e informações de prontuário médico.
3.5 Procedimentos
3.5.1 Procedimento Clínico
Foi utilizado um instrumento de pesquisa aplicado, uma ficha de investigação
(anexo), buscando contemplar todas as variáveis a serem pesquisadas de acordo
com os objetivos específicos do projeto.
No estudo retrospectivo as informações eram coletadas dos prontuários
médicos, das Fichas de Notificação e registro de óbito e transcritas para a Ficha de
Investigação. No prospectivo, os pacientes no momento do atendimento eram
abordados sobre o estudo e se houvesse consentimento a Ficha de Investigação era
aplicada.
3.5.2 Testes laboratoriais inespecíficos
Os pacientes após atendimento médico eram submetidos a exames
laboratoriais hematológicos e dosagem das enzimas hepática, realizados na rotina
do Laboratório do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, utilizando equipamento semiautomático para Hematologia e espectofotômetro para os exames de bioquímica. Os
resultados dos exames constavam nos prontuários, para serem transcritos.
3.5.3 Testes Sorológicos
Testes sorológicos também eram solicitados aos pacientes, por ocasião do
atendimento e a coleta para este exame era feita nos Laboratórios do Hospital Geral
e municipal. As amostras eram centrifugadas e separadas as alíquotas de soro, e
26
enviadas ao LACEN (Laboratório Central) no município de Rio Branco para
processamento, e retorno para o local de origem em sessenta dias. Esses
resultados também se encontravam registrados em prontuários.
3.5.4 Testes de biologia molecular
•
Seleção de amostras coletadas e estocadas previamente
Amostras já coletada previamente (período 2001 a 2005), estocadas na
soroteca do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul (único local provido de freezer a – 40º
C) e LACEN foram selecionadas para a realização do exame, considerando tempo
de coleta, forma de armazenamento (- 40º C), ausência de descongelamento no
período estocado e material coletado (plasma ou soro), de acordo com a técnica a
ser empregada.
As amostras de pacientes crônicos em tratamento foram coletadas prétratamento, com objetivo de realizar exame biomolecular do vírus VHB (PCR), como
forma de contribuição na avaliação da resposta terapêutica mediante protocolo
estabelecido na Unidade. As demais amostras foram coletadas em situações que
na ocasião do diagnóstico o LACEN não disponibilizava de Kits para os testes
sorológicos,
ou
inquéritos
de
surtos, orientando a
coleta de
sangue
e
armazenamento para posterior avaliação.
•
Amostras do estudo prospectivo
Amostras de sangue de pacientes que entraram no estudo no período de
janeiro a novembro de 2006 foram coletadas após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido Pós-informação (anexo).
•
Coleta de amostras
As amostras que foram coletadas previamente, algumas foram coletadas em
tubo de sistema vacutainer® com EDTA K 3 , outras em tubo comum, diferente das
amostras do estudo prospectivo, onde todas foram coletadas pelo sitema vacutainer
27
.
Foram coletados 5 ml de sangue total, por punção venosa e através da
centrifugação foi separada alíquota de plasma ou soro em dois tubos estéreis
devidamente identificados e armazenados a – 40º C, para posterior análise
biomolecular.
•
Transporte das amostras
As amostras coletadas e as selecionadas foram transportadas por via aérea
em conservação adequada (gelo seco) para o Laboratório de Virologia da Fundação
de Medicina Tropical do Amazonas e posteriormente para o Laboratório de Patologia
e Biologia Molecular do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz/ FIOCRUZ/ Salvador –
Bahia, instituição responsável pelo processamento das amostras do VHB.
3.5.5 Técnica para avaliação do PCR
A primeira etapa deste processo foi extração do ácido nucléico viral, utilizando
kits comerciais (QUIAamp DNA viral para VHB, marca Quiagen), que consiste no
isolamento e purificação da molécula.
A amplificação foi realizada empregando-se a Reação em Cadeia da
Polimerase (PCR), que utiliza uma enzima termoestável (DNA Polimerase) e na
presença de oligunucleotídeos iniciadores (primers) e dos nucleotídeos que compõe
a molécula de DNA, amplifica a região de interesse.
A região alvo para amplificação foi à região S do VHB. Esta região em ambos
os lados do gene foi amplificada como dois fragmentos sobrepondo, usando pares
de primers HB1-HB2 e HB3-HB4.
A primeira amplificação foi executada quando adicionamos o 5 µl do DNA
extraído e misturamos ao mix (45 µl), contendo a seguinte composição: água
destilada, Tampão, DNTPs, MgCl2, primers e Taq polymerase.
Esta mistura foi colocada no equipamento Termociclador, que sobre ação de
sucessivos ciclos de temperatura e da enzima Taq polymerase vai realizar o
processo de amplificação da seguinte forma:
28
•
Desnaturação: separação das fitas de DNA em temperatura de 94° C
•
Anelamento
ou
Hibridização:
ligação
dos
primers
às
seqüências
complementares em temperatura de 72° C
•
Extensão das fitas após síntese em temperatura de 72° C
O produto deste primeiro teste de PCR, foi repetido em um segundo teste,
Nested de PCR, utilizando outros pares de primers e submetido às mesmas
condições de temperatura.
3.5.6 Testes de genotipagem
As amostras que conseguiram ser amplificadas foram submetidas ao
procedimento de purificação com o Kit de Purificação (Quiagen) e posteriormente ao
sequenciamento automático direto, utilizando o seqüenciador ABI 3100 de 16
capilares, procedimento baseado no método de Sanger et al. (1997).
3.6 Análise dos dados
Os dados foram registrados em um banco de dados, utilizando o programa
Excel.
Análises estatísticas foram conduzidas utilizando-se pacotes de software,
incluindo o Epi-Info
®
versão 6. A análise dos dados foi iniciada com descrição
estatística simples, IC 95%. E testes de significância foram empregados para
validação de médias para o cálculo de proporções encontradas, utilizando o teste de
Qui-Quadrado e o teste T de Student para comparação de médias. Para avaliação
da associação VHB/VHD foram realizadas análise de regressão logística com
calculo do odds ratio e posterior análise de significância estatística de algumas
variáveis.
Para análise das seqüências genômicas foram utilizados os programas
Phred/phrap (Ewing and Green,1988), Sequencing Aanlysis versão 5.1 (Applied
Biosystems) e Sequence Manager do pacote Lasergene (DNASTAR, Ins, madison,
Wi), específicos para alinhamento de seqüências nucleotídicas e comparadas com
29
seqüências depositadas no “GenBank”. Esses programas são de livre acesso e
rotineiramente usados nos laboratórios.
3.7 Considerações éticas
O estudo foi iniciado após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e as pessoas que foram incluídas no
estudo prospectivo assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após
leitura do mesmo.
30
4 RESULTADOS
O estudo incluiu 355 pacientes, originados de 243 prontuários médico de
pacientes em acompanhamento, 104 de Fichas de Notificação e 08 de atestados de
óbito. Esses pacientes clinicamente foram identificados em, 41 (11,5%) casos de
hepatite aguda pelo VHB, 122 (34,4%) hepatites crônicas, 50 (14,1%) com cirrose
hepática, 16 (4,5%) casos de hepatite fulminante, 124 (34,9%) Portadores Inativos
do VHB e 02 (0,6%) com diagnóstico de Hepatocarcinoma.
A maioria dos pacientes incluídos no estudo foi reativo para os marcadores
sorológicos HBsAg e anti-HBc IgG, exceto dois pacientes com forma fulminante em
que o HBsAg foi negativo. Marcador de replicação (HBeAg) foi positivo em 23,5%
(47/200) e quanto ao Anti-HBe em 78,1% (168/215). Anti-VHD foi pesquisado em
252 pacientes com reatividade de 55,5% (140/252) (Tabela 1).
Tabela 1. Perfil sorológico da população estudada
Marcador
N
positivo
%
negativo
%
HBsAg
355
353
99,4
2
0,56
AntiHBcIgG 355
355
100
AntiHBcIgM 40
23
57,5
17
42,5
HBeAg
200
47
23,5
153
76,5
AntiHBe
215
168
78,1
47
21,9
AntiHDT
252
140
55,6
112
44,4
Do total de pacientes avaliados, 64,5% (234/355) era do sexo masculino e
34,1% (121/355) do sexo feminino. Com variação de idade entre 5 e 75 anos, média
de idade igual a 28,3 anos, ( 12,6 anos) figura 5. Os indivíduos incluídos pelas
fichas de notificação não apresentaram distribuição por sexo ou idade diferentes dos
incluídos pelo acompanhamento clínico.
31
60
50
40
30
Frequ ën cia
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
idade
Figura 5. Distribuição da população estudada por grupo mde idade
Não foi observado variação de idade entre os sexos (X² = 1,19, p=0,27). A
média de idade variou entre as formas clínicas, hepatite aguda 17 anos, hepatite
crônica e cirrose hepática 31 anos, hepatite fulminante 17 anos, portador
assintomático 28 anos e hepatocarcinoma 69 anos (X² = 63,71, p<0,001), mesmo
depois de estratificado por sexo esta variação se mantém estatisticamente
significativa (X2=15,612, p<0,001; X2= 20,666, p<0,001) para homens e mulheres
respectivamente, conforme tabela 2.
Tabela 2. Média de Idade entre as formas clínicas
Forma Clínica
Aguda
Fulminante
H. Crônica
Cirrose
Portador Inativo
Hepatocarcinoma
Média de Idade
17 anos
17 anos
31 anos
31 anos
28 anos
65 anos
X² P
63,71
<0,001
32
A maioria dos pacientes era natural e procedente do estado do Acre,
principalmente do município de Cruzeiro do Sul, sendo 40% (142/350) e 57%
(205/354) respectivamente. Para os demais municípios do Acre, a ordem
decrescente de freqüência quanto a naturalidade e procedência foi 16,1% (57/350) e
9,9% (35/354) para Porto Valter, 6,2% (22/350) e 6,8% (24/354) Rodrigues Alves,
4,8% (17/350) e 6,8% (24/354) Mâncio Lima e 5,1% (18/350) e 2,0% (7/354) para
Marechal Thaumaturgo.
Com relação à naturalidade dos pacientes nascidos em municípios do estado
do Amazonas: 13,2% (47/350) eram natural de Guajárá, 11% (39/350) de Ipixuna,
0,6% (2/350) de Eirunepé e 0,3% (1/350) de Manaus e Atalaia do Norte. Quanto à
procedência dos casos, ficaram restrita aos municípios de Guajará 10,7% (38/354),
Ipixuna 5,6% (20/350) e Eirunepé 0,3% (1/350).
Em relação a outras características demográficas. Geralmente tinham baixo
nível de escolaridade, onde 49,9% (176/321) tinha o ensino fundamental incompleto,
13,2% (47/321) o ensino médio e somente 2,5% (9/321) tinha o terceiro grau. A
população de analfabetos correspondeu a 25,1% (89/321) da população avaliada.
Quanto à ocupação da população estudada, 24,8% (88/279) eram estudantes,
16,3% (58/279) agricultores, 14,9% (53/279) do lar, entre outras.
O número de casos nos permite estimar a taxa de incidência cumulativa de
hepatite B para a região estudada, revelando uma taxa estimada de 254
casos/100.000 habitantes no período. Quando esta incidência é calculada por
município e por ano, observamos uma variação de 42 casos/100.000 habitantes/ano
em Cruzeiro do Sul, e de 117 casos/100.000 habitantes/ano no município de Porto
Valter.
4.1 Formas clínicas
4.1.1 Hepatite aguda
Dos 41 casos agudos registrados, 43% (18/41) tiveram origem no prontuário
médico (com seguimento clínico) e 57% (23/41) na ficha de notificação. Quanto ao
33
sexo, 61% (25/41) foram do sexo masculino e 39% (16/41) do sexo feminino. A
idade variou entre 5 e 35 anos, com média de idade de 17,8 anos ( 7,6 anos).
A maioria dos pacientes era procedente de Cruzeiro do Sul 43,9% (18/41),
seguido de Rodrigues Alves 22% (9/41) e quanto à ocupação a maioria também era
de estudantes 65,5% (19/29).
Possíveis fatores envolvidos na transmissão da infecção foram identificados
nesta forma clínica, através das respostas contidas no instrumento de pesquisa.
Relato de óbito por hepatite a família foi observado em 93,8% (15/16), extração
dentária em 62,2% (23/37), história familiar de hepatite em 48,7% (19/39), aplicação
de injeções por curiosos em 39,5% (15/38) e costume de compartilhar lâmina de
barbear em 33,3% (7/21). Outros fatores como, cirurgia, transfusão de sangue,
tatuagem, história de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e uso de drogas
intravenosas (UDI) foram menos relatados pelos pacientes, segundo tabela 8.
Em relação ao perfil sorológico desses pacientes quanto à presença de
marcadores de infecção aguda, replicação viral e presença do vírus Delta,
encontramos o seguinte padrão: anti-HBc IgM positivo em 90% (9/10) dos casos, IC
95% 55,5% a 99,7%; HBeAg positivo em 63,6% (14/22) IC 95% 40,7% a 82,8%;
anti-BHe, positivo em 44,8% (13/29) IC 95% 26,4% a 83,5% e o anti-HD Total
positivo em 66,7% (18/27) IC 95% 46% a 83,5%, de acordo com a tabela 9.
A grande maioria relatava início súbito dos sintomas, com aparecimento de
anorexia, náuseas, febre e indisposição. Tabela 3 mostra a distribuição dos
principais sinais e sintomas encontrados.
Os níveis séricos de ALT variaram entre 65 UI/l e 3.266 UI/l, média de 513,8
UI/l. Os de AST variaram entre 48 UI/l e 3.220 UI/l, média de 399,4 UI/l (± 608,06
UI/l).
A evolução desses pacientes foi avaliada em períodos variados, sempre
superior a seis meses do quadro agudo. Para cronicidade em 35,9% (14/39) dos
casos, óbito e forma inativa da infecção em 5,1% (2/39) e a cura foi observada
34
somente em 7,7% (3/39). Entretanto não houve seguimento de 46,2% (18/39) dos
pacientes, todos esses incluídos das fichas de notificação. Dois pacientes ainda não
completaram seis meses de observação, segundo tabela 10.
Tabela 3. Distribuição dos sintomas hepatite aguda
SINTOMAS/SINAIS
N (%)
TOTAL (%)
Anemia
3 (13,0)
23 (100)
Anorexia
21 (60,0)
35 (100)
Astenia
39 (95,1)
41 (100)
Coluria
39 (95,1)
41 (100)
Icterícia
33 (86,8)
38 (100)
Dor abdominal
37 (92,5)
40 (100)
Febre
34 (82,9)
41 (100)
Esplenomegalia
11 (39,3)
28 (100)
Hepatomegalia
38 (92,7)
41 (100)
4.1.2 Hepatite fulminante
Dos 16 casos registrados, 50,0% (8/16) teve origem no atestado de óbito,
37,5% (6/16) no prontuário médico (com seguimento clínico) e 12,5% (2/16) na ficha
de notificação. Quanto ao sexo, 62,5% (10/16) foi do sexo masculino e 37,5% (6/16)
do sexo feminino. E a idade variou entre 5 e 37 anos, com média de idade 17,0 anos
(± 7,8 anos).
Dos casos de hepatite fulminante avaliados, 37,5% (6/16) proveniente de
Porto Valter/AC, 31,3% (5/16) de Cruzeiro do Sul, 12,5% (2/16) de Guajará/AM e
6,3% (1/16) distribuído nos municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Marechal
Thaumaturgo, um caso em cada município.
Possíveis fatores envolvidos na transmissão da infecção, identificados nesta
forma clínica foram, história de óbito na família por hepatite obtido de somente 6
pacientes, com confirmação de todos (100%) e hepatite na família em 66,7% (6/9).
35
Sendo que cirurgia, transfusão de sangue, tatuagem, história de dst e udi não
tiveram importância como possíveis fatores implicados na transmissão, que pode ser
observado na tabela 8.
Em relação ao perfil sorológico dos pacientes com hepatite fulminante, 2/16
com HBsAg negativo, todos Anti-HBcTotal positivo. Somente sete pacientes foram
testados para o anti-HBc IgM e revelaram resultado positivo, HBeAg positivo em
83,3% (5/6) com IC 95% 35,9% a 99,6%; Anti-BHe positivo em 40% (2/5) com IC
95% 5,3% a 85,3% e positivo para o anti-VHD em 85,7% (6/7) com IC 95% 42,1% a
99,6% (Tabela 9).
Foi observado que dos 16 casos registrados, o intervalo de dias entre o início
dos sintomas e o óbito foi em média de cinco dias. Em duas famílias foram
registrados casos de mais de um óbito entre seus membros.
A tabela 4 mostra os principais sinais e sintomas relatados pelos casos de
hepatite fulminante.
Tabela 4. Sinais e sintomas Hepatite Fulminante
SINTOMAS/SINAIS
N (%)
TOTAL (%)
Anemia
1 (33,0)
3 (100)
Anorexia
10 (90,9)
11 (100)
Astenia
14 (93,3)
15 (100)
Colúria
13 (86,7)
15 (100)
Icterícia
6 (100)
6 (100)
Dor abdominal
12 (100)
12 (100)
Febre
15 (100)
15 (100)
Vômitos
4 (80)
5 (100)
Hematemese
4 (40)
10 (100)
Encefalopatia
16 (100)
16 (100)
Hepatomegalia
12 (80)
15 (100)
Esplenomegalia
6 (42,9)
14 (100)
36
O nível de ALT variou entre 85 UI/l e 4.468 UI/l, média de 601 UI/l (desvio
padrão 1.181,6 UI/l). Os de AST variaram entre 79 UI/l a 2.469 UI/l, média de 369,4
UI/l ( 638,12 UI/l). Os níveis séricos de ALT nos casos fulminantes variaram
significativamente de outras formas clinicas, estando próximos, em media, dos níveis
dos casos agudos (Figura 6).
Esses pacientes evoluíram para o óbito em 93,8% (15/16) dos casos (IC 95%
69,8 a 99,8%) e somente um paciente, anti-HD total reativo, sobreviveu ao quadro
grave, porém com evolução para cronicidade (Tabela 10).
4.1.3 Portador inativo
Dos 124 casos registrados, 68,8% (85/124) teve origem no prontuário médico
(com seguimento clínico) e 31,2% (39/124) na ficha de notificação. Quanto ao sexo,
48,4% (60/124) foi do sexo masculino e 51,6% (64/124) do sexo feminino. E a idade
variou entre 6 e 75 anos, com média de idade 28 anos ( 11,5 anos).
A maioria dos pacientes era procedente de Cruzeiro do Sul 71% (88/124) e
quanto à ocupação a maioria relatava atividade do lar 26,3% (25/95).
Com relação aos possíveis fatores de risco associados à aquisição da
infecção, 80,8% (63/78) relatava extração dentária; 75,4% (43/57) óbito na família
por hepatite; 54,7% (64/117) história de hepatite na família; 42,6% (26/61) hábito de
compartilhar lâmina de barbear; 32,1% (26/81) aplicação de injeções por curiosos;
31,8% (21/66) compartilhar dormida e 26,3% (15/57) compartilhar escova de dente.
Sendo que cirurgia, transfusão, tatuagem, DST e UDI, tiveram poucos relatos,
segundo tabela 8.
Quanto à presença de marcadores de infecção pelo VHB, replicação e
presença do vírus Delta, 85,5% (59/69) anti-BHe reativos, IC 95% 73,6 a 91; 28,6%
(24/84), IC 95% 20,0 a 40,3 reativos para o anti-HD Total. 15,9% (10/63) IC 95% 8,9
a 28,7 foram HBeAg positivo. Nenhum dos pacientes testados apresentou
reatividade para o anti-HBc IgM (Tabela 9).
37
Os pacientes com essa forma clínica foram assintomáticos na sua maioria e
quando sintomáticos, a queixa relatada com mais freqüência era dor abdominal.
O nível sérico de ALT variou entre 7UI/l e 42UI/l, média de 24,6UI/l ( 9,3UI/l)
e de AST a variação foi de 5UI/l e 70UI/l, média de 23,5UI/l ( 12,6UI/l).
Do total de pacientes nesta forma clínica, 49,6% (62/124) realizou
ultrassonografia abdominal e dessas 88,7% (55/62) estava sem alterações
ecográficas visíveis, sem sinais de hipertensão portal e sem esplenomegalia.
Esses pacientes mantiveram-se portadores em 71,8% (89/124), evolução
para a cura em 0,8% (1/124) com registro de soroconversão do antígeno de
superfície (anti-HBs) e sem seguimento 27,4% (34/124) (Tabela 10).
4.1.4 Hepatite Crônica
Dos 122 casos registrados, 70,5% (86/122) teve origem no prontuário médico
(com seguimento clínico) e 29,5% (36/122) na ficha de notificação. Quanto ao sexo,
85,2% (104/122) foi do sexo masculino e 14,8% (18/122) do sexo feminino. A idade
variou entre 8 e 56 anos, com média de idade 31 anos ( 11,9 anos).
Os pacientes tiveram em Cruzeiro do Sul 51,6% (63/122) como local de
procedência, seguido de Guajará 11,5% (14/122). Quanto à ocupação 33,7%
(34/101) era agricultores, 29,7% (30/101) estudantes, e os demais em outras
profissões.
Com relação aos possíveis fatores envolvidos na transmissão da infecção, foi
registrada extração dentária em 86% (86/100), história de hepatite 62,4% (73/117),
relato de óbito na família 61,8% (42/68), aplicação de injeções por curiosos 62,2%
(61/98), hábito de compartilhar lâmina de barbear 49,4% (39/74), compartilhar
dormida 34,5% (29/84) e compartilhar escova de dente 24,4% (19/57). Cirurgia e
transfusão tiveram um registro inferior a 10%. Tatuagem, dst e udi não tiveram
importância como possíveis fatores de risco na transmissão (Tabela 8).
38
Na avaliação sorológica dessa forma clínica foi observada positividade para o
Anti-HBe em 83,5% (66/79) dos casos com IC 95% 73,5% a 90,9%, Anti-HDT
positivo em 60,6% (57/94) com IC 95% 50% a 70,6%. É importante registrar a
positividade para o HBeAg em 18,2% (14/77) dos casos (Tabela 9).
A tabela 5 mostra os principais sinais e sintomas relatados pelos casos de
hepatite crônica.
Tabela 5. Sinais e Sintomas da Hepatite Crônica
SINTOMAS/SINAIS
N (%)
TOTAL (%)
Anemia
15 (16,9)
89
Anorexia
48 (43,2)
111
Astenia
88 (73,3)
120
Coluria
64 (52,9)
121
Icterícia
53 (44,9)
118
Dor abdominal
98 (81)
121
Febre
54 (44,3)
122
Vômitos
24 (21,8)
110
Hepatomegalia
100 (82)
122
Esplenomegalia
77 (70,6)
109
O nível sérico de ALT variou entre 6UI/l e 409UI/l, média de 73UI/l ( 70UI/l) e
de AST a variação foi de 10UI/l a 322UI/l, média de 59UI/l ( 56,4UI/l).
Do total de pacientes nesta forma clínica, 71,8% (89/122) realizou
ultrassonografia abdominal e dessas 85,4% (76/89) estava com alterações e em
ordem decrescente de freqüência se apresentavam com fígado aumentado, textura
heterogênea, esplenomegalia, contorno hepático irregular, micronodulos e ascite.
Foram submetidos à Endoscopia digestiva, 47 pacientes com essa forma
clínica e 38,3% (18/47) apresentaram varizes esofágicas, variando de grau I a II.
39
Dos pacientes em seguimento a evolução foi classificada em crônico
compensado em 56,6% (69/122) dos casos com IC 95% 47,3% a 65,5%; cirrose
hepática 4,9% (5/122); óbito 8,2% (10/122), portador inativo 0,8% (1/122) e cura em
0,8% (1/122). Foram 28,7% (35/122) pacientes sem seguimento (Tabela 10).
Em relação à indicação de biópsia hepática, entre os 122 pacientes
portadores crônicos, 12 tiveram contra-indicação do procedimento, 04 não tinham
indicação e somente 17 realizaram. O resultado histopatológico variou de leve a
intensa atividade inflamatória e de ausência de fibrose a intensa atividade fibrótica,
de acordo com a classificação de Metavir (Tabela 6). Esse resultado orientou a
indicação para o tratamento de 14 pacientes.
Tabela 6. Resultado histopatológico dos pacientes crônicos submetidos à
biópsia hepática per-cutãnea.
RESULTADOS N %
TOTAL %
A1F0
4 (23,5)
17
A2F1
2 (11,8)
17
A2F2
4 (23,5)
17
A2F3
4 (23,5)
17
A2F4
2 (11,8)
17
A3F3
1 (5,9)
17
Total
17
100 %
4.1.5 Cirrose
Registrado 50 casos e 92% (46/50) teve origem no prontuário médico (com
seguimento clínico) e 8,% (4/50) na ficha de notificação. Quanto ao sexo, 66%
(33/50) foi do sexo masculino e 34% (17/50) do sexo feminino. A idade variou entre
12 e 62 anos, com média de idade 31 anos ( 12,6 anos).
Os pacientes tiveram como local de procedência, Cruzeiro do Sul em 58%
(29/50) dos casos, seguido de Rodrigues Alves 10% (5/50).
40
Quanto à ocupação nesta forma clínica, eram agricultores 31,7% (13/41),
atividade do lar em 29,3% (12/41) e estudantes em 26,8% (11/41), e os demais em
outras profissões.
Com relação aos possíveis fatores envolvidos na transmissão da infecção,
foram registradas 71,1% (32/45) para história familiar de hepatite; 75,6% (35/45)
história pessoal de hepatite; 60% (15/25) óbito na família; 81,3% (26/32) aplicação
de injeções por curiosos; 73,5% (25/34) compartilharam lâmina de barbear; 35,3%
(12/34) compartilhou escova de dente; 91,2% (31/34) extração dentária, 30,4%
(14/46) transfusão, 23,6% (11/46) cirugia. Sendo que dst e udi não tiveram
importância nesta forma clínica, como possíveis fatores envolvidos na transmissão,
segundo tabela 8.
Quanto ao perfil sorológico foram positivo para o AntiBHe 84,4% (27/32) com
IC 95% (67,2% a 94,7%), positivo para o antiHDT em 87,2% (34/39) com IC 95%
(72,6% a 95,7%). Também foi registrado reatividade para o HBeAg em12,9% (4/31)
(Tabela 9).
A tabela 7 mostra os principais sinais e sintomas relatados pelos casos de
cirrose hepática.
Tabela 7. Sinais e Sintomas da Cirrose
SINTOMAS/SINAIS
SIM (%)
Anemia
Anorexia
Astenia
Coluria
Icterícia
Dor abdominal
Febre
Vômitos
Hematemese
Perda ponderal
Edema
Ascite
Aranhas vasculares
Hepatomegalia
Esplenomegalia
25 (52,1)
25 (50)
43 (86)
21 (42)
28 (56)
45 (90)
14 (28)
9 (18)
8 (16)
26 (53)
26 (53)
35 (72,9)
25 (51)
12 (24)
47 (94)
TOTAL (%)
48
50
50
50
50
50
50
50
50
49
47
48
49
50
50
41
O nível sérico de ALT variou entre 9UI/l e 211UI/l, média de 60UI/l ( 53,2UI/l)
e de AST a variação foi de 9UI/l a 369UI/l, média de 55UI/l ( 60,9UI/l).
Do total de pacientes nesta forma clínica, 45 realizaram ultrassonografia
abdominal e dessas 100% estavam com alterações e em ordem decrescente de
freqüência
se
apresentavam
com
fígado
diminuído,
textura
heterogênea,
esplenomegalia, contorno hepático irregular, ascite e dilatação veias hepáticas.
Foram submetidos à Endoscopia digestiva, 28 (57,1%) pacientes dessa forma
clínica e 75% (21/28) apresentaram varizes esofágicas, variando de grau II a III.
Dos pacientes em seguimento a evolução foi classificada como crônico
compensado em 38% (19/50) dos casos; crônico descompensado em 10,0% (5/50);
óbito em 42% (21/50) e cura em 2,0% (1/50). Do total de pacientes dessa forma
clínica, 8% (4/50) de pacientes não tiveram seguimento (Tabela 10).
4.1.6 Hepatocarcinoma
Foram registrados dois casos de tumor de fígado ambos com origem no
prontuário médico (com seguimento clínico). Quanto ao sexo, os dois eram do sexo
masculino. A idade identificada foi 65 e 74 anos.
Os dois pacientes eram naturais de Ipixuna e tiveram Cruzeiro do Sul como
local de procedência, ambos eram agricultores.
Com relação aos possíveis fatores envolvidos na transmissão da infecção,
relatavam história de hepatite na família e um deles com óbito. Ambos negaram
história pessoal de hepatite.
Quanto ao perfil sorológico os dois eram reativos para o HBsAg e anti-HBc
Total, um deles portador do anti-HBe e anti-HD Total, o outro paciente não realizou
exames para avaliar replicação e o VHD.
42
O nível sérico de ALT foi 134 UI/l para um e 61 UI/l para outro.
Somente um dos pacientes realizou a dosagem da alfa fetoproteína, com
valores que variaram de um ano pra outro, com acréscimo de quatro vezes a mais
ao primeiro exame.
A sintomatologia clínica foi semelhante de um paciente crônico, sendo que
oligoassintomático. O diagnóstico de tumor foi sugerido na primeira consulta, sem
referência a períodos sintomáticos anteriormente, com evolução para o óbito em
ambos os casos. Um ocorreu após dois meses do diagnóstico evoluindo com
hemorragia digestiva e encefalopatia hepática. Outro após um ano do diagnóstico,
com oportunidade de tratamento através da quimioembolização do tumor e
medicamento antiviral Lamivudina. Evoluiu com episódios (3) de hemoperitôneo, até
descompensação do quadro e choque hipovolemico.
Ambos realizaram exame de ultrassonografia com alterações sugestivas de
tumor, um deles realizou Tomografia Computadorizada com confirmação da massa
tumoral. Os dois pacientes realizaram Endoscopia digestiva e somente um deles
apresentava varizes esofágicas.
43
TABELAS E FIGURAS REFERENTE AS FORMAS CLÍNICAS
Os
níveis
séricos
de
ALT
variaram
em
relação
a
forma
clinica
significativamente, apresentando os casos agudos em media 513 UI/l, os casos
crônicos 73 UI/l, as hepatites fulminantes 601 UI/l, os portadores assintomáticos 23
UI/l e os de hepatocarcinoma 41 UI/l, figura 6.
1500
1000
500
95% CI alt
0
1
2
3
4
5
Figura 6. Média de ALT por forma clínica
1- Agudo; 2- Crônico; 3- Cirrose; 4- Fulminante; 5- Port. Inativo; 6- Hepatoma
44
Tabela 8. Fatores de risco envolvidos na transmissão x forma clínica
Fator de risco
Óbito p/ hepatite na
família
História familiar de
hepatite
Extração dentária
Aplicação de injeções
p/ curiosos
Compartilhar lâmina
de barbear
Compartilhar dormida
Compartilhar escova
de dente
Transfusão sanguinea
Aguda
93,8%
(15/16)
48,7%
(19/39)
62,2%
(23/37)
39,5%
(15/38)
33%
(7/21)
28,6%
(8/28)
11,8%
(2/17)
Fulminante
100%
(6/6)
66,7%
(6/9)
40%
(2/5)
100%
(5/5)
Cirurgia
H.Crônica
61,8%
(42/68)
62,4%
(73/117)
86%
(86/100)
62,2%
(61/98)
49,4%
(39/74)
34,5%
(29/84)
24,4%
(19/57)
5,9%
(7/118)
9,5%
(15/119)
Tatuagem
Cirrose
60%
(15/25)
71,1%
(32/45)
91,2%
(31/34)
81,3%
(26/32)
73,5%
(25/34)
Tumor
fígado
50%
(1/2)
100%
(2/2)
35,3%
(12/34)
30,4%
(14/16)
23,6%
(11/46)
2,4%
(1/41)
P. Inativo
75,4%
(43/57)
54,7%
(64/117)
80,8%
(63/78)
32,1%
(26/81)
42,6%
(26/61)
31,8%
(21/66)
26,3%
(15/57)
7,6%
(9/118)
21,2%
(25/118)
6,1%
(7/115)
Tabela 9. Perfil sorológico nas formas clínicas
Formas clínicas
Aguda
Fulminante
Hepatite crônica
Cirrose
Tumor de fígado
Portador Inativo
AgHBs +
100%
(41/41)
87,5%
(14/16)
100%
(122/122)
100%
(50/50)
100%
(2/2)
100%
(124/124)
Anti-HBc
IgM +
90%
(9/10)
100%
(122/122)
Anti-HBcT +
AgHBe +
100%
(41/41)
100%
(16/16)
100%
(124/124)
100%
(50/50)
100%
(2/2)
100%
(124/124)
63,6%
(14/22)
83,3%
(5/6)
18,2%
(14/77)
12,9%
(4/31)
17,2%
(11/64)
AntiHBe +
44,8%
(13/29)
40%
(2/5)
83,5%
(66/79)
84,4%
(27/32)
50%
(1/2)
84,3%
(59/70)
Anti-HDT
+
66,7%
(18/27)
85,7%
(6/7)
60,6%
(57/94)
87,2%
(34/39)
50%
(1/2)
28,6%
(24/84)
45
Tabela 10. Diagnóstico e evolução das formas clínicas
Formas clínicas
7,7%
(3/39)
Portador
Inativo
5,1%
(2/39)
0,8%
(1/122)
2%
(1/50)
0,8%
(1/122)
38%
(19/50)
0,8%
(1/124)
71,8%
(89/124)
Cura
Aguda
Fulminante
Hepatite crônica
Cirrose
Tumor de fígado
Portador Inativo
Crônico
compensado
35,9%
(14/39)
6,25%
(1/16)
56,6%
(69/122)
Cirrose
4,9%
(6/122)
10%
(5/50)
Óbito
5,1%
(2/39)
93,7%
(15/16)
8,2%
(10/122)
42%
(21/50)
100%
(2/2)
Sem
seguimento
46,2%
(18/39)
28,7%
(35/122)
8%
(4/50)
27,4%
(34/124)
4. 2 Coinfecção (VHB/VHD)
Do total de casos estudados, de todas as formas clínicas, 55,6% (140/252)
(IC 95% 49,2% a 61,8%) apresentava positividade para marcador do VHD (Anti-VHD
total), variando de 28,6% (IC95% 19,2%-59,5%) entre os portadores inativos a
87,2% (IC95% 72,6%-95,7%) entre os pacientes com cirrose hepática, X2= 46,27,
p<0,001, tabela 11 .
A presença do marcador anti-VHD total esteve associada ao sexo, 60,5%
entre os homens e 45,9% entre as mulheres, RR= 1,31 (IC95% 1,01-1,71, p= 0,01,
teste exato de Fisher), história de óbito na família por quadro de hepatite, 66,0%
entre os pacientes com parentes vitimas de hepatite e 41,5% entre os sem esse
histórico, RR= 1,59 (IC95% 1,07-2,34, p=0,006, teste exato de Fisher), tabela 11.
Foi observado também associação da presença do marcador do VHD com
história de transfusão de sangue, 72,7% entre os submetidos a tal procedimento
médico e 54,1% entre os sem este fator, RR= 1,31 (IC95% 1,09-1,64, p=0,002),
tabela 11.
Em média os anti-VHD reativos tinham 28,5 anos ( 12,8 anos), embora não
tenha sido tendo sido identificado diferenças entre os grupos de idade, X2= 4,89,
p=0,19, tabela 11.
46
Tabela 11. Prevalência e associações com a presença do marcador anti-VHD
total em uma série de casos de hepatite pelo VHB em Cruzeiro do Sul-Acre.
Variável
Sexo
M
F
Transfusão
Sim
Não
Hepatite
Sim
Não
Gidade
1
2
3
4
5
Diagnóstico
1
2
3
4
5
6
ÓbitoFam
Sim
Não
Procedencia
1
2
3
4
5
6
7
8
Evolução
1
2
3
4
5
6
7
Total
N
Percentual(%) IC95%
P
167
85
101
39
60,5
45,9
52,6-67,9
35,0-57,0
0,01
129
110
19
5
14,7
4,5
9,1-22,0
0,6-8,3
0,007
126
107
89
38
70,6
35,5
61,9-78,4
21,6-38,1
<0,001
--34
122
85
10
--15
66
50
8
-----44,1
54,1
58,8
80,0
-----------27,2-62,1
44,8-63,2
47,6-69,4
44,4-97,5
27
94
39
7
84
1
18
57
34
6
24
1
66,7
60,6
87,2
85,7
28,6
100
46,0-83,5
50,0-70,6
72,6-95,7
42,1-99,6
19,2-39,5
-------------
<0,001
103
41
68
17
66,0
41,5
57,0-75,1
26,3-56,5
0,006
146
16
17
29
3
26
13
1
70
11
9
22
3
12
12
1
47,9
68,8
52,9
75,9
100
46,2
92,3
100
39,6-56,4
41,3-89,0
27,8-77,0
56,5-89,7
------------26,6-66,6
64,0-99,8
-------------
0,004
88
66
4
6
6
30
51
60
17
0
5
4
28
25
68,2
25,8
0
83,3
66,7
93,3
49,0
57,4-77,7
15,8-38,0
------------35,9-94,6
22,3-95,7
77,9-99,2
34,8-63,4
<0,001
0,19
47
Anti-VHD total, anticorpo da classe IgG contra o vírus da hepatite Delta; VHB, vírus
da hepatite B; N, número de pacientes; %, prevalência do fator estudado; IC95%,
intervalo de confiança de 95%; p, significância estatística; Diagnóstico 1: agudo; 2:
crônico; 3: cirrose; 4: fulminante; 5: portador inativo; 6: hepatocarcinoma.
Procedência 1: C. do Sul; 2: M.Lima; 3: R.Alves; 4: P. Valter; 5: M.Thaumaturgo; 6:
Guajará; 7: Ipixuna; 8: Eirunepé. Evolução 1: crônico compensado; 2: portador
inativo; 3: cura; 4: crônico descompensado; 5: cirrose; 6: óbito; 7; sem seguimento
Observamos também diferença na prevalência do anti-VHD total em relação a
procedência dos pacientes avaliados variando de 46,2% (IC95% 26,6% -66,6 %) nos
procedentes de Guajará, a 100% na procedentes de Rodrigues Alves, X2= 20,70, p=
0,004, tabela 11.
Quanto a evolução dos pacientes que foram a óbito no período do estudo,
93,3% (IC95% 77,9%-99,2%) eram portadores do anti-VHD total e a evolução pra
cura foi mais observada nos pacientes com teste sorológico negativo para VHD X2=
87,3, p<0,001, tabela 11.
Os pacientes coinfectados com o VHD apresentaram diferenças em relação
aos aspectos clínicos de sua enfermidade, principalmente sinais associados à
hipertensão portal como presença de esplenomegalia, 62,1% nos anti-VHD total
reativos e 31,7% entre os não reativos, RR=1,95 (IC95% 1,43-2,67, p<0,001), e
presença de telangectasias 22,2% entre os reativos para o anti-VHD total e 7,7%
entre os não reativos, RR=2,88 (IC95% 1,37-6,06, p<0,001), tabela 12.
Tabela 12. Sinais e sintomas associados à presença do marcador anti-VHD
total.
Sinal/Sintoma
% reativos %Ñ reativos
RR
IC95%
p
Anemia
22,2
10,4
2,13
1,08-4,20
0,01
Anorexia
38,2
28,7
1,32
0,91-1,92
0,08
Telangectasias
22,2
7,7
2,88
1,37-6,06
<0,001
Ascite
6,9
5,9
1,17
0,110,69
11,98
Esplenomegalia
62,1
31,7
1,95
1,43-2,67
<0,001
Hepatomegalia
59,3
41,1
1,44
1,11-1,87
0,002
Icterícia
72,7
54,1
1,34
1,09-1,64
0,002
Anti-VHD total, anticorpo da classe IgG contra o vírus da hepatite Delta; VHB, vírus da hepatite B; N,
número de pacientes; %, prevalência do fator estudado; IC95%, intervalo de confiança de 95%; p, significância
estatística;
48
4.3 Crônicos em tratamento
Do total de pacientes crônicos acompanhados, 85 pacientes iniciaram
tratamento supervisonado à medida que os casos foram surgindo a partir de outubro
de 2002, baseado nos critérios da portaria nº 860 (2002) do MS/SVS (anexo) e
protocolo acordado no serviço de Infectologia do estado. Os pacientes VHD foram
tratados com associação de Interferon mais Lamivudina e para aqueles com contraindicação para o Interferon, foi usado Lamivudina, haja vista que a referida portaria
não contempla o quadro desses pacientes. Os esquemas de tratamento introduzido
foram Interferon alfa 2b 10 milhões três vezes na semana associado à Lamivudina
100 mg doses diárias em 38,8% (33/85) dos pacientes, Interferon alfa 2b na dose
acima em 15,2% (13/85) e Lamivudina na mesma dose em 45,8% (39/85). O tempo
médio de tratamento para esses pacientes foi em média 14 meses para o Interferon
e média de 24 meses para Lamivudina.
Dos pacientes tratados 78,8% (67/85) era do sexo masculino e 21,2% (18/85)
do sexo feminino. A idade variou entre 8 e 65 anos, com média de idade de 29,9
anos ( 13,0 anos).
Em características gerais, média de ALT antes do tratamento nesses
pacientes foi 112 UI/l ( 484 UI/l). A indicação do tratamento para hepatite crônica
foi em 67,05% (57/85), cirrose hepática 31,76% (27/85) e hepatocarcinoma em
1,17% (1/85). Quanto ao perfil sorológico dos pacientes em tratamento, foi
observado
HBeAg positivo em 20% (16/80), Anti-HBe positivo 80,2% (65/81) e
AntiHDT em 72% (54/75).
A avaliação dos resultados na população de pacientes em tratamento foi feita
a partir da divisão em pacientes coinfectados ou somente portadores de VHB,
apresentando a seguinte divisão:
•
54 pacientes coinfectados (VHB/VHD)
•
21 somente com marcador de VHB
•
10 pacientes sem definição do diagnóstico VHD.
49
Os parâmetros utilizados foram a soroconversão de HBeAg para Anti-HBe e
resposta bioquímica (normalização das transaminases) para os pacientes HBeAg
positivo e somente resposta bioquímica para os pacientes Anti-HBe positivo, que
podem ser observado nos quadros 13 e 14.
Coinfectados VHB/VHD: Representou 63,5% (54/85) dos pacientes tratados.
Desses, 47 pacientes realizaram teste para o marcador de replicação e 19,1% (9/47)
era AgHBe positivo e 80,9% (38/47) era Anti-HBe positivo.
Dos nove pacientes HBeAg reativos, oito eram portadores de Hepatite crônica
e 1 portador de cirrose hepática.
Dos portadores de hepatite crônica, sete usaram esquema Interferon mais
Lamivudina e um fez uso de Lamivudina. O paciente diagnosticado como cirrose
hepática fez uso exclusivo de Lamivudina. Na avaliação da resposta terapêutica,
77,9% (7/9) foi pbservada soroconversão do HBeAg para o Anti-HBe, como também
normalizaram o nível de ALT, embora não tenha sido observado negativaçaõ do
HBsAg em nenhum paciente avaliado nesse grupo.
Ao avaliar a reposta terapêutica dos pacientes coinfectados AntiHBe positivo
ao Interferon combinado ou sozinho, foi observado 25 pacientes com diagnóstico de
hepatite crônica, os que receberam Interferon mais Lamivudina, 38,8% (7/18)
tiveram resposta bioquímica e os que fizeram uso de Interferon sozinho, em 100%
(4/4) não houve resposta. Aqueles que fizeram uso de Lamivudina a resposta foi de
33,3% (1/3). X²= 0,39, p=0,53.
Em seguimento a avaliação da reposta terapêutica, aos pacientes
coinfectados Anti-HBe com a medicação Lamivudina, observamos que 13 pacientes
com cirrose hepática que teve essa indicação, 46,1% (6/13) tiveram resposta
bioquímica.
Tivemos sete pacientes coinfectados sem registro do marcador de
replicação, e cinco desses pacientes tinha o diagnóstico de cirrose hepática e fez
50
uso de Lamivudina e 2 Hepatite crônica em uso de Interferon. Avaliação da resposta
bioquímica foi observada em um paciente.
Pacientes VHB: Representam 24,7% (21/85) dos tratados. Dos 18 pacientes
que realizaram exames de replicação, 50% (9/18) era AgHBe positivo, onde a
soroconversão foi observada em 55,5% (5/9), acompanhado de redução das
transaminases, sendo 4 com hepatite crônica em uso de Interferon mais Lamivudina
e um com cirrose hepática tratado com Lamivudina. Um desses pacientes que
soroconverteu também apresentou clearence viral com reatividade para o Anti-HBs
(11,1% (1/9)).
Os pacientes VHB Anti-HBe positivo foram em 50% (9/18) e a resposta
bioquímica foi observada somente em 44,4% (4/9), sendo todos com diagnóstico de
hepatite crônica e tratados com Interferon. Entretanto houve clearence viral de um
paciente com positividade para o Anti-HBs.
Em três pacientes somente portadores de VHB não realizaram o marcador de
replicação, todos com cirrose hepática e uso de Lamivudina.
Foram observados dez pacientes sem definição do diagnóstico VHD, e entre
os que realizaram teste para avaliar replicação, 85,7% (6/7) era Anti-HBe positivo e
somente um paciente AgHBe positivo. Dos seis Anti-HBe positivo, a resposta
bioquímica foi observada em 66,6% (4/6), sendo dois com hepatite crônica em uso
de Interferon e dois cirrose hepática tratados
com Lamivudina.
O único
representante AgHBe positivo era cirrótico, tratado com Lamivudina e evoluiu para
óbito.
51
H.
Crônica
INF +
LAM
H.
Crônica
INF
H.
Crônica
LAM
Cirrose
LAM
TOTAL
Quadro 13. Resposta terapêutica em pacientes portadores do VHB/VHD
(54/85).
%
Resp.
%
S/
HBeAg
Sero
Clareamento
AntiHBe+ Bioq.
marc. %
+
conversão
Viral
Replic.
7/18
07/09
06/07
18/38
36,8%
0
77,7%
(7/9)
04/38
01/09
0
03/38
01/09
1/1
13/38
09/47
(19,1%)
02/07
(14/38)
0
0
1/3
6/13
05/07
38/47
(80,9%)
07/54
Quadro 14. Resposta terapêutica em pacientes portadores somente do VHB.
(21/85).
HBeAg
Sero
+
conversão
H. Crônica
INF + LAM
H. Crônica
INF
H. Crônica
LAM
Cirrose
LAM
TOTAL
04/09
%
AntiHBe+
Resp.
Bioq.
%
S/
marc.
Replic.
%
Clareamen
to
Viral
11,1%
(1/9)
11,1 %
04/04
04/09
07/09
03/09
0
02/09
1/2
09/18
55,5%
(5/9)
44,4%
02/09
0
(1/9)
(4/9)
03/21
09/18
0
03/21
4.4 Biologia Molecular
Foram encaminhadas 76 amostras para exame de genotipagem para VHB.
Após passar pelo processo de extração, foi possível obter resultados de
amplificação de 48% das amostras (37/76) do genoma (DNA) VHB. Após
amplificação das amostras foi realizado a identificação do genótipo, sendo
52
encontrados 59% (22/37) para o genótipo A, 30% (11/37) para o F e 11% (4/37) para
D.
Com relação às formas clínicas, foi observado o genótipo A no portador
inativo, hepatite crônica, cirrose e agudo. O genótipo F foi observado nos pacientes
com diagnóstico de cirrose hepática, hepatite crônica, hepatocarcinoma e agudo. O
genótipo D na forma clínica de cirrose, hepatite crônica e portador inativo.
A presença do vírus Delta foi 75% (3/24 nos pacientes com genótipo D, 72
(8/11) no genótipo F e 40% (9/22) no A.
O genótipo A, correspondeu ao genótipo mais predominante, 73% (16/22) era
do sexo masculino e 27% (6/22) do sexo feminino, com idade variando entre 8 e 30
anos. Segundo o município de naturalidade, 10 eram de Cruzeiro do Sul, 10 de
Porto Valter e um de Ipixuna e um de Marechal Thaumaturgo. Quanto à forma
clínica associada, 12 pertenciam ao diagnóstico de Hepatite crônica, dois de Cirrose
hepática, seis Portadores inativos e dois agudos (uma forma fulminante). O
diagnóstico do VHD esteve presente em 40% (9/22) dos casos.
O genótipo F foi encontrado em 30% (11/37) dos casos. Também houve
predomínio do sexo masculino, registrado em 75% dos pacientes, com idade
variando entre 18 e 65 anos. Quanto ao município de naturalidade, cinco são de
Ipixuna, três de Rodrigues Alves, um Porto Valter e outro de Manaus. Em relação à
forma clínica, um paciente com diagnóstico de hepatocarcinoma, cinco de Hepatite
crônica e dois Cirrose hepática e três agudos. O diagnóstico do VHD foi encontrado
em 72% (8/11) dos casos.
Os quatros pacientes com genótipo D identificado, três eram do sexo
masculino e um do sexo feminino, com idade variando de 30 a 45 anos. Quanto a
naturalidade três eram de Cruzeiro do Sul e um de Porto Valter. Quanto à forma
clínica, dois tiveram diagnóstico de hepatite crônica, um Cirrose e outro de Portador
Inativo. A presença do VHD foi encontrada em 75% dos casos.
53
5 DISCUSSÃO
A infecção pelo VHB e VHD está sob controle nos países desenvolvidos, mas
se
apresenta
como
grave
problema
de
saúde
pública
nos
países
em
desenvolvimento (Torres, 1996; Silveira et al.,1999; Souto et al.,1999; Fonseca,
2002; Braga et al.,2005).
A grande importância das hepatites não se limita ao enorme número de
pessoas infectadas, estendem-se também as complicações das formas agudas e
crônicas. O conhecimento do grau de morbidade da doença subsidia estratégias de
prevenção e controle, e embasa decisões sobre a aquisição e uso de esquemas
terapêuticos mais eficazes, seguros e eficientes.
Estudo realizado no Estado do Acre, considerado de alta prevalência para os
vírus B e Delta, constatou que esta é maior na população localizada na região mais
ocidental do estado, que compreende os municípios da regional do Juruá
coincidindo com os que fizeram parte da nossa casuística (Viana et al., 2003).
O Estado do Acre notificou no período de 2001 a 2006, 1.041 casos de
hepatite B e 184 casos de hepatite Delta, sendo que na região do vale do Juruá
foram notificados no mesmo período 325 casos de VHB e 105 de VHD. Como nosso
estudo abrangeu uma população de 355 pacientes, a maioria notificada nesta
regional foi avaliada no Ambulatório de Infectologia.
A taxa de incidência acumulada para VHB na região e período estudado foi de
254casos/100.000 habitantes e a taxa anual variou de 42 casos/100.000 habitantes
para o município de Cruzeiro do Sul a 117 casos/100.000 habitantes no município de
Porto Valter, comparando com a média no Brasil, que é de 7,5 casos/100.000
habitantes/ano, observamos uma diferença significativa. Essa diferença é mantida
quando comparado a outros estados considerado de menor prevalência, como o
estado de São Paulo, onde a taxa de incidência é de 8 casos/100.000
habitantes/ano e a países como Estados Unidos da América, onde a taxa de
incidência é de 1,8 casos/100.000habitantes (Wasley, et al., 2007).
54
Vale ressaltar que esta mesma incidência foi encontrada fora da região
amazônica, como mostra os estudos no oeste de Santa Catarina (117/100.000
habitantes/ano), (Chávez, 2003). E no norte do Paraná e no estado do Espírito
Santo apresentando alta prevalência de 8,3% e 9% de AgHBs respectivamente
(Souto, 2004).
A população estudada abrangeu todas as formas clínicas da doença,
demonstrando a magnitude do espectro clínico da doença, com a presença de
Portadores crônicos, tanto na forma inativa, como a forma ativa evidenciando a
grande circulação de vírus na região.
A origem desses pacientes quanto ao acesso das informações, somente
68,5% (243/355) tiveram acompanhamento médico, revelando as dificuldades no
campo da assistência em nossa região, associada às condições geográficas que
dificulta o acesso a saúde.
Dados de Silveira et al.(1999) estudando a soroprevalência de hepatite B na
América Latina, encontrou maior positividade a partir dos 16 anos e aumentando
com a idade, sugerindo transmissão sexual e maior exposição a sangue, através do
uso drogas injetáveis e tatuagem. Souto et al.2001, Miranda et al. 2000 e Chavez et
al.2003 também sugere a mesma via de transmissão por encontrar maior
prevalência em população adulto jovem.
Diferenciando dos dados da literatura (Balik, 1991; Chen, 2000; Torres, 1996;
Oliveira, et al. 1999; Santana et al. 1998), em que a exposição sanguínea (acidente
ocupacional, tatuagem, udi, transfusão) ou transmissão vertical é citada como fator
importante na transmissão, em nossa casuística a transmissão horizontal
intradomiciliar parece ser a mais importante, ressaltando como os possíveis fatores
relacionados à transmissão, história familiar de hepatite e óbito por hepatite na
família relatado em todas as formas clínicas avaliadas.
Sabe-se que nos países em precárias condições econômicas, existem
diversos fatores que poderia está implicado na transmissão da doença, devido à
exposição ao sangue contaminado. Na população estudada foi descrita com maior
55
relevância: aplicação de injeções por curiosos e extração dentária por profissional
não habilitado, hábitos freqüentes em nossa região e relatados por outros autores
(Fonseca, 1988; Brasil, 2003; Lobato, 2003).
O relato de exposição a fatores envolvidos na transmissão pesquisados foi
mais amplo à medida que os pacientes progrediam para a forma crônica.
Chamando-nos atenção que 75% dos indivíduos da forma crônica relatavam história
pessoal de hepatite em algum momento da sua vida, demonstrando que a doença
passa por fases evolutivas e que podemos intervir de forma individual e coletiva.
Com relação ao perfil sorológico da população estudada, na forma aguda
observamos um porcentagem maior de AgHBe positivo e uma reatividade pequena
em pacientes da forma Portador Inativo, indicando que esta forma pode ser
evolutiva, sendo detectado também nas formas de hepatite crônica e cirrose. Mas na
população geral, a reatividade para o Anti-HBe positivo (78,1%) se sobrepôs.
Identificamos também AntiHBs positivo em 3 pacientes, sendo um Portador Inativo
que clareou o vírus espontaneamente e dois pacientes portadores de VHB, sendo 1
Anti-HBe positivo e o outro AgHBe positivo, após 20 meses de tratamento com
Interferon.
É descrito na literatura (Gonçales Junior, 2003; Look, 2001; Kamasaki et al.
1994) que aproximadamente 0,5% dos pacientes crônicos podem evoluir com
clareamento viral e que uma pequena porcentagem de pacientes crônicos podem
expressar o marcador AgHBe, indicando uma baixa replicação residual do vírus
selvagem, ou sugerir casos de mutação da região pré-core. Um estudo de biologia
molecular, na população de pacientes crônicos poderia esclarecer melhor o grau de
mutação viral em nossa região, o que nos permitiria uma abordagem diferenciada.
Os diversos estudos realizados na Amazônia revelam a alta prevalência da
doença em nosso meio, com altos índices de associação VHB/VHD, influenciando
na história natural da doença (Bensabath, 1987; Arboleda, 1995; Ribeiro & Souto,
2000; De Paula et al., 2001; Souto, et al., 2004; Braga et al.,2004; Viana et al.,2003).
56
Fora da Amazônia brasileira, em nosso país, a prevalência do VHD mostra-se
irrelevante, seja em grupo de risco ou na população geral. Mas a alta prevalência
volta a se estender nas populações da Amazônia peruana (Casey, 1996) e
venezuelana (Halder, 1983), em determinadas áreas da África (Ojos, 1998 e Radjef,
2004) e no sul da Itália (Niro, 1999).
Essa taxa de associação VHB/VHD em nosso estudo foi de 39,4% (140/252),
demonstrando uma alta prevalência em nossa região, entretanto, a nossa população
estudada foi de indivíduos com diagnóstico prévio. Dados da literatura enfatizam a
evolução clinica dessa associação para as formas graves da doença, principalmente
quando há superinfeção. Em nosso estudo constatamos um número maior de
pacientes com diagnóstico da forma crônica, incluindo o único sobrevivente da forma
fulminante (Bensabath, 1987; Fonseca, 1988; Rizzeto, 1990; Balik, 1991; Fonseca,
2002; Farci, 2003).
A presença do VHD interfere na replicação do VHB, sendo encontrado com
maior freqüência nos pacientes Anti-HBe positivo e com baixo nível de VHB-DNA e
moderados níveis de Transaminases, demonstrando que o dano hepático é causado
pelo VHD (Lee, et al., 1987; Fattovich et al., 2000; Farci, 2003). O nosso estudo
demonstra a informação, expressando talvez nesses casos uma atividade crônica
exclusiva do VHD.
Hepatite fulminante tem uma característica histórica de dizimar famílias, em
relatos de habitantes das calhas dos rios Purus, Juruá e Solimões, clinicamente
definida, evoluindo com sintomas digestivos hemorrágicos e neurológicos. Ao longo
da história, estes relatos chegaram até ao ambiente hospitalar, mas manteve a
forma de aparecimento, ou seja, de surto familiar. Em nosso estudo, pudemos
constatar esta característica com duas famílias, sendo acometida em mais de um de
seus membros.
Em nosso estudo, a hepatite fulminante foi observada em pacientes
coinfectados e também com VHB isolado. A letalidade foi 93,8%, com um
sobrevivente que evoluiu para forma crônica 24 meses após o quadro agudo.
57
A definição de coinfecção e superinfecção não foi possível ser demonstrada
em todos os pacientes por se tratar de um estudo retrospectivo, onde muitos
pacientes não realizaram o exame que detecta o quadro agudo (AntiHBcIgM), mas
observamos que a hepatite fulminante foi desfecho de situações que caracterizavam
tanto a coinfecção (Anti-HBcIgM positivo; AgHBe positivo e Anti-HDT positivo) como
a superinfecção (Anti-HBcIgM negativo e AntiHDT positivo).
Por não se tratar de estudo estritamente prospectivo, não podemos avaliar a
evolução de toda população estudada. Entretanto, a observação de baixa taxa de
cura e alta cronicidade nos casos agudos, nos permite inferir que esses pacientes
podem ter sido diagnosticados em fase crônica agudizada, ou a média de idade
encontrada (17 anos) favoreceria a um maior percentual de evolução para
cronicidade. De acordo com a história natural da doença, para os países ocidentais
a idade de transmissão ocorre mais na idade adulta, resultando em 5 a 10% de
portadores crônicos. (Lee, 1997; Lok, 2001; Gonçales Junior, 2003). Na Amazônia
outros estudos revelaram a predominância das formas crônicas da doença em
indivíduos mais jovens (Bensabath, 1987; Braga, 2001; Fonseca, 1998).
Entretanto, essa forma clínica (aguda) foi a que apresentou mais pacientes
sem seguimento, 46,2% (18/39), oriundos da ficha de notificação, portanto sem
definição de evolução. Como esta fase inicial é considerada de tolerância, com
poucas repercussões clínicas usualmente, os pacientes tendem a não manter o
acompanhamento médico, só retornando durante os períodos de exacerbação da
doença, ou quando outro membro da família é afetado (Fonseca, 2004; Ono-Nita,
2003).
Importante ressaltar que a evolução para a forma crônica desses pacientes
agudos foi mais expressiva naqueles positivos para o VHD. Assim como, em toda a
população estudada a proporção de indivíduos com a forma crônica é maior
naqueles portando os dois vírus.
O grande contingente de indivíduos infectados pelo VHB com indicação para
o tratamento específico é representado principalmente pelos doentes com hepatite
cônica e cirrose hepática. As decisões de tratamento diferem dependendo se os
58
pacientes são AgHBe positivo ou negativo, se foram tratados anteriormente,
resistência aos análogos de nucleosídeos e qual estágio da doença hepática se
encontram. A concomitância de um vírus RNA (VHD) faz com que a hepatite crônica
seja mais difícil de tratamento (Cheinquer, 2003; Hadiyziannis, 2006).
Apesar de se tratar de um estudo retrospectivo e o tratamento depender do
fornecimento por parte da Secretaria Estadual de Saúde do Acre, foi observado que
os pacientes receberam sempre a mesma droga (Interferon alfa 2b - 5 e 10 milhões
UI e Lamivudina 100 mg) durante todo o período do tratamento, nunca inferior a 12
meses e de forma supervisionada. Altas doses de Interferon e por tempo prolongado
tem sido recomendado para os pacientes Anti-HBe e Anti-HDT positivo (Lok, 2001;
Farci, 2004; Lau, 2005).
Atualmente o algoritmo ideal para indicação da terapêutica e avaliação da
resposta ao tratamento está baseado na detecção no soro do material genético viral
(DNA-VHB ou RNA-VHD). (Farci, 2004; Hadziyannis, 2006, Keeffe, 2006). Uma
realidade ainda distante de ser executada por nós, portanto, a soroconversão,
normalização das aminotransferases e manutenção da estabilidade do quadro foram
os fatores avaliados na resposta ao tratamento.
Os pacientes portadores somente do VHB e AgHBe positivo foram melhores
respondedores, com soroconversão (55,5%) e incluindo clareamento viral (11,1%),
com manutenção dessa resposta. Diferenciando dos dados de outras literaturas que
mostram uma taxa de soroconversão menor (7,8% em Toronto – Heathcote, 2000;
42% em Taiwan – Lin et al, 1999; 39% em Germany – Niederau et al. 1996; 33%
resultante de metanálise- Ferreira, 2000). Isso talvez porque os nossos pacientes
tenham recebido doses altas diárias e por um período maior.
A maioria dos pacientes tratados eram coinfectados e também Anti-HBe
positivo, logo, a resposta nesse pacientes pode ser eficaz inicialmente, mas com
recidiva após a suspensão da medicação somente após um seguimento maior dos
mesmos poderemos estabelecer melhor uma resposta.
59
Embora não tenhamos observado associação estatística para esquema de
tratamento, a combinação Interferom mais Lamivudina para o tratamento do VHD foi
benéfica em 38,8% dos pacientes que utilizaram, baseando na melhora dos níveis
de transaminases, a despeito dos que fizeram Interferon sozinho 100%(4/4) em que
não houve redução de transaminases. Portanto, esta combinação pode ser
recomendada como opção terapêutica para o VHD (Wolters, et al. 2006). Igual
resposta foi encontrada no estudo na Turquia por Canbakan, et al. 2006.
Com relação à indicação de Lamivudina para VHD, observamos melhora das
transaminases em 46,1%. Resposta menor foi encontrada na Itália (Niro et al., 2005)
e sem negativação do RNA-VHD no estudo mencionado. Outro estudo mostrou
negativação do RNA-VHD, redução das transaminases, mas com retorno de todas
as escórias após suspensão do tratamento (Lau, et al., 1999). Experiência ainda não
constatada por nós, porque todos os pacientes que iniciaram Lamivudina se mantêm
em uso da mesma.
Interferon peguilado, que desponta como uma nova opção de tratamento para
VHB e/ou VHB/VHD não foi usado em nenhum dos nossos pacientes, mas parece
ser a nova estratégia terapêutica para os não respondedores, principalmente para os
AntiHBe e Anti-HDT positivo, mas devendo levar em conta a sensibilidade da
resposta comparada aos genótipos de cada local. (Lau, 2005; Janssen, 2005; Niro,
2006; Erhardt, 2006; Casteinau, 2006; Hadziyannis, 2006).
O Brasil é um país geograficamente dividido em várias regiões, tendo sido
colonizado por pessoas de diferentes etnias, logo a distribuição dos genótipos pode
ser diferente. O conhecimento da distribuição do genótipo em uma área de
prevalência alta é importante para introdução de medidas de controle.
Os estudos realizados na América do Sul apontavam a circulação dos
genótipos A e F (Casey, 1996; Quintero, 2001; De Paula, 2001; Oliveira, 2003) e os
estudos mais atuais tem registrado a presença também do genótipo D (StiniK, 2004;
Conde, 2004; Ribeiro, 2006), incluindo a região amazônica. No estado do Acre, foi
observada a mesma variação (Viana, 2005; Lobato 2006), corroborando com o
encontrado em nosso estudo.
60
A significância clínica do genótipo ainda é controversa. Apesar do nosso
estudo não poder demonstrar a evolução clínica com o genótipo, devido amostra
pequena, não ter dados ainda das formas fulminante e aguda e sem resultados do
genótipo VHD, mas podemos fazer algumas inferências. O genótipo A esteve
relacionado a quadros crônicos, diferenciando dos dados de alguns estudos que
mostram a relação desse genótipo com hepatite aguda (Lyra et al, 2005). Um estudo
mostrou que o genótipo F tem maior relação com desfecho para óbitos que o
genótipo A, mas em nossa amostra não houve diferença estatística, pois foi
observada evolução para óbito em todos os genótipos encontrados (Sanchez-Tapias
et al. 2003).
61
6 CONCLUSÃO
1. As maiorias dos pacientes encontrado foram de adulto jovem, com média
de idade de 28 anos.
2. A associação entre história de hepatite e óbito na família, infecção passada
ou presente pelo VHB demonstra a importância desse vírus como agente etiológico
de doença ictérica em nossa região.
3. A transmissão horizontal intrafamiliar parece ser a via de transmissão mais
importante, mas continua obscura nos seus mecanismos.
4.
A coinfecção VHB/VHD foi expressiva na população estudada, sendo
encontrada em todas as formas clínicas.
5. Resposta terapêutica foi heterogênea, com baixa taxa de cura 2,3% (2/85).
6. Os pacientes Anti-HBe e Anti-VHD são considerados maus respondedores.
7. Predomínio do genótipo A do VHB nas amostras analisadas, mas sendo
encontrados também os genótipos F e D.
62
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Allison, A.C.; Blumberg, B.S. An immunopreciptin reactiondistinguishing human
serum protein types. Lancet, 1961, v. 1, p.6343.
Alecrim, W.D; Marreiros, L.; Alecrim, M.G; Miranda, S. Inquérito sobre presença de
HbsAg em habitantes de Lábrea-Amazonas. Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical. v.19, p.58-59, 1986.
Arboleda, M.; Castilho, M.; Fonseca, J.C.F.; Albuquerque, B.; Sabóia, R.; Yoshida, C.
Epidemiological aspects of hepatitis B and D vírus infection in the Northern region of
Amazonas, Brazil. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and
Hygiene. v.89, p.481-483, 1995.
Balik, I. et al. Epidemiology and clinical outcome of hepatitis D virus infection in
Turkey. Eur J Epidemiol. 1991, v. 7 (1), p. 48-54.
Bensabath, G; Boshell, J. Presença do antígeno Austrália em populações do interior
do estado do Amazonas – Brasil. Rev Inst Méd Trop São Paulo, 1973, v. 15, p. 284288.
Bensabath, G., et al. Aspectos epidemiológicos da infecção associação vírus Delta –
vírus da hepatite B no município de Boca do Acre, microregião do Purus, Amazonas.
In : CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, 20,
Fevereiro 1984, Salvador ( BA ). Anais Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,
1984, p. 107.
Bensabath, G.; Halder, S.C. Hepatitis Delta vírus infection and Labrea Hepatitis.
Prevalence and role in fulminant hepatitis in the Amazon basin. JAMA, 1987, v. 258,
n. 4, p. 479- 483.
Bensabath, F; Leão, R.N.Q. Epidemiologia na Amazônia Brasileira. In Tratado de
Hepatites Virais, Roberto Focaccia, Editora Atheneu, São Paulo, 2003, p.11-26.
Bradley, D.W. Enterrically-transmited non-A non-B hepatitis. Br Med Bull, 1990, v. 46,
p. 442-461.
Braga, W. et al. Ocorrência da infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) e Delta (VHD)
em sete grupos indígenas do estado do Amazonas. Revista da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical, 2001, v. 34 (4), p. 349-355.
Braga, W et al.. Infecção pelos vírus das hepatites B e D entre grupos indígenas da
Amazônia Brasileira: aspectos epidemiológicos. Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical, 2004, v. 37: suplemento II, p.9-13.
Braga, W. et al. Prevalência da infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite
delta (VHD) em Lábrea, rio Purus, estado do Amazonas. Revista Epidemiologia e
Serviços de Saúde, 2004, v. 13 n.1, p.35-46.
63
Brasil, L.M. et al. Prevalência de marcadores par o vírus da hepatite B em contatos
domiciliares no estado do Amazonas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, 2003, v.36, n.5, p.565-570.
Canbakan, B. et al. Efficacy of interferon alpha-2b and lamivudine combination
treatment in comparison to interferon alpha 2b alone in chronic delta hepatitis: a
randomized trial. J Gastroenterol Hepatol, 2006, v. 21(4), p. 657-663.
Casey, J.L. et al. Hepatitis B virus (HBV)/hepatitis D. virus (HVD) coinfection in
outbreaks of acute hepatitis in the Peruvian Amazon basin: The roles of HDV
genotype III and HBV genitype F. J Infect Dis., 1996 174: 920-926.
Casey, J.L. et al. Clevudine inhibitis hepatitis delta virus viremia: a pilot study of
chronically infected woodchucks. Antimicrob Agents Chemother, 2005, v. 49, p.
4396-4399.
Casteinau, C. et al. Efficacy of peginterferon alpha 2b in chronic hepatitis delta:
relevance of quantitative RT-PCR for follow-up. Hepatology, 2006, v. 44(3), p. 728735.
CDC. Hepatitis B vírus: a comprenhensive strategy for eliminanting transmission in
the United States through universal childhood vaccination ( ACIP ) Management.
Morbidity and Mortality Weekly Report ,1991, 40: (nº RR-13) p. 21-25.
Chang, T.T. et al. A comparison of Entecavir and Lamivudine for HbeAg positive
chronic hepatitis B. N Engl J Med, 2006, v.354 (10), p. 1001-10.
Chávez, J.H.,Campana, S.G., Haas, P. Panorama da hepatite B no Brasil e no
estado de Santa Catarina. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 2003,
v.14(2), p. 91-96 in the Asia-Pacific region. J Gastroenterol Hepatol. 2000, v. 15
suppl, p. 3-6.
Chen, C.J.; Wang, L.Y.; Yu, M.W. Epidemiology of hepatitis B virus infection in the
Asia-Pacific region. Gastroenterol Hepatol. 2000, v. 15(suppl.) p. 3-6.
Cheinquer, H. Tratamento atual da Hepatite crônica B, In: Curso de Hepatologia
Clínica, Amaury Coutinho et al.Editora Universitária da UFPE, p. 217,Recife, 2003.
Conde, S.R.S.S et al. Prevalência de genótipos e de mutantes pré-core A-1896 do
vírus da hepatite B e suas implicações na hepatite crônica, em uma população da
Amazônia Oriental. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 2004, v.
37 (suplemento), p. 33-39.
De Paula, A, V.S. et al. Seroprevalence of viral hepatitis in riverine communities from
the Western Region of the Brazilian Amazon Basin. Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, 2001, v.96(8), p. 1123-8.
Erhardt, A. et al. Treatement of chronic hepatitis delta with pegylated interferon-alpha
2b. Liver Int., 2006, v.26(7), p. 805-810.
64
Fattovich, G. et al., Influence of hepatitis delta virus infection on morbidity and
mortality in compensated cirrhosis type B. Gut, 2000, v.46, p. 420-426.
Farci, P. et al. Long-term benefit of interferon alfa therapy of chronic hepatitis D:
regression of advanced hepatic fibrosis. Gastroenterology 2004, 126: p.1740-1749.
Farci, P. et al. Delta hepatitis: an update. Journal of Hepatology, 2003, v. 39, p. 212219.
Ferreira, M.S. Diagnóstico e tratamento da Hepatite B. Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, 2000, v. 33(4), p. 389-400.
Fonseca, J.C.F. Terapêutica da hepatite Delta, In: Tratado de Hepatites Virais,
Roberto Focaccia, Editora Atheneu – São Paulo, 2003.
Fonseca, J.C.F. Hepatite fulminante na Amazônia Brasileira. Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, 2004, v. 37 (suplemento).
Fonseca, J.C.F. Fulminant hepatic failure in children and adolescents in Northen
Brasil, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 2004, v. 37, p. 67-69.
Fonseca, J.C.F. Hepatite D. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.
2002, v.32,n.2,p.181-190.
Fonseca, J.C.F. et al. Estudo da associação do HBsAg com os anticorpos do vírus
Delta ( anti delta total ) na Amazônia – Brasil. In : CONGRESSO DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, São Paulo, SP, Anais, 21 fevereiro 1985.
Sociedade Brasileira Medicina Tropical p 42 ( Resumo 053 ) , 1987.
Fonseca, J.C.F. Epidemiologia das hepatites B e Delta na região Amazônica. Skopia
médica. v.23, p.28-32, 1988.
Fonseca, J.C.F. et al. Prevalence of infection with hepatitis delta virus (HDV), among
carriers of hepatitis B surface antigen in Amazonas state, Brazil. Trans R Soc Trop
Med Hyg, 1988, v. 82(3), p. 469 – 471.
Freitas,
J.
Hepatites
víricas:
Perspectiva
histórica.
Disponível
<http://www.aidsportugal.com/hepatitis/9 35.pdf -> Acesso em 16 ago. 2005.
em:
Galle, P.R., et al. In vivo experimental infection of primary human hepatocytes with
hepatitis B virus. Gastroenterology, 1994, v. 106, n.3, p. 664-673.
Gonçales Júnior, F.L. História Natural da Infecção HBV, In : Tratado de Hepatites
Virais, Roberto Focaccia, Editora Atheneu – São Paulo, 2003.
Gonçales Júnior, F.L. Imunodiagnóstico, In : Tratado de Hepatites Virais, Roberto
Focaccia, Editora Atheneu – São Paulo, 2003.
Hadziyannis, S.J. et al. Adefovir dipivoxil for the treatmnet of hepatitis B e antigennegative chronic hepatitis B, N Engl J Med. 2003, v. 348(9), p. 800-807.
65
Hadziyannis, S.J. Novos avanços no tratamento da hepatite B crônica. Expert Opni.
Biol. Ther. 2006, v. 6(9), p. 913-921.
Halder, S.C. Hepatitis B virus infection and health care Works. Vacine 8, 1990( suppl
I ): S 24- S28Yucpa indians of Venezuela. Annals of Internal Medicine, 1983, v.100,
p. 339-344.
Halder, S.C. et al. Delta virus infection and severe hepatitis. An epidemic in the
Havens, W.P. Peryod of infectivity of patientis with experimentally induced infection
hepatitis. J Exp Med., 1946, v. 83, p. 251-258.
Hamasaki, K. et al. Changes in the prevalence of HBeAg-negative mutant hepatitis
B virus during the course of chronic hepatitis B. Hepatology, 1994, v. 20 (1), p. 8-14.
Keeffe, E.B. et al. A tretament algorithm for the management of chronic hepatitis B
virus infection in the United Satates : an update. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006, v.
4(8), p. 936-932.
Kim, J.W.; Park, S.H.; Louie, S.G. Telbivudine: a novel nucleoside analog for chronic
hepatitis B. Ann Pharmacother, 2006, v. 40(3), p. 472-478.
Kiesslich, D. et al. Prevalência de marcadores sorológicos e moleculares do vírus da
hepatite B em gestantes do estado do Amazonas, Brasil. Epidemiologia e Serviços
de Saúde, 2003,v.12(3), p.155-165.
Janssen, H.L. et al. Pegylated interferon alfa-2b alone or in combination with
Lamivudine for HbeAg positive chronic hepatitis B : a randomised trial. Lancet, 2005,
v.365(9454), p.123-129.
Lai, C. L. et al. A one year trial of lamivudine for chronic hepatitis B. Asia hepatitis
Lamivudine study group. New England Journal of Medicine, 1998, 339: 61-68.
Lai, C. L. et al. A 1-year trial of telbivudine, lamivudine, and the combination in
patients with hepatitis B e antigen-poistive chronic hepatitis B. Gastroenterology,
2005, v. 129(2), p. 528-536.
Lai, C. L. et al. Entecavir versus Lamivudine for patients with HBeAg – negative
chronic hepatitis B. N Engl J Med. 2006, v.354(10), p. 1011-20.
Lau, D.T. et al. Lamivudine for chronic delta hepatitis. Hepatology, 1999, v.30(2), p.
546-549.
Lau, G. K. et al. Peginterferon alfa-2a, Lamivudine and the comnination for HBeAg
positive chronic hepatitis B. N Engl J Med. 2005, v. 352 (36), p. 2682-2695.
Lee, W.M. Hepatitis B virus infection. N Eng J Med , 1997, v.337, p.1733 – 1745.
66
Lee, S.D. et al. Hepatitis D vírus (delta agent) superinfection in na endemic área of
hepatitis B infection: imunopathologic and serologic findings. Scand J Infect Dis.
1987, v. 19(2), p. 173-177.
Lyra, A.C. et al. Distribution of hepatitis B virus genotypes among patientis with acute
viral hepatitis. J Clin Gastroenterol, 2005, v.39, p.81-82
Lobato, C. Prevalência do vírus da hepatite B em familiares de mães AgHBs
positivas do município de Rio Branco(Acre). Dissertação de Mestrado em Medicina e
Saúde, Universidade Fedral da Bahia, 235 p. 2003.
Lobato, C. et al. Frquencia dos marcadores sorológicos dos vírus das hepatites B, C
, D e HIV de sete municípios do estado do Acre. Pôster 294, In: Gastroenterologia
Endoscopia Digestiva (GED), 2003, v.22 (supl. 3), Resumos do XVII Congresso
Brasileiro de Hepatologia – Recife – PE.
Lobato, C. et al. Intrafamilial prevalence of hepatitis B vírus in Western Brasilian
Amazon region: epidemiologic and biomolecular. Journal of Gastroenterology and
Hepatology, 2006, v.21, p. 863-868
Lok, A. S., et al. Mangement of hepatitis B : 2000 Summary of a workshop.
Gastroenterology, 2001, v. 120, p.1828-1853.
Lok, A.S. & Mcmahon, B.J. Chronic Hepatitis B. Hepatology, 2001, v.. 34(6), p. 11251241.
Lok, A. S. Hepatitis B virus infection: pathogenesis and management. Journal of
Hepatology, 2000, v. 32 ( suppl. ! ), p. 89 – 97.
Lok, A. S. Serological clearance of HBsAg is the best treatment endpoint for chronic
HBV infection. Program and abstracts of the 2006 Shangai-Hong Kong Intenacional
Liver Congress: March 25-28, 2006, Shangai, China.
Lopes, F. Hepatite B. In: VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto. Tratado de
Infectologia. São Paulo; Atheneu, 1997. p. 299-314.
Lu, S-N. et al. Molecular epidemiological and clinical aspects of hepatitis D virus in a
unique triple hepatitis viruses (B,C,D) endemic community in Taiwan. Journal of
Medical Virology, 2003, v. 70 (1), p. 74-80.
Magnius, L. O., Norder, H. Subtypes, gentypes and molecular epidemiology of the
hepatitis B virus as reflected by sequence variability of the S-gene.
Intervirology.1995, v. 38 (1-2), p. 24-34.
Marcelin, P.; Castenau, C. Co-infection et sur infection par le virus delta. Journée d’
actualités en Hépato-Gastroenterológie, Paris, 08 oct, 1991. Disponível
em http://www.bmlweb.org/glaxo9914html.
Marcelin, P. et al. Adefovir dipivoxil for the treatmnet of hepatitis B e antigen-positive
chronic hepatitis B. N Engl J Med. 2003, v. 348(9), p. 806-816.
67
Maynard, J.E. Hepatitis B global importance and need for control. Vacine, 1990,
8:518-528
MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÃNCIA EM SAUDE. Disponível
no endereço: http://www.saude.gov,br/svs/epi/situacao_doencas/situacao.htm
Miranda, L.V.G. Marcadores Sorológicos de hepatite B em indivíduos submetidos a
exames de sangue em unidades de saúde. Rev Saúde Pública, 2000, v.34 (3), p.
286-291.
Miranda, E,C.B.M. et al. Infecções pelos vírus da hepatites B e C e o carcinoma
hepatocelular na Amazônia oriental. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, 2004, v. 37 (suplementoII), p. 47 – 51.
Neef, J. R., Gellis,.S. S.,Stokes, J. Homologus (serum) hepatitis, and infectus (
epidemic ) hepatitis: studies of volunteers bearing on immunological and other
characteristics of the etilogical agents. AM J MED, 1946, v. 1, p. 3-22.
Niro, G.A.; Rosina, F.; Rizzeto, M. Treatment of hepatitis D. Journal of Viral Hepatitis,
2005, 12, 2-9.
Niro, G.A. Intrafamilial transmission of hepatitis delta virus: molecular evidence. J
Hepatol. 1999, v.30(4), p.564-9.
Niro, G.A. Lamivudine therapy in chronic delta hepatitis: a multicentre randomized –
controlled pilot study. Aliment Pharmacol Ther. 2005, v. 22(3), p. 227-232.
Niro, G.A. et al. Pegylated Interferon alpha 2b as monotherapy or in combination with
Ribavirin in chronic hepatitis delta. Hepatology, 2006, v. 44(3), p. 713-720.
Ojos, O.S. et al. Hepatitis Delta virus antígen in HBsAg positive chronic liver disease
in Nigeria. East Afr Med J. 1998, v. 75(6), p.329-331.
Oliveira, C. Variabilidade genética do antígeno de superfície do vírus da hepatite B
(VHB) em portadores naturais da Amazônia brasileira. Dissertação de Mestrado –
Univerdidade Federal de São Carlos/ Fundação Universidade do Amazonas, 2001,
122 p.
Oliveira, M.L. et al. Prevalence and risk factors for HBV and HDV infctions among
injecting drug users from Rio de Janeiro, Brazil. Braz J Med Biol Res. 1999, v. 32 (9),
p. 1107-1114.
Ono-Nita, S.K. et al. Hepatite viral crônica. História natural. In : Tratado de Hepatites
Virais, Roberto Focaccia, Editora Atheneu – São Paulo, 2003, p.413-419.
Paraná, R. et al. Serial transmission of spongiocytic hepatitis to woodchucks
(possibile associaton with a specific delta strain). J Hepatology, 1995, v. 22, p. 468473.
68
Pringle, C. R. The Universal System of virus taxonomy of the International Committee
on Virus Taxonomy (ICTV), incluinding new proposals ratified since publication of the
Sixth ICTV Report in 1995. Arch Virol, 1998, v. 143 (1): p.203-210.
Quintero, A. et al. Hepatitis delta virus genotypes III and I circulate associated with
hepatitis B virus genotype F in Venezuela. J Med Virol. 2001 64: 356-359.
Radjef, et al. Hepatitis D virus (HDV) genome analysis from Africa suggest the
existence of more than three worldwide genotypes. J Hepatology, 2001, v.34, p. 120.
Radjef, et al. Molecular phylogenetic analyses indicate a wide and anciet radiation of
African hepatitis delta virus, suggesting a Deltavirus genus of a least seven major
clades. Journal of Virology, 2004, v. 78(5), p. 2537-2544.
Ribeiro, L.C; Souto, F.J.S. Hepatite Delta no estado de Mato Grosso: apresentação
de cinco casos. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 2000, v. 33
(6), p. 599-602.
Ribeiro, N.R.C. et al. Distribution of hepatitis B vírus genotypes among patients with
chronic infection. Liver International, 2006, v. 26, p. 636-642.
Rizzeto, M. et al. Imunofluorescente detection of a new antigen-antibody system
(delta/antidelta ) associated to hepatitis B virus in liver and serum of HBsAg carriers.
Gut, 1977, v.18, p.997-1003.
Rizzeto, M. Hepatitis Delta: the virus and disease. J Hepatology, 1990, v. 11, p. 145148.
Rizzeto, M. História Natural da Infecção Hepatite D, In : Tratado de Hepatites Virais,
Roberto Focaccia, cap. 5, p.334, Editora Atheneu – São Paulo, 2003.
Sakugawa, H. et al. Determination of hepatitis delta vírus (HDV)- RNA in
assyntomatic cases of HDV infection. Am J Gastroenterol 1997, v.97, p. 2232-2236.
Sanchez-Tapias, J.M. et al. Influence of hepatitis B virus genotypeon the long-term
outcome of chronic hepatitis B in western patientis. Gastroenterology, 2003, v.125, p.
1559-1560.
Santana, R.O.E. et al. Prevalence of serologic markers of HBV, HDV, HCV and HIV
in non- injection drug users, compared to injection drug users in Gran Canaria,
Spain. Eur J Epidemiol, 1998, v. 14(6), p. 555-561.
Saracco, G., Marcagno. S. Serologicmarkers with fulminants hepatitis in persons
positive for hepatitis B surface antigen. A worldwide epidemiologic and clinical
survey. Am Inter Méd. , 1988, v. 106, p. 380-384.
Seeger, C; Mason, W. Hepatitis B Virus Biology. Microbiology and Molecular Biology
Reviews. v.64, n.1, p.51-68, mar. 2000.
69
Silveira, T.R; et al. Hepatitis B seroprevalence in Latin América. Pan Am J Public
Health, 1999, v.6, p. 378-383.
Sitnik, R. et al. Hepatitis B vírus genotypes and precore and core mutants in brazilian
patientis. Journal of clinical microbiology, 2004, v.42(6), p.2455-2460.
Souto, F.J.D. Distribuição da hepatite B no Brasil: atualização do mapa
epidemiológico e proposições para o seu controle. GED, 1999, v. 18 (4), p. 143-150.
Souto, F.J.D. et al. Prevalence of hepatitis B and C vírus markers among Malariaexposed gold miners in Brasilian Amazon. Mem Inst Oswaldo Cruz, 2001, v. 96, p.15.
Souto, F.J.D. et al. Prevalência da hepatite B em area rural de município
hiperendêmico na Amazônia Mato – grossense: situação epidemiológica. Revista
Epidemiologia e Serviços de Saúde, 2004, v.13 n.2, p.93-102.
Souza, C.A.A. História do Acre: novos temas, nova abordagem. Rio Branco, 2002
Cap. 7 p. 69.
Tavares-Neto, J. et al. Seroprevalence of Hepatitis B and C in the western Brazilian
Amazon Region (Rio Branco, Acre): A pilot study carried out during a hepatitis B
Vaccination Program. The Brazilian Journal Infectious Diseases, 2004, v.8(2), p. 133139.
Thomas, H.C. The hepatitis B virus and the host response. Journal of Hepatology . v.
11, n.1, p.583-9, jan. 1990.
Torres, J.R. Hepatitis B and hepatitis delta virus infection in South America. Gut,
1996, v. 38 (2) p. 48-55.
Tiollais, P.; Pourcel, C.; Dejean, A. The hepatitis B virus. Nature. v.317, n. 6037,
p.489-95, oct. 1985.
Viana, S. Estudo epidemiológico das hepatites B(VHB) e Delta (VHD) em 12
municípios do estado do Acre. Tese de Doutorado em Medicina Tropical,
Universidade de Brasília, 2003.
Viana, S. et al. High prevalence of hepatitis B vírus and hepatitis D vírus in the
western Brasilian Amazon. Am. J. Trop. Med. Hyg., 2005, v. 73(4), p.808-814.
Wolters, L. et al. Lamivudine-high dose interferon combinatios therapy for chronic
hepatitis B patitents coinfected with the hepatitis D virus. Journal Viral Hepatitis,
2000, 7(6): 428-438.
Wasley, A. et al. Surveillance for acute viral hepatitis- Unites Satates, 2005. MMWR
Surveill Summ, 2007, v.56(3), p. 1-24
70
8 ANEXOS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS-INFORMAÇÃO
Título do projeto de pesquisa:
Hepatite B e Delta: Avaliação de uma série de casos na regional do Juruá –
estado do Acre.
Eu..................................................................................., fui procurado (a) pela
Dra. Suiane Valle, (CRM-AC 305/ CRM-AM 2979), aluna do Curso de Mestrado em
Doenças Tropicais e Infecciosas da Universidade do Estado do Amazonas –
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, informado (a) sobre o projeto de
pesquisa com o título acima citado e da minha seleção para participar.
Fui informado (a) que todos os pacientes atendidos no Hospital Geral de
Cruzeiro do Sul com diagnóstico de hepatite, farão parte deste estudo, por seleção
de prontuários. Que este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Fundação Hospitalar do Estado do Acre e/ou CEP da Fundação de
Medicina Tropical do Amazonas em 03/ 01/ 2006.
Outra explicação dada foi que o projeto de pesquisa, caso eu aceite participar,
consta de levantamento de dados do meu prontuário médico existente no arquivo do
Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, e caso seja necessário, será feita coleta de 05 ml
de sangue em uma veia do braço, através de seringa e agulha esterilizadas, para
realização de exames, que não serão feitos em nosso estado, não havendo riscos
para o meu estado de saúde.
Antes da coleta do sangue, caso seja necessário, algumas perguntas a meu
respeito e da minha família e procedimentos submetidos durante o meu
acompanhamento médico, poderão ser feitas, caso o prontuário esteja incompleto;
Fui plenamente informado (a) que posso negar-me a responder as perguntas
acima
ou
não
querer
deixar
coletar
o
sangue,
sem
prejuízo
acompanhamento clínico-laboratorial, que por ora faço neste Hospital.
do
meu
71
Informado ainda, que os resultados da pesquisa não serão feitos de forma
individual, ou seja, não haverá resultado de exame informado diretamente ao
participante, pois os resultados trarão direcionamentos da doença em relação a sua
evolução e seu comportamento na região do vale do Juruá, objetivando medidas de
ação de saúde coletiva. Assim considero-me satisfeito (a) com as explicações, que
obtive durante a leitura deste documento, quando tive a oportunidade de fazer
perguntas. Portanto no momento, eu aceito (ou o menor sob a minha
responsabilidade) em participar da pesquisa.
Como tenho dificuldade para ler, o escrito acima, atesto também que a Dra.
Suiane Valle, leu lentamente este documento e esclareceu as minhas dúvidas.
Como concordo em participar do estudo, concordei também em colocar abaixo a
minha impressão do dedo polegar.
Nome:...........................................................................................
Assinatura
Impressão digital
Testemunhas: ____________________________________________
____________________________________________
OBS: Em caso de dúvidas contatactar com Dra. Suiane pelos fones:
(68) 9983 1266 e (68) 3322 4318/ 3322 2364
72
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
MESTRADO EM DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS
FICHA DE INVESTIGAÇÃO
Projeto: Hepatite B e Delta: Avaliação de uma série de casos na regional do Juruá –
estado do Acre.
IDENTIFICAÇÃO
Nº PRONTUÁRIO:..........................
1- Nome............................................................................................................
2- Endereço.......................................................................................................
3- Idade................ anos
Estado Civil:.............................
4- Data do nascimento......... /........../..........
5- Sexo [ ] MAS
[ ] FEM
6- Local de nascimento.................................................................
7- Procedência ..............................................................................
8- Tempo que vive neste local........................
_____________________________________________________________
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
1- Grau de instrução:
[ ]Analfabeto [ ] Semi-analfabeto [ ] 1º Grau
[ ] 2º Grau
[ ] 3º Grau
2-Ocupação ______________________
3-Situação atual:
[ ] Trabalhando
[ ] Desempregado
[ ] Aposentado
[ ] Aposentado por
invalidez
4-Renda familiar: R$______________________
5- Composição familiar (Membros da família ou outros)
[
] filhos
[
] pai
[
] mãe
[
] irmãos
[
] genro
[
] nora
[
] outros
6-Quantos cômodos têm o domicílio? [
]
FATORES DE RISCO
1-Fez cirurgia? [ ] SIM [ ] NÃO
Onde?__________________________
Quando? ______/_______/_______
73
2- Recebeu transfusão de sangue? [ ]SIM
[ ]NÃO
Onde?________________________________Quando?_____/_____/_____
3 – Compartilha ou compartilhou: dormida [
SIM
[
] NÃO
lâmina de barbear? [
4-Tem tatuagem? [
] SIM [
] SIM [
] NÃO escova de dente [
] SIM [ ] NÃO
] NÃO Se sim, há quanto tempo? __________ anos.
5- Lesões de pele recente ou antiga? [
] SIM [
] NÃO
6- Submeteu-se a injeções aplicadas por “curiosos”? [
7- Já extraiu dentes? [
]
] Sim [
] SIM
[
] NÃO
] Não Quantas vezes?_________
Com quem?_____________________
8-Com que idade iniciou atividade sexual?_________anos. [
] Criança
[
]Não
quis responder
9- Você teve alguma doença abaixo:
[
]Gonorréia [ ]Sífilis [ ]Verrugas genitais [ ]Corrimento genital [ ]Bolhas
genitais
[ ]Câncro
[ ]Outras, ________________________________
10- Você tem hábito de usar camisinha (preservativo)? [
[
] SIM
[ ] NÃO
]Não quis responder
11- Você trabalha em serviço de saúde?
12- Uso do álcool? [
] SIM [
[
] SIM
[
] NÃO
] NÃO Tempo___________Quantidade_________
13- Uso de drogas: injetáveis? [ ] SIM
[ ] NÃO fumadas? [ ] SIM
[ ] NÃO
14- Alguém na sua casa teve:
Hepatite? [ ] SIM
[ ] NÃO
Icterícia [ ] SIM [ ] NÃO Colúria (urina cor de guaraná)? [ ] SIM [
Se sim, quem?[
]Mãe [ ]Pai [ ]Irmão/ã [ ]Companheiro/a [
] NÃO
]Filho/a [
15 - Você já teve hepatite? [ ] SIM [ ] NÃO
Idade: _________anos
Quantas vezes?________
16 - História de vacina contra hepatite B? [ ] SIM
[ ] NÃO
17 - Número de doses: [] não sabe informar
[
] uma
[
] duas
[
] três
ASPECTOS CLÍNICOS
DATA DO ATENDIMENTO AO AMBULATÓRIO: _____/_____/_____
SINTOMAS
[ ]Astenia
Data inicio sintomas: ____/___/____
[ ]Anorexia
[ ]Náuseas
[ ] Vômitos
]Outros
74
[ ]Febre
[ ]Cefaléia
[ ]Prurido
[ ]Dor articular
[ ]Diarréia
[ ]Hematêmese
SINAIS
[ ] Edema
[ ] Icterícia
[ ] Circulação colateral
[ ] Ginecomastia
[
[
[
[
[ ]Dores musculares [ ]Dor abdominal
[ ]Acolia fecal
[ ]Colúria
[ ]Melena
[ ]Perda ponderal
]Ascite
] Aranhas vasculares
]Atrofia muscular
] Atrofia testicular
[ ]Anemia
[ ] Eritema palmar
[ ] Alopecia
EXAME FÍSICO:
Estado geral [ ] Bom [ ] Regular
[ ] Mau
Fígado palpável? [ ] SIM [ ] NÃO - Se sim, doloroso? [ ] SIM
[ ] NÃO
Tamanho: ____cm do RCD. Consistência: [ ] Normal [ ] Mole [ ] Endurecido
Superfície:
[ ] Lisa [ ] Irregular
Baço palpável? [ ] SIM
[ ] NÃO - Se sim, doloroso? [ ] SIM [ ] NÃO
Tamanho: ____cm do RCE. Consistência: [ ] Normal [ ] Mole [ ] Endurecido
CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO
___________________________________________________________________
[ ] Hepatite aguda [ ] Hepatite crônica [ ] Cirrose
[
] Hepatocarcinoma [
] Fulminante
[
] Portador inativo
PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO
01 – Indicação do tratamento: Hepatite crônica [
Cirrose [
] HBV [
] HBV [
] HBV + HDV
] HBV + HDV
02 – Tratamento proposto e data:____/___/___
Interferon alfa 2b ________________________________________________
Interferon alfa 2b + Lamivudina ______________________________________
Lamivudina______________________________________________________
04 – Término Programado: _____/____/____
Alta: _____/_____/______
Suspenso: ______/_____/____
Óbito: _____/_____/_____
_______________________________________________________
RESULTADOS DOS TESTES DE LABORATÓRIO
TESTE 1ª AMOSTRA 2ª AMOSTRA 3ª AMOSTRA
HBsAG
[ ]POS [ ]NEG [ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG
ANTI-HBS
[ ]POS [ ] NEG[ ]POS [ ] NEG[ ]POS [ ] NEG
AntiHBcIgM
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG
75
AntiHBcT
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG
HBeAG
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG
AntiHBe
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG
HDAG
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG
AntiHDIgM
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG ]POS [ ] NEG
AntiHDT
[ ]POS [ ] NEG [ ]POS [ ] NEG ]POS [ ] NEG
PCR VHB
[ ]POS [ ] NEG
]POS [ ] NEG
[ ]POS [ ] NEG ]POS [ ] NEG
ALT
_____________
____________
AST
_____________
____________
____________
GGT
_____________
____________
____________
F.AlC
_____________
____________
____________
BT
_____________
BD
_____________
____________
____________
ALBU.
____________
___________
____________
GLOB.
____________
____________
____________
PLAQ.
_____________
____________
____________
TAP
_____________
____________
____________
HEM
_____________
____________
____________
LEUC
_____________
____________
____________
URE
_____________
____________
____________
CREA
_____________
____________
____________
GLIC
_____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________________________________________________________________
___________________________________
INDICE DE CHILD-PUGH ( Pugh, R.N. et al, 1973)
PONTO
S
1
2
BT(mg/dl
)
<2
2-3
ALBUMINA(g/dl
)
>35
28 - 35
3
>3
<28
TAP(RNI
)
<1.25
1.25
–
1.50
>1.50
ENCEFALOPATI
A
AUSENTE
1–2
3–4
CHILD A: 5 – 6 CHILD B: 7 – 9 CHILD C: 10 – 15
RESULTADO: _________________
ASCITE
AUSENTE
PRESENT
E
TENSA
76
_________________________________________________________________
EXAME HISTOPATOLÓGICO – BIÓPSIA HEPÁTICA-CLASSIFICAÇÃO METAVIR:
AUSENTE MINIMA MODERADA SEVERA
A0
A1
A2
A3
NECROSE PORTAL
FIBROSE PORTAL
F0
FIBROSE PORTAL SEPTAL
F1
F2
FIBROSE PORTAL RAROS
SEPTOS
F3
FIBROSE PORTAL SEM CIRROSE
FIBROSE MUTILANTE COM
NODULOS HEPATOCITÁRIOS
F4
A= Atividade inflamatória (0 – 3)
F= Fibrose (0 – 4)
(METAVIR COOPERATIVE STUDY GROUP, 1994)
DATA: ____/____/___
RESULTADO:__________________________
_________________________________________________________________
ECOGRAFIA HEPÁTICA (Cerry & Rocha,1993)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
] Contornos hepáticos irregulares
] Lesões focais hepáticas
] Textura heterogênea
] Hepatimetria diminuída
] Hepatimetria aumentada
] Atenuação feixe sonoro, hiperecogenicidade do parenquima hepático
] Dilatação de veia porta
] Veia esplenica de calibre aumentado
] Micronodulos
] Esplenomegalia
] Fibrose portal
] Ascite
] Litiase biliar
] Espessamento da parde da vesicula biliar
DATA: ____/____/___
RESULTADO:__________________________
__________________________________________________________________
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ( BEPPU, et al, 1988)
Varizes esofágicas
[ ] SIM
[ ] NÃO
Grau__________
Data:____/____/___
77
AMOSTRA P/ ANÁLISE BIOMOLECULAR - GENOTIPAGEM
[
] Sim
[
] Não
Data coleta:_____/____/_____
DATA ____/_____/_____ _____________________________
Responsável
78
PORTARIA MINISTERIO SAÚDE
Portaria nº 860 de 12 de Novembro de 2002.
O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de estabelecer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o
tratamento da Hepatite Viral Crônica B, que contenha critérios de diagnóstico e tratamento,
observando ética e tecnicamente a prescrição médica, racionalize a dispensação dos medicamentos
preconizados para o tratamento da doença, regulamente suas indicações e seus esquemas
terapêuticos e estabeleça mecanismos de acompanhamento de uso e de avaliação de resultados,
garantindo assim a prescrição segura e eficaz;
Considerando a Consulta Pública a que foi submetido o Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas – Hepatite Viral Crônica B, por meio da Consulta Pública GM/MS nº 01, de 23 de julho de
2002 – Anexo VI, que promoveu sua ampla discussão e possibilitou a participação efetiva da
comunidade técnico científica, sociedades médicas, profissionais de saúde e gestores do Sistema
Único de Saúde na sua formulação, e
Considerando as sugestões apresentadas ao Departamento de Sistemas e Redes Assistenciais
no processo de Consulta Pública acima referido, resolve:
Art. 1º - Aprovar o PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - HEPATITE
VIRAL CRÔNICA B - Lamivudina, Interferon-alfa, na forma do Anexo desta Portaria.
§ 1º - Este Protocolo, que contém o conceito geral da doença, os critérios de inclusão/exclusão
de pacientes no tratamento, critérios de diagnóstico, esquema terapêutico preconizado e mecanismos
de acompanhamento e avaliação deste tratamento, é de caráter nacional, devendo ser utilizado pelas
Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na regulação da dispensação
dos medicamentos nele previstos.
§ 2º - As Secretarias de Saúde que já tenham definido Protocolo próprio com a mesma
finalidade, deverão adequá-lo de forma a observar a totalidade dos critérios técnicos estabelecidos no
Protocolo aprovado pela presente Portaria;
§ 3º - É obrigatória a observância deste Protocolo para fins de dispensação dos medicamentos
nele previstos;
§ 4º - É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais
riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos preconizados para o tratamento da
Hepatite Viral Crônica B, o que deverá ser formalizado através da assinatura do respectivo Termo de
Consentimento Informado, conforme o modelo integrante do Protocolo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
RENILSON REHEM DE SOUZA
Secretário
79