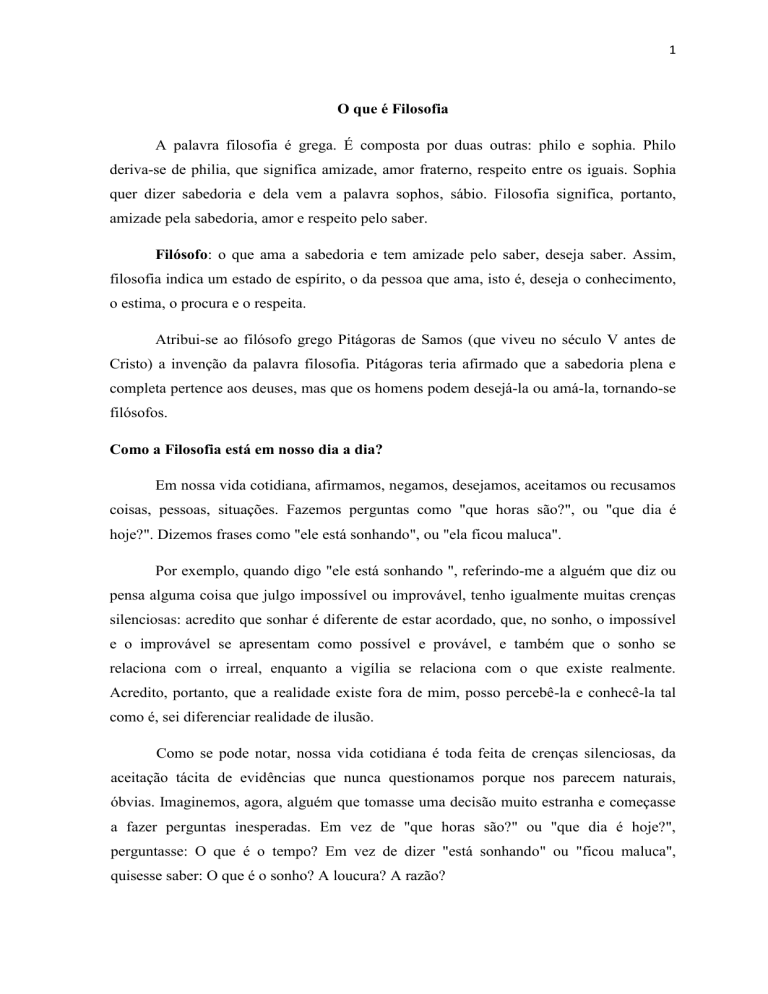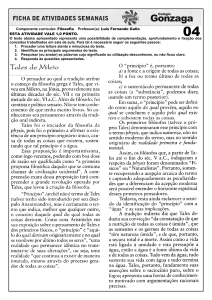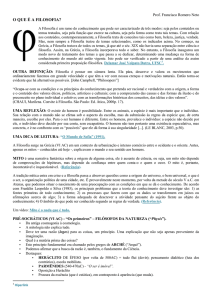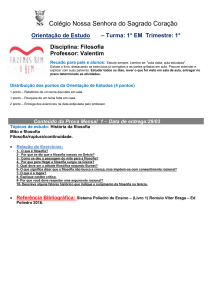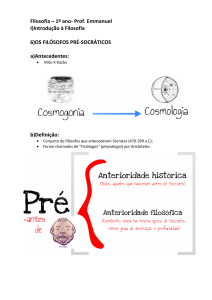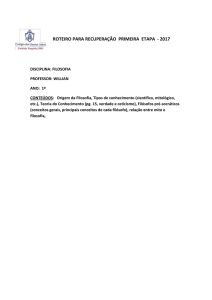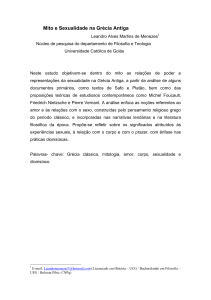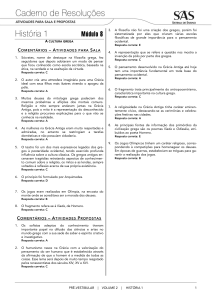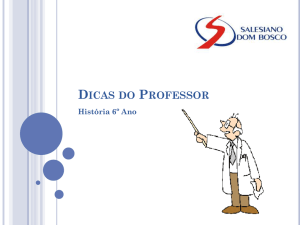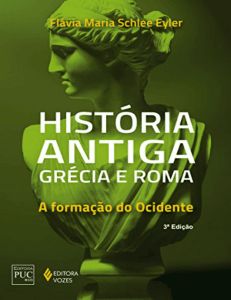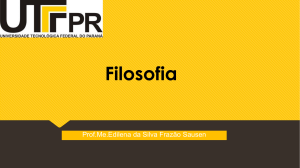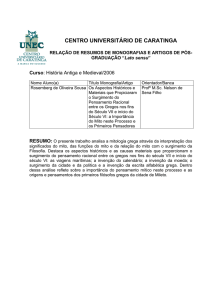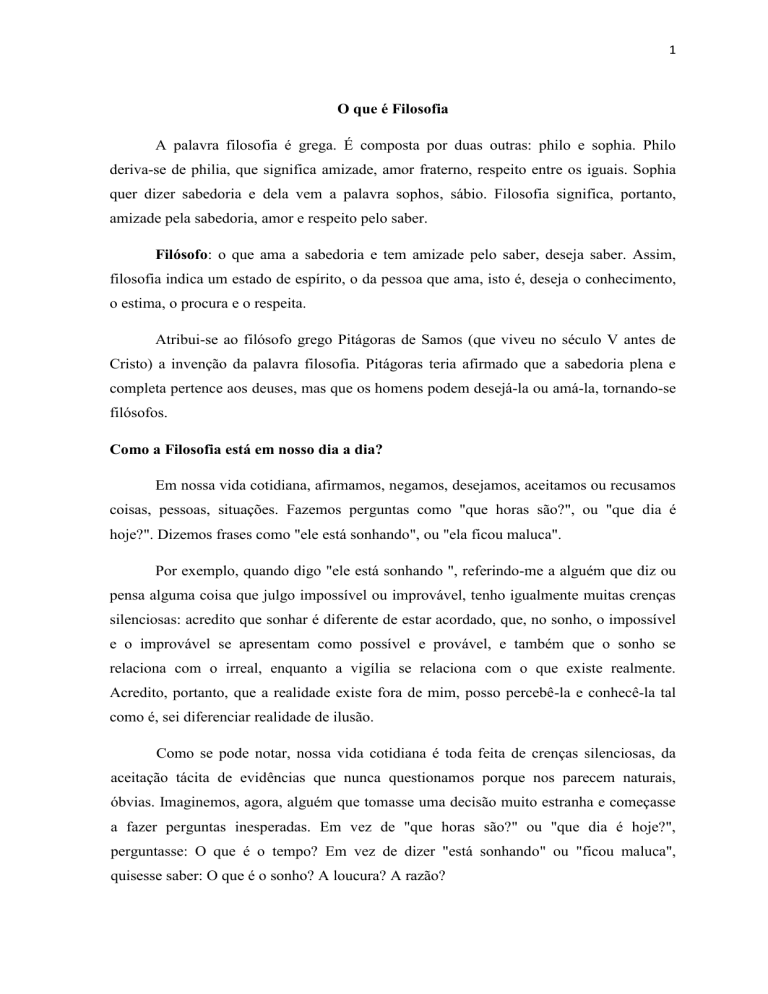
1
O que é Filosofia
A palavra filosofia é grega. É composta por duas outras: philo e sophia. Philo
deriva-se de philia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sophia
quer dizer sabedoria e dela vem a palavra sophos, sábio. Filosofia significa, portanto,
amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber.
Filósofo: o que ama a sabedoria e tem amizade pelo saber, deseja saber. Assim,
filosofia indica um estado de espírito, o da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento,
o estima, o procura e o respeita.
Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos (que viveu no século V antes de
Cristo) a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e
completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se
filósofos.
Como a Filosofia está em nosso dia a dia?
Em nossa vida cotidiana, afirmamos, negamos, desejamos, aceitamos ou recusamos
coisas, pessoas, situações. Fazemos perguntas como "que horas são?", ou "que dia é
hoje?". Dizemos frases como "ele está sonhando", ou "ela ficou maluca".
Por exemplo, quando digo "ele está sonhando ", referindo-me a alguém que diz ou
pensa alguma coisa que julgo impossível ou improvável, tenho igualmente muitas crenças
silenciosas: acredito que sonhar é diferente de estar acordado, que, no sonho, o impossível
e o improvável se apresentam como possível e provável, e também que o sonho se
relaciona com o irreal, enquanto a vigília se relaciona com o que existe realmente.
Acredito, portanto, que a realidade existe fora de mim, posso percebê-la e conhecê-la tal
como é, sei diferenciar realidade de ilusão.
Como se pode notar, nossa vida cotidiana é toda feita de crenças silenciosas, da
aceitação tácita de evidências que nunca questionamos porque nos parecem naturais,
óbvias. Imaginemos, agora, alguém que tomasse uma decisão muito estranha e começasse
a fazer perguntas inesperadas. Em vez de "que horas são?" ou "que dia é hoje?",
perguntasse: O que é o tempo? Em vez de dizer "está sonhando" ou "ficou maluca",
quisesse saber: O que é o sonho? A loucura? A razão?
2
Alguém que tomasse essa decisão estaria interrogando a si mesmo, desejando
conhecer por que cremos no que cremos, por que sentimos o que sentimos e o que são
nossas crenças e nossos sentimentos. Esse alguém estaria começando a adotar o que
chamamos de atitude filosófica.
Mas o que é Filosofia? Qual é sua definição?
“Descartes dizia que a Filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de
todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde
e a invenção das técnicas e das artes.”
“Platão definia a Filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em
benefício dos seres humanos.”
Uma primeira resposta à pergunta "O que é Filosofia?" poderia ser: A decisão de
não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores,
os comportamentos de nossa existência cotidiana; jamais aceitá-los sem antes havê-los
investigado e compreendido. Perguntaram, certa vez, a um filósofo: "Para que Filosofia?".
E ele respondeu: "Para não darmos nossa aceitação imediata às coisas, sem maiores
considerações".
Antes de tudo, ela é uma forma de observar a realidade que procura pensar os
acontecimentos além da sua aparência imediata. Ela pode se voltar para qualquer objeto,
pode pensar sobre a ciência, seus valores e seus métodos; pode pensar sobre a religião, a
arte; o próprio homem, em sua vida cotidiana.
Uma história em quadrinhos ou uma canção popular pode ser objeto da reflexão
filosófica. Por exemplo, o desenho South Park, é um desenho que na maioria dos seus
episódios é uma reflexão filosófica crítica sobre a sociedade norte-americana e o mundo
contemporâneo.
Portanto, a Filosofia não é ciência: é uma reflexão crítica sobre os procedimentos e
conceitos científicos. Não é religião: é uma reflexão crítica sobre as origens e formas das
crenças religiosas. Não é arte: é uma interpretação crítica dos conteúdos, das formas, das
significações das obras de arte e do trabalho artístico. Não é sociologia nem psicologia,
mas a interpretação e avaliação crítica dos conceitos e métodos da sociologia e da
psicologia. Não é política, mas interpretação, compreensão e reflexão sobre a origem, a
natureza e as formas do poder. Não é história, mas interpretação do sentido dos
3
acontecimentos enquanto inseridos no tempo e compreensão do que seja o próprio tempo.
Conhecimento do conhecimento e da ação humanos, conhecimento da transformação
temporal dos princípios do saber e do agir, conhecimento da mudança das formas do real
ou dos seres, a Filosofia sabe que está na História e que possui uma história.
A Filosofia é útil ou inútil?
O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: O que é o útil? Para que e para
quem algo é útil? O que é o inútil? Por que e para quem algo é inútil?
O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, fama e
riqueza. Julga o útil pelos resultados visíveis das coisas e das ações, identificando utilidade
e a famosa expressão "levar vantagem em tudo". Desse ponto de vista, a Filosofia é
inteiramente inútil e defende o direito de ser inútil.
Qual seria, então, a utilidade da Filosofia? Se abandonar a ingenuidade e os
preconceitos do senso comum for útil; se não se deixar guiar pela submissão às ideias
dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do
mundo, da cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas nas
artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os
meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a
felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os
saberes de que os seres humanos são capazes.
História da Grécia
A Filosofia, entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e
sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas
transformações, da origem e causas das ações humanas e do próprio pensamento, é um fato
tipicamente grego. Para entendermos tal surgimento precisamos fazer uma breve
contextualização da história da Grécia na antiguidade.
Duas civilizações precederam a Grécia helênica: Minoica e a Micênica. Mas
tradicionalmente a história da Grécia costuma ser dividida pelos historiadores em quatro
grandes fases ou épocas:
4
1. A da Grécia homérica, correspondente aos 400 anos narrados pelo poeta Homero, em
seus dois grandes poemas, Ilíada e Odisséia;
2. A da Grécia arcaica ou dos sete sábios, do século VII ao século V antes de Cristo,
quando os gregos criam cidades como Atenas, Esparta, Tebas, Megara, Samos, etc., e
predomina a economia urbana, baseada no artesanato e no comércio;
3. A da Grécia clássica, nos séculos V e IV antes de Cristo, quando a democracia se
desenvolve, a vida intelectual e artística entra no apogeu e Atenas domina a Grécia com
seu império comercial e militar;
4. E, finalmente, a época helenística, a partir do final do século IV antes de Cristo, quando
a Grécia passa para o poderio do império de Alexandre da Macedônia, e, depois, para as
mãos do Império Romano, terminando a história de sua existência independente.
Os períodos da Filosofia não correspondem exatamente a essas épocas, já que ela
não existe na Grécia homérica e só aparece nos meados da Grécia arcaica. Entretanto, o
apogeu da Filosofia acontece durante o apogeu da cultura e da sociedade gregas; portanto,
durante a Grécia clássica.
O mito como conhecimento
Durante centenas de anos, o mito era visto como forma de conhecimento no mundo
Greco. Período que engloba todo período Homérico, de 1200 a.C a 800 a.C. Um mito é
uma narrativa sobre a origem de alguma coisa (origem dos astros, da Terra, dos homens,
das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da
doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc.).
Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que
recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra; é uma narrativa
feita em público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador.
E essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando
ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados.
Quem narra o mito? O poeta-rapsodo. Quem é ele? Por que tem autoridade?
Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostram os acontecimentos
passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que
5
possa transmiti-la aos ouvintes. Sua palavra - o mito - é sagrada porque vem de uma
revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável.
Como o mito narra a origem do mundo e de tudo o que nele existe?
De três maneiras principais:
1. Encontrando o pai e a mãe das coisas e dos seres, isto é, tudo o que existe decorre de
relações sexuais entre forças divinas pessoais. Essas relações geram os demais deuses: os
titãs (seres semi-humanos e semidivinos), os heróis (filhos de um deus com uma humana
ou de uma deusa com um humano), os humanos, os metais, as plantas, os animais, as
qualidades, como quente-frio, seco-úmido, claro-escuro, bom-mau, justo-injusto, belo-feio,
certo-errado, etc. A narração da origem é, assim, uma genealogia, isto é, narrativa da
geração dos seres, das coisas, das qualidades, por outros seres, que são seus pais ou
antepassados.
2. Encontrando uma rivalidade ou uma aliança entre os deuses que faz surgir alguma coisa
no mundo. Nesse caso, o mito narra ou uma guerra entre as forças divinas, ou uma aliança
entre elas para provocar alguma coisa no mundo dos homens. O poeta Homero, na Ilíada,
que narra a guerra de Tróia, explica por que, em certas batalhas, os troianos eram
vitoriosos e, em outras, a vitória cabia aos gregos. Os deuses estavam divididos, alguns a
favor de um lado e outros a favor do outro. A cada vez, o rei dos deuses, Zeus, ficava com
um dos partidos, aliava- se com um grupo e fazia um dos lados - ou os troianos ou os
gregos - vencer uma batalha.
3. Encontrando as recompensas ou castigos que os deuses dão a quem os desobedece ou a
quem os obedece. Como o mito narra, por exemplo, o uso do fogo pelos homens? Para os
homens, o fogo é essencial, pois com ele se diferenciam dos animais, porque tanto passam
a cozinhar os alimentos, a iluminar caminhos na noite, a se aquecer no inverno quanto
podem fabricar instrumentos de metal para o trabalho e para a guerra.
O nascimento da Filosofia
A evolução do pensamento racional na Grécia foi um processo, uma tendência, não
uma obra já concluída. O processo teve início quando alguns pensadores rejeitaram as
explicações míticas dos fenômenos naturais. A maioria da população, no entanto, não
eliminou totalmente da sua vida e seu pensamento a linguagem, as atitudes e as crenças
6
míticas. Para eles, o mundo continuava a ser controlado por forças divinas, apaziguadas
mediante práticas rituais. E até mesmo na filosofia amadurecida de Platão e Aristóteles
persistiam as formas míticas de pensamento.
Em suma, a Filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos
humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a
alguns escolhidos, mas que, ao contrário, podia ser conhecida por todos, através da razão,
que é a mesma em todos; demonstrando que o mundo e os seres humanos, os
acontecimentos e as coisas da Natureza, os acontecimentos e as ações humanas podem ser
conhecidos pela razão humana, e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma.
Através da Filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente europeu as bases e os
princípios fundamentais do que chamamos razão, racionalidade, ciência, ética, política,
técnica, arte. Aliás, basta observarmos que palavras como lógica, técnica, ética, política,
monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, cronologia, gênese, genealogia,
cirurgia, ortopedia, pedagogia, farmácia, entre muitas outras, são palavras gregas, para
percebermos a influência decisiva e predominante da Filosofia grega sobre a formação do
pensamento e das instituições das sociedades europeias ocidentais.
A ideia de que a Natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e
universais, isto é, os mesmos em toda a parte e em todos os tempos. Assim, por exemplo,
graças aos gregos, no século XVII da nossa era, o filósofo inglês Isaac Newton estabeleceu
a lei da gravitação universal de todos os corpos da Natureza.
A Filosofia Grega
Os quatro grandes períodos da Filosofia grega, nos quais seu conteúdo muda e se
enriquece, são:
1. Período pré-socrático ou cosmológico, do final do século VII ao final do século V a.C.,
quando a Filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das
transformações na Natureza.
2. Período socrático ou antropológico, do final do século V e todo o século IV a.C.,
quando a Filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas
(em grego, ântropos quer dizer homem; por isso o período recebeu o nome de
antropológico).
7
3. Período sistemático, do final do século IV ao final do século III a.C., quando a Filosofia
busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado sobre a cosmologia e a antropologia,
interessando-se sobretudo em mostrar que tudo pode ser objeto do conhecimento
filosófico, desde que as leis do pensamento e de suas demonstrações estejam firmemente
estabelecidas para oferecer os critérios da verdade e da ciência.
4. Período helenístico ou greco-romano, do final do século III a.C. até o século VI depois
de Cristo. Nesse longo período, que já alcança Roma e o pensamento dos primeiros Padres
da Igreja, a Filosofia se ocupa, sobretudo, com as questões da ética, do conhecimento
humano e das relações entre o homem e a Natureza e de ambos com Deus.
Cosmologistas ou pré-socráticos: a análise racional da natureza e o universo
Os primeiros filósofos são denominados como pré-socráticos ou cosmológicos, do
final do século VII ao final do século V a.C., quando a Filosofia se ocupa
fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações na Natureza.
Afirmam que não existe criação do mundo, isto é, nega que o mundo tenha surgido
do nada. Para eles, o mundo e a natureza tinha um elemento primordial da que originava
outros seres e fenômenos, que se chama physis (em grego, physis vem de um verbo que
significa fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer, produzir). A physis é a Natureza eterna e
em perene transformação.
Afirma que todos os seres, além de serem gerados e de serem mortais, são seres em
contínua transformação, mudando de qualidade (por exemplo, o branco amarelece,
acinzenta, enegrece; o negro acinzenta, embranquece; o novo envelhece; o quente esfria; o
frio esquenta; o seco fica úmido; o úmido seca; o dia se torna noite; a noite se torna dia; a
primavera cede lugar ao verão, que cede lugar ao outono, que cede lugar ao inverno; o
saudável adoece; o doente se cura; a criança cresce; a árvore vem da semente e produz
sementes, etc.) e mudando de quantidade (o pequeno cresce e fica grande; o grande
diminui e fica pequeno; o longe fica perto se eu for até ele, ou se as coisas distantes
chegarem até mim, um rio aumenta de volume na cheia e diminui na seca, etc.). Portanto o
mundo está em mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua
estabilidade.
8
A mudança - nascer, morrer, mudar de qualidade ou de quantidade - chama-se
movimento e o mundo está em movimento permanente. O movimento do mundo chama-se
devir e o devir segue leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas leis são as que
mostram que toda mudança é passagem de um estado ao seu contrário: dia-noite, claroescuro, quente-frio, seco-úmido, novo -velho, pequeno-grande, bom-mau, cheio-vazio, ummuitos, etc., e também no sentido inverso, noite-dia, escuro-claro, frio-quente, muitos- um,
etc. O devir é, portanto, a passagem contínua de uma coisa ao seu estado contrário e essa
passagem não é caótica, mas obedece a leis determinadas pela physis ou pelo princípio
fundamental do mundo.
Os diferentes filósofos escolheram diferentes physis, isto é, cada filósofo encontrou
motivos e razões para dizer qual era o princípio eterno e imutável que está na origem da
Natureza e de suas transformações. Assim, Tales dizia que o princípio era a água ou o
úmido; Anaximandro considerava que era o ilimitado sem qualidades definidas;
Anaxímenes, que era o ar ou o frio; Heráclito afirmou que era o fogo; Leucipo e Demócrito
disseram que eram os átomos.
Os principais escolas e filósofos pré-socráticos:
Filósofos da Escola Jônica
A filosofia jônica teve início com Tales (c.624- c. 548 a.C.) de Mileto, uma cidade
da Jônia. Contemporâneo do ateniense Sólon, ele se preocupou em saber de que modo a
natureza evoluíra até chegar até o que era. Tales ensinava que a água era o elemento
fundamental, o princípio básico da natureza, e que por algum processo natural –
semelhante à formação de gelo ou vapor – a água dera origem a tudo o que existe.
- Tales revolucionou o pensamento porque eliminou os deuses de sua visão sobre as
origens da natureza e buscou uma explicação natural para existência de todas as coisas.
Rompeu também com a crença geralmente aceita de que os terremotos eram provocados
por Posêidon, deus do mar, oferecendo uma explicação naturalista para tais fenômenos: ele
pensava que a Terra flutuava na água e que quando esta era agitada por ondas turbulentas,
a Terra era sacudida por terremotos.
Atribuem-se a Tales diversas descobertas matemáticas. Além de estudar a
geometria do círculo e do triângulo isósceles, Tales demonstrou o cálculo da altura de uma
9
pirâmide,
baseado
no
comprimento
de
sua
sombra.
Segundo o historiador Heródoto, Tales previu a ocorrência de um eclipse solar no dia 28 de
maio de 585 a.C. Aristóteles chegou a considerar este o momento do nascimento da
filosofia.
- Anaximandro
(c.611- c. 547 a.C.), outro jônio do século VI, rejeitou a teoria de
Tales de que a água era a substância primordial. Negando a existência de qualquer
substância específica, sugeriu que alguma coisa indefinida, a que deu o nome de Ápeiron
(o Ilimitado), era o princípio de todas as coisas. Acreditava que dessa massa primordial,
que continha forças como o calor e o frio, gradualmente emergiu um núcleo, o embrião do
universo. Para ele, o frio e o úmido condensaram-se para formar a Terra e o seu invólucro
de nuvens, enquanto o quente e o seco formaram os anéis de fogo que conhecemos como a
lua, o sol e as estrelas. O calor que se desprendia do fogo no céu secou a Terra e provocou
a retração dos oceanos. De morna camada de lodo acumulada sobre a terra surgiu a vida, e
das primeiras criaturas marinhas desenvolveram-se os animais terrestres, entre eles os seres
humanos. A explicação de Anaximandro para as origens do universo e da natureza
continha, como é natural, elementos fantásticos. Entretanto, ao oferecer uma explicação
natural para a origem da natureza e da vida, ele foi muito mais longe do que os mitos da
criação.
- Como os seus colegas jônios, Anaxímenes (morto em c. 525 a.C.) realizou a transição
do mito para a razão. Ele também sustentava que uma substância primordial – o ar – estava
por trás da realidade e respondia pela organização da natureza. O ar rarefeito convertia-se
em fogo, enquanto o vento, as nuvens e a água eram formados pelo ar condensado. Á
media que prosseguia o processo de condensação, formava-se a água, a terra e, por fim, a
pedra. Anaxímenes rejeitou também a velha crença de que o arco-íris era deus Íris;
afirmava, ao contrário, que o arco-íris era provocado pelos raios de sol que incidiam sobre
o ar denso.
Filósofos da Escola Itálica
- Os jônios foram denominados filósofos da matéria, porque sustentavam que todas as
coisas provinham de uma substância material específica. Outros pensadores do século VI
a.C. buscaram abordagens diferentes. Para Pitágoras (c. 580-c. 507 a.C) e seus
seguidores, que viveram nas cidades gregas da Itália meridional, a natureza das coisas não
10
estava numa substância particular mas em relações matemáticas. Descobriram os
pitagóricos que os intervalos transferiram a ênfase da matéria para a forma, do mundo da
percepção sensorial para a lógica da matemática. Os pitagóricos eram também místicos
religiosos que acreditavam na imortalidade e na transmigração das almas. Recusavam-se,
por conseguinte, a comer carne de animais, pois temiam que ela contivesse almas humanas.
Filósofos da Escola Eleata
- Parmênides (c. 515-c. 450 a.C), natural de Eléia, cidade grega da Itália meridional,
opôs-se à concepção fundamental dos jônios de que todas as coisas provinham de uma
substância original. Ao desenvolver sua tese, Parmênides aplicou ao argumento filosófico a
lógica usada pelos pitagóricos no raciocínio matemático. Ao afirmar que a proposição de
um argumento devia ser coerente e livre de contradições, Parmênides tornou-se o criador
da lógica formal. A despeito das aparências, sustentava ele, a realidade – os cosmos e tudo
o que há dele – é uma, eterna e imutável; ela é percebida não pelos sentidos, que são
ilusórios, mas pela mente; não pela experiência, mas pela razão. A verdade somente é
alcançada pelo pensamento abstrato. O conceito de Parmênides de uma realidade imutável
que só pode ser apreendida pelo pensamento influenciou Platão e constitui base da
metafísica.
Heráclito de Éfeso (séc. VI-V a.C.) - É conhecido como o filósofo do devir, da mudança.
De acordo com Heráclito, o logos (razão/inteligência /discurso / pensamento) governa
todas as coisas, e está associado ao fogo, gerador do processo cósmico. Tudo está em
incessante transformação: "panta rei" (tudo flui). As coisas estão, pois, em constante
movimento, nada permanece o mesmo ("não nos banhamos duas vezes no mesmo rio").
Todavia, não se deve deduzir dessa afirmação que Heráclito defendeu uma teoria da
mudança contínua desregrada. Ao contrário, ele entendia que havia uma lógica - o logos governando tal mudança contínua.
FILÓSOFOS DA ESCOLA DA PLURALIDADE
Demócrito (c. 460-370 a.C.), nascido na Grécia continental, renovou o interesse
que os jônios tinham pelo mundo da matéria e reafirmou sua confiança no conhecimento
oriundo da percepção sensorial. No entanto, também conservou o respeito de Parmênides
pela razão. Seu modelo do universo compunha-se de duas realidades fundamentais – o
espaço vazio e um número infinito de átomos. Eternos, indivisíveis e imperceptíveis, esses
11
átomos moviam-se no vazio. Todas as coisas eram formadas por átomos, as combinações
entre eles eram responsáveis por todas as transformações da natureza. Num universo de
átomos colindinho, tudo se comportava segundo princípios mecânicos.
Conclusão:
Com filósofos gregos surgem então, em forma embrionária, os conceitos essenciais
do pensamento cientifico: as explicações naturais para os fenômenos físicos (jônios), a
ordem matemática do universo (Pitágoras), a demonstração da lógica (Parmênides) e a
estrutura mecânica do universo (Demócrito). Ao conferir à natureza uma base mais
racional do que mítica, sustentando que as teorias deveriam apoiar-se em evidencias, os
primeiros filósofos gregos deram ao pensamento um novo rumo. Suas conquistas tornaram
possível o pensamento teórico e a sistematização do conhecimento – como distintos da
simples observação e do acúmulo de informações.
Essa sistematização de conhecimentos estendeu-se a várias áreas. Os matemáticos
gregos, por exemplo, organizaram a experiência prática dos egípcios em agrimensura na
ciência lógica e coerente da geometria. Tanto os babilônios quando os egípcios efetuavam
operações matemáticas bastante complexas, mas, ao contrário dos gregos, nunca pensaram
em demonstrar os princípios matemáticos em que elas se apoiavam. Em ouro campo, os
sacerdotes babilônios haviam perscrutado os céus por motivos religiosos, acreditando que
os astros revelavam os desejos dos deuses. Os gregos usuram as informações coligidas
pelos babilônios para tentar descobrir as leis geométricas que regem o movimento dos
corpos siderais.
Um desenvolvimento paralelo ocorreu na medicina. Nenhum texto médico do
Oriente Próximo combatia explicitamente as práticas e crenças mágicas. Os médicos
gregos, por sua vez, associados à escola de Hipócrates (c. 460-377 a.C), afirmavam que as
doenças se deviam a causas naturais, não sobrenaturais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de Nomes, Termos, e Conceitos
Históricos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira. 1997.
12
CHAUI, Marilene. Convite à Filosofia. Ed.12. São Paulo: Editora Ática. 2001.
Coleção Os Pensadores, Os Pré-socráticos, Abril Cultural, São Paulo, 1.ª edição, vol.I,
agosto 1973.
DURANT, Will, História da Filosofia - A Vida e as Idéias dos Grandes Filósofos, São
Paulo, Editora Nacional, 1.ª edição, 1926.
FRANCA S. J., Padre Leonel, Noções de História da Filosofia.
HAMLY, D. W. Uma História da Filosofia Ocidental. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1987.
KENNY, Anthony. História Concisa da Filosofia Ocidental. Lisboa: Temas e Debates,
1999.
PADOVANI, Umberto e CASTAGNOLA, Luís, História da Filosofia, Edições
Melhoramentos, São Paulo, 10.ª edição, 1974.
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN+ Ensino Médio).
Secretaria
de
Educação.
Brasília:
MEC/SEF,
2009.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf>.
PERRY, Marvin. Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes,
1985.
VERGEZ, André e HUISMAN, Denis, História da Filosofia Ilustrada pelos Textos,
Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 4.ª edição, 1980.