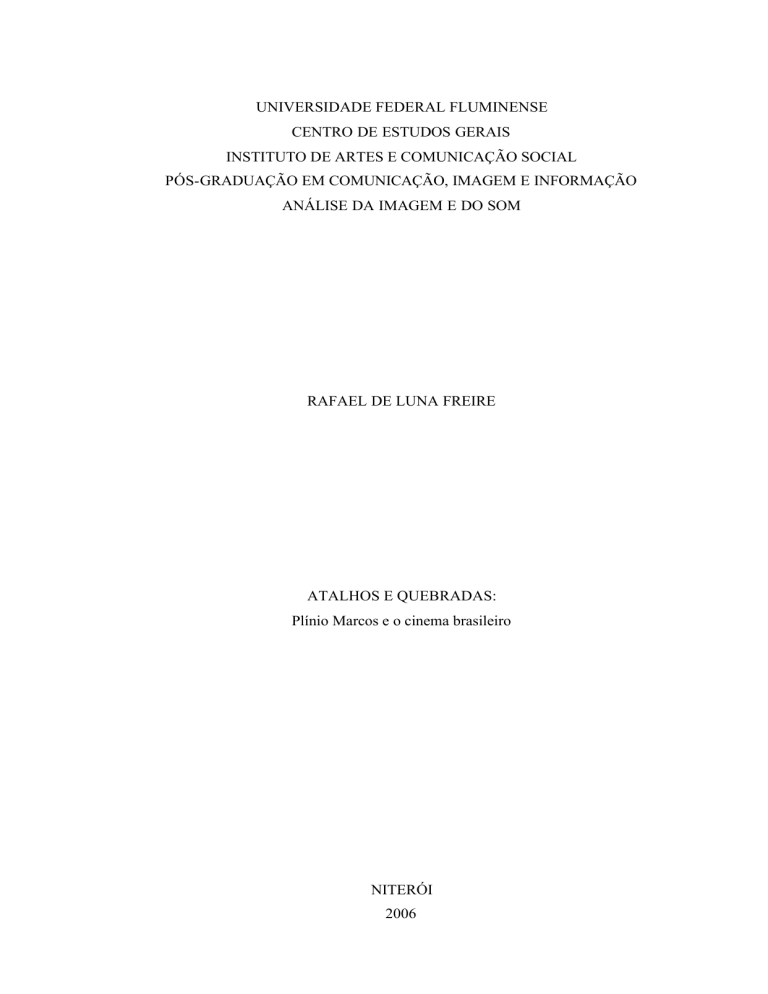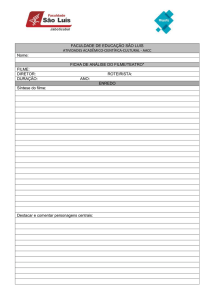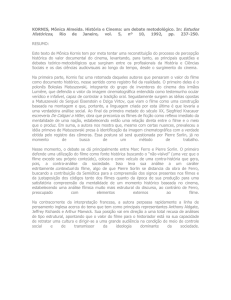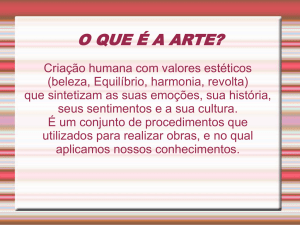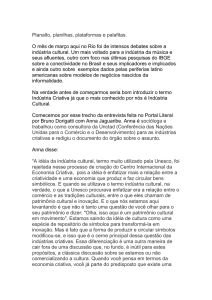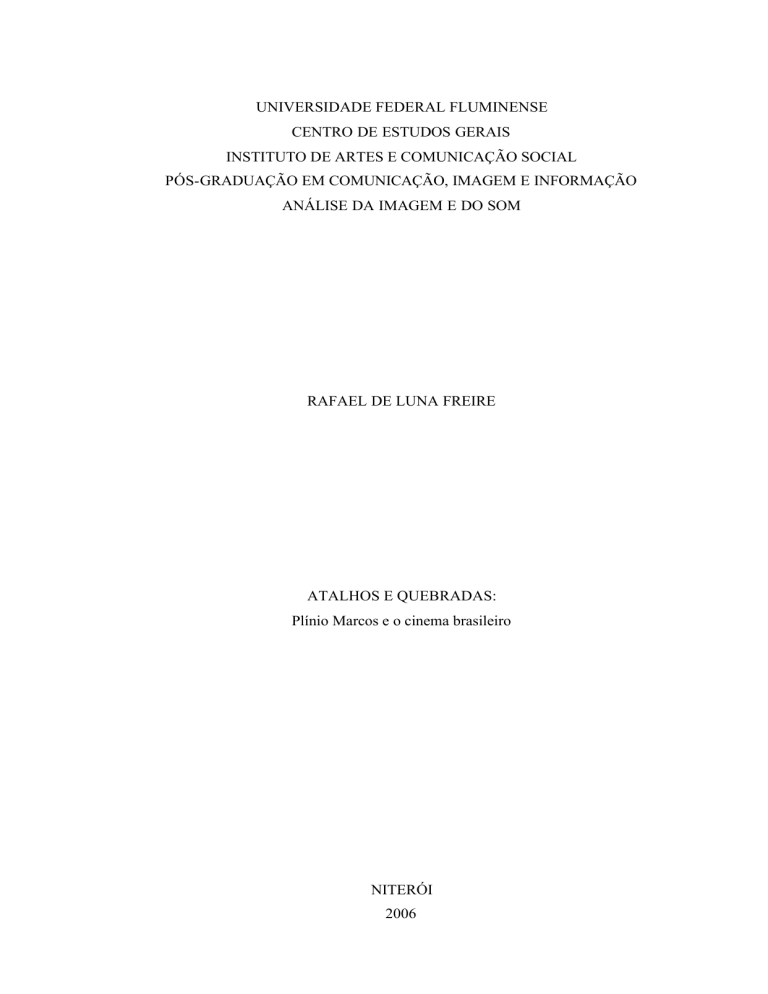
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE ESTUDOS GERAIS
INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, IMAGEM E INFORMAÇÃO
ANÁLISE DA IMAGEM E DO SOM
RAFAEL DE LUNA FREIRE
ATALHOS E QUEBRADAS:
Plínio Marcos e o cinema brasileiro
NITERÓI
2006
2
RAFAEL DE LUNA FREIRE
ATALHOS E QUEBRADAS:
Plínio Marcos e o cinema brasileiro
Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Comunicação,
Imagem e Informação da Universidade
Federal Fluminense, como requisito
parcial para a obtenção do Grau de
Mestre. Linha de Pesquisa: Análise da
Imagem e do Som.
Orientador: Prof. Dr. JOÃO LUIZ VIEIRA
Niterói
2006
3
A Plínio Marcos (in memorian)
4
AGRADECIMENTOS
Agradeço sinceramente a todos aqueles que ajudaram na longa pesquisa realizada para
este trabalho: os cineastas Emílio Fontana, Carlos Cortez e Antônio Carlos Fontoura, que,
gentilmente, me cederam seu tempo e atenção; os funcionários dos arquivos pesquisados,
especialmente do Centro de Documentação e Informação da Fundação Nacional de Arte, da
Biblioteca Nacional, da biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil e da Sociedade
Brasileira de Autores Teatrais, no Rio de Janeiro, além do Arquivo Multimeios do Centro
Cultural São Paulo. Gostaria de agradecer nominalmente a Carlos Roberto de Souza, Olga
Futemma, Fernanda Coelho e José Francisco Oliveira Mattos (Chico), da Cinemateca
Brasileira; à professora Maria Cristina Castilho Costa, coordenadora do projeto A censura em
cena – O arquivo Miroel Silveira, da Escola de Arte e Comunicação da Universidade de São
Paulo; à professora Leonor Souza Pinto, responsável pelo projeto Memória da censura no
cinema brasileiro; e a Rosângela Sodré, do Setor de Documentação do Centro Técnico do
Audiovisual. Por fim, um agradecimento especial aos amigos Carlos Eduardo Pereira e
Gilberto Santeiro, da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), e ao apoio
fundamental de Rosana de Freitas, coordenadora do Centro de Memórias MAM, e os
funcionários Cláudio Barbosa, Mário Marques e Maurício Salles.
Muito obrigado ainda a todos aqueles que ajudaram de algum modo nesta pesquisa,
como Rodrigo Bouillet, Fabián Nuñez, Daniela Pinto Senador, Ruth Albuquerque e André
Saddy (Canal Brasil), além dos alunos do curso de Cinema, Audiovisual e Literatura I, que
ministrei no Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, no
segundo semestre de 2005, como estágio docente.
A realização deste trabalho teria sido muito mais difícil – e muito mais chata – se não
fosse pela amizade e pelo estimulante convívio com os amigos do programa de PósGraduação em Comunicação, Imagem e Informação, especialmente meus companheiros de
linha de pesquisa Luis Alberto Rocha Melo, Cyntia Nogueira, Ana Rosa Teixeira e Simplício
Neto, além dos futuros doutores e colegas de um especial grupo de estudos, Fernando Morais,
Leonardo Macário e Mariana Baltar.
5
Não poderia ainda deixar de agradecer à inestimável ajuda dos professores Tunico
Amâncio e Dênis Moraes, membros da minha banca de qualificação, e da coordenadora do
Programa de Pós-Graduação à época de meu ingresso, Marialva Barbosa.
Ainda em tempo, muito obrigado também ao CNPq e à FAPERJ pelas bolsas que
permitiram a realização deste trabalho.
Um agradecimento obviamente fundamental ao professor, conservador da Cinemateca
do MAM e amigo Hernani Heffner, não apenas pela enorme generosidade (em dimensão só
comparável ao seu conhecimento), como pelo exemplo de dedicação e comprometimento
desinteressado.
Outro agradecimento igualmente indispensável se destina ao professor João Luiz
Vieira, pela honestidade, paciência, interesse e, principalmente, pela amizade que marcou este
trabalho de orientação.
Por último, obrigado a todos os meus amigos e familiares que me apoiaram ou
simplesmente compreenderam minha ausência, especialmente a Paula, que já me conheceu
nesse “estado”, e a minha mãe, Martha, que me aturou nos piores momentos e sempre foi o
exemplo mais próximo de dedicação acadêmica.
6
“Tonho: Vida desgraçada! Tem que ser sempre assim. Cada um por si e se dane o resto.
Ninguém ajuda ninguém. Se um sujeito está na merda, não encontra um camarada para lhe dar
uma colher de chá. E ainda aparecem uns miseráveis pra pisar na cabeça da gente. Depois,
quando um cara desses se torna um sujeito estrepado, todo mundo acha ruim. Desgraça de
vida!”
Plínio Marcos, Dois perdidos numa noite suja.
“Vado: Só estou falando a verdade. Você está velha. Outra noite cheguei aqui, você estava
dormindo aí, de boca aberta, roncava como velha. Puta troço asqueroso. Mas, o pior foi
quando cheguei perto para te fechar a boca. Queria ver se você parava com aquele ronco
miserável. Daí, te vi bem de perto. Quase vomitei. Porra, nunca vi coisa mais nojenta em toda
desgraçada da minha vida. Essa pintura, que você usa aí pra esconder a velhice, estava saindo
e ficava entre as rugas, que apareciam bem. Juro! Juro por Deus que nunca tinha visto nada
mais desgraçado”
Plínio Marcos, Navalha na carne.
“Preciso dos famintos e dos enfermos. Preciso dos meus fantasmas de sempre. Porque eu não
quero nada sem estar com eles”.
Plínio Marcos
“Se existe cousa mal comprehendid a mesmo, é o cinema brasileiro”.
Cinearte, Rio de Janeiro, n.346, 12 out. 1932.
7
RESUMO
Esta dissertação aborda a trajetória dos textos literários e dramáticos de Plínio Marcos
no cinema brasileiro através dos longas-metragens adaptados de sua obra. O dramaturgo, que
alcançou reconhecimento nacional entre 1966 e 1968 com peças como Dois perdidos numa
noite suja e Navalha na carne, teve seus textos adaptadas para o cinema em oito filmes
realizados por sete diretores diferentes ao longo de mais de três décadas. O estudo segue uma
ordem cronológica ao investigar as adaptações e seu contexto de produção, apontando
diferenças, acréscimos, cortes e atualizações, com ênfase especial no papel desempenhado
pela censura do regime militar, a saber: A navalha na carne (dir. Braz Chediak, 1970), Dois
perdidos numa noite suja (dir. Braz Chediak, 1971), Nenê Bandalho (dir. Emilio Fontana,
1971), A rainha diaba (dir. Antônio Carlos Fontoura, 1974), Barra pesada (dir. Reginaldo
Farias, 1977). A parte final reflete sobre uma "retomada" de Plínio Marcos pelo cinema
brasileiro a partir da década de 1990 através dos longas Barrela: escola de crimes (dir. Marco
Antônio Cury, 1994), Navalha na carne (dir. Neville D'Almeida, 1997) e Dois perdidos numa
noite suja (dir. José Joffily, 2003). A aná lise das abordagens do “universo pliniano” por esses
filmes se revela muito significativa dos “atalhos e quebradas” do próprio cinema brasileiro
nos últimos quarenta anos e resgata a permanência e atualidade de Plínio Marcos para a
cultura brasileira contemporânea.
Palavra-chave: Plínio Marcos, cinema brasileiro, teatro brasileiro.
8
ABSTRACT
The dissertation deals with the literary and dramatic texts by Plínio Marcos as adapted
for Brazilian cinema. The playwrite who achieved unprecedented national recognition
between 1966-68 thanks to Dois perdidos numa noite suja and Navalha na carne had eight of
his works adapted for film, directed by seven different filmmakers throughout more than three
decades. The text employs a chronological analysis to investigate the adaptations and the
contexts of their production, pointing to transformations, additions, cuts and updatings.
Special emphasis is placed on the role of censorship during Brazil’s military dictatorship. The
films are: A navalha na carne (dir. Braz Chediak, 1970), Dois perdidos numa noite suja (dir.
Braz Chediak, 1971), Nenê Bandalho (dir. Emilio Fontana, 1971), A rainha diaba (dir.
Antônio Carlos Fontoura, 1974), Barra pesada (dir. Reginaldo Farias, 1977). The final part
reflects upon the revisiting of Plínio Marcos’s work in Brazilian cinema during the nineties
through the feature films Barrela: escola de crimes (dir. Marco Antônio Cury, 1994),
Navalha na carne (dir. Neville D'Almeida, 1997) and Dois perdidos numa noite suja (dir.
José Joffily, 2003). The analysis of Plínio Marcos’ universe through the adaptation of his
works might be of significance when seeking to understand some of the impasses faced by
Brazilian cinema in the last forty years. It also points to the permanence and actuality of
Plínio Marcos in contemporary Brazilian culture.
9
LISTA DE ANEXOS
1. Capa do programa da montagem da peça Navalha na carne em São Paulo, em 1968.
2. Página do livro Navalha na carne (1968), primeira peça de Plínio Marcos publicada
em livro.
3. Crítica de Vicent Canby, do The New York Times, sobre o filme A navalha na carne.
4. Certificado de censura emitido para o relançamento de Nenê Bandalho depois de
quase três anos proibido pela censura.
5. Carta de Emílio Fontana à Embrafilme
6. Página do argumento de A rainha diaba escrito e rasurado por Plínio Marcos
7. Material de divulgação do filme Barra pesada com a aparência de uma folha do
caderno policial do jornal popular Última Hora.
10
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11
1. PLÍNIO MARCOS .............................................................................................................. 24
2. PALCOS E TELAS ............................................................................................................ 96
3. NAVALHA NA TELA ..................................................................................................... 150
4. UM FILME PERDIDO NUMA NOITE ESCURA .......................................................... 191
5. O MALDITO, O MARGINAL E O BANDIDO .............................................................. 221
6. PLÍNIO-POP-GAY-BLACK ............................................................................................ 278
7. A BARRA PESOU PARA VALER ................................................................................. 311
8. A RETOMADA ................................................................................................................ 356
9. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 370
10. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 376
11. FILMOGRAFIA ............................................................................................................. 398
11. ANEXOS ........................................................................................................................ 408
11
INTRODUÇÃO
Plínio e o cinema: uma trajetória no submundo.
Este é um trabalho sobre Plínio Marcos (1935-1999) e sobre o cinema brasileiro, tendo
como objeto principal as adaptações cinematográficas em forma de longa- metragem das obras
do conhecido escritor e dramaturgo.
A partir do final da década de 60, quando Plínio Marcos se tornou um nome
consagrado, as obras plinianas – peças, contos e argumentos – foram levadas às telas em oito
longas- metragens realizados ao longo de mais de três décadas. Trata-se dos filmes A navalha
na carne (dir. Braz Chediak, 1970), Dois perdidos numa noite suja (dir. Braz Chediak, 1971),
Nenê Bandalho (dir. Emílio Fontana, 1971), A rainha diaba (dir. Antonio Carlos Fontoura,
1974), Barra pesada (dir. Reginaldo Faria, 1977), Barrela: escola de crimes (dir. Marco
Antonio Cury, 1994), Navalha na carne (dir. Neville D’Almeida, 1997) e Dois perdidos
numa noite suja (dir. José Joffily, 2003).
O objetivo principal deste trabalho foi refletir sobre o percurso das obras do autor na
história do cinema brasileiro, tentando perceber como os traços principais do “universo
pliniano” – o conjunto de personagens, ambientes e características narrativas e dramáticas
particulares de um conjunto de obras de Plínio Marcos – receberam diferentes abordagens em
diferentes filmes, dirigidos por diferentes cineastas em diferentes épocas.
Ou seja, a meta foi identificar como foram tratados (ou retratados) nas adaptações
alguns elementos formais e temáticos fundamentais do texto de Plínio Marcos; perceber ao
longo do tempo um circuito cambiável de significados a partir de um elenco de características
como a abordagem de ambientes e tipos marginais, a ambivalente relação de poder e violência
entre os personagens, os sucessivos e ininterruptos conflitos expressos num ritmo intenso e
crescente, além do uso de uma linguagem crua e direta.
Empreendeu-se uma análise detalhada dos filmes, atentando para os aspectos estéticos,
econômicos e políticos de cada obra, mas tendo como eixo principal de análise o horizonte
comparativo com o texto adaptado. Uma reflexão aprofundada foi buscada, mas deixando
12
claro tratar-se apenas de uma das possíveis leituras dos filmes abordados, e que muitas ainda
podem e devem ser feitas.
Neste estudo, um interesse especial recaiu sobre os motivos que levaram à realização
de cada filme em diferentes momentos. O objetivo não se restringiu a identificar apenas as
“intenções pessoais” de cada cineasta – como seria o caso de uma análise de viés puramente
“autorista” –, mas atentar também, por exemplo, para o papel, em geral negligenciado, dos
produtores de cada adaptação, tentando perceber as justificativas comerciais e sociais que
estiveram por trás da realização dos filmes.
Enfim, procurando perceber os “atalhos e quebradas” de uma trajetória no submundo
do cinema brasileiro, surgiu a hipótese de que a obra de Plínio Marcos atenderia a
determinadas demandas dos realizadores dos filmes pelo tema e pelo universo característico
abordado pelo autor, em diferentes momentos e sob diferentes pontos de vista. Ou seja, o
olhar sobre as relações entre as obras literárias – dramáticas ou em prosa – de Plínio Marcos e
suas adaptações cinematográficas se constituiu “mais como um esforço para tornar mais
claras as escolhas de quem leu o texto e o assume como ponto de partida, não de chegada”
(XAVIER, In: PELLEGRINI et al., 1993, p.62).
Buscando iluminar os meandros da trajetória das adaptações plinianas, os capítulos
que se seguem foram orga nizados numa ordem cronológica em função da data em que os
filmes foram lançados comercialmente nas salas de cinema no país.
1
O capítulo 1 (Plínio Marcos) apresenta dados biográficos de Plínio Marcos e uma
breve análise de sua obra. O capítulo 2 (Palcos e telas) discute o contexto do cinema e do
teatro brasileiros que marcaram os primeiros anos da carreira do autor. Partindo do ano de
1958 – quando Plínio Marcos escreveu sua primeira peça, Barrela, montada apenas uma vez e
depois censurada por mais de duas décadas – até o ano de 1968, quando o dramaturgo já era
conhecido nacionalmente, estabeleceu-se um ponto de partida para análise dos filmes nos
capítulos subseqüentes.
O capítulo 3 (Navalha na tela) e o capítulo 4 (Um filme perdido numa noite escura)
tratam, respectivamente, dos filmes A navalha na carne (1970) e Dois perdidos numa noite
suja (1971), ambos dirigidos por Braz Chediak e adaptados das peças homônimas de Plínio
Marcos.
1
Trata-se de uma opção metodológica tomada com o princípio de se pensar a recepção do filme pelo público e
as relações entre uma adaptação e as realizadas anteriormente através da “memória do público”. Se a ordenação
dos filmes seguisse um critério como o do ano de realização dos filmes, a seqüência das adaptações não seria a
mesma.
13
O capítulo 5 (O maldito, o marginal e o bandido) aborda o filme Nenê Bandalho, de
Emílio Fontana, também lançado em 1971 e cujo roteiro teve origem num conto homônimo
do autor.
O filme A rainha diaba (1974), realizado a partir de um argumento escrito sob
encomenda por Plínio Marcos para o cineasta Antonio Carlos Fontoura, é o tema do capítulo
6 (Plínio-pop-gay-black).
Por último, o capítulo 7 (A barra pesou pra valer) analisa o filme Barra pesada
(1977), dirigido por Reginaldo Faria e baseado no conto Nas quebradas da vida.
No capítulo 8 (Retomada), são discutidos de forma mais breve os filmes que marcam
uma retomada das adaptações plinianas nos anos 90: Barrela: escola de crimes (dir. Marco
Antonio Cury, 1994), Navalha na carne (dir. Neville D’Almeida, 1997) e Dois perdidos
numa noite suja (dir. José Joffily, 2003). Devido aos limites deste trabalho e à proximidade
com uma tendência que considero ainda em curso (para o segundo semestre de 2006 está
programado o lançamento de mais uma adaptação: Querô, de Carlos Cortez), estes três
últimos filmes não receberam neste trabalho o mesmo aprofundamento dispensado para as
cinco adaptações analisadas separadamente.
Por outro lado, no estudo da trajetória pliniana no cinema brasileiro, alguns temas
específicos surgiram e tiveram que ser aprofundados de alguma maneira. Como um dos
autores mais perseguidos pela ditadura militar – e não apenas por ela –, foi impossível não
discutir o papel da censura na carreira de Plínio Marcos, assim como na realização e exibição
dos filmes que tinham seu nome nos créditos.
Se a atuação da censura pode ser dividida simplificadamente em três frentes –censura
política, religiosa e moral – no caso das obras de Plínio Marcos, a perseguição partiu
sobretudo de um conservadorismo moralista e atingiu com muito mais rigor suas peças do que
suas obras literárias ou as adaptações cinematográficas. Apesar de um filme como A navalha
na carne ter permanecido interditado durante seis meses pela Censura Federal entre 1969 e
1970, outro filme do mesmo diretor, como, por exemplo, a “pornochanchada” Banana
mecânica (dir. Braz Chediak, 1974), foi muito mais “retalhado” pelos censores, sem que isso
provocasse maior repercussão.
Como relatou a atriz Nicole Puzzi, estrela de muitos filmes nos anos 70, “a censura
não permitia, por exemplo, que os dois seios aparecessem na tela. O bumbum, só na lateral.
Então, se mostrasse um seio, não podia mostrar a lateral do bumbum”. Como a própria atriz
14
definiu de forma irônica, mas não sem alguma razão: “Era uma censura anatômica” (PUZZI;
SOLNIK, 1994, p.7).
Desse modo, embora estivesse incisivamente presente nas obras de Plínio Marcos a
denúncia da miséria, da desigualdade social e da violência na sociedade brasileira – e estes
aspectos também sofressem ação da censura –, o teor considerado “atentatório à moral e aos
bons costumes”, especialmente os palavrões e expressões de baixo calão, é que eram os alvos
preferidos das tesouras dos censores.
Por outro lado, o aspecto moral não pode ser desvinculado do aspecto político, como
bem ilustra uma história contada pelo próprio Plínio Marcos (1996):
De repente, todas as minhas peças foram proibidas. Por quê? Ninguém dizia coisa com coisa. Um filhoda-puta de um censor, num dia em que eu perguntei por que todas as minhas peças estavam proibidas,
ficou nervoso:
– Porque suas peças são pornográficas e subversivas.
– Mas por que são pornográficas e subversivas?
– São pornográficas porque têm palavrão. E são subversivas porque você sabe que não pode es crever
com palavrão e escreve.
Outra questão não muito distante e que também surge ao se refletir sobre o percurso
das adaptações plinianas diz respeito à representação da violência e da criminalidade urbana
pelo cinema brasileiro e sua relação com a percepção do aumento da violência na sociedade
brasileira, especialmente na década de 70.
Desse modo, ao mesmo tempo em que se tornou necessário atentar para o que o
sociólogo Michel Misse (1999) chamou de “acumulação social da violência” – a respeito da
percepção social de uma generalização da criminalidade violenta –, foi importante um
investimento na teoria de gêneros, buscando identificar as características do filme policial
brasileiro que se desenvolveu com vigor nesse período.
Entendendo o gênero como “a cristalização de um encontro negociado entre cineasta e
audiência”, seguimos o caminho sugerido por Robert Stam (2003, p.148-151) de compreender
o filme policial brasileiro como “um conjunto de recursos discursivos que podem ser
utilizados ou reestruturados das mais diferentes maneiras ou intenções”.
Por último, é obviamente importante ressaltar que este trabalho se localiza no campo
comparativo dos estudos de literatura e cinema, com foco na questão das adaptações
cinematográficas de obras literárias.
15
Cinema, literatura e teatro.
De maneira alguma recorremos ao conceito de fidelidade (tanto à “letra” quanto ao
“espírito”) na abordagem das transposições do texto literário de Plínio Marcos para o texto
fílmico. Conforme Randal Johnson (1982, p.1-2), a noção de fidelidade é ahistórica, subjetiva
e, sobretudo, impraticável. Ou seja, apesar de equivocada persistência e indiscutível
persuasão, a exigência ou a busca por fidelidade entre obras realizadas em meios diferentes,
além de problemática e talvez utópica, é carregada de inúmeros preconceitos envolvendo as
relações entre cinema e literatura, e, especialmente, o cinema e o teatro.
Além de tornar o foco de um estudo muito mais restrito, a noção de fidelidade
inevitavelmente se encaminha para definições essencialistas dos meios, tanto do cinema,
quanto da literatura ou do teatro, os limitando e, por conseguinte, os subestimando. Uma
abordagem preocupada em determinar especificidades, invariavelmente assume que as
expressões artísticas têm “vocações”, sendo inerentemente “boas” para certas coisas e “ruins”
para outras.
O pioneiro livro Novels into film, de George Bluestone, publicado em 1957,
apresentou como principal contribuição ao debate sobre o tema a afirmação enfática de que na
transposição de uma obra literária para o cinema as mudanças decorrentes eram inevitáveis,
pois o filme e o romance representavam gêneros estéticos distintos, tão diferentes quanto o
balé da arquitetura. Entretanto, além de uma visão essencialista, a análise de Bluestone
também apresentava outros problemas, como a estreiteza em abrangência e a valorização de
um cânone artístico, reafirmando uma superioridade formal da literatura sobre os filmes
analisados ao conferir um nível de valor relativo ao sucesso ou fracasso da adaptação.
A posição “hierarquizante” de Bluestone seria logo questionada pelos jovens críticos
da Cahiers du Cinéma e futuros cineastas da Nouvelle Vague. Partindo do conceito de
“câmera-caneta” (caméra-stylo) esboçado por Alexandre Astruc (1948) em sua valorização do
cineasta (ou autor) que “e screve com a câmera como um escritor escreve com a sua caneta”,
os “jovens turcos” passaram a colocar em relevo o diretor (metteur-en-scéne) – que seria o
principal grande responsável pelos méritos da obra –, no que ficou conhecida como politique
des auteurs. 2
2
In: NOUVELLE VAGUE, Lisboa. Catálogo... Lisboa: Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, 1999.
16
Essa concepção foi exemplarmente expressa por François Truffaut no artigo
L’Adaptation Littéraire au Cinéma:
Opor fidelidade à letra e ao espírito me parece falsear os principais problemas da adaptação, se é que
eles existem. [...] a traição à letra ou ao espírito é tolerável se o cineasta não se interessar nem por uma
nem por outra e se ele for bem sucedido em fazer:
a) a mesma coisa
b) a mesma coisa, ainda melhor
c) outra coisa melhor. 3
Truffaut acreditava ser o problema da adaptação um falso problema, uma vez que não
existiria receita ou fórmula mágica. Só o êxito do filme importaria e isso seria de competência
exclusiva da personalidade do diretor. Entretanto, apesar dessa posição libertária, mesmo a
Nouvelle Vague não escapou da exigência de fidelidade, ainda que ela só viesse à tona na
relação com uma obra de cânone literário, o que foi estrategicamente evitado.
André Bazin (2000, p.23), guru intelectual da Nouvelle Vague, abordou com precisão a
questão da “intocabilidade da obra de arte” no respeito pelo romance, especialmente aqueles
considerados “clássicos”, muitas vezes vistos como “uma síntese única cujo equilíbrio
molecular é automaticamente afetado quando sua forma é modificada”. Bazin atentava para o
fato da exigência de fidelidade se basear num recente conceito individualista de “autor” e
“obra”, que longe de ser eticamente rigoroso, por exemplo, no século XVII, só começou a se
tornar legalmente definido no final do século XVIII. No cinema, o próprio conceito de autor
se popularizou justamente pela geração de críticos e cineastas que tinham o mesmo André
Bazin como mentor.
Randal Johnson (2003, p.40) resumiu satisfatoriamente a questão:
O problema – o estabelecimento de uma hierarquia normativa entre literatura e cinema, entre uma obra
original e uma versão derivada, entre autenticidade e o simulacro e, por extensão, entre a cultura de elite
e a cultura de massa – baseia-se numa concepção, derivada da estética kantiana, da inviolabilidade da
obra literária e da especificidade estética.
Conforme Robert Stam (2000, p.58), após a minimização dos preconceitos com o
tratamento de todas as práticas significantes como produtoras de “textos” e merecedores da
mesma atenção, além do desmantelamento da hierarquia entre original e cópia, atualmente a
adaptação cinematográfica não deve mais ser encarada necessariamente como inferior ao
3
TRUFFAUT, François. L’Adaptation Littéraire au Cinéma. La Revue des lettres modernes, v. 5, n.36-38, verão
1958 (Tradução do autor).
17
romance ou peça no qual se baseia. Indo mais longe, a adaptação cinematográfica, não
considerada mais como uma imitação apagada de uma original autêntico e superior, deve ser
encarada como uma citação transplantada em um novo contexto e inevitavelmente com uma
nova função (RAY, 2000, p.45).
Atentos à impossibilidade de sustentação do conceito de fidelidade como um princípio
metodológico exclusivo e à “diferença automática” decorrente da mudança do meio – de
palavras escritas para uma combinação de sons e imagens –, diversos autores buscaram
definir outras estratégias de análise.
André Bazin sugeriu o estudo das adaptações como “seleções” ou “condensações”. 4 A
cine-semiótica de Christian Metz empreendeu uma busca de equivalentes entre planos ou
seqüências visuais e palavras ou frases escritas, assim como entre a montagem
cinematográfica e a gramática verbal.
5
Dudley Andrew (2000, p.33) sugeriu o uso do
conceito desenvolvido por E.H. Gombrich entre outros, da “combinação” (matching),
segundo a qual podemos fazer permanentemente ligações entre diferentes sistemas de signos,
assim como da estratégia de Nelson Goodman de buscar equivalência não dos elementos, mas
das posições que esses elementos ocupariam em seus diferentes domínios. Autores como
Thaïs Diniz (1999, p.32) fazem uso do termo tradução intersemiótica (ou ainda tradução
cultural), afirmando que “a equivalência não é a questão da busca da igualdade – que não
pode ser encontrada nem mesmo dentro da língua – mas de processo”.
Nesse sentido, Andrew (op. cit., p.34) afirma ainda que as análises de adaptações
devem se direcionar para a busca por efetivações de unidades narrativas equivalentes em
sistemas semióticos absolutamente diferentes (como o filme e o romance), encaminhando-se
para o estudo dos diferentes estilos e períodos do cinema em relação aos diferentes estilos e
períodos da literatura. Segundo o autor, isso levaria da eterna generalização ao solo irregular,
mas sólido, da História, da prática e do discurso artístico.
Para Ismail Xavier (2003, p.63-64), a idéia da adaptação como tradução intersemiótica
e a identificação de equivalências bem-sucedidas entre o cinema e a literatura – “entre as
palavras e as imagens, ou entre ritmo musical e o de um texto escrito, entre a tonalidade de
um enunciado verbal e a de uma fotografia” – estão localizadas no terreno do estilo. Para o
autor, trata-se de uma procura ainda apoiada na velha idéia de que há “um modo de fazer
4
Essa intenção já era sugerida em seu artigo publicado em 1948 pelo próprio título: L’Adaptation, ou le cinéma
comme digeste (In: NAREMORE, 2000).
5
Uma revisão dos conceitos de Metz em relação à adaptação se encontra em JOHNSON (1982, p.10-28).
18
certas coisas, próprias ao cinema, que é análogo ao modo como se obtêm certos efeitos no
livro”. Entretanto, essa busca por analogias de estilo, entre o que seria específica à literatura e
o que seria específico ao cinema, uma definição de “modos de fazer” equivalentes, se
revelaria um caminho complicado por se apoiar na percepção pessoal, que embora possa ser
trabalhada por instrumentos conceituais, não deve conduzir as análises.
Ray (op. cit., p.48-49) também contesta em parte a estratégia sugerida por Andrew
assinalando-a como relevante apenas para “nutrir investigações mais rigorosas sobre as
transações entre literatura clássica e filmes sérios”. Ressaltando como a mídia comercial
atualmente mistura as mais diferentes formas e estruturas de linguagem possíveis, numa época
de uso sem precedente dos recursos de comunicação e de total interação entre as mídias, e
vivendo hoje o que Bazin antecipava, na década de 1950, como o “reino da adaptação”, o
autor aponta que a missão dos estudos das adaptações é repensar as combinações possíveis
entre imagens e palavras, assim como seus propósitos.
Se Andrews (op.cit., p.30-31) tentou definir três diferentes relações possíveis nas
adaptações – empréstimo, interseção e fidelidade da transformação
6
–, é mais interessante
questionarmos se qualquer adaptação não estabelece inevitavelmente um “diálogo dialético”
com sua fonte. Robert Stam pensa a adaptação como uma forma de dialogismo intertextual,
inserido numa rede de infinitas possibilidades de interseção de superfícies textuais –
reconhecíveis ou não – e no qual o conceito de intertextualidade ajuda a transcender a noção
de fidelidade. Mesmo não se considerando um “bakhtiniano”, Robert Stam (1992,passim)
sugere o uso de conceitos do amplo arsenal teórico da obra do russo Mikhail Bakthin como
carnavalização, dialogismo (traduzido por Julia Kristeva como “intertextualidade”),
heteroglossia, tato e polifonia, que poderiam se revelar proveitosos no estudo das adaptações
com seu investimento na valorização da diferença e das relações anti-hierarquizantes.
Se a adaptação pode ser pensada como um “resumo” (como apontou Bazin), ela
também preenche lacunas, amplia, critica e modifica a fonte “original”. Desse modo, tão
6
Empréstimo – o modo mais comum no qual o “artista emprega, em maio ou menor grau, o material, a idéia, ou
forma de um texto anterior e, em geral, bem sucedido [...] Aqui a principal questão é a popularidade do original,
seu potencial para um grande e variado apelo, e sua existência com uma forma ou arquétipo contínuo na
cultura”. Interseção – quando a proposta da adaptação não é ser uma refração do original, mas “apresentar a
singularidade do texto original, iniciando um diálogo dialético entre formas estéticas de uma época e a forma
cinematográfica de nossa própria época”. Fidelidade da transformação – quando a adaptação assume a tarefa de
reproduzir no cinema o essencial de um texto original. Trata-se de um caso claro em que o filme se esforça para
se equivaler à obra literária ou à expectativa do público em fazer tal comparação. Entretanto, as adaptações que
se apresentam como “transposições” ou “transformações fiéis”, seriam “inquestionavelmente a mais freqüente e
desinteressante discussão sobre adaptação”.
19
interessante quanto perceber o que na fonte literária é eliminado, é atentar para porque certos
materiais são ignorados, além do que é também acrescentado.
Na verdade, existe uma constelação de expressões que podem ser usadas para
substituir a palavra “adaptação”, como tradução, leitura, recriação, dialogização,
canibalização, transmutação, transfiguração, significação, entre outras. Robert Stam (2000,
p.62) sugere, por exemplo, o uso de tradução, que já apontaria para os inevitáveis ganhos e
perdas típicas de qualquer tradução, ou mesmo de leitura, opção interessante por indicar que a
transformação de uma obra literária num filme, como qualquer leitura, seria um processo
inevitavelmente parcial, pessoal e conjetural. Ou seja, um texto pode gerar uma infinidade de
traduções, assim como de leituras, da mesma maneira que uma infinidade de adaptações
cinematográficas.
Entretanto, acredito que mais importante que o termo utilizado, é a ênfase numa visão
menos estreita nos processos de adaptação cinematográfica, atentando também às inúmeras
limitações determinadas pelas mais diversas contingências, sejam financeiras, políticas,
sociais ou tecnológicas. Da mesma maneira, devemos estar menos preocupados com
hierarquias ou fidelidade, e sim com as diferenças (e o que elas significam), sempre apoiados
por uma história contextual e intertextual. Como apontou Johnson (1982, p.34-35), no estudo
das adaptações é necessário o conhecimento das diferenças entre os meios, assim como das
circunstâncias sócio-históricas concretas de produção e de consumo, e da ideologia que se
atribui ao escritor ou cineasta.
Além do mais, a relação do cinema com o teatro é ainda mais complexa e bem menos
estudada, não devendo deixar de ser abordada neste trabalho que inclui análises de filmes
baseados em peças teatrais. A par das grandes diferenças, existem semelhanças fundamentais:
ambos são meios de expressões considerados “presentacionais” (ocorrem num espaço e tempo
determinado) e não “representacionais” (como a literatura ou a pintura), e os dois possuem a
capacidade de fazer uso tanto do som (música, ruídos ou diálogos) quanto de imagens ou
textos.
7
Enquanto a literatura, a despeito da possível existência de diferentes versões (e
traduções) do mesmo texto, tem uma fonte supostamente determinada, o teatro já representa a
possibilidade de diversas versões de si próprio. Na verdade, quando falamos em teatro
7
Entretanto, o teatro é talvez ainda mais “presentacional” do que o cinema. Conforme C. Bernd Sucher (2003,
p.24), o teatro é o prazer do momento no qual o que tem que ser mostrado e dito ganha existência, sendo o único
meio que celebra e se esforça para não ser nada além do presente.
20
devemos estar atentos à diferenciação entre a literatura dramática (drama) e o espetáculo
teatral (theatre). Cada encenação de uma peça será sempre diferente da outra, ainda mais
quando pensamos em montagens realizadas em épocas, países ou por companhias diferentes.
Toda vez que um texto dramático é levado aos palcos, isso já se constitui numa “adaptação”
por si só da peça – no sentido já apontado anteriormente da adaptação como uma leitura ou
tradução da fonte “original”.
8
Isso nos leva a questionar se o cinema, quando leva às telas determinada peça, adapta
exclusivamente o drama, ou é inevitável a influência das incontáveis montagens teatrais desse
mesmo texto – justamente a maneira através da qual uma peça geralmente se torna conhecida
do público. Ou seja, esses processos estão muito ligados aos diferentes momentos não só da
história do cinema, como da história do teatro, em que o prestígio e a importância do texto – e
do próprio autor – foram inúmeras vezes contrabalançadas pelo papel do diretor ou do ator.
Ao contrário do texto que a princípio pode ser facilmente resgatado, uma montagem só é
possível de ser remotamente recuperada pela memória, através de fotos, relatos ou registros
audiovisuais. A atenção a esses aspectos nos leva a problematizar ainda mais enfaticamente a
questão da fidelidade nas adaptações cinematográficas de peças.
Dessa maneira, um aprofundamento na reflexão sobre o teatro brasileiro e,
especialmente, do cinema brasileiro é igualmente fundamental e indispensável. Na medida das
possibilidades de extensão deste trabalho, as adaptações cinematográficas de Plínio Marcos
são discutidas sempre tendo em vista o contexto em que os filmes foram realizados,
colocando permanentemente em análise outras produções que mantiveram relações com a
obra analisada, assim como diferentes manifestações culturais no campo da música, da
literatura, do teatro ou da televisão.
Foi necessária uma ampla pesquisa – incluindo entrevistas, consultas a fontes
primárias e busca de documentos inéditos – primeiramente por se tratar de filmes
completamente ignorados ou desprezados por uma historiografia clássica do cinema
brasileiro.
8
9
Ao discutir a costumeira diferenciação feita entre o cinema mais “visual” e o teatro mais “verbal”, Robert
Knopf (2005, p.6) afirma que enquanto o filme “é o produto”, o “texto teatral” não deve ser confundido com o
“espetáculo teatral”, lembrando ainda que, com poucas exceções, as grandes platéias se lembram com mais
freqüência de momentos de uma encenação do que de diálogos da peça.
9
Os oito filmes analisados nessa dissertação inexistem nas principais histórias panorâmicas (SOUZA, C.;
GALVÃO, 1984, RAMOS, F., 1987a, SOUZA, C., 1998, HEFFNER, 1995, NICOLAS, 2004), inevitavelmente
sujeitas a lacunas e omissões. Nos textos de Le cinéma brésilien (PARANAGUÁ, 1987) três dos filmes são pelo
menos citados, ainda que superficialmente. A mesma ausência também pode ser notada tanto em outras
publicações menos ambiciosas ou sem pretensões totalizantes que abrangem o cinema brasileiro produzido a
21
Em segundo lugar, ao traçar uma trajetória das adaptações plinianas, esse percurso
freqüentemente se chocou com as periodizações consagradas pela historiografia clássica do
cinema brasileiro, sendo fundamental o questionamento das próprias definições dessas
categorias estanques. Trata-se de tentar encarar o dilema e enfrentar o desafio apontados por
Bernardet (op. cit., p.59), crítico dessa mesma historiografia:
“É possível elencar, numa linha de continuidade cronológica, todos os elementos julgados necessários
para constituir quer a periodização quer a ‘história do cinema brasileiro’, e seccionar essa linha em
fatias temporais que tenham uma significação dominante intrínseca bem como uma significação para os
diversos elementos que a compõem? Ou ao contrário, não deveríamos rechaçar o corte cronológico
vertical, e trabalhar horizontalmente com filões que apresentariam ritmos diferenciados e tentar
estabelecer entre eles relações, sem querer encaixá-los em unidades temporais consideradas válidas para
todos os filões?”.
Uma reflexão sobre o cinema brasileiro a partir do estudo das adaptações
cinematográficas de determinado escritor ou dramaturgo é um caminho que pode se revelar
proveitoso, mas não é, de maneira alguma, uma estratégia inédita. Muitos trabalhos foram
produzidos recentemente, por exemplo, sobre as adaptações cinematográficas da obra de
Nelson Rodrigues, o autor teatral mais adaptado pelo cinema brasileiro.
10
Mas da mesma maneira que a filmografia pliniana vem despertando muito menos
interesse que as adaptações rodriguianas, a vida e obra de Plínio Marcos – considerado um
dos maiores dramaturgos brasileiros, possivelmente atrás apenas do próprio Nelson Rodrigues
– não recebeu até hoje a atenção que mereceria. Se o “anjo pornográfico” tem sido objeto de
estudos, teses, compilações, dissertações e biografias ao longo dos anos, Plínio Marcos só foi
objeto de estudo acadêmico no Brasil pela primeira vez em 1993, com a tese de doutoramento
de Paulo Roberto Vieira de Mello na Universidade de São Paulo (USP), posteriormente
tranformada em livro (VIEIRA, 1994). Outro estudo importante foi realizado por Fred Maia,
Javier Contreras e Vinícius Pinheiro, como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da
Faculdade de Artes e Comunicação (FaCA), da Universidade Santa Cecília, em 1999, também
sendo publicado mais tarde (2002).
partir do final dos anos 60 (AVELLAR, BERNARDET, MONTEIRO, 1979; XAVIER, 2001;), assim como a
presença superficial e rasteira nas obras de caráter enciclopédico (PAIVA, 1989, MIRANDA; RAMOS, F.,
2000). Surpreendentemente, o mesmo processo de apagamento também ocorre com os filmes mais recentes
realizados a partir de 1990, nem sequer citados na crescente bibliografia de abordagem panorâmica sobre a
chamada “retomada do cinema brasileiro” (ORICCHIO, 2003, CAETANO, 2005, BUTCHER, 2005).
10
Entretanto, mesmo em relação aos filmes baseados em obras de Nelson Rodrigues, conforme Stephanie
Dennison (2000, p.142), os pesquisadores tem se concentrado com maior afinco somente nos dois filmes de
Arnaldo Jabor, justamente aqueles com respaldo de clássicos do cinema brasileiros dos anos 70.
22
Entretanto, se a principal fonte de pesquisa sobre a vida e a obra de Plínio Marcos
sempre foi ele próprio, esse interesse tardio acarretou perdas irreparáveis, conforme apontou
reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada em 2000:
“Com a morte de Plínio Marcos há exatamente um ano, perde-se grande parte da história da dramaturgia
brasileira. E não é chavão. É ínfima a documentação que se tem de todo o tempo em que Plínio Marcos
escreveu: a história da sua obra estava viva apenas em sua memória. Resgatar sua obra completa é uma
missão quase impossível”. 11
Se foram enormes as dificuldades encontradas na pesquisa sobre as adaptações
cinematográficas de obras plinianas – algo jamais abordado com profundidade
12
–, investigar
a biografia e a carreira de Plínio Marcos se revelou um desafio igual ou até maior. Mesmo em
2004, quando iniciei este trabalho, as lacunas permaneciam, os equívocos se perpetuavam e a
ignorância sobre a vida e a obra de um dos maiores nomes da cultura brasileira
contemporânea continuava reinando.
Autor maldito e esquecido
Reconhecido como um dos principais autores do teatro brasileiro moderno, Plínio
Marcos foi, verdadeiramente, um artista completo. Dramaturgo e diretor teatral, Plínio atuou
também como palhaço, humorista e apresentador de shows, além de ator em pavilhões,
teatros, programas de rádio, telenovelas e filmes. Escreveu não apenas peças teatrais, como
poesias, contos, livros infantis e romances, e desenvolveu uma longa carreira como jornalista,
assinando colunas, crônicas, reportagens, entrevistas e até críticas e editoriais.
Plínio Marcos, alé m de artista, foi, sobretudo, uma personalidade. Por sua intensa
militância política e cultural e sua postura combativa, polêmica e afirmativa, mais que um
dramaturgo consagrado, Plínio se tornou também uma importante figura pública.
11
VIEIRA, Gustavo. Plínio Marcos, "clássico", continua marginal. Estado de São Paulo, São Paulo, 17 nov.
2000. Disponível em: <http://www.copa.esp.br/divirtase/noticias/2000/nov/17/340.htm>. Acesso em: 22 jul.
2005.
12
Apesar de já ter sido tema de mostras esporádicas em cineclubes, além de uma programação especial no Canal
Brasil (que incluiu um episódio da série Retratos Brasileiros sobre Plínio Marcos, exibido pela primeira vez em
2003), a filmografia pliniana nunca tinha sido abordada com a devida profundidade, sendo mencionada apenas
em textos meramente informativos como Plínio Marcos e o Cinema, de Luiz Câmara (In: PLÍNIO MARCOS:
UM GRITO DE LIBERDADE, 2000) ou o verbete Plínio Marcos, de Luiz Felipe Miranda (In: MIRANDA;
RAMOS, F., 2000).
23
Além disso, a revolução que o “autor maldito” causou no panorama do teatro
brasileiro na segunda metade da década de 1960 foi ainda mais intensa pelo fato daquele
“gênio” ter vivido e conhecido de perto o ambiente sórdido que retratava nos palcos e chocava
as platéias e as sensibilidades burguesas. Assim como suas peças eram diferentes de tudo que
já tinha sido feito anteriormente nos palcos nacionais – seja por sua linguagem, ritmo ou
violência –, Plínio também se destacava totalmente da quase totalidade dos demais artistas e
intelectuais por sua própria origem social e status intelectual. Afinal de contas, como sempre
era lembrado por todos, e ele – em uma atitude até política – fazia questão de reforçar,
tratava-se de um ex-palhaço de circo semi-analfabeto.
Como contou a primeira esposa de Plínio, Walderez de Barros, que o conheceu
quando era ligada ao Centro Popular de Cultura (CPC) da Faculdade de Filosofia da USP,
onde estudava, “Plínio podia ser definido por palavra muito em moda na época: autêntico, que
era o jeito que nós, intelectuais metidos a besta, descobrimos para definir alguém que era um
pouco selvagem assim como o Plínio” (MENEZES, 2004, p. 149).
Tanto na cidade de Santos – após o sucesso local de Barrela em 1959 –, quanto em
dimensão nacional – com a consagração de Navalha na carne em 1967 e 1968 –, Plínio foi
considerado um autêntico gênio (ou um gênio autêntico), um talento nato, um diamante bruto.
O jornalista Mino Carta, no prefácio de Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos,
conferiu uma definição brilhante ao papel que Plínio assumiu, muito maior que simplesmente
a voz por trás de seus textos: “Algo, porém, o torna realmente díspar da maioria, único numa
multidão, um dos poucos de contorno definido. Uma silhueta nítida na paisagem empastada.
O Plínio tem a incrível força dos símbolos, queiram ou não seus amigos ou inimigos”
(MARCOS, 1977) (grifo meu).
Mas como um ator em sua origem, Plínio também foi, ao mesmo tempo, um
“personagem de si mesmo”, incorporando sua imagem pública e transformando-a em objeto
de contestação. Chamado de “ex-palhaço de circo”, de “analfabeto”, de “maldito”, de
“camelô” ou de “quase mendigo”, o dramaturgo assumia ostensivamente essas qualificações,
fossem ou não realmente condizentes com o homem, junto à família e aos amigos.
Como personagem chave ou verdadeiro símbolo – seja da luta contra a censura, da voz
dos excluídos, da defesa da cultura popular ou da recusa do politicamente tão correto quanto
acrítico – é importante não deixar de abordar a história de vida de Plínio Marcos ao tratar de
sua obra. Ele próprio, proclamando-se porta voz dessa gente, repórter do “povão que berra da
24
geral sem nunca influir no resultado”, colaborou para tornar cada vez mais difícil separar sua
trajetória pessoal da profissional.
25
1. PLÍNIO MARCOS
Nos atalhos esquisitos, estreitos e escamosos do roçado do Bom Deus.
Plínio Marcos de Barros nasceu em Santos, dia 29 de setembro de 1935, e faleceu em
São Paulo, em 19 de novembro de 1999, aos 64 anos.
De origem “mais ou menos humilde”, Plínio e seus quatro irmãos e uma irmã eram
filhos de um bancário (Armando) e de uma dona de casa (Hermínia). Tratava-se de uma
família de “classe média muito baixa, porque bancário naquele tempo tinha um padrão de vida
muito baixo”.
13
Na infância tranqüila passada no que era chamada de “vila de bancários” na
Ponta da Praia – que hoje denominaríamos de conjunto habitacional –, sua maior dificuldade
foi no colégio, o Grupo Escolar Dona Lourdes Ortiz. Para o amigo e jornalista Quartim de
Moraes, “ele não conseguia se interessar pelas bobagens que ensinavam na escola. O fato é
que a família dele não tinha a formação necessária para perceber que estava lidando com um
superdotado. E acabaram imaginando que o Plínio fosse um deficiente, uma confusão muito
comum, aliás”. 14
A jornalista Vera Artaxo, sua última companheira, apostou em outra hipótese:
Plínio nasceu canhoto, mas acabou escrevendo com a mão direita por imposição das instituições
educacionais da época. Acho que esse fato pode ter sido uma espinha dorsal para toda a sua história
porque a partir desse fato ele passou a ser excluído, primeiramente nas relações escolares [...]. O Plínio
não conseguia escrever um ditado na mesma velocidade que os outros meninos, por exemplo, e acabava
tirando zero. Então, essa característica o deixou um pouco de lado. O que os outros meninos faziam em
quinze minutos ele levava muito mais tempo para escrever. Ele então passou a se afastar desse meio até
que parou de estudar na 4ª série primária e começou a jogar futebol, onde a canhota dele era poderosa e
aceita (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO 2002, p. 48-49). 15
13
MARCOS, Plínio. Entrevista com Plínio Marcos. Centro de documentação e informação sobre arte brasileira
contemporânea, São Paulo, 23 fev. 1978. Entrevista concedida a Cláudia de Alencar e Carlos Eugênio
Marcondes de Moura. Trabalho não publicado. Mimeografado.
14
BARROS, Carlos Juliano. Repórter de um tempo mau. Repórter Brasil. Arquivo. Disponível em:
<http://www.reporterbrasil.com.br/reportagens/plinio/iframe.php>. Acesso em: 5 mar. 2006.
15
Entretanto, Plínio sempre realizou todas as atividades com a mão direita, inclusive escrever. E toda a sua obra
foi manuscrita (MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus
filhos. Dados biográficos. Origens. Disponível em: < http://www.pliniomarcos.com/dados/origens.htm >. Acesso
em: 18 jun. 2005).
26
Repetindo o ano diversas vezes, Plínio Marcos acabou saindo da escola antes mesmo
de completar o curso primário. Superdotado, débil mental, canhoto ou simplesmente uma
criança que preferia jogar bola a estudar, ele foi ser gauche na vida.
Como parou de estudar, Plínio foi obrigado a aprender desde cedo uma profissão.
Logo se tornou aprendiz de encanador e aos quinze anos já era funileiro. Aos dezesseis estava
em São Paulo como montador de fogões. Retornou à cidade natal seis meses depois para
treinar no time juvenil da Portuguesa Santista, já que seu sonho era ser jogador de futebol.
Trabalhou ainda como office-boy de um banco, “xepeiro” do cais do porto de Santos,
ajudante de caminhão e vendedor em banca de livros espíritas numa praça da cidade.
16
A carreira artística de Plínio Marcos começou no circo, como o palhaço Frajola – “um
contador de piadas picantes”.
17
Esta origem, como todas as histórias de vida de Plínio, é
romanceada em seus próprios relatos:
“Eu queria namorar uma moça do circo, que conheci quando o cantor do nosso bairro foi cantar no
circo. O pai dela só deixava ela namorar gente do circo. Então eu entrei para o circo. Achei que era mais
engraçado do que o palhaço e que eu devia ser palhaço”. 18
Trabalhando nos picadeiros desde os dezesseis anos, após servir por dez meses à
Aeronáutica, em 1954, essa opção tornou-se mais definida, embora tenha continuado a
alternar a inconstante vida artística com biscates no cais do porto. Como palhaço e humorista,
Plínio Marcos percorreu o interior paulista com a Companhia Santista de Teatro de
Variedades, chegando, inclusive, a dirigir shows e a atuar em programas de rádio e na TV-5,
de Santos.
Nos diversos palcos e lonas em que trabalhou, como as do Circo Toledo, Circo Teatro
Tupi, Circo São Jorge, Circo dos Ciganos, Circo do Pingolô e da Ricardina, no Pavilhão
Zênite, Pavilhão Teatro Liberdade e Pavilhão Teatro Rubi e Sina, convivendo com uma
16
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Origens. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/dados/dados_circo.htm>. Acesso em: 18
jun. 2005. PLÍNIO Marcos: currículo. Centro de documentação e informação da arte, Fundação Nacional de
Arte, Rio de Janeiro, [197?]. Mimeografado. MARCOS, Plínio. Entrevista com Plínio Marcos. Centro de
documentação e informação sobre arte brasileira contemporânea, São Paulo, 23 fev. 1978. Entrevista concedida
a Cláudia de Alencar e Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Mimeografado.
17
Frajola era o apelido de infância que Plínio ganhou ao ser pego roubando um passarinho de uma gaiola,
emprestado do gato Frajola (Sylvester, no original) da revista em quadrinhos Mindinho, sempre atrás do
passarinho Piu-Piu (Tweetie Pie). Criados nos estúdios da Warner Bros. em 1945 e 1946, esses personagens
também se tornaram conhecidos através dos desenhos animados da série Looney tunes e Merrie melodies.
18
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Origens. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/dados/dados_circo.htm>. Acesso em: 18
jun. 2005.
27
variedade de artistas mambembes e saltimbancos, fossem ilusionistas, ciganos, cantores,
palhaços ou malabaristas, Plínio deu seus primeiros passos também como ator:
“O circo era um pavilhão-teatro. Tinha a parte dos shows e tinha a parte do teatro. Na primeira parte, a
gente fazia os shows: entrava o palhaço, essas coisas todas, os números de circo; e, na segunda, tinha
sempre uma peça. Eu fazia vários pequenos papéis. Nunca cheguei a fazer um grande papel, mas
sempre com falas, papelzinho de destaque”. 19
De volta a Santos após um longo período na estrada, Plínio integrou-se ao efervescente
clima cultural da cidade. A partir de 1956 começou a participar ativamente do teatro amador
santista, tradicionalmente de boa qualidade, integrando o Grupo de Arte, e atuando em
diversos palcos como os do Centro dos Estudantes de Santos, Clube de Arte e Centro
Português. Nessa época, era também me mbro do Clube de Poesia do jornal O Diário, de
Santos, tendo várias poesias publicadas.
Mas a grande reviravolta aconteceu em 1958, quando um encontro mudou sua vida.
Estavam precisando de uma pessoa para fazer uma ponta numa peça infantil (Pluft, o
fantasminha, de Maria Clara Machado) que seria encenada no dia seguinte e decidiram
convidá-lo. Plínio decorou o texto de um dia para o outro e fez o papel na peça dirigida por
Vasco Oscar Nunes para o Grêmio da Calderaria das Docas. Foi lá que ele conheceu Patrícia
Galvão, a célebre Pagu, “que amava o teatro e incentivava o movimento amador” (MARCOS,
1976a, p.6). 20
Plínio virou “amigo de infância” de uma das principais intelectuais brasileiras e passou
a conviver com aquele círculo de artistas e pensadores, cursando uma verdadeira
“universidade erudita”, como diria posteriormente.
21
O ex-palhaço de circo começou, então, a
participar intensamente do grupo de teatro amador e das atividades promovidas por Pagu e
seu marido, o escritor Geraldo Ferraz, trabalhando como ator e/ou diretor em várias peças
19
Ibid
Patrícia Galvão (1910-1962), nascida em São João da Boa Vista (SP), foi poeta, desenhista, jornalista,
romancista, cronista, militante feminista e musa inspiradora da terceira geração do Modernismo, participando do
ala dissidente do movimento da Antropofagia. Filiou-se ao partido comunista, assim como seu marido Osvald de
Andrade, com quem permaneceu casada de 1930 a 1934. Escreveu o primeiro romance proletário publicado no
Brasil, Parque Industrial (1932), viajou o mundo e foi presa pela ditadura do Estado Novo. Mais tarde, casou-se
com o escritor Geraldo Ferraz, desligou-se do partido comunista em 1940 e foi candidata a deputada estadual em
São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro, em 1950. Depois de freqüentar a Escola de Artes Dramáticas (EAD)
na capital paulista, passou a viver em Santos, onde fomentou a vanguarda teatral e literária local e tornou-se a
grande incentivadora dos grupos de jovens amadores, sendo eleita presidente da “União dos Teatros Amadores
de Santos”.
21
Plínio afirmou ter recebido uma forte influência de uma cultura erudita nesse convívio com Pagu e outros
artistas e intelectuais, como o escritor Geraldo Ferraz, o músico Gilberto Mendes e os poetas Rodão Mendes
Rosa e Narcísio de Andrade (KHÉDE, 1981, p. 201).
20
28
como Verinha e o lobo, Menina sem nome, A longa viagem de volta, Escurial, O rapto das
cebolinhas, Jerry no pomar e Triângulo escaleno.
Entretanto, ainda em 1958, inspirado num caso verdadeiro ocorrido em Santos e
publicado nos jornais, Plínio, aos 23 anos, já havia escrito sua primeira peça, Barrela. Ele
mostrou o texto para Pagu, que se entusiasmou com seus diálogos e o levou para Paschoal
Carlos Magno, que organizava em Santos o II Festival Nacional de Teatro de Estudante, do
qual ela era membro do júr i. Igualmente admirado com o texto, Paschoal, ao final do festival,
anunciou aos jornais que fazia questão que os estudantes montassem a peça. Os ensaios
começaram no início de 1959 e em fins de setembro estavam prontos para estrear.
Enviada para apreciação, Barrela foi proibida pela censura antes de sua estréia.
Somente através de um telegrama despachado diretamente do gabinete de Juscelino
Kubitschek, graças à intervenção pessoal do próprio Paschoal – na época assessor cultural do
Presidente da República –, a situação foi resolvida com a liberação do texto para uma única
apresentação. Após dois meses de luta e negociações, no dia 1º de novembro de 1959, o
espetáculo pôde ser encenado no palco do Centro Português de Santos. Depois dessa noite,
porém, a peça continuaria proibida pela Censura Federal por mais vinte e um anos.
Dirigida pelo próprio Plínio (que também fez o papel do “Louco”), aquela
apresentação única de Barrela marcou sua vida: “No final todos aplaudiam de pé, gente
chorava e o nosso elenco chorava junto. Jamais em minha vida se repetirá uma noite como
aquela, jamais saberei o que é o sucesso novamente. Mas, naquela noite estava selada minha
sina” (MARCOS, op. cit., p. 7).
Com a enorme repercussão de Barrela em Santos, Plínio foi alçado a condição de
gênio e, segundo o próprio, passou a se “dedicar a comer as menininhas, beber tudo, ir em
festa de rico. Gênio tem direitos”.
22
Walderez de Barros, futura esposa de Plínio, comentou aquela situação:
Veja, de uma hora para outra, ele foi alçado a uma condição de grande talento, um gênio, e passou a
viver com toda essa intelectualidade sem possuir estrutura para isso. Então é claro que ele tinha de
provar seu valor, ou seja, fazer uma segunda peça. Só que ele ainda tinha idéia, não tinha o know-how
da cois a (MENEZES, op. cit., p. 54).
Plínio jamais deixou de admitir a importância daquela convivência, que serviu como a
formação acadêmica que não tinha tido: “Todos os domingos a Pagu fazia o Geraldo Ferraz
22
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 37, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
29
ler uma peça pra nós. [...] Peças como Esperando Godot. [...] A gente ficava ouvindo a Pagu
falar e aquilo nos despertava para ler, para estudar”.
23
Por outro lado, aquele mesmo período foi descrito de maneira mais irreverente por
Plínio em outra ocasião:
Então veio a Patrícia [Galvão] com uma peça do Arrabal que se chamava Fando e Lis... Uma peça
bonita, ninguém entendia, mas era bonita. E a Patrícia fala assim: ‘Você vai fazer o Fando’. ‘Porra,
como vou fazer o Fando, porra, ninguém vai entender essa peça’. ‘Mas é bonita’. [...] Eu falei: ‘Porra,
ninguém vai querer ver essa merda. Não, não vou fazer’. ‘Então você tem que escrever uma peça’.
‘Porra, mas eu não quero escrever, porra, que sacanagem...’. ‘Não, tem que escrever, tem que escrever,
tem que escrever,’ [...] Aí ela obrigou o Geraldo [Ferraz], olha que puta manha, a ler Esperando Godot
pra mim. Quando acabou aquela merda toda, eu: ‘Que merda, essa coisa aí eu escrevo três por dia’.
‘Então tem que escrever! Tem que escrever! Tem que escrever! 24
Os acontecimentos posteriores explicam a ironia na segunda ve rsão do episódio,
afinal, conforme Walderez de Barros, “a melhor coisa das histórias do Plínio é ficar com a sua
versão dos fatos. Pode não ser a mais verdadeira, mas com certeza é a mais engraçada e
original” (MENEZES, op. cit., p. 54). Esse alerta, aliás, vale também para os demais relatos
do dramaturgo presentes neste trabalho.
No final das contas, segundo as palavras do próprio Plínio, “de tanto me encherem,
escrevi outra peça sem ter absolutamente nada pra dizer”. O novo texto chamava-se Os
fantoches.
A segunda peça de Plínio Marcos estreou em 1960 num programa duplo com Jerry no
pomar, de Charles Thomas, e com Plínio no elenco, sendo ambas dirigidas por ele próprio.
Segundo o dramaturgo diria ironicamente anos depois, seu mal foi ter escrito Os fantoches em
dois atos, pois no intervalo toda platéia se levantou e não voltou mais. No dia seguinte à
estréia, Pagu assinou uma crítica devastadora no jornal A Tribuna de Santos, intitulada Esse
analfabeto esperava outro milagre de circo. O texto, ilustrado com um retrato enorme de
Plínio com gravata borboleta e topete, dizia:
[Os fantoches caracteriza] a tentativa do autor de passar do plano da reportagem, que era o principal
defeito da sua peça anterior, ‘A Barrela’, para um plano de criação, invadindo terreno difícil para sua
experiência e seus conhecimentos, desde que há a intenção de nos proporcionar um texto de tonalidades
filosóficas. E o nível mental e intelectual do autor, infelizmente, se desencontra, como possibilidade,
para palmilhar o terreno ambicionado. [...]
Da reportagem, o autor saltou para o teatro das idéias e foi o que se viu. Um texto medíocre.
Do texto medíocre saiu um espetáculo também medíocre. [...]
23
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Circo e teatro amador. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/dados/dados_circo.htm>.
Acesso em: 18 jun. 2005.
24
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 37, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
30
Isso não invalida a opinião que temos a respeito das qualidades do autor como autor e como o diretor.
Como autor falta-lhe trabalhar uma aquisição de uma base informativa, capaz de lhe proporcionar meios
de expressão, para os seus dotes de imaginação. 25
De gênio, o dramaturgo passou a analfabeto de circo, do sucesso ao escárnio: “me
vaiavam na rua, minha mãe chorava, meu pai me convocou para uma reunião [...] muita
sacanagem”. O fracasso fez com que Plínio não fosse convidado mais nem para enterro.
26
Depois da publicação do artigo, quando se encontraram novamente, Plínio e Pagu,
discutiram muito, tomaram um porre e continuaram amigos. Posteriormente o dramaturgo
reconheceria a importância dessa “porrada”, que fez com que ele aprendesse, logo no início
da carreira, como o sucesso podia ser efêmero.
Mesmo com o fracasso, Plínio permaneceu atuante no teatro amador. Ainda em 1960
participou do III Festival de Teatro Amador em Porto Alegre, com o grupo da faculdade de
Direito de Santos, mesmo sem ser estudante. No ano seguinte, esteve presente no Festival
Universitário de Campinas, indo de bicão principalmente para “comer de graça”. No baile de
encerramento do Festival conheceu a estudante de filosofia e então atriz amadora Walderez de
Barros. Um rapaz tentou “agarrá- la” à força, no que ela retrucou: “se meu irmão estivesse
aqui, bateria em vocês todos”. Plínio, que estava ao seu lado, tomou as dores e partiu para
briga. Pegou um quadro com a foto do presidente Jânio Quadros na parede e o quebrou na
cabeça do “cafajeste”. Pouco tempo depois começaram a namorar.
27
Plínio ainda permaneceu um tempo em Santos fazendo peças para diversos sindicatos
de trabalhadores do cais do porto – “fazia essa peça Os fantoches, que os caras achavam
engraçada. Não tinha muito que ver com o intelectualismo, então era engraçada pra caraco. Eu
tinha sido bom palhaço e continuava bom palhaço”.
28
Segundo Plínio, depois da aclamação de Barrela os “invejosos” teriam espalhado que
seu sucesso tinha sido “fabricado pelo Partido Comunista, que queria inventar um autor do
povo”. Com o fracasso de Os fantoches, “espalharam que o Partido Comunista não havia
podido fabricar outro sucesso”. De qualquer maneira, marcado em sua cidade natal pelo
25
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Barrela. Disponível em: < http://www.pliniomarcos.com/dados/barrela.htm>. Acesso em: 18 jun.
2005.
26
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 37, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
27
FREIRE, Roberto. Sou o analfabeto mais premiado do país. [São Paulo: s.n.], [1970].
28
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 37, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
31
malogro de sua segunda peça e pela “fama de comunista”, por volta de 1962 resolveu se
mudar definitivamente para São Paulo.
29
Na capital paulista, passou por um começo difícil, trabalhando como camelô e
vendendor de cigarros americanos, rádio de pilha, canetas de mulher nua, álbuns de figurinhas
e até maconha, repassada pelos conhecidos do cais do porto de Santos. Os mais importantes
artistas de sua cidade natal foram para a Escola de Arte Dramática naquela época, mas Plínio,
segundo o próprio, não pôde entrar por ser “analfabeto”.
De acordo com o ator e amigo Júlio Bittencourt, nos primeiros tempos em São Paulo
Plínio chegou a dormir na rua e na rodoviária:
“Ele estava morrendo de fome quando decidiu procurar a Cacilda Becker. Ela já tinha ouvido falar dele
então pegou seu texto e leu. Enquanto isso, Plínio apagou no sofá. Quando acordou tinha um bilhete na
sua frente escrito: ‘Tem leite e bolo pra você aí na mesa, sirva-se à vontade e aguarde que eu quero falar
com você’. Quando a Cacilda retornou, conversaram e, a partir daí, ela passou a dar uma força para o
Plínio, que sempre foi muito grato a ela e a considerava sua madrinha no teatro em São Paulo”
(CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p. 55-56)
Ainda naqueles primeiros tempos em São Paulo, Plínio disse ter entrado na
Companhia da Jane Hegenberg, no lugar do Milton Baccarelli, montando um espetáculo, O
Fim da humanidade, “que foi um desastre”.
30
Disposto a trabalhar em “qualquer coisa” no teatro e freqüentando o Bar Redondo, na
mesma época Plínio também conheceu “o pessoal do Teatro de Arena”. Entre 1962 e 1963
coordenou, junto com Fauzi Arap, o grupo amador Teatro Universitário do Teatro de Arena,
com o objetivo de agregar o elenco de várias faculdades, ensaiando e montando peças com
estudantes universitários aos sábados à tarde. O programa duplo levado aos palcos foi
constituído por duas peças de Plínio Marcos, conforme o programa, “um autor novo, cujas
atividades teatrais estiveram sempre ligadas ao movimento teatral universitário”. Tratava-se
da antiga Os fantoches e da nova Enquanto os navios atracam (que seria, mais tarde, refeita
29
Plínio jamais foi filiado ao Partido Comunista, mas sua fama pode ter origem de sua ligação com Pagu e seu
grupo de amigos. Segundo o amigo Iberê Bandeira de Mello, o dramaturgo nunca foi comunista, “mas era um
sujeito de visão socialista e a favor da liberdade”. Entretanto, realmente existia na época uma paranóia
anticomunista que pode ser ilustrada por um trecho de um artigo publicado na revista Teatro Ilustrado, em 1960,
intitulado Influência do cinema e do teatro na vida moderna: “Os comunistas, de há muito que perceberam o
enorme valor do teatro como ‘cabeça da ponta’ no meio intelectual, e procuram sempre dominar esse meio de
cultura, de divertimento e de persuasão, quer infiltrando autores, quer atores, ou seja, quer introduzindo numa
cunha direta ou indireta no modo de pensar, de ser, de agir, dos espectadores”.
30
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Começo em São Paulo. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/dados/comecosp.htm>.
Acesso em: 18 jun. 2005.
32
como Quando as máquinas param), no qual Plínio, também diretor, e sua namorada,
Walderez, interpretavam o casal de protagonistas.
31
Plínio Marcos dirigia os estudantes sem receber nada e em troca pediu apenas que o
deixassem dormir na sede da UEE (União Estadual dos Estudantes), na Rua Santo Amaro,
perto do próprio Teatro de Arena. Durante um bom tempo Plínio compartilhou um quarto
improvisado com mais dois desempregados e amigos dos estudantes.
32
No início de 1963, Plínio conseguiu entrar para o elenco de O noviço, atualização do
clássico de Martins Pena encenado pelo Teatro de Arena, que estreou em março daquele ano.
Na mesma época o jovem ator também fez teste na Companhia Cacilda Becker para a peça
César e Cleópatra
, de Bernard Shaw, com direção do consagrado Ziembinski: “Fui lá, fui aprovado.
Fazia várias pontas: carregador de tapete, guarda egípcio, umas dez coisas. E foi um dos
maiores fracassos da Cacilda”. 33
Ou seja, Plínio trabalhava profissionalmente em duas peças ao mesmo tempo – “fazia
o primeiro ato de César e Cleópatra, na Companhia da Cacilda, e entrava em O noviço, no Teatro
de Arena, no último ato”. Com o fracasso de público e crítica, a peça dirigida por Ziembinski
não ficou muito tempo em cartaz. Logo estreou
O santo milagroso
, de Lauro César Muniz, com
direção de Walmor Chagas, e Plínio novamente no elenco, no papel de Juca Afogado. No
final de 1963, a Companhia Cacilda Becker levou aos palcos a última montagem daquela
temporada, Onde canta o sabiá, de Gastão Tojeiro, com direção de Hermílio Borba Filho, e
mais uma vez com Plínio como coadjuvante.
Em 1963 Plínio e Walderez já tinham trabalhado juntos – ela como atriz e ele como
diretor – na peça infantil A árvore que andava, do autor santista Oscar Von Pfuhl, encenada
na parte da manhã no Teatro Cacilda Becker. Naquele mesmo ano, o casal dividiu novamente
o palco em Onde canta o sabiá e ainda se casou durante a temporada da peça. O espetáculo
foi a estréia profissional de Walderez como atriz, mas um verdadeiro fracasso para Plínio
como ator. Décio de Almeida Prado criticou severamente a montagem e o elenco que, em sua
opinião, com poucas exceções, tinha atores fracos, mas alguns “bem ruins”, como Plínio
Marcos, “que nunca sabe se é Carlitos (de quem toma o bigodinho e a posição dos pés),
Oscarito ou o mais pateta de Os 3 patetas” (PRADO, 2002, p.269). Como Plínio contou
31
Plínio Marcos diria mais tarde que escreveu Enquanto os navios atracam, que tinha um casal de jovens recémcasados como protagonistas, especialmente para Walderez.
32
FREIRE, Roberto. Sou o analfabeto mais premiado do país. [São Paulo: s.n.], [1970].
33
Na ficha técnica do elenco da peça, o nome de Plínio Marcos é citado nos papéis de “1º guarda egípcio” e
“carregador”.
33
depois em depoimento, naquele momento sua carreira de ator foi “para o vinagre”: “A crítica
me malhou bem. Peguei meu boné e fui cantar em outra freguesia”.
34
Com o fim da temporada de Onde canta o sabiá e sem um papel na peça seguinte da
companhia de Cacilda Becker, Plínio procurou Benjamin Cattan na TV Tupi de São Paulo,
em busca de um emprego. O amigo não tinha nada para oferecer além do trabalho de chefe de
estúdio. O nome parecia bonito, mas sua função era apenas “apertar botões” e fiscalizar o
ambiente. Além disso, o salário também era uma “ninharia”. Por outro lado, logo começou a
escrever para os teleteatros da TV Vanguarda, da TV Tupi, programa dirigido e idealizado por
Benjamin Cattan. Foram levadas ao ar textos de sua autoria como Réquiem de tamborim e
Macabô – esta uma adaptação de Macbeth, de Shakespeare, feita por Plínio Marcos e Benjamin Cattan. 35
Assim mesmo a vida continuava dura e Plínio seguia numa luta diária: “De manhã
vendia álbum de figurinha na feira, de tarde trabalhava na técnica da Tupi e à noite fazia uns
bicos na administração do teatro [de Arena]. Quando chegava em casa, eu tomava muito café,
fumava muito e escrevia muito”. Com muita perseverança, perseguia seu desejo de se tornar
um dramaturgo: “Escrevia em péssimas condições. À noite, depois de um dia de muito
trabalho, ou à tarde, na frente de seis monitores da sessão de cortes dos programas da Tupi.
Mas escrevia” (MARCOS, 1996, p.99-100).
Em 1964, já com o Brasil sob a égide da ditadura militar, escreveu um texto para um
espetáculo de música popular brasileira, Nossa Gente, Nossa Música, que seria realizado pelo
Grupo Quilombo com direção de Dalmo Ferreira. A estréia era prevista para 14 de julho no
Teatro de Arena e o parecer da censura liberava a peça com censura livre, mas com cortes de
três folhas do texto. Nossa Gente, Nossa Música nunca saiu do papel.
No Teatro de Arena, depois de atuar em O noviço, Plínio só conseguiu trabalhar como
administrador da companhia, “bico” que lhe rendia um extra para complementar o salário da
Tupi. Em 1965, após o fim da temporada de Arena contra Bahia, foi trabalhar na mesma
função na Companhia Nídia Lycia. Enquanto isso, organizou “com um belo time que estava
começando a carreira” a peça Reportagem de um tempo mau, para tentar estrear mais uma vez
34
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Começo em São Paulo. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/dados/comecosp.htm>.
Acesso em: 18 jun. 2005.
35
Em 1964, Benjamin Cattan também organizou para a TV Vanguarda o primeiro concurso de peças nacionais,
vencido por O matador, de Oduvaldo Viana Filho, com A ilha no espaço, de Osmar Lins, em segundo lugar, e
História de subúrbio, de Plínio Marcos, em terceiro.
34
no Teatro de Arena. Na verdade, tratava-se uma colagem de cenas e citações costuradas pelo
texto de Plínio Marcos. Segundo Walderez,
“A gente meio que sabia que esse espetáculo seria proibido, porque a gente tinha mandado o texto para
censura e não tinha chegado resposta. Marcamos a estréia e convidamos os críticos, para fazer uma
apresentação fechada, quando chegou o certificado proibindo” (MENEZES, op. cit., p. 152).
A atriz contou que nos primeiros anos da ditadura militar existia a estratégia de tentar estrear
mesmo com a eminência de proibição da censura, para depois buscar assinaturas e apoio para
tentar a liberação do texto. Segundo Plínio Marcos, a peça teria uma apresentação para
críticos e convidados na segunda à noite e na terça seria a sessão para a censura. Após os
aplausos da estréia, Plínio soube que a peça seria proibida quando no dia seguinte apareceu no
teatro um censor com que tivera um “rolo” alguns meses antes.
36
Emitido no dia da estréia, 11 de outubro de 1965, o parecer dos censores Nestorio Lips
e José Américo Cezar Cabral sentenciava:
“Após cuidadosa leitura do texto da peça aludida, bem assim como assistir seu ensaio, somos de opinião
que a sua exibição deve ser impugnada, pois se trata de obra implicitamente de caráter subversivo,
contrariando os preceitos legais do país.
Por essa razão e, ainda, baseados no artigo 188, do decreto 4.405-A, de 17 de abril de 1928, que impede
por intermédio da censura de diversões públicas, representações teatrais, quando nas peças ‘propaguem
idéias subversivas da ordem e da organização atual da sociedade’, é que propomos a proibição, s.m.j.,
da peça Reportagem de um tempo mau, de Plínio Marcos, de cuja inteligência esperamos que
futuramente apresente outros trabalhos que venham enaltecer cada vez mais a literatura teatral
brasileira”. 37
Cerca de quatro meses após a proibição de Reportagem de um tempo mau, Plínio
tentou montar Chapéu sobre paralelepípedo para alguém chutar, que se tratava, na verdade,
de uma nova versão de Os fantoches: “Fomos à luta. Ensaiamos muito, mas – porra! – veio a
36
Certa noite em que estava sendo apresentada Arena conta Bahia no Teatro Brasileiro de Comédia, Plínio –
então administrador da Companhia – estava na porta do teatro quando apareceu o tal censor com uma lista de
cortes para a peça. Plínio “desacatou” o sujeito com tamanha cara-de-pau que teve início uma enorme confusão,
quando o censor voltou com policiais que o perseguiram teatro adentro. O espetáculo teve que ser interrompido,
a rua foi tomada por curiosos e o tumulto só terminou com Plínio dentro do camburão. Chamada ao local de um
teatro próximo, Cacilda Becker, com sua autoridade de grande dama do teatro brasileiro, o salvou, mandando
que o tirassem do carro e falando que iriam à DPP no dia seguinte. Na delegacia, um velho censor, Nestório
Lips, ainda alertou o ainda desconhecido dramaturgo: “Abre o olho, Plínio. Eles estão putos da vida com você. O
maneta e o pierrô querem vingança. Todo mundo lá na casa só chama eles de Maneta e Pierrô”. O apelido que
Plínio dera aos dois censores na noite anterior tinha pego, mas a brincadeira ainda renderia problemas: “Eles vão
ficar na sua captura. Toma cuidado, é gente má. Gente que não fode. Não bobeia, vão querer te destruir. E sabe,
na hora do vamos ver, eles vão ficar todos unidos contra você” (MARCOS, op. cit., p.92). De acordo com Plínio,
o tal “Pierrô” foi um dos censores que apareceu na sessão fechada de Reportagem de um Tempo mau.
37
BRASIL, Divisão de Diversões Públicas, Segunda Divisão Policial, Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo. Parecer relativo à apreciação da peça Reportagem de um tempo mau. Parecer de censura, São Paulo, 11
out. 1965. Censor: Nestorio Lips; José Américo C. Cabral.
35
censura. Mais uma vez uma peça minha era proibida. Depois de tanto trabalho, tanto esforço.
Mas, era preciso continuar a luta” (MARCOS, op. cit., p.100).
Ao contrário das peças anteriores, Chapéu sobre paralelepípedo para alguém chutar
foi enviada para avaliação pela censura sem local ou data determinada para apresentação. Por
trechos do parecer se percebe o esforço de Plínio para escapar da interdição, evidente até
mesmo pela contra-argumentação espontânea do censor afirmando que sua peça não era anticapitalista e nem comunista.
Anos mais tarde o dramaturgo afirmaria que naquele tempo ele não tinha “força” nem
“prestígio” para brigar com os órgãos repressores: “Brigava sozinho, não adiantava. Não
conseguia nem o apoio da classe teatral”.
38
Apesar disso, no parecer sobre Chapéu sobre
paralelepípedo para alguém chutar, o censor Geraldino Russomano se defendia: “Do
tratamento censório expedido a esta peça não se cogitou, como de fato nunca se fez, levar em
conta se o autor é fa moso ou não, ou se é principiante ou veterano. Levamos somente em
conta o tema a ser censurado, venha a ter ou não público assistente”.
39
Apesar da proclamada idoneidade, uma das estratégias da censura para prejudicar os
artistas era a demora em elaborar os pareceres. Chapéu sobre paralelepípedo para alguém
chutar foi enviado para avaliação da censura em 25 de fevereiro, recebendo o parecer do
censor mais de dois meses depois, em 29 de abril, e a decisão final, pela proibição, somente
no dia 2 de maio de 1966.
A proibição sistemática das peças agravava também a situação financeira do não mais
tão jovem dramaturgo, que já passava dos trinta anos. Desde o casamento, Plínio e Walderez
haviam morado juntos num quarto na casa do irmão dela e depois na casa da mãe da atriz, que
desenvolvera um câncer. Após sua morte – tragicamente no dia da estréia (e única
apresentação) de Reportagem de um Tempo mau –, o casal se mudou para um apartamento
alugado, já acompanhados do primeiro filho, Leonardo. A vida continuava dura – o salário ia
todo para o aluguel e Plínio muitas vezes tinha que pedir dinheiro emprestado. Na sala,
caixotes de madeira substituíam os móveis. As dificuldades eram tamanhas a ponto de o
38
MARCOS, Plínio. Entrevista com Plínio Marcos. Centro de documentação e informação sobre arte brasileira
contemporânea, São Paulo, 23 fev. 1978. Entrevista concedida a Cláudia de Alencar e Carlos Eugênio
Marcondes de Moura.
39
BRASIL, Divisão de Diversões Públicas, Segunda Divisão Policial, Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo. Parecer relativo à apreciação da peça Chapéu (sobre) em cima de paralelepípedo para alguém chutar.
Parecer de censura, São Paulo, 29 abr. 1966. Censor: Geraldino Russomano.
36
dramaturgo contar que quando Ricardo, seu segundo filho, estava para nascer, ele teve que ir
de ônibus para o hospital com sua mulher, pois não tinham sequer dinheiro para o táxi.
40
Nos últimos meses de 1966, Plínio Marcos escreveu mais uma peça e sua carreira
começou a tomar outro rumo. Adaptando um conto do escritor italiano Alberto Moravia, o
dramaturgo disse ter escrito Dois perdidos numa noite suja para apenas dois atores e com
somente um único cenário por razões de economia e com o intuito inicial de sair
“mambembeando” pelo interior.
Plínio convidou vários artistas para os dois únicos papéis da peça, mas ninguém
topava participar da montagem de um texto tão ousado e de um autor completamente
desconhecido, mas já bastante censurado. O papel de Tonho acabou cabendo a Ademir Rocha,
ator de teatro e colega de Plínio da TV Tupi, onde já tinha feito algumas novelas, mas que
estava desempregado.
41
O personagem Paco teve que ser interpretado pelo próprio Plínio
Marcos, pois, segundo ele, esse papel ninguém aceitou de jeito nenhum. O espetáculo teve a
direção do velho amigo Benjamin Cattan e o apoio de muitos outros colegas:
A Nídia Lycia foi quem me emprestou um dinheiro. O Bucão, um amigo, outro dinheirinho. O Pelégio,
iluminador da Tupi, ajudou a gente a afanar refletores do Sumaré. O pessoal maquinista descolou pra
nós os praticáveis. Os contra-regras pegaram as camas e tudo o que precisávamos pro cenário. O
transporte foi com o pessoal da garagem. [...] O Toninho Matos e o Paulinho Ubiratan [...] operavam luz
e som (MARCOS, op. cit., p.101).
Dois perdidos numa noite suja estreou no dia 16 de dezembro de 1966, no teatro
improvisado do boteco da Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, chamado Ponto de
Encontro – point da classe artística, jornalística e intelectual da cidade. Naquela noite, apenas
cinco pessoas estavam presentes: além de Walderez, três amigos que entraram de graça
(Roberto Freire, Carlos Murtinho e Cidinha, esposa de Ademir Rocha) “e mais um bêbado
que pagou o ingresso e não quis sair do lugar” (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit.,
p.57)
Apesar das dificuldades, Plínio, dessa vez, tinha tido mais sorte com a censura:
Dois perdidos foi liberada porque naqueles dias a Censura passou da Polícia Estadual para Federal. E
mudaram os censores. Mandaram o [João Ernesto] Coelho Neto assistir ao ensaio. Homem de teatro,
diretor de peças. Foi da comissão julgadora do Festival de Santos, quando a Barrela se consagrou. [...]
Numa tarde de sábado, chuvosa e fria, num estúdio abandonado da Tupi, sem cenário, eu e o Ademir,
sentados em bancos velhos, falamos o texto pra ele. Quando acabamos, o Coelho Neto afirmou: ‘Tá
40
41
KUPFER, José Paulo; NUNES, Henrique. Um jovem sob censura. Fatos e Fotos, Rio de Janeiro, 2 set. 1967.
Pouco depois da estréia, Ademir Rocha foi substituído por Berilo Faccio.
37
liberada. Sem cortes. Passe segunda-feira na Polícia Federal e pega o alvará. Estão prontos para estréia
(MARCOS, 1996, p.102). 42
A peça, liberada apenas com classificação de imprópria para menores de 18 anos, obteve boa
repercussão e críticas positivas:
O Roberto Freire começou a fazer uma onda em torno, dizendo que a peça era muito boa, e outra vez
voltei a ser notícia como autor teatral. O Alberto D´Aversa escreveu cinco artigos sobre a peça. Fiquei
na moda. A Cacilda Becker, quando viu a peça, comentou: Incrível! Você conhece dez palavras e dez
palavrões, e escreveu uma peça genial (Ibid).
Dois perdidos numa noite suja mudou-se para o Teatro de Arena, mas o público era
pequeno e as dificuldades financeiras continuavam, pois num acordo abusivo imposto pela
companhia, setenta por cento da renda pertencia ao teatro.
As coisas começaram a mudar quando a deputada Maria da Conceição da Costa Neves
começou a criticar impiedosamente a peça no programa de entrevistas Pinga-fogo, da TV
Tupi. 43 Plínio, que assistia ao programa pela televisão em casa, correu para a estação de TV –
onde trabalhava – e invadiu o estúdio em que ele estava sendo gravado. Como o próprio
contou, já entrou no palco (e ao vivo) gritando:
Escuta aqui, ó vagabunda, por que tu não vai assistir antes de falar?’ ‘Quem é você? ‘Sou o autor da
peça que você está descascando.’ E os caras: ‘Sai daqui, Plínio, não sei o que...’, aqueles velhos lá da
Tupi, o caralho. Aí foi uma discussão. ‘Sai.’ Eles tinham capanga. Vieram uns capangas, o pessoal da
televisão veio de porrete para me defender. Foi aquele tumulto. Aí acalmaram e marcamos uma mesaredonda. 44
42
João Ernesto Coelho Neto também tinha sido o censor que aprovara os text os de Os fantoches e Enquanto os
navios atracam para as montagens amadoras no Teatro Universitário do Teatro de Arena quatro anos antes.
43
Maria da Conceição da Costa Neves tinha sido atriz e com o nome de Regina Maura fora estrela da companhia
de Procópio Ferreira na década de 30 (PRADO, 1984). Após abandonar sua breve carreira no teatro, tornou-se
monitora da Escola da Cruz Vermelha Brasileira e diretora dessa mesma entidade assistencial no período da
Segunda Guerra. Em seguida, entrou para a política e foi a única mulher eleita nas eleições de 1947 (e a primeira
desde 1945), sendo reconduzida cinco vezes até 1969, quando teve seus direitos políticos cassados pelo AI-5
decretado pela ditadura militar que ela ajudou a colocar no poder. A combativa deputada estadual era conhecida
por sua excelente oratória, que pôs em uso, por exemplo, na famosa “Marcha da Família com Deus, pela
Liberdade”, que reuniu cerca de meio milhão de pessoas em São Paulo em 19 de março de 1964. Em resposta ao
comício da Central do Brasil (realizado no Rio de Janeiro seis dias antes, no qual o presidente João Goulart
anunciou seu programa de reformas de base), essa passeata foi a início de um movimento que congregou setores
do clero, entidades femininas e segmentos da classe média temerosos do “perigo comunista” e favoráveis à
deposição do Presidente da República. A deputada Conceição da Costa Neves discursou na célebre marcha:
“Aqui, mercê de Deus, se encontra o Brasil unido contra a escravatura vermelha. De São Paulo partirá a bandeira
que percorrerá todo o país, para dizer a todos os partidos que a hora é de união, para dizer basta ao senhor
Presidente da Republica” (SÃO Paulo parou ontem para defender o regime. Folha de São Paulo, São Paulo, 20
mar. 1964).
44
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 38, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
38
Foi programado então um debate – também ao vivo, na TV Tupi – para o qual a
deputada foi acompanhada dos parlamentares Aurélio Campos e Carvalhaes, enquanto Plínio
levou o diretor Augusto Boal (“hábil debatedor”) e o ator Fernando Torres (“homem digno,
tinha fama de direita, mas é digno. Então era o suficiente para não acusarem que era o Partido
Comunista em marcha...”).
45
A mesa-redonda foi novamente tumultuada, com confusões e bate-bocas entre os
deputados, os artistas e até com os policiais que estavam presentes. A polêmica ajudou Plínio:
“Porra, deu 90 por cento de audiência. E na reprise, que foi no domingo, mais 90 por cento.
Aí o teatro nosso lotou, o Dois perdidos virou uma coisa de sucesso”.
46
A vida de Plínio começou a mudar, embora ele ainda não pudesse abandonar o
trabalho de camelô: “Com os álbuns conseguia pagar o aluguel. Na Tupi nem ia mais. A
comida vinha do Dois perdidos” (MARCOS, op. cit., p.103). A peça ficou seis meses em
cartaz em São Paulo, sendo encenada depois no Rio de Janeiro em bem sucedida montagem
dirigida por Fauzi Arap e protagonizada por ele mesmo e Nelson Xavier. A partir daí, o
dramaturgo começou uma trajetória repleta, igualmente, de sucesso, polêmica e problemas
com a censura, todos os elementos acentuados em seguida com sua nova peça, Navalha na
carne.
Escrita, segundo Walderez de Barros, em “no máximo três noites”, Navalha na carne
era, talvez, o texto mais poderoso que Plínio Marcos já tinha produzido. A peça seria
encenada pelo Grupo União, formado durante a temporada de Dois perdidos numa noite suja ,
e que passou a ser composto por todos os integrantes da montagem do novo espetáculo: o
cenógrafo Clóvis Bueno, o superintendente Odavlas Petti, Walderez de Barros como
produtora, os atores Edgard Gurgel Aranha, Paulo Villaça, Ruthinéa de Moraes e Tereza de
Almeida, o diretor Jairo Arco e Flexa e o próprio Plínio Marcos.
Entretanto, antes da estréia da peça, através da portaria publicada dia 19 de junho de
1967 no Diário Oficial, a apresentação total ou parcial de Navalha na carne foi proibida pela
Censura Federal em todo o país.
47
A longa batalha pela liberação de Navalha na carne começou com o apoio de Cacilda
Becker que promoveu sessões fechadas para convidados no teatrinho de 60 lugares – chamado
Núcleo de Estudos Teatrais – localizado no segundo andar do apartamento duplex seu e de
45
Ibid
Ibid
47
MAGALDI, Sábato. Documento dramático. O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 jul 1967 (In: MARCOS,
1968).
46
39
seu marido, o ator Walmor Chagas. Foi o início de um movimento nacional pela liberação da
peça com a coleta de depoimentos de pessoas importantes do meio artístico e cultural que
haviam sido convidadas para assistirem às apresentações. Diversos artigos dos principais
críticos teatrais do país foram publicados nos jornais pedindo o fim da proibição, mas isso só
aconteceu depois de outros incidentes.
Enquanto a luta pela liberação da peça ocorria em São Paulo, foi marcada no Rio de
Janeiro uma apresentação fechada de Navalha na carne, no Teatro Opinião. Em cima da hora
o General Luis Carlos Reis de Freitas proibiu a apresentação e o Exército cercou o teatro. Segundo
Plínio:
A Tônia Carrero [...] levou a leitura pra uma casa que ela tinha no morro de Santa Teresa. Pra despistar,
fiquei dando entrevista aos jornalistas, enquanto o povo [que recebia senhas com o endereço da casa da
atriz] ia saindo sem alarde. A casa ficou lotadinha e tinha público para outro espetáculo (MARCOS,
1996, p.107).
A atriz Tônia Carrero, grande estrela do teatro brasileiro, comprou a briga de tentar a
liberação da peça com a condição de que ela fizesse o papel de Neusa Sueli numa montagem
carioca. Plínio concordou, exigindo somente que Fauzi Arap fosse o diretor. E Tônia liberou a
peça. “Foi preciso muita coragem. Precisou jogar na mesa todo seu prestígio. Precisou encarar
uma briga feia com seus irmãos (sic) generais. Mas, ela ganhou e estreou” (Ibid).
A atriz relatou anos mais tarde o diálogo que manteve com o então todo poderoso
Ministro da Justiça, Gama e Silva:
Ministro – Está proibida a peça. Nossa censura não pode liberar texto tão vil.
Atriz – o teatro precisa justamente da liberdade do pensamento sem a censura. Pela décima vez venho
aqui para lhe assegurar que se trata de obra de arte de denúncia de grave problema social e grande
alcance político.
Ministro – Por isso mesmo, não! Além do mais, não encontro nenhum valor neste texto. É imoral.
Atriz – Sr. Ministro, não desistirei. Voltarei aqui quantas vezes for preciso.
Ministro – Pois bem, minha Sra. Não fosse seu prestígio junto ao público eu não hesitaria, ouviu bem.
Agora, a responsabilidade será sua. Quer ver o que acontece à sua carreira quando o ‘seu público’ ouvila pronunciando estas palavras de baixo calão. Uma prostituta. A Sra. vai se arrepender. Não diga que
não avisei. 48
No documento de liberação da peça pela censura, finalmente emitido no dia 6 de
setembro de 1967, nota-se de fato a observação: “Aprovado nos termos do despacho de
17/08/67 pelo Sr. Ministro da Justiça”. Mesmo com as ordens superiores, Navalha na carne só foi
liberada para maiores de 21 anos e com o corte das seguintes frases e palavras: “fez ele pegar
48
DEPOIMENTO de Tonia a Mme. Danielle Mitterand, Rio de Janeiro, 19 maio de 1986. Mimeografado.
40
o esquentamento da outra” (p.3); “Porra” (p.4, 6, 7, 23, 31); “Mineteiro” (p.10); “Só abrir as
pernas e faturar” (p.24); “Ficou em cima de mim mais de duas horas”.
Navalha na carne estreou
49
ainda em setembro em São Paulo, no Teatro Maria Della Costa,
com a formação original do Grupo União, e teve sua primeira apresentação no Rio de Janeiro
em outubro, no Teatro Maison de France, com Tônia Carrero, Nélson Xavier e Emiliano
Queiroz e direção de Fauzi Arap.
A peça de Plínio Marcos transformou-se num enorme sucesso de público e crítica,
arrebatando diversos prêmios em 1967. A montagem paulista recebeu os prêmios Yazigi de
melhor peça nacional, revelação de cenógrafo (Clóvis Bueno) e revelação de diretor (Jairo
Arco e Flexa), além do prêmio Molière (São Paulo) de melhor atriz para Ruthinéa de
Moraes. 50
A montagem carioca representou um ponto alto na carreira de Tônia Carrero, que
conquistou também os prêmios Molière (Rio de Janeiro) e da Associação de Críticos
Cariocas. A atriz afirmaria que o papel desglamourizado da prostituta fez com que ela
alcançasse um “reconhecimento geral de interpretação pela primeira vez”.
51
O melhor deve
ter sido o fato de que “depois da consagração, ‘o ministro desmemoriado’ ainda enviou um
telegrama congratulando-a por ‘êxito em texto brasileiro tão profundo e real”.
52
Já Plínio Marcos ganhou praticamente todos os principais prêmios do teatro brasileiro
como melhor autor teatral de 1967: o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, os dois
prêmios Molière (pela montagem carioca e paulista), o Prêmio da Associação Paulista de
Críticos de Teatro (APCT) e o Prêmio de Destaque do ano em Teatro da TV Excelsior.
Plínio recebeu ainda o tradicional prêmio Golfinho de Ouro, acompanhado de um
cheque substancial, como destaque em teatro, oferecido pelo Governo do Estado da
Guanabara. Pode se perceber a importância que o autor alcançou no então efervescente
panorama cultural brasileiro daquele ano pelos nomes dos demais premiados com o Golfinho
de Ouro nas outras áreas: Glauber Rocha (cinema), Oscar Niemeyer (arquitetura), Chico
Buarque (mús ica) e Pelé (futebol). No parecer da premiação, o crítico Yan Michalski afirmou:
49
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal. Certificado de censura da peça Navalha
na carne. São Paulo, 6 set. 1967.
50
Ocorreram algumas modificações na montagem paulista: pouco depois da estréia, o ator Sérgio Mamberti
substituiu Edgar Gurgel Aranha no papel de Veludo. E no programa da temporada de 1968, ao contrário no da
temporada do ano anterior, Jairo Arco e Flexa, Plínio Marcos e Tereza de Almeida não seriam mais citados
como integrantes do Grupo União, apesar de continuarem a fazer parte do espetáculo.
51
PLÍNIO MARCOS: UM GRITO DE LIBERDADE, 2000, São Paulo. Catálogo... São Paulo: Secretaria de
Estado de Cultura, 2000.
52
DEPOIMENTO de Tonia a Mme. Danielle Mitterand, Rio de Janeiro, 19 maio de 1986. Mimeografado.
41
O teatro brasileiro foi enriquecido durante a temporada de 1967 pela descoberta daquilo que mais lhe
fazia falta nos últimos anos: um autor novo, dotado de bastante força de personalidade e ímpeto
inovador para sacudir o estático ambiente da nossa dramaturgia, cujo panorama não vinha apresentando
novidades verdadeiramente importantes havia muito tempo. 53
O sucesso de Navalha na carne não ficou restrito apenas ao teatro e, posteriormente,
ao cinema, como será visto no capítulo 3. Durante os meses de luta pela liberação da peça, o
jornalista Pedro Bandeira, amigo e conterrâneo de Plínio, teve a idéia de fotografar a
montagem e publicá- la sob o formato de livro. Já que a literatura era menos visada pela
censura do que o teatro, essa era uma maneira para a peça, de alguma maneira, atingir o
público. As imagens do fotógrafo publicitário Yoshida e o extraordinário trabalho gráfico do
designer uruguaio Walter Hüne resultaram numa espécie de mistura de teatro, fotonovela e
poema concreto. Segundo Bandeira:
A gente fotografou os três [atores], cena por cena, para que pelo menos desse modo alguém pudesse
‘ver’ a montagem. Ah, ah! Nenhuma gráfica aceitava imprimir o livro, alegando que as operárias na
certa corariam com os palavrões! A solução foi conseguir uma gráfica que aceitasse imprimir o livro à
noite, só com homens trabalhando... (In: MARCOS, 2004, p. 175).
Em 1968 a Navalha na carne foi publicada pela Editora Senzala, de propriedade de
“um filósofo marxista da USP”, conquistando o Prêmio Jabuti de melhor livro de teatro. Com
o sucesso da peça, então liberada, a primeira edição do livro com 5.000 exemplares – uma
tiragem enorme para a época – se esgotou em apenas duas semanas, contando com uma
distribuição precária que atingia somente São Paulo, Rio e uma ou outra capital (BANDEIRA.
In: MARCOS, 2005).
54
Mas 1967 não foi somente o ano de Navalha na carne, cujo estrondoso sucesso
alavancou definitivamente a carreira de Plínio Marcos. Logo após a liberação da peça,
também estreou em São Paulo, no Teatro de Arte, sala pequena do Teatro Brasileiro de
Comédia, a versão definitiva de Quando as máquinas param, com Míriam Mehler e Luiz
Gustavo no elenco e direção do próprio Plínio Marcos. No campo do teatro amador, também
53
O GOLFINHO em poucas e boas mãos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21-22 jan. 1968.
O sucesso de Navalha na carne foi tamanho que mesmo após o recrudescimento da censura, ainda houve
várias tentativas de tentar explorar a obra em outros meios nos anos seguintes. A adaptação para o cinema foi
realizada em 1969, mas só depois de seis meses aguardando liberação pôde ser lançada em todo o país. Em 1970,
a gravadora Continental afirmou o interesse de gravar um disco com as peças Navalha na carne e Dois perdidos
numa noite suja, mas um jornal comentava que o projeto – jamais concretizado – ainda dependia da aprovação
da censura. Em 1975, Navalha na carne foi também adaptada para um espetáculo de dança do Balé Stagium,
companhia de dança criada por Márika Gidali e Décio Otero em 1971. O espetáculo tinha a direção de Ademar
Guerra, coreografia de Décio Otero, música original de Aylton Escobar, e os bailarinos Márika Gidalli (Neusa
Sueli), Décio Otero (Vado) e Milton Carneiro (Veludo). Como a peça estava proibida, o espetáculo foi intitulado
Quebradas do mundaréu, estreando no dia 12 de novembro de 1975, no Teatro Municipal de São Paulo.
54
42
em setembro daquele ano foi levada à cena a peça O dia virá, escrita sob encomenda pelo
grupo de teatro do Des Oiseaux, colégio das cônegas regulares de Santo Agostinho, em São
Paulo. Curiosamente, tratava-se da escola feminina mais fechada da cidade, sendo a peça
dirigida por Odavlas Peti e tendo as alunas no elenco – das quais, algumas futuras freiras –,
além de seminaristas convidados para fazerem os papeis masculinos.
55
O ano de 1968 não podia começar melhor para Plínio. Navalha na carne ficaria mais
de um ano em cartaz, arrastando o público ao teatro em São Paulo, no Rio e em “ma is de
trinta cidades do interior”, sendo vista por “mais de 50.000 pessoas, de diferentes níveis
culturais e sociais”.
56
O dramaturgo cruzou o país acompanhando as excursões das peças
Dois perdidos numa noite suja, no qual também atuava e que seguiu estrada depois do
sucesso nas principais capitais, além de Quando as máquinas param, da qual era diretor.
Nessas viagens do sul ao nordeste do Brasil, Plínio levava não somente suas histórias, mas
também sua s opiniões contundentes, tornando-se uma figura cada vez mais conhecida
nacionalmente.
Numa crônica escrita naquele fatídico ano de 1968, Nelson Rodrigues (1993, p.113)
comentou “sucesso ultrajante” de seu colega dramaturgo, Plínio Marcos: “No momento, não
há teatro que não o esteja representando. É um nome obsessivo, já irrespirável. Com uma
fecundidade de Dumas pai acabará milionário, se os colegas não o liquidarem”.
O auge da carreira de Plínio coincidiria, exata e tragicamente, com os meses anteriores
ao recrudescimento da ditadura militar, naquele que Zuenir Ventura chamou do “ano que não
terminou”. O dramaturgo já não vivia na dureza dos primeiros tempos em São Paulo e
naquele momento, como novo “gênio” do teatro brasileiro, Plínio contou que todo mundo
passou a querer montar um texto seu – fosse ele novo ou não.
Aproveitando o sucesso, Plínio Marcos produziu sem parar e escreveu as peças
Balbina de Iansã, que permaneceu inédita durante dois anos, e Homens de papel, que estreou
em outubro de 1968 no Teatro Popular de Arte, com um “êxito razoável, entre público e
crítica especializada, sem maiores destaques, positivos ou negativos” (MARX, 2004, p. 182).
Mais uma vez com direção de Jairo Arco Flexa e cenários de Clóvis Bueno, além de música
de Gilberto Mendes, em Homens de papel a belíssima atriz e ex- manequim Maria Della Costa
era a protagonista da história de um grupo de catadores de papel. No papel de uma mendiga,
55
Em 1967, uma reportagem já se referia à peça como A vida de Jesus ou Jesus-homem, quando ela ainda estava
para ser enviada à censura. (KUPFER, José Paulo; NUNES, Henrique. Um jovem sob censura. Fatos e Fotos,
Rio de Janeiro, 2 set. 1967).
56
NAVALHA NA CARNE, 1968, São Paulo. Programa da peça.
43
era mais uma grande dama do teatro brasileiro que se rendia às fortes e miseráveis
personagens femininas de Plínio.
Em 1968, o autor maldito foi montado também pelo Grupo União, a principal voz de
contestação do teatro brasileiro entre 1965 e 1966, mas que atravessava uma crise artística e
financeira desde o ano anterior, resultando na saída de Paulo Pontes, Vianinha e Armando
Costa. Também apelando para o autor mais discutido do momento, o grupo encenou uma
nova versão de Os fantoches, renomeada dessa vez como Jornada de um imbecil até o
entendimento, sob a direção de João das Neves e com músicas de Denoy de Oliveira com
letras de Ferreira Gullar.
Sobre Plínio Marcos era dito no programa da temporada de 1968 de Navalha na carne:
“Sua produção é muito rica, mas só agora foi descoberto”. Obviamente, a primeira peça do
autor da moda, proibida havia quase dez anos, não podia ficar esquecida. Barrela, então
reescrita por Plínio, começou a ser ensaiada pelo Teatro Jovem do Rio de Janeiro, com
direção de Luís Carlos Maciel e grande elenco.
Entretanto, o caminho de Barrela para os palcos mais uma vez foi atravessado pela
Censura:
Depois de um mês de ensaio, a Censura proibiu a peça. Foi convocada a classe teatral, os críticos do Rio
e de São Paulo escreveram pedindo a liberação da peça, depois de assisti-las em sessões clandestinas
(Fizemos três, com o teatro cercado de policiais) [...] De nada adiantaram os argumentos. Era março de
1968 e o Senhor Gama e Silva proibiu a peça. Doeu em mim essa proibição mais do que todas as das
outras peças. Sei lá porquê. Talvez porque ‘Barrela’ seja minha primeira peça. Doeu. Mas não me
desanimou. (MARCOS, 1976, p.9).
Em meio às tensões que cresciam vertiginosamente no ambiente político brasileiro, o
teatro de Plínio Marcos passou a ser sistematicamente censurado – “No dia 3 de Agosto de
1968, o jornal Folha de São Paulo publica: A situação de Plínio Marcos é a seguinte: trabalho
dele que chega em Brasília, antes mesmo de ser lido, os censores dizem: Plínio Marcos?
proibido”.
57
Mas Plínio não se acanhava, pelo contrário. Presente em todas as manchetes, a
imprensa afirmava que nunca tinha se falado tanto em um dramaturgo e que poucos autores
tinham sido tão bem recebidos pela crítica como ele. Sua posição de destaque naquele
momento pode ser ilustrada por artigo de jornal publicado quando Barrela foi novamente
proibida:
57
MARCOS, Plínio. Sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos conservado por seus filhos. Dados
biográficos. Censura. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/dados/censura.htm>. Acesso em: 18 jun.
2005.
44
Apesar dos freqüentes contratempos causados pela Censura, Plínio vive intensamente os seus dias de
sucessos. É o autor brasileiro mais disputado, discutido e assistido do momento: suas peças lotam
qualquer teatro, da Capital ou do Interior e, em sua defesa, áj saíram algumas das figuras mais
expressivas da intelectualidade brasileira. 58
Entretanto, o ambiente começava a ficar cada vez mais irrespirável, inclusive no meio
teatral. O elenco de Roda viva tinha sido brutalmente agredido e ameaçado em São Paulo e
em Porto Alegre; Norma Bengell, atriz de Cordélia Brasil, fora seqüestrada e levada de São
Paulo para o Rio de janeiro para ser interrogada; e uma bomba explodira no Teatro Opinião
em Copacabana. O teatro de Plínio Marcos, obviamente, não era poupado do terrorismo de
direita que se instalava no país, como afirmava nota extraordinária no programa de uma peça:
“São Paulo, 4 de agosto de 1968, intérpretes das peças de Plínio Marcos, Dois perdidos numa
noite suja e Navalha na carne foram ameaçados de morte por cartas anônimas deixadas à
porta dos respectivos teatros”.
59
Mas não importassem quais fossem as ameaças, Plínio não deixava de expressar suas
opiniões, como na Feira Paulista de Opinião, organizada pelo Teatro de Arena, com o tema
“O que você pensa do Brasil de hoje?”. O espetáculo realizado no Teatro Ruth Escobar reunia
“os seis mais importantes dramaturgos de São Paulo” – Augusto Boal, Bráulio Pedroso,
Gianfrancesco Guarnieri, Jorge Andrade, Lauro Cezar Muniz e Plínio Marcos – com o
objetivo de apresentar pequenos textos que retratassem a realidade brasileira reunidos em um
único espetáculo. Obviamente, não foram poucos os problemas com a censura.
60
Para a Feira Paulista de Opinião, Plínio Marcos escreveu uma pequena peça
irreverente e provocadora, Verde que te quero verde, no qual ridicularizava a censura e os
militares. O título da peça, roubado do verso inicial do poema Romance sonâmbulo, do
espanhol Frederico Garcia Lorca, lembrava a moda das peças de colagens e citações, cujo
maior sucesso foi Liberdade, liberdade, de Flávio Rangel e Millor Fernandes, encenado pelo
Grupo Opinião em 1965 – praticamente uma “antologia ocidental de textos libertários, de IV
58
PLÍNIO Marcos: escrevo para incomodar. Folha de São Paulo, São Paulo, Ilustrada, 19 mar. 1968. Disponível
em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/almanaque/ilustrada_19mar1968.htm>. Acesso em: 18 jun. 2005.
59
PRIMEIRA FEIRA PAULISTA DE OPINIÃO, 1968, São Paulo. Programa da peça.
60
Os textos do espetáculo foram submetidos à Censura, mas até o dia da estréia os responsáveis não tinham
recebido qualquer resposta. Augusto Boal e a equipe resolveram encenar a peça na íntegra e foram notificados
após a apresentação de que o espetáculo fora liberado mediante 84 cortes. Ainda assim o espetáculo continuou
sendo levado à cena sem os cortes como deliberado protesto de “desobediência civil”, até ser suspenso pelo
Departamento de Polícia Federal. A classe teatral foi até o Ministério da Justiça reivindicando uma posição
coerente do governo e o ministro Gama e Silva se comprometeu a estudar a questão. O juiz da Sétima Vara da
Justiça Federal, através de uma liminar, liberou a apresentação do espetáculo, e Boal tentou manter o acordo com
o ministro buscando respeitar a maioria dos cortes. Primeira Feira Paulista de Opinião.
45
A.C. a XX D.C.” Em 1965, com Reportagem de um tempo mau, Plínio já tinha investido
seriamente nesse “gênero”, mas no caso de Verde que te quero verde, como era de seu feitio,
o dramaturgo afirmava ter sido “mais influenciado pelos militares do que por Garcia Lorca”,
cujos versos, aliás, estavam também presentes em Liberdade, Liberdade. Mas no esquete de
Plínio, o verde referia-se mais à farda militar do que à natureza.
61
Plínio contou que o elenco da peça invadia teatros e festivais amadores, encenava o
texto, com duração de quinze minutos, e fugia antes da polícia chegar:
Aí tinha um juíz louco, um tal de Tinoco Barreto. Ele falou assim: ‘Esta é a obra-prima do teatro
anarquista, não pode ser proibido’. E bumba, liberou. [...] Aí nós fomos pra Feira Paulista de Opinião, lá
com as peças do Boal, do Guarnieri, do Bráulio, o caraco, e fizemos, aquilo tudo era um espetáculo de
merda, só que todo mundo ficava esperando a nossa, que também era uma merda, mas uma merda
engraçada. 62
Após a Feira Paulista de Opinião, já era planejada uma Feira Carioca de Opinião,
uma Feira Latino-americana de Opinião e até uma Feira Mundial de Opinião. Entretanto, após
os acontecimentos do dia 13 de dezembro de 1968, planos foram desfeitos, sonhos abortados,
e o Brasil entrou num dos períodos mais negros de sua História.
Com a promulgação do Ato Institucional nº. 5, a situação que se tornava quase
insustentável, tornou-se inimaginavelmente pior. A censura estadual foi encampada pela
Polícia Federal, tornando-se ainda mais rigorosa. Mesmo peças como Dois perdidos numa
noite suja e Navalha na carne, que já haviam sido apresentadas em diversas regiões do país,
foram interditadas em todo o território nacional. Plínio Marcos, como diversos artistas,
políticos e intelectuais, foi preso pelos militares naquele momento.
Entretanto, desde novembro de 1968, o autor-ator interpretava com enorme sucesso o
personagem que ele mesmo tinha criado na telenovela Beto Rockfeller. O mecânico Vitório
era o melhor amigo do personagem-título (interpretado por Luis Gustavo) na novela levada ao
ar pela TV Tupi de São Paulo que se transformava num verdadeiro fenômeno de audiência.
Por esse motivo, Plínio foi liberado do DOI-CODI dias depois de preso (e após ser
interrogado, mas não torturado), por interferência de Cassiano Gabus Mendes, então diretor
da poderosa TV Tupi. Até mesmo esse episódio ele narrou com bom humor:
Fiquei lá uma semana, e a Tupi fazia muita força pra eu sair, porque eu estava no auge, na novela Beto
Rockfeller, onde eu fazia um sucesso terrível. E eu não era otário. [...] E só gravava um capítulo por dia.
61
“Verde que te quiero verde / verde viento. Verdes ramas. / El barco sobre la mar / Y el caballo em la montana.
/ Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas” (RANGEL; FERNANDES, 1977, p.77).
62
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 39, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
46
Se eu não fosse, não tinha gravação. Então eles propunham: ‘Então você vai lá, grava e volta’. Eu disse:
‘Não, se eu vou, eu fujo’, essas coisas. Me pediam autógrafo. ‘Vem cá, eu não gosto dessas coisas,
dessa palhaçada, assina aí pra minha mulher.’ ‘Pra bela mulher do meu tenente, um abraço do Vitório. 63
Posteriormente, o dramaturgo afirmaria só ter aceitado o papel na telenovela – vista,
então, com preconceito por grande parte dos artistas e intelectuais – para evitar ficar “orfão”,
ou seja, cair nas garras da polícia, já prevendo a possibilidade da repressão se acirrar. O nome
de Plínio para o papel da dupla do protagonista também foi exigência do próprio Luis
Gustavo, ator de Quando as máquinas param e idealizador de Beto Rockfeller junto com
Cassiano Gabus Mendes. O dramaturgo, aliás, teria sido indicado para escrevê-la, mas
recusou e sugeriu, ele próprio, o nome de Bráulio Pedroso.
64
Alguns meses depois, Plínio Marcos foi preso novamente, dessa vez em Santos, no
Teatro Coliseu, por se recusar a acatar a interdição do espetáculo Dois perdidos numa noite
suja , em que trabalhava também como ator. Segundo Carlos Augusto Corte Real, advogado
que o livrou da cadeia, “o Plínio se indignou com alguns cortes realizados pela censura, falou
o texto na íntegra e começou a discursar contra o regime. A polícia de Santos, que já estava de
sobreaviso [...] surgiu direto da platéia e o prendeu” (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op.
cit., p. 117).
Plínio foi transferido depois, do presídio de Santos, para o DOPS em São Paulo, de
onde saiu, três dias depois, por interferência de vários artistas e sob a tutela de Maria Della
Costa, estrela de Homens de papel. A atriz contou como ocorreu esse episódio:
Então a classe teatral começou a lutar pra tirar o Plínio dalí. Conversa, conversa, o general o que fez?
‘Muito bem, então que venham uns atores representando, pra ver o que é que a gente faz’. Fui eu e mais
uns atores, sentamos na sala, o secretário abriu e disse:
‘Uma só! Ela!’ – que era eu. Entrei e enfrentei o cara:
‘Porque vocês querem tirar o Plínio daqui?’
‘Porque é um grande autor.’
[...]
Depois de um papo muito grande ele disse:
‘Muito bem, Maria, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar, vou mandar tirar ele da cela, eu não quero
nem ver ele; olha, eu vou virar as costas (e ele fez isso!), eu vou virar as costas e ele vai passar por aí.
Olha, eu tenho nojo dele! Agora, se acontecer alguma coisa com ele, se ele der alguma declaração, não é
63
Ibid
Segundo Plínio Marcos, por encomenda de Cassiano Gabus Mendes ele escrevera uma novela nos moldes de
Dois perdidos numa noite suja, chamada Por dentro da noite, que foi censurada. Numa ida à Brasília para tentar
liberar a novela, os diretores da Tupi descobriram que Plínio era uma das figuras mais visadas para ser preso
pelo regime militar. Por esse motivo ele foi imediatamente convidado para participar de Beto Rockfeller, que
entraria no ar. De qualquer maneira, Beto Rockfeller terminou por representar uma revolução nas telenovelas
brasileiras, com diálogos ágeis, câmeras e posturas mais livres dos atores e abandono do maniqueísmo
exagerado, além da introdução do anti-herói. O sucesso foi tamanho que a novela foi mantida no ar por mais de
um ano. Por sua interpretação do Vitório, Plínio Marcos recebeu o Troféu Imprensa (revelação masculina, ator) e
o Prêmio Gato de Ouro, da TV Globo (melhor ator revelação), ambos em 1968.
64
47
ele que vai preso; nós vamos buscar você, aí você vai no lugar dele. Então você será fiadora dele... não
é?’
‘Plínio saiu e eu dizia assim: ‘Plínio, pelo amor de Deus, olha me respeita; porque eu vou lá, pra aquela
cela onde você foi; porque o cara lá, o general, disse que ia me prender mes mo (MARX, op.cit., p. 202).
Após esses episódios, Plínio Marcos foi ameaçado de prisão e detido para
interrogatório em várias outras ocasiões. As nuvens negras que nublaram o horizonte do país
no crepúsculo do ano anterior não se moveriam tão cedo.
Nos dias de hoje é bom que se proteja
Ofereça a face pra quem quer que seja
Nos dias de hoje esteja tranqüilo
Haja o que houver pense nos seus filhos
Não ande nos bares, esqueça os amigos
Não pare nas praças, não corra perigo
Não fale do medo que temos da vida
Não ponha o dedo na nossa ferida 65
Um tempo mau.
Em 1969, Plínio Marcos escreveu duas novas peças. Em Oração para um pé-dechinelo, através da história do bandido perseguido pela polícia que passa suas últimas horas
escondido num barraco, o autor denunciava os grupos de extermínio de policiais antes de suas
ações ganharem as manchetes dos principais jornais do país. Já O abajur lilás era
possivelmente sua crítica mais contundente ao regime ditatorial, numa verdadeira resposta aos
militares após o AI-5. No drama de três prostitutas ameaçadas pelo dono da pensão e seu
capanga, cada um das personagens femininas assume uma posição diferente frente à
truculência do “dono do poder”. Uma é acomodada, por receio de represálias, outra quer
negociar e chega à delação, e a terceira é a “porra- louca” que não mede conseqüências.
Conforme Sábato Magaldi (2003, p.95), “o microcosmo retratado remete, metaforicamente,
ao doloroso macrocosmo político vivido durante a ditadura, em aguda pintura dos vários
comportamentos assumidos pela nossa sociedade”.
Entretanto, nenhuma das duas novas peças de Plínio Marcos conseguiria chegar aos
palcos ainda nos anos setenta.
No mesmo ano em que O abajur lilás foi escrit a, o ator Paulo Goulart começou a
produção do espetáculo, que ele mesmo dirigiria, com Nicete Bruno (sua esposa) e Walderez
65
Cartomante, música de Ivan Lins e letra de Vítor Martins.
48
de Barros no elenco. Após uma consulta informal à Censura, veio a resposta negativa e os
ensaios foram interrompidos. Em 1970, o texto foi proibido por cinco anos para todo o
território nacional. Em 1975, com suposta liberação da peça, Américo Marques da Costa,
apresentado a Plínio por Samuel Wainer, se interessou em produzi- la, com direção de Antônio
Abujamra e Lima Duarte, Walderez de Barros, Cacilda Lanuza e Ariclê Perez no elenco.
Plínio contou o novo drama:
E veio afinal o dia do ensaio para a censura. Eles nos obrigaram a fazer o espetáculo como ia ser na
estréia para público. Cenário, figurino, iluminação. [...] Desconfiávamos que era armação das piranhas
da censura pra atingirem economicamente a produção. E era. Esse espetáculo pra censura eu assisti. E
era belo. Belíssimo. Mas aqueles senhores incapazes até de fazer um “o” com o cú proibiram
(MARCOS, 1996, p.114).
A classe teatral organizou várias manifestações de protesto contra a censura da peça e
grande parte das companhias teatrais não trabalhou na quinta-feira, dia 15 de maio de 1975,
data da proibição da peça. Durante as semanas seguintes, em todos os teatros, antes do início
dos espetáculos, era lido um manifesto contra a censura. Uma verdadeira batalha jurídica foi
empreendida, mas que não resultou favorável à liberação.
Situação semelhante já tinha ocorrido com Barrela. Um ano após a proibição em
1968, Plínio obteve a informação que a interdição poderia ser revista e novamente tentou
montar a peça, dessa vez com direção de Alberto D’Aversa. Mas novamente se decepcionou:
Em junho de 1969, com a peça prontinha, procuramos o figurão da Censura Federal para assistir ao
ensaio. E o homem simplesmente se negou. Recusou o diálogo e negou que tivesse se prontificado
algum dia a assistir ao ensaio, negou ter prometido alguma coisa a mim. Os meus amigos [José Roberto
Fanganiello] Mehlen e [Pedro] Bandeira pagaram o elenco, conforme é do feitio deles, e todos nós
sofremos (MARCOS, 1976, p. 9).
Nos anos mais trágicos da ditadura militar, Plínio sofreu não somente com a censura
policial, mas também com o cerceamento profissional. No início da década de setenta, diante
do absurdo de chegar a ter absolutamente todas as suas peças proibidas – tornando-se um dos
autores teatrais mais censurados pela ditadura militar no Brasil – Plínio chegou a se autointitular um “ex-dramaturgo” ou um “dramaturgo aposentado”, anunciando a decisão de não
mais escrever para o teatro. Mesmo em 1979, num simpósio sobre a censura, ele comentava a
situação que continuava a viver: “Hoje, a gente não sabe que peça pode montar ou não
montar, porque às vezes a decisão é dada na última hora, na hora de abrir o pano. E isso pode
significar um prejuízo econômico muito grande para quem produz” (KHÉDE, op. cit., p. 190).
49
O sucesso extraordinário de Plínio Marcos em 1967 / 1968, atravessado pelo AI-5, foi
assumindo posteriormente um caráter de modismo passageiro, que Nelson Rodrigues
descreveu com ironia: “foi ele, dentro de nosso teatro, um surto epidêmico. Alastrou-se por
todos os palcos, elencos e platéias. Apanhava-se Plínio Marcos, como outrora, a febre
amarela, a peste bubônica, a bexiga e a escarlatina”. (RODRIGUES, 1996, p. 126). A partir de
1969, muitos já acusavam Plínio de se repetir ou de ter esgotado sua fórmula. A diminuição
do interesse por suas obras, após ter sido superado seu caráter de “novidade”, possivelmente
tornou mais difícil resistir ao endurecimento da perseguição da censura.
Mas Plínio também já não vivia a dureza dos primeiros anos em São Paulo. Em 1970
estava morando com os dois filhos pequenos num apartamento próprio, Walderez tinha um
carro (ele não dirigia), e o casal comprara um sítio em Ribeirão Pires. O dramaturgo tinha se
tornado uma verdadeira “celebridade”, tanto no meio teatral por suas peças, quanto,
principalmente, aos olhos do grande público da televisão, pelo seu personagem na telenovela
Beto Rockfeller. Plínio jamais se considerou um grande ator – dizia trabalhar apenas em peças
dos outros para não estragar as dele –, mas foi o sucesso do personagem Vitório que deu um
fôlego renovado para sua carreira e que sustentou seus principais trabalhos na televisão e no
cinema naqueles primeiros anos da década de 70.
Na televisão, após Beto Rockfeller Plínio atuou em outras novelas explorando a persona que o tinha
consagrado. Foi logo em seguida o pro tagonista
da novela João Juca Júnior (TV Tupi, 1969, de
Sylvan Paezzo e direção de Walter Avancini). Também interpretou e criou o personagem do
jornalista meio “cascateiro” Bem-te- vi na novela Bandeira 2 (TV Globo, 1971, de Dias
Gomes, direção de Walter Campos e Daniel Filho), e viveu novamente o mecânico Vitório em
A volta do Beto Rockfeller (TV Tupi, 1973, de Bráulio Pedroso, direção de Oswaldo
Loureiro). Participou ainda da novela Tchan, a grande sacada, (TV Tupi, 1976, de Marcos
Rey, direção de Antônio Moura Mattos).
Já em relação a suas participações como ator em filmes brasileiros, Plínio atuou no
segundo episódio (A honestidade de mentir) da comédia A arte de amar... bem (dir. Fernando
de Barros, 1969), baseado nas peças de Silveira Sampaio. Plínio fazia uma ponta como o
chofer de táxi que fala demais e revela a vida boa do marido (Otelo Zeloni) a sua esposa
desconfiada (Consuelo Leandro). Em 1970, além do protagonista Luis Gustavo, o Vitório de
Plínio Marcos foi o único personagem de Beto Rockfeller que também participou da versão
cinematográfica da telenovela da TV Tupi. Dirigida por Olivier Perroy, diretor e fotógrafo de
publicidade, a adaptação a cores de Beto Rockefeller foi uma verdadeira super-produção de
50
Aníbal Massaini, tentando lucrar com o sucesso da novela que tinha ido ao ar até o ano
anterior.
Também na esteira de sua fama momentânea no final da década de 60, Plínio fez uma
participação especial (assim como outros convidados, como Leila Diniz, Grande Otelo, José
Lewgoy, Marília Pêra e outros), na comédia O donzelo (dir. Stefan Wohl, 1971), sucesso de
público estrelado por Flávio Migliaccio.
66
Depois disso, Plínio só participaria novamente de A santa donzela, filme dirigido pelo
ator Flavio Porto, que depois se ligaria aos produtores da Boca do Lixo, participando de mais
de vinte longas- metragens. Flávio Porto se recordaria mais tarde: “O primeiro filme que
dirigi, A santa donzela, foi uma loucura. Meu galã no filme era o Plínio Marcos. Ele não tinha
um dente na frente e isso deu uma comicidade legal para o filme. Um galã cheio de glamour e
sem dente!”. 67 Essa precária produção em que Plínio era o mocinho e o bonitão John Herbert
era o vilão – segundo o dramaturgo, Herbert falava durante as filmagens: “é por isso que o
cinema brasileiro não vai pra frente” –, levaria três anos para ser feita (1972-1975), sendo
depois censurada e lançada somente em 1978.
68
O mesmo Flávio Porto tentou em 1979 produzir e dirigir uma adaptação do romance
de Plínio Marcos Barra do Catimbó, renomeada como Amor e glória futebol clube. O projeto,
entretanto, jamais foi concretizado.
69
Além do trabalho de ator, dada a brutal perseguição a sua obra teatral, na passagem
para a década de 70 suas atividades também se voltaram com mais vigor para o jornalismo. A
partir de 1968, convidado por Samuel Wainer, manteve durante um ano uma coluna (semanal
e, mais tarde, diária) intitulada Navalha na carne no jornal Última Hora, de São Paulo.
Posteriormente, passou a fazer entrevistas (com o titulo de Plínio Marcos escracha) e
crônicas.
66
O filme se sustentava sobre a verve humorística de Flávio Migliaccio, que também colaborou no argumento,
roteiro e diálogos, e interpretava um personagem semelhante a um dos muitos tipos que incorporara em Como
vai, vai bem? (dir. Grupo Câmara, 1968) – tour de force dele e de Paulo José.
67
CORDEIRO, Jorge Henrique. A Boca do Lixo passada a limpo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 jun. 2001.
68
Plínio Marcos interpretava o ex-sacristão e ex-virgem, Jordão Magalhães, jovem escultor de uma cidade do
interior, que está esculpindo a estátua da virgem padroeira do lugar usando como modelo sua namorada Verinha
(Wanda Stefânia), cuja tia quer que ela case com o jovem político Armando (John Herbert). Diante dessa
situação, Jordão Magalhães muda-se para a capital, onde alcança o sucesso. Mas a glória não dura muito e ele se
vê abandonado pelos mesmos que o ajudaram, esquecido pelos críticos e sem dinheiro, logo voltando para sua
cidade e virando motivo de chacota. Desesperado, o artista mata-se na esperança de que suas obras sejam
vendidas. O filme era baseado na peça A Morte do Imortal, de Lauro Cézar Muniz, também autor do roteiro
(GUIA DE FILMES. Rio de Janeiro: Embrafilme, n.73-74, 1978, p.79)
69
O roteiro encaminhado para a Embrafilme em 1979 está depositado na Cinemateca Brasileira.
51
Plínio passou ainda pelo jornal Diário da noite, depois retornando a Última Hora,
intercalando pequenos contos e crônicas variadas, onde permaneceu até julho de 1973, com
um breve intervalo, no segundo semestre de 1972, quando assinou uma coluna semanal no
jornal Guaru News (de Guarulhos, São Paulo) com o título de Nas quebradas do mundaréu.
No segundo semestre de 1973, sua coluna no jornal Última Hora passou a se chamar Plínio
Marcos conta e, em 1974, Jornal do Plínio Marcos. Permaneceu no jornal Última Hora até
julho de 1975, quando foi demitido.
Em outubro de 1975, foi contratado pelo jornalista Mino Carta para escrever uma
coluna sobre futebol na revista Veja. Plínio Marcos acabou sendo o estopim para a saída do
próprio Mino Carta, então editor-chefe da revista semanal de maior circulação do país.
70
Plínio foi demitido da Veja em janeiro de 1976 e ficou praticamente um ano sem
escrever em jornais, assinando apenas colaborações esparsas, por exemplo, para a revista
Extra Realidade Brasileira, para a qual contribuiu com contos-reportagens. Em fevereiro de
1977, voltou para um grande jornal, escrevendo durante alguns meses para a Folha de São
Paulo. Em sua coluna de estréia, intitulada A Volta de Plínio Marcos, o autor começava o
texto da seguinte maneira:
Eis -me de novo escancarando as minhas mal-traçadas linhas na imprensa nacional. Estou de volta sem
mágoas e sem rancores. Não voltei pra cobrar agravos e menos ainda pra afrontar alguém. Estou aqui
apenas com as mesmas finalidades de sempre: defender o feijão com tranqueira e defender pontos de
vista. Se conseguir inquietar meus leitores, melhor ainda. Voltei depois de longo tempo afastado do
jornalismo por motivo de força maior, aliás, de força muito maior. 71
Plínio ainda incomodava. Em 1977, devido a sua coluna, ele recebia cartas e ligações
anônimas com ameaças. Logo seria demitido também da Folha de São Paulo.
Em relação ao teatro, ao longo da década de 70, o sucesso de Plínio Marcos no final
dos anos 60 foi ficando cada vez mais distante. Em 1970, em meio ao amplo movimento de
70
Em 1975, devido a um pedido de empréstimo à Caixa Econômica Federal, a revista Veja ficou ainda mais
sensível à pressão do governo, vinda especialmente do ministro da Justiça, Armando Falcão. Como os militares
pressionavam pela demissão de Mino Carta, que dirigia a revista desde 1969, o jornalista se propôs a tirar férias
até que a situação fosse resolvida. Diante da recusa de Victor Civita, Mino continuou a não ceder à censura e,
entre outras medidas, contratou Plínio Marcos para fazer uma coluna de esportes, no qual o autor maldito,
através do futebol, lançava ataques a todas as atrocidades do governo. Civita finalmente concordou com as férias
de Mino, que exigiu que nada fosse alterado na linha editorial em sua ausência. No seu retorno em janeiro de
1976, Civita disse ao jornalista que ele devia mandar Plínio Marcos embora. “Eu respondi: ‘Não mando. Se tiver
de mandar embora o Plínio Marcos, você me manda embora junto com o Plínio’. E ficou aquele ‘mando’, ‘não
mando’ até que eu saí” (CARTA, Mino. A mídia implorava pela intervenção militar. América On Line, abr.
2004. Entrevista concedida a Adriana Souza Silva. Disponível em:
<http://www.piratininga.org.br/entrevistas/minocarta-abril2004.html>. Acesso em: 20 dez. 2005.
71
MARCOS, Plínio. A volta de Plínio Marcos. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 fev. 1977. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/almanaque/plinio_marcos_a_volta.htm>. Acesso em: 18 jun. 2005.
52
valorização da cultura popular, que teve reflexos também no cinema brasileiro, Plínio estreou
o musical Balbina de Iansã. A peça partia, segundo Sábato Magaldi, do “esquema
shakespeariano de Romeu e Julieta [...] para construir uma trama de amor que rompe as
estruturas”
72
, tratando da história de amor entre dois jovens pertencentes a terreiros de
candomblé rivais. O espetáculo estreou em novembro de 1970 no Teatro São Pedro, em São
Paulo, com direção geral de Plínio Marcos, seguindo depois em temporada na sede da Escola
de Samba Camisa Verde e Branco. No Rio de janeiro a peça foi montada em 1971, sob a
direção de Carlos Alberto e com ele e a estrela Yoná Magalhães no elenco, atores casados na
vida real e que formavam um dos casais mais populares da televisão brasileira.
Segundo crítica da época, Balbina de Iansã sinalizava um novo rumo na carreira de
Plínio:
Sem usar uma única só vez um palavrão contundente, motivo de tantas discussões a respeito de suas
peças, criou uma estória brasileira e popular e a transportou para o palco em um espetáculo belo e
vigoroso embora com defeitos. [...] Os diálogos geralmente cedem vez às cenas coletivas de canto, lutas
(capoeira) e evocações religiosas. O final é densamente reservado como se o autor pretendesse apenas
mostrar seu povo rindo e chorando, sem comprar brigas maiores. Um espetáculo simples e bonito de
coisas brasileiras que agradará. 73
Apesar do relativo sucesso de público, Plínio Marcos, que também produziu a peça,
não obteve grande lucro. Não apenas pelo alto custo do aluguel do teatro e do pagamento da
numerosa equipe e elenco (atores, dançarinos e músicos), como também por ter baixado o
preço do ingresso para possibilitar o acesso de um maior número de pessoas. De uma
“tentativa de realizar um teatro popular brasileiro”, Plínio partiu para uma proposta mais
radical de popularização do teatro, encenando Quando as máquinas param, no Sindicato dos
Têxteis, em São Paulo, em 1971. Sobre essa montagem, com Walderez de Barros e Tony
Ramos no elenco, Plínio falou:
Impossibilitado de pegar e apresentar peças novas, que provavelmente iriam inquietar a juventude
universitária, eu peguei ‘Quando as máquinas param’ [...] e fui montar no Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias Têxteis, na rua Oiapoque, 80, em São Paulo, a preços reduzidos pro pessoal do curso do
Mobral e cursos supletivos a um conto. Isso teve um grande êxito, porque nós conseguimos em três
meses levar 15 mil pessoas ao teatro. 74
72
MAGALDI, Sábato. Balbina de Iansã. O Estado de São Paulo, 13 jan. 1971. Disponível em:
<http://www.pliniomarcos.com/criticas/balbina-sabato.htm>. Acesso em: 9 mar. 2006.
73
DEL RIOS, Jefferson. Balbina de Iansã. Folha de São Paulo, 14 jan 1971 Disponível em:
<http://www.pliniomarcos.com/criticas/balbina-jeffersondelrios.htm>. Acesso em: 9 mar. 2006.
74
KUSANO, Kazumi. Um teatro na gaveta: a arte inquieta de Plínio Marcos. O Jornal, Rio de janeiro, 11 jan.
1972.
53
Mas era cada vez mais difícil a sobrevivência do dramaturgo Plínio Marcos dentro do
que era considerada uma crise mais ampla do teatro brasileiro. Diversas razões eram
apontadas para esse quadro, desde o chamado “afugentamento do público” pelo teatro de
vanguarda, até a “concorrência desleal” da TV, passando pela intensa repressão da censura
aos dramaturgos que seria responsável por uma sensível queda de qualidade geral.
“Resultado: entre mortos e feridos, salvou-se, como seria de se esperar, o velho teatro
digestivo e assumidamente comercial, sempre pronto a responder camaleonescamente às
arremetidas do sistema” (PACHECO, 1979, p.89).
O próprio Plínio Marcos refletia sobre esse processo, iniciado nos anos 60:
O teatro ficou realmente agressivo, violento, de impacto, e afastou o público tradicional do teatro –
aquele público que ia fazer a digestão e arrotar no teatro – e veio em substituição um público inquieto –
a juventude, os estudantes. Depois veio o arrocho e o estudante não voltou ao teatro para ver. A gente
não tinha nada a dizer mesmo, não podia dizer nada, então ele também se afastou. E os empresários
desonestos partiram pros grandes espetáculos digestivos [...] e outros partiram pra esse pretenso
vanguardismo aí. 75
Ou seja, além da censura e do excessivo hermetismo (em parte resultado da tentativa
de se escapar de sua ação), os dramaturgos passaram a ser pressionados também por outra
intimidação: “a dos empresários, que começaram a temer enviar textos ‘problemáticos’ para a
Censura alegando ‘não poder correr o risco de ficarem marcados” Não à toa, o número de
textos proibidos pela censura iria diminuir a partir do final de 1971. (Ibid, p.95)
Mas Plínio foi um dos que menos se acomodou ou se desviou de suas convicções.
Após diversos anos com grande parte de suas peças censuradas, o autor maldito podia afirmar:
“A auto censura nunca fez parte da minha criação e eu prometi e jurei que para cada peça
minha que fosse proibida eu produziria três”.
76
Plínio enxergava com clareza esquemática o
encadeamento das coisas, com a auto-censura implicando em fazer “peças bem comportadas”.
“E peças bem comportadas não atraem público. Então caímos na subvenção governamental. E
essa subvenção é realmente corruptora, porque impede que o teatro seja crítico da sociedade.
Impede que o teatro lute pela sua liberdade” (KHÉDE, op. cit., p.189). Plínio declarava
75
KUSANO, Kazumi. Um teatro na gaveta: a arte inquieta de Plínio Marcos. O Jornal, Rio de janeiro, 11 jan.
1972. Em relação ao teatro experimental, numa deliciosa crônica de 1975, Plínio fazia piada ao anunciar que sua
nova peça seria toda “na base da vanguarda”. Ao declarar ironicamente que passaria a fazer peças herméticas,
dizia também que nunca mais teria problemas com a censura: “Em compensação, também não terei público. O
que não tem importância porque ganharei subvenção do governo, que prestigia a cultura” (MARCOS, Plínio.
Jornal do Plínio Marcos, Última Hora, São Paulo, 29 mai. 1975).
76
MARCOS, Plínio. Atenção: Plínio Marcos vai falar de sua arqui-inimiga: a censura. Vale Paraibano, São José
dos Campos, 9 mai. 1979.
54
corajosamente: “A saída é a liberdade total de expressão, [...] por que eu não preciso de
subvenção do governo, eu preciso de liberdade”.
77
Radical em suas crenças, Plínio assumiu de frente a luta contra a censura, se vendo
muitas vezes sozinho no front de batalha: “Na verdade, o teatro nunca lutou contra a censura.
O teatro lutou pela liberalização de algumas peças. Mas para o fim da censura eles não lutam,
porque um teatro que é comprometido com o governo não vai correr o risco de lutar contra
um órgão do governo” (Ibid).
Desse modo, a decisão de Plínio Marcos de abandonar o teatro não foi motivada
apenas pela censura, mas também pelo “abandono” de seus colegas. Referindo-se a si próprio
em terceira pessoa, o dramaturgo escreveu com mal disfarçado rancor sobre sua situação em
1974, comparando-a com os anos anteriores, quando tinha proporcionado grandes papéis e
estrondosos sucessos para atrizes como Tônia Carrero, Miriam Mehler e Maria Della Costa:
Todos pediam peça de Plínio Marcos. Hoje, dramaturgo morto, Plínio Marcos é um pecado em cada
carreira. Tônia vai de ‘Casa de Bonecas’, Maria, de ‘Bodas de Sangue’, Miriam Mehler, com o
permitido Nelson Rodrigues que Deus o guarde e proteja. Ninguém se lembra de pedir peça de Plínio
Marcos e ainda dizem que saíram da linha ao montarem o maldito autor. 78
Plínio se tornava um nome indesejado, desagradável, maldito. Maria Della Costa
contou um episódio que ocorreu quando foi convidada pela Secretaria de Cultura de São
Paulo, junto com outros intelectuais, para fazer um festival popular de teatro no Municipal,
com ingressos a preços mínimos. Segundo a atriz,
Eles disseram: ‘Olha, nós queremos trazer todas as companhias para o Municipal, menos uma, que é o
Plínio Marcos. Com essa condição’. Aí, nós esbarramos todos ali [...] nós olhamos um pro outro e
perguntamos: ‘E aí, o que é que a gente faz?’ Tentamos o diálogo: ‘Mas um homem que...’ e ele: ‘Não,
não, não... Com essa condição. Porque a polícia não quer saber, é um cara que não tem diálogo, é só
palavrão, um em cima do outro, não! Pro festival de teatro, sério, que é pro povo, nós vamos abrir as
portas do Teatro Municipal para o povo...’ [...] É isso: ou a gente renuncia a tudo, ou faz o festival de
todas as outras companhias. Daí a maioria votou para prosseguir com o trabalho e foi um sucesso
fantástico (MARX, op. cit., p.203).
Se num panorama de um teatro brasileiro cada vez menos crítico, agressivo e
solidário, Plínio ia sendo “esquecido”, ao contrário da maior parte de seus colegas o autor
maldito também não foi incorporado pela televisão. Em 1975, fez uma participação especial –
no papel de São Francisco de Assis – no Teatro 2, teleteatro da TV Cultura de São Paulo,
77
KUSANO, Kazumi. Um teatro na gaveta: a arte inquieta de Plínio Marcos. O Jornal, Rio de janeiro, Idéia
nova, 11 jan. 1972, p.1.
78
MARCOS, Plínio. Um dia a velha garra vai voltar. Última Hora, São Paulo, 15 jan. 1974.
55
dirigido por Ademar Guerra, que acabou sendo proibido pela Censura Federal durante as
gravações. Abordando esse episódio, Plínio comentou a situação em que vivia naqueles anos:
Fui brincar de ser ator. Fui chamado pra fazer um papel de São Francisco de Assis, no Canal 2, Tevê
Cultura. Gravei uma parte, me pagaram e me mandaram embora, alegando que eram ordens superiores.
Aí, a barra pesou mesmo. Ninguém me dava emprego em televisão. Falavam que os homens não
deixavam. Que havia ordens pra não me darem emprego. O Carlos Alberto de Nóbrega, essa santa
criatura, escutou isso e, como toda pessoa justa, ficou indignado. Foi tirar satisfação com um general
amigo dele. Era tudo mentira. Não havia ordem nenhuma. As pessoas não me davam emprego na
televisão porque não queriam. Ele, Carlos Alberto, me deu um cachê. Ótimo cachê, só pra provar que
podia. E daria outros, se não tivessem feito tudo pra ele se cansar e pedir demissão. O Sílvio Santos
também toda hora me chamava pra participar do seu programa e faturar um cachê. E lá podia. Os
outros, os bons meninos, é que não queriam que eu entrasse pra televisão. Paciência. Eles, os bons
meninos, meus colegas de ofício, é que não queriam. 79
A televisão brasileira cresceu enormemente na década de setenta, marcada
principalmente pela expansão e hegemonia da Rede Globo, maior rede nacional de emissoras
desde 1971. A consolidação do padrão globo de qualidade, sobretudo a partir de 1973, com a
chegada ao Brasil da televisão colorida, coincidiu ainda com o pico consumista da classe
média (KEHL, 1979, passim). Nesse processo, a programação da TV Globo – as novelas, os
casos especiais e, posteriormente, as séries – ganharam ao longo da década uma
respeitabilidade cada vez maior por sua crescente qualidade, oferecendo canais esporádicos
para as demandas esquerdistas e/ou inovadoras (ao nível da moral e dos costumes) de seu
público. O ministro das comunicações Higino Corsetti chegou a declarar em 1972 que “o que
há de melhor em nosso teatro passou para a televisão, que está num nível muito bom” (Ibid, p.
49).
Conforme João Freire Filho, “com uma saúde financeira invejável, já se sedimentando
como rede nacional, a TV Globo optou, no começo dos anos 70, por uma nova filosofia de
programação que, além de evitar as constantes altercações com os militares, atingisse um
público mais qualificado, mantendo o que já se tornara cativo (os 60% das classes C/D)”.
80
Nesse processo, a televisão brasileira incorporou gradativamente grande parte dos
artistas de outras áreas. Poucos atores não foram seduzidos pela fama e pelos altos salários, e
diversos cineastas e autores teatrais também trocaram os telas de cinema e os palcos pela
telinha de TV, especialmente da emissora líder de audiência.
79
MARCOS, Plínio. A Volta de Plínio Marcos. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 fev. 1977.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/almanaque/plinio_marcos_a_volta.htm> . Acesso em: 18
jun. 2005.
80
FREIRE, João Freire. A TV, os Intelectuais e as Massas no Brasil (1950-1980). Ciberlegenda, Niterói, n.11,
2003. Disponível em: <http://www.uff.br/mestcii/joao1.htm>. Acesso em: 9 mar. 2006.
56
Com o antigo projeto nacionalista sendo embarcado pela ditadura, o ideário nacionalpopular teve reflexos tanto, por exemplo, na atuação da estatal Embrafilme, quanto na da
Rede Globo, organização privada amplamente favorecida pelo regime militar. Praticamente
todos os dramaturgos de esquerda surgidos e consagrados nos anos 60 foram incorporados
pela emissora de Roberto Marinho: nomes como Lauro Cezar Muniz, Dias Gomes, Jorge de
Andrade e Bráulio Pedroso (como autores de telenovelas); Oduvaldo Vianna Filho, Paulo
Pontes e Armando Costa (no seriado A grande família, entre outros); Roberto Freire e
Gianfrancesco Guarnieri (em séries como Obrigado doutor e Carga pesada).
81
Mas Plínio Marcos – um dos maiores dramaturgos de sua geração – nunca foi
plenamente aceito ou incorporado ao meio, exatamente no momento de sua maior expansão.
Sua personalidade inquieta, libertária, não conformista e polêmica, além de sua extrema
coerência, provavelmente nunca permitiram que ele pudesse seguir o mesmo rumo de
diversos de seus colegas, embora sua linguagem popular o credenciasse exemplarmente para o
projeto nacional popular da Rede Globo. Apesar disso, Plínio escreveu, de fato, diversos
textos e roteiros para novelas, casos especiais e programas de televisão. Alguns poucos foram
levados ao ar, outros censurados, mas a maior parte desse material permanece inédita.
82
Dias Gomes, consagrado dramaturgo que se tornou novelista de sucesso, em entrevista
concedida em 1977, confessou: “Em 68 o teatro estava muito cerceado; eu tinha duas opções,
ou tinha que ser funcionário público ou ia para a TV. Mas não existe o que discutir: se você
luta por um teatro de massa, como recusar um público de 20 milhões?”.
83
Plínio Marcos inicialmente adotava o mesmo discurso, mas não teve nenhuma das
duas opções. Em 1971, o autor maldito afirmava a vontade de trabalhar na televisão pelo
81
Também na Rede Globo, sob a direção de Ferreira Gullar e Domingos de Oliveira, foi ao ar a série Aplauso,
com adaptações de textos literários e dramáticos para a TV, de autores como Dias Gomes, Vianinha ou Nelson
Rodrigues. Aliás, mesmo Nelson Rodrigues chegou a escrever novelas na década de 60, para a antiga TV Rio.
Convidado por Walter Clark, “escreveu a primeira novela brasileira de todos os tempos” – A morta sem espelho
– enfrentando problemas com a censura em 1963. No ano seguinte, sua novela Sonho de amor foi anunciada
como uma adaptação de O tronco do ipê, de José Alencar, mesmo sem Nelson (e, provavelmente, também os
censores) nunca ter lido o livro. Sua última novela foi O desconhecido, também em 1964. (CASTRO, 1992,
p.341-342).
82
As histórias da Barra do Catimbó publicadas na imprensa alcançaram tanto sucesso que quase viraram novela
de televisão. “Dercy Gonçalves chegou a gravar o primeiro capítulo no papel da fofoqueira Cotinha, na extinta
TV Tupi, mas a censura do governo militar impediu, mas uma vez, Plínio Marcos de trabalhar” (CONTRERAS;
MAIA; PINHEIRO, op. cit., p. 37). Uma série infanto-juvenil de sua autoria, intitulada Os Últimos
mambembeiros, adaptada de histórias publicadas na sua coluna diária Navalha na carne, também chegou a ter
seu primeiro capítulo gravado na TV Record, como programa piloto, mas nunca foi exibida. Sua peça premiada
pela TV Tupi em 1964, História do subúrbio, chegou a ser adaptada num programa da série Caso especial da
Globo, mas na época Plínio disse ter sido “pessimamente dirigida e interpretada”, reclamando dos cortes e da
artificialidade de um ator que andava de chuteiras como “se estivesse deslizando em cima de patins”.
83
GOMES, Dias. Entrevista. Veja, Rio de Janeiro, 29 jun. 1977.
57
desejo de atingir o povo para e sobre quem escrevia.
84
Afinal, trabalhando em televisão desde
1964, Plínio não tinha como ter preconceitos com o veículo como outros intelectuais de
esquerda chegaram a manifestar, e afirmava em 1969:
A televisão é ruim assim porque os intelectuais deixaram que ela ficasse assim. E ela está aí para ficar.
Quem quiser mudar que entre na briga. [...] Tem muito intelectual metido a bacana, que pensa virar
estátua, que se preocupa com o que a História vai dizer dele. Fica sonhando com a academia e acha
televisão um negócio sujo. Estes vão ficar falando sozinhos. Pra mim, o negócio é entrar na briga. E
partir pro pau!. 85
Além disso, ao longo da década de 70, junto à discussão sobre a televisão brasileira, o
dramaturgo também ergueu a bandeira da defesa da cultura nacional: “Bendita novela. Sou a
favor da novela e contra o filme americano. Defendo o meu mercado de trabalho, que está
amesquinhado”.
86
Mesmo quando se iniciava o processo de incorporação de diversos profissionais do
teatro e a exclusão do dramaturgo já começava a se delinear, ele ainda expressava interesse no
meio televisivo:
Sou uma espécie de autor maldito. Na televisão, por exemplo, já escrevi duas novelas para o canal 4
(TV Tupi), ambas foram censuradas. Acho importante fazer novelas. Janet Clair, Dias Gomes, Bráulio
Pedroso estão se matando para tentar mudar uma linguagem. Lauro César Muniz, Walter Negrão, Lima
Duarte e Sérgio Jockyman realizaram trabalhos de alto nível. E há muito outros que deveriam ser
chamados para criar para TV, como Vianinha, Guarnieri, Paulo Pontes e Marcos Reis . 87
Mas sua marginalização da televisão que se acentuou ao longo dos anos, como
aconteceu também na grande imprensa, foi, provavelmente, a razão de certo rancor (ou
galhofa) manifestado nas décadas seguintes.
84
88
Ainda esperançoso, Plínio afirmava: “Evidentemente, eu acho que se pudesse escrever uma novela, eu
preferiria, porque a televisão é um veículo de comunicação muito melhor. Com um grande sucesso no teatro, a
gente pega em quinze dias umas 5.200 pessoas. [...] Mas isto, na televisão, é audiência de uma noite, para novela
que não está dando ibope” (O SUCESSO começou com a briga na censura para liberar uma peça. Correio da
Manhã, Rio de Janeiro, 14 set. 1971).
85
Telenovela é uma epidemia nacional. Veja, n.29, 07 mai. 1969. In: FREIRE, João Freire. A TV, os Intelectuais
e as Massas no Brasil (1950-1980). Ciberlegenda, Niterói, n.11, 2003. Disponível em:
<http://www.uff.br/mestcii/joao1.htm>. Acesso em: 9 mar. 2006.
86
CICLO DE DEBATES DA CULTURA CONTEMPORÂNEA, 1, 1975, Rio de Janeiro. Ciclo de debates do
Teatro Casa Grande. Rio de Janeiro: Inúbia, 1976. Coleção opinião. p. 63
87
MOREIRA, Célia. Plínio Marcos, um ex-dramaturgo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 jul 1972.
88
Em 1984, Plínio já tinha praticamente desistido de trabalhar na televisão e numa entrevista afirmou não ver
mais possibilidade de “trabalhar num veículo que está ali para vender porcarias, idéias deterioradas e
descaracterizando um povo”. O autor comentou ainda: “Aí eu me afastei e já para mais de dez anos que eu não
faço uma novela. Tento dar entrevistas na televisão e eles não deixam” (MARCOS, Plínio. Plínio Marcos: a
lucidez e o discurso do palhaço. Estado de Minas, Belo Horizonte, 2 jun. 1984. Entrevista concedida ao repórter
Jorge Fernando dos Santos.) Em 1994, ao responder à pergunta “Qual foi o 1º programa que você viu na TV?”,
58
Sem desfrutar dos altos salários da televisão, constantemente impedido de montar suas
peças e repetidamente demitido dos grandes jornais do país, para sobreviver Plínio teve que
“se virar”. Foi aí que começou a viajar para algumas cidades do país fazendo palestras,
leituras e participando de debates. Nessa época também que virou “camelô da cultura”, como
gostava de afirmar, vendendo seus livros, muitos deles editados à própria custa, através da
gráfica do amigo Pedro Fanelli. (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p. 71).
Conforme Plínio, a opção pela prosa e a publicação de livros foi também estratégica:
“Considerando o caso dos romances: a verdade é que, se bem entendo o pensamento da
censura, o teatro causa muito mais impacto do que a literatura [...] Então são mais brandos
com a literatura” (KHÉDE, op. cit., p. 203).
Sua produção de contos e crônicas para a imprensa possibilitou a publicação de livros
como Histórias das quebradas do mundaréu (editora Nórdica, 1973), reunindo crônicas
publicadas no jornal Última Hora; e Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos (Editora
Lampião, 1977), também com contos publicados na imprensa. Plínio estreou ainda no
romance com Uma reportagem maldita (Querô) (Símbolo, 1976), texto que ganhou uma
versão para o teatro três anos depois. Mas pelo livro Plínio Marcos recebeu o prêmio da
Associação Paulista de Críticos de Arte de melhor autor de romance em 1976.
Com a maior parte de suas peças proibidas, poucas puderam ser publicadas, como
Quando as máquinas param (editora Obelisco, 1971). Barrela, então interditada havia quase
vinte anos, foi também lançada em livro em 1976 (editora Símbolo). No prólogo, Plínio
escreveu melancolicamente:
Ela está aí, em livro, já que não pôde nunca, devido à Censura, fazer carreira no palco. Eu dedico esse
livro a todos os que deram seus talentos às personagens, a todos os que perderam dinheiro e tempo na
vã esperança de vê-la encenada. De coração agradeço a todos e um dia, talvez, quando o palco brasileiro
for livre, a gente a veja encenada (MARCOS, 1976, p. 9-10).
Mas nem mesmo assim Plínio ficava totalmente livre da censura: o livro O abajur
lilás, publicado em 1975 (editora Brasiliense), e cuja luta pela liberação transformou a peça
num símbolo contra a ditadura, teve sua segunda edição proibida de ser lançada em 1978.
Marginalizado da grande mídia, Plínio adotava diversas estratégias de sobrevivência,
se revelando intimamente em suas crônicas:
feita para uma enquete da Folha de São Paulo, Plínio Marcos disse simplesmente “Nada. Nunca vi TV”. Apesar
da resposta rabugenta, o dramaturgo, em outras ocasiões, admitiria, obviamente, assistir muito à televisão
(sobretudo jornais e futebol), embora dissesse preferir bater papo na esquina.
59
Eu editei um livrinho lá [...] e saí vendendo nos botecos desta cidade. A Walderez trabalhava e a gente
levava. Os estudantes começaram a me chamar pra fazer conferências e shows e me davam uma grana,
compravam meu livro [...] Andei muito pelas faculdades. Fui impedido de entrar em muitas delas, mas
não corri, nem me apavorei. Acabei sendo escolhido paraninfo da turma de Comunicações de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul. Vendi livros nos bares, fiz shows em boates, joguei futebol no interior
num time de jogadores profissionais, fiz das tripas coração pra não piorar o gordurante das crianças lá
de casa. Deu pra prá aguentar o repuxo. Deu pra saber que dá pra encarar as bananosas. Aí, aliviou um
pouco. 89
Ao longo da década de 70, como foi a bandeira de muitos, Plínio também se alinhou
em defesa da cultura popular, criticando a importação estrangeira. Como afirmou em 1976,
“Hoje, a preservação da cultura popular, da arte popular brasileira, é a tarefa que estou me
propondo [...] denunciando toda essa importação de cultura”.
90
Em todos os debates e palestras que participou ao longo dos anos 70, dois discursos
eram imprescindíveis. O primeiro era a enumeração de estatísticas da invasão da cultura
estrangeira em nosso país:
No cinema, são 9.600 filmes estrangeiros contra 100 brasileiros. Na televisão são 172 filmes
estrangeiros por semana. No rádio, são 80% de músicas estrangeiras diuturnamente tocando e
emprenhando nossas crianças e nossos jovens pela orelha. Agora, nos jornais, encontramos centenas de
publicações estrangeiras de péssimo nível, nas bancas e nas livrarias, semanalmente. Toda essa massa
de consumo importada, esse lixo cultural, é sem dúvida alguma alienante (KHÉDE, op. cit., p.187).
A outra frase, que Plínio criou inicialmente para um desfile de escola de samba, é
emblemática do ideário nacional-popular que continuou dominando grande parte do meio
artístico brasileiro também na década de 70: “um povo que não ama e não preserva suas
formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre”.
Entretanto, Plínio Marcos mantinha seu interesse pelo universo marginal dos
desfavorecidos e excluídos. Quando falava de samba, futebol ou religião, era para apontar
como a comercialização das escolas de samba acabavam com os compositores do morro,
como os campinhos de várzea sumiam do mapa devorados pela especulação imobiliária ou
pelo déficit habitacional, ou para retratar na ficção pais e mães-de-santo picaretas, solidários,
enganadores ou caridosos. O dramaturgo se interessava pelos sambistas desconhecidos e
jamais gravados, pelos times de terceira divisão, pelos terreiros escondidos nas “quebradas do
mundaréu”.
89
MARCOS, Plínio. A Volta de Plínio Marcos. Folha de São Paulo, 6 fev. 1977.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/almanaque/plinio_marcos_a_volta.htm> Acesso em: 2 jul.
2005.
90
CICLO DE DEBATES DA CULTURA CONTEMPORÂNEA, 1, 1975, Rio de Janeiro. Ciclo de debates do
Teatro Casa Grande. Rio de Janeiro: Inúbia, 1976. Coleção opinião. p.51.
60
Diante do crescimento da indústria cultural no país, Plínio lutava por uma “cultura
nacional popular” que se marginalizava cada vez mais, sobre o qual ele falava:
Eu não faço arte popular. A arte popular vem de baixo. Eu faço arte popularesca. Eu vejo assim: eu não
moro em favela, nem vivo com o povão. Existem quatro tipos de cultura. A cultura erudita, que é esta
que vocês aprendem na faculdade. A cultura de massa, que é esta bosta que destrói tudo: a televisão, o
rádio, essas coisas todas. A cultura popularesca, que é essa que a gente faz. E a cultura popular, que é a
do pessoal que não teve acesso à cultura. 91
Foi justamente através da sua ligação com a música popular, especialmente o samba,
que Plínio conseguiu emplacar suas duas únicas peças novas montadas entre o AI-5 e a anistia
– justamente dois musicais de sucesso de público. Balbina de Iansã foi sua primeira peça a
contar com a participação ativa de grupos musicais como o Grupo Barra Funda e o Partido
Mais Alto, que tinha músicos como Geraldo Filme, Talismã, Sílvio Modesto, Marco Aurélio
“Jangada” e Toniquinho, que o acompanhariam em muitos outros espetáculos. As músicas
dessa montagem foram gravadas em LP, em 1971. A montagem carioca de Balbina de Iansã
contou com passistas e músicos de escolas de samba como a Mangueira, Portela, Império
Serrano e Imperatriz Leopoldinense.
92
O musical Noel Rosa, O poeta da vila e seus amores, foi escrito em 1977, sob
encomenda de Osmar Rodrigues Cruz, para inaugurar a casa de espetáculos do Teatro Popular
do SESI, em São Paulo, que completava quinze anos. Com Ewerton de Castro no papel de
sambista de Vila Isabel, a peça que o próprio Plínio chamou de “roteiro”, ficou em cartaz
durante dois anos, com sucesso absoluto.
Plínio Marcos foi um importante defensor e divulgador do trabalho de sambistas das
escolas de samba de São Paulo e se tornou uma referência para o samba paulista. Sua paixão
pelo ritmo foi uma influência do pai, que desfilava em diversos blocos carnavalescos de
Santos. Como contou o amigo Carlão da Vila, “ele não tinha pedigree de compositor. Na
verdade, era um folião, assim como eu”. Como verdadeiro folião, Plínio Marcos gravou
discos, fez shows, comandou programas de TV e fundou até blocos carnavalescos.
91
93
GROTA, Rodrigo. Um dramaturgo no calçadão. Tipos.com.br, 18 jun. 2003. Disponível em:
<http://grota.tipos.com.br/um-dramaturgo-no-calcadao>. Acesso em: 4 dez. 2005.
92
No documentário em curta-metragem Geraldo filme (dir. Carlos Cortez, 1998), sobre o músico paulista, Plínio
dá um longo depoimento.
93
Em 1974, lançou outro LP – Plínio Marcos em prosa e samba, nas quebradas do mundaréu – com os
sambistas Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro, disco considerado fundamental para
quem quer estudar o samba da cidade de São Paulo. Esse disco foi resultado de um show que Plínio já vinha
fazendo com esses e outros músicos e que, com algumas variações, recebeu diferentes nomes: Plínio Marcos e
os pagodeiros, Humor grosso e maldito das quebradas do mundaréu (1973), Deixa pra mim que eu engrosso.
61
Que país é este?
No final da década de 1970, os ventos da democracia começaram a soprar novamente.
Vivia-se a chamada abertura, com o abrandamento do regime militar. Àquela altura Plínio
Marcos ainda tinha diversas peças proibidas, enquanto outras estavam interditadas por falta de
alvará, que deveria ser renovado de três em três meses. Em 1977, por exemplo, Oswaldo
Loureiro já tinha conseguido autorização para montar Dois perdidos numa noite suja, com
Juca de Oliveira e direção de João das Neves, no teatro Opinião.
Além disso, a pressão do meio teatral aumentava com as novas proibições que
continuavam sendo feitas. No primeiro semestre de 1978, o prêmio Mambembe de melhor
autor do ano anterior foi oferecido a Aldo Leite, Chico Buarque, Paulo Pontes, Gianfrancesco
Guarnieri, João das Neves e Plínio Marcos – todos os finalistas – “símbolos de uma
dramaturgia de resistência”. Uma semana mais tarde, os críticos se recusaram a conferir o
Molière de melhor autor de 1977 por se verem prejudicados de terem acesso à dramaturgia
pela proibição de obras antigas e pelo confisco e interdição de novas (PACHECO, op. cit.,
p.104).
Em 13 de outubro de 1978 o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional nº.
11, que revogava o AI-5, entrando em vigor dia 1º de janeiro de 1979. Naquele mesmo mês
saiu uma primeira lista de liberações da censura que incluía, por exemplo, músicas de Chico
Buarque, como Cálice e Apesar de Você, e filmes como O país de São Saruê, de Wladimir
Carvalho.
Conforme Sábato Magaldi (2003, p.95), a abertura consolidada em 1979, liberando
peças anteriormente proibidas, propiciou um verdadeiro “Festival Plínio Marcos”. Estavam
em cartaz O poeta da vila e seus amores, sucesso de público desde 1977, uma nova
Além desses e de outros shows, nesse mesmo período Plínio tinha programas em rádios e na TV Tupi nos quais
divulgava o trabalho dos sambistas paulistas. Durante vários anos, fez a cobertura do desfile das escolas de
samba de São Paulo para jornal, rádio ou televisão. Em 1972, foi o fundador de uma das primeiras bandas
carnavalesca de São Paulo, a Banda bandalha, que saía na quinta-feira da semana anterior ao carnaval e,
também, no sábado de Aleluia. “O ponto de partida era o famoso Bar Redondo, reduto da intelectualidade na
capital, em frente ao Teatro de Arena, na área central. O batuque percorria diversas ruas e avenidas da região até
retornar ao local de início. A Bandalha acabou desfeita dois anos depois, devido a uma briga de Plínio Marcos
com o secretário de cultura da cidade. Entretanto, Carlão da Vila mobilizou outros colegas e continua até hoje
levando o ritmo pelas vias do entorno do Arena, só que agora com o nome de Banda Redonda – homenagem ao
bar que tanto freqüentaram” (BARROS, Carlos Juliano. Repórter de um tempo mau. Repórter Brasil. Arquivo.
Disponível em: <http://www.reporterbrasil.com.br/reportagens/plinio/iframe.php>. Acesso em: 5 mar. 2006).
62
montagem de Jornada de um imbecil até o entendimento, além de três peças novas do
dramaturgo.
A auto- intitulada opereta Feira livre, escrita em 1976, só foi montada em 1979, no
Teatro Opinião no Rio de Janeiro, com direção de Emiliano Queiroz e música de Cátia
França. A peça Sbb o signo da discoteque, montada em 1979, pelo Grupo Viagem,
apresentava pela primeira vez o conflito entre três personagens de classes sociais distintas: um
pintor de paredes e um casal de jovens de classe média trancados num apartamento em obras.
O espetáculo contou com a direção de Mario Masetti e os atores Herson Capri, Walter Marcos
Breda e Malú Rocha no elenco.
Mas muitos não queriam uma “distensão” tão lenta quanto a que o governo propunha.
Em meados de outubro de 1979, alguns atores se juntaram e formaram o grupo O Bando,
para, clandestinamente, montar Barrela, que completava 20 anos de proibição pela censura. A
peça estreou em dezembro, no porão do TBC, gentilmente cedido por Antônio Abujamra, seu
diretor na época. “Os ingressos eram vendidos pelo próprio elenco que, nas ruas, os ofereciam
para as pessoas. Todas as sessões, que eram realizadas às sextas- feiras, à meia- noite, lotaram.
Um êxito” (MARCOS, 1981, p.65). “Reduzindo o preço do ingresso, trabalhando diariamente
na promoção dos espetáculos, o Bando teve uma média de 350 espectadores por sessão, pois
somente ‘Barrela’ foi assistida por mais de 60.000 pessoas”.
94
As últimas barreiras iam sendo vencidas. Em abril de 1980 as peças O abajur lilás e
Barrela também foram finalmente liberadas e Plínio Marcos recebeu ainda, por unanimidade,
um voto de desagrado do governo, como forma de “desculpa” pelos prejuízos irreparáveis da
censura. A ditadura militar finalmente reconhecia, muito tardiamente, a covarde perseguição
que processara contra um dos mais talentosos dramaturgos de sua geração.
Liberada pela censura depois de mais de dez anos proibida, O Abajur Lilás, pôde,
finalmente e pela primeira vez, ser encenada ao público. Uma montagem em São Paulo foi
produzida por Antonio Fagundes e Clarisse Abujamra, e por seu papel neste espetáculo, a
atriz Walderez de Barros, sob a direção de Fauzi Arap, foi agraciada com os prêmios Molière
e Mambembe.
A Navalha na carne também voltou aos palcos, no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro,
com direção de Odilon Wagner, e um elenco de peso: Gloria Menezes, Roberto Bonfim e
Edgar Gurgel Aranha.
94
GARCIA, Clóvis. Teatro: um exemplo de como enfrentar a crise. Estado de São Paulo, São Paulo 13 fev.
1981. In: MARCOS, Plínio. Jesus-homem. São Paulo: Editora do Grêmio Politécnico, 1981.
63
O Bando, após o sucesso inicial, transferiu-se para o Teatro Taib, em São Paulo. Além
da finalmente liberada e não mais clandestina Barrela, o grupo montou também Dois
perdidos numa noite suja, Oração para um pé-de-chinelo (também encenada pela primeira
vez desde que tinha sido escrita havia mais de dez anos) e Jesus-homem (em nova versão
também inédita). Os atores de O Bando enfrentaram muitas dificuldades na distribuição de
filipetas nas ruas, reprimida pelos fiscais da prefeitura que os acusavam de sujar a cidade.
Mesmo assim, o grupo se manteve por mais de um ano, sempre com o princípio de dispensar
qualquer verba governamental e trabalhando com ingressos a preços reduzidos graças ao
trabalho de divulgação alternativa e ao sistema de cooperativa integralmente adotado pelos
artistas. Esse pioneirismo valeu ao grupo o Prêmio Mambembe de 1980, na categoria grupo,
movimento ou personalidade, pela eficiente forma de produção adotada.
No final de 1980, depois dos difíceis anos, Plínio Marcos foi novamente aclamado
pela crítica paulista, recebendo os prêmios da APCA (pelo conjunto de obras teatrais), o
Molière (prêmio especial) e o Mambembe (melhor autor).
Esse “festival Plínio Marcos” ocorrido no final da década de 70 com o abrandamento
da censura, também teve reflexos no mercado editorial, sendo lançadas em livros as peças
Dois perdidos numa noite suja (editora Global, 1978), Homens de papel (1978) e Navalha na
carne e Quando as máquinas param (editora Global, 1979), rapidamente esgotadas.
A partir da década de 80, Plínio intensificou uma atividade que já vinha exercendo,
inclusive por motivo de sobrevivência: realizar debates e palestras em faculdades e
universidades, teatros, clubes e, até, em praça pública, não só na cidade de São Paulo, mas em
inúmeras cidades do interior do mesmo Estado e do Brasil todo. Somente em 1980 chegou a
fazer 150 palestras. Em 1984, estreou um espetáculo-solo, uma espécie de palestra-show, no
Teatro Eugênio Kusnet (ex-Arena), O Palhaço Repete seu Discurso, com o qual também se
apresentaria em inúmeras cidades. Continuou por muitos anos fazendo palestras-shows para
estudantes, diversas vezes acompanhado de seu filho, o também dramaturgo Léo Lama.
Apesar do início esperançoso, a década de 1980 não foi uma década fácil para Plínio.
Durante a ditadura, o dramaturgo assumiu a linha de frente. Mesmo chegando a sentir-se
sozinho em sua posição de defesa da plena liberdade artística, sobretudo quando outros
artistas passaram a aceitar negociar com a censura, existia um inimigo em comum. Segundo
Vera Artaxo:
Com a abertura, no teatro, por exemplo, foi cada um por si. Formava-se a lei de mercado. As pessoas
começaram a conseguir patrocínios... Mas ele nunca teve essa facilidade. Sempre foi muito difícil
64
montar Plínio Marcos. Foram anos difíceis em que ele viveu exclusivamente da venda de seus livros e
mergulhou fundo no esoterismo e no tarô que, ao lado da religiosidade, eram coisas muito presentes
nele, mesmo porque seu pai já havia fundado a banca espírita em Santos e suas avós eram benzedeiras...
Isso era algo forte em seu espírito, mas na época da ditadura, ele preferiu não abordar o assunto porque
achava que seria puro escapismo e naquela época havia contra quem lutar (CONTRERAS; MAIA;
PINHEIRO, op. cit., p. 25). 95
Apesar de no final da vida Plínio passar a andar acompanhado permanentemente de
um “bastão de proteção” com uma cruz na extremidade e a falar mais abertamente de
espiritualidade e das atividades profissionais que passou a desenvolver nesse sentido
(consultas de tarô e aulas num centro teosófico), a religiosidade em sua obra não começou, de
fato, somente no que os críticos e estudiosos identificam como a segunda fase de sua carreira.
Em 1970, quando escreveu Balbina de Iansã, já estava envolvido com candomblé e umbanda.
Mesmo antes, já se interessava por esses temas, tendo escrito uma peça sobre a vida dos
orixás para a TV de Vanguarda, da TV Tupi. A própria peça Jesus-homem, de 1978, era uma
revisão de O dia virá, encenada pela primeira vez em 1967.
96
Mas foi na peça Madame Blavatsky que a espiritualidade apareceu com mais força em
seu texto. Escrita em 1985, estreou no mesmo ano no Teatro Aliança Francesa, em São Paulo,
com direção de Jorge Takla. Walderez de Barros, pelo papel principal, conquistou novamente
os prêmio Molière e Mambembe.
Em 1984, Walderez e Plínio se separaram após um casamento de 21 anos. Mãe de seus
três filhos (Léo Lama, Kiko Barros e Aninha), cabe aqui ressaltar a importância da atriz para a
vida e a carreira de Plínio, seja atuando em suas peças, datilografando seus textos (e, segundo
Plínio, consertando seus erros de português), cuidadosamente guardando e arquivando a
memória de sua obra, produzindo seus espetáculos ou, simplesmente, o apoiando nos
momentos difíceis.
Walderez chegou a comentar o peso de ser conhecida como esposa de Plínio Marcos:
“Como fazia muita peça dele e tudo, então as pessoas tinham o preconceito de achar que eu
não era atriz e estava lá trabalhando apenas porque era peça do Plínio Marcos e ele me botava
lá” (MENEZES, op. cit., p. 181). Mas o próprio Plínio não deixou de agradecer essa
dedicação e manifestar sua admiração pela “maior e mais injustiçada atriz desse país”, como
em crônica intitulada Desabafo, escrita nos difíceis anos da década de 70: “A Dereca, atriz
95
Em 1972, Plínio afirmava que, com exceção dos grandes intelectuais, “o resto aí tá realmente escapando da
realidade: A classe média toda e os intelectuais mais frágeis. Esses estão todos escapando da realidade através de
tóxicos e através do espiritismo” (KUSANO, Kazumi. Um teatro na gaveta: a arte inquieta de Plínio Marcos.
O Jornal, Rio de janeiro, 11 jan. 1972).
96
Mesmo o tarô, que começou a jogar profissionalmente nos anos 80, chegando a dar sessenta consultas mensais
na década de 90, Plínio tinha aprendido em sua juventude com os ciganos do circo ainda nos tempos de palhaço.
65
cheia de poesia, sem forma, atriz de textos sem palco, toca seu violão só para mim e espera.
Espera tranqüila, serena, os dias melhores que sabe que virão.” (CONTRERAS; MAIA;
PINHEIRO, op. cit., p.133-135).
Mesmo após a separação, Plínio sempre exigiu a presença de Walderez nas principais
montagens e espetáculos de sua autoria ou que levassem sua assinatura. Comentando a força
da “atriz mais impedida de estrear no Brasil”, Plínio afirmava que “ela é e sempre será um
exemplo e um símbolo de fé na liberdade de expressão” (MARCOS, 1996, p.116).
A partir de meados da década de oitenta, Walderez atuou novamente em outras peças
de Plínio Marcos, mas alcançou definitivamente e “sem muito alarde, sem publicidade, sem
badalação”, brilho próprio e o título de diva cult do teatro paulistano. Conquistou novamente
os prêmios Molière e Mambembe pela peça Max, em 1990, e foi redescoberta pelo grande
público se destacando em pequeno papel na novela O Rei do Gado, em 1996. Depois disso,
foi convidada para diversos outros trabalhos na Rede Globo.
97
O fato é que a obra teatral de Plínio na segunda metade dos anos 80, independente da
maior ou menor qualidade de seus textos, não alcançou a mesma repercussão que as peças
produzidas nas décadas anteriores. Balada de um palhaço, que evocava o universo do circo de
sua juventude e foi montada em 1986 no Teatro Zero Hora, em São Paulo, com Walderez de
Barros e Antônio Petrin, assim como Madame Blavatsky – sua peça anterior – não se pagaram
na bilheteria, apesar da boa recepção daqueles que as assistiram. Ainda assim, por elas Plínio
Marcos recebeu o prêmio Molière de melhor autor em 1985 e 1986.
No final da década de 80, com A mancha roxa, Plínio voltou ao universo marginal,
acrescentando o tema da AIDS no cenário de um presídio feminino. A peça foi encenada no
Teatro do Bixiga, em 1989, com muitas dificuldades. Conforme Sábato Magaldi, “se o texto
se presta a polêmicas, elas acompanham o espetáculo. O diretor e dramaturgo Léo Lama, filho
97
Na década de 70, Walderez sofreu também conseqüências profissionais por ser esposa de Plínio, como ele
afirmou: “Eu metia o pau no canal 4 que não pagava ninguém e eles se vingavam não botando a Walderez para
trabalhar” (RODA VIVA. São Paulo: TV Cultura, [1988]). Mas em 1996, com a personagem Judite, empregada
de Geremias Berdinazi (interpretado por Raul Cortez) na novela de Benedito Ruy Barbosa, Walderez de Barros
ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor atriz coadjuvante da tevê do ano e sua
carreira mudou. A participação de Walderez de Barros no cinema brasileiro, quase insignificante, também se
intensificou nos anos noventa, atuando nos longas -metragens Os Três Zuretas (dir. Cecílio Neto, 1998), Outras
Estórias (dir. Pedro Bial, 1999), Tônica Dominante (dir. Lina Chamie, 2000) e Copacabana (dir. Carla
Camurati, 2001). Em 2005 e 2006 a atriz pode ser vista num papel de destaque também na telenovela da Rede
Globo Alma Gêmeas, de Walcyr Carrasco.
66
de Plínio Marcos, a duras penas reuniu o elenco. Cerca de setenta atrizes não quiseram
participar do desempenho”.
98
Em meio à profunda recessão econômica que o Brasil atravessava durante o governo
do presidente José Sarney, Plínio Marcos admitia não ter como pagar a pensão da ex- mulher,
e cedia, no lugar, o direito de algumas de suas peças.
Numa longa entrevista no programa da TV Cultura, Roda Viva, em 1988, o
dramaturgo desabafou sobre o momento que vivia. Diante da pergunta do apresentador
Antonio Carlos Ferreira sobre o porquê de Plínio Marcos, figura de destaque na luta contra a
censura, no momento de maior liberdade de expressão ter sumido do panorama cultural, o
dramaturgo respondeu que enfrentava um inimigo que não era mais a polícia federal, mas a
mídia. Plínio afirmava ser marginalizado pela imprensa, por não ser mais considerado
“notícia”. Mesmo que Sábato Magaldi escrevesse um longo artigo no jornal sobre Dois
perdidos numa noite suja, as últimas peças de Plínio eram esnobados pelos jornais que não
publicavam críticas nem reportagens sobre ela:
Eu não sou inimigo da imprensa. A imprensa é inimiga do povo. Pois o compromisso do jornalista devia
ser com a notícia. Então, por exemplo, um autor que nem eu, que passa lutando contra a ditadura
militar, e quando vem o período de abertura, faço uma peça como a Blavatsky, dou entrevista para
jornal da Polônia, para jornal da Alemanha, mas não dou uma entrevista no Brasil. [...] Ninguém veio
me perguntar o que aconteceu nesses sete anos e por que de repente eu tinha aparecido com uma peça
mística. Isto o que é? No meu entendimento, é censura. [...] Quando você põe nos tijolinhos, no roteiro
de espetáculos, um espetáculo e não põe o outro... Então, se você põe, por exemp lo, o meu show e não
põe o do Ari Toledo. Evidentemente que estão censurando o Ari Toledo. Agora, se põe o dele e não põe
o meu, estão me censurando. E, vira e mexe, o meu não sai. Eu ligo para o Boris Casoy, ele acha um
absurdo e mandar pôr. Aí, dois dias depois, já não sai. [...]. Um cara que faz teatro alternativo como eu,
não pode pôr anúncio. Tenho que viver daqueles serviços que a imprensa devia prestar ao público
(RODA VIVA. São Paulo: TV Cultura, [1988]).
Analisando a carreira de Plínio Marcos, é interessante notar também que a partir de
meados dos anos 80, o dramaturgo foi sendo identificado cada vez mais como uma figura
“paulistana”. Reduzido seu espaço de ação, outrora nacional, sua atuação passou a estar ligada
essencialmente a sua presença física, fosse fazendo palestras, vendendo pessoalmente seus
livros ou participando de eventos.
98
99
MAGALDI, Sábato. A Mancha Roxa. Disponível em: <http://www.pliniomarcos.com/teatro/mancharoxa ensaio-sabato.htm>. Acesso em: 9 mar. 2006.
99
Sobre a venda de livros editados às próprias custas, Plínio afirmava que enquanto suas obras lançadas pelas
editoras tinham tiragens de 5 mil exemplares, com distribuição precária fora das capitais, sozinho ele conseguia
vender em cada cidades que visitava para fazer palestras, de 30 até 100 exemplares por vez. Desse modo, dizia
vender até 15 ou 20 mil exemplares por ano. Plínio brincava: “o escritor é ruim, mas o camelô é bom”.
67
Nesta espécie de guerrilha cultural, Plínio acabou se tornando uma figura folclórica
das ruas de São Paulo. Conforme o cineasta Carlos Cortez, que conheceu o dramaturgo nessa
época, “o Plínio era uma figura aqui de São Paulo que todo mundo conhecia. Se você sair na
rua e falar do Plínio, todo mundo vai ter uma história para te contar. [...] O Plínio era muito
acessível. Todo mundo em São Paulo já cruzou com o Plínio na rua. O Plínio já vendeu um
livro, já cruzou com Plínio num restaurante, na porta do teatro, na porta do cinema”.
100
Do mesmo modo, nos anos noventa, o escritor Marcelo Rubens Paiva, ao entrevistar
Plínio, foi encontrá- lo para jantar, obviamente, no Gigetto, e contou o episódio: “Na saída,
uma mulher me pergunta se eu não sou o autor de... Respondo que sim e apresento a ela ‘o
grande Plínio Marcos’. ‘Eu sei. Esse aí nós vemos sempre’, ela diz”.
101
Além disso, São Paulo conseguiu desenvolver desde os anos 70, paralelamente ao
teatro mais assumidamente comercial, um teatro alternativo, de maior pesquisa formal e
investigação. Foi a esse espaço que Plínio passou a ficar restrito a partir de meados da década
de 80, enquanto o Rio de Janeiro, por exemplo, vivia o boom do chamado besteirol.
Mas nos anos 90, Plínio Marcos seria, de uma maneira ou de outra, “redescoberto”,
sobretudo por seus primeiros textos e a partir de 1992 voltou a ser bastante encenado em São
Paulo. A peça Dois perdidos numa noite suja foi montada com sucesso por Emílio di Biasi,
enquanto o grupo Tapa levou Querô aos palcos pela primeira vez desde que sua versão para o
teatro foi escrita em 1979. Com direção de Eduardo Tolentino, a peça valeu a Plínio Marcos a
primeira premiação depois de alguns anos: o Prêmio Shell de melhor autor de 1993. Segundo
Walderez de Barros:
Na década de 80, o Plínio manteve sua coerência enquanto grande parte das pessoas foi procurar sua
turma, cuidar da vida achando que tudo já estava melhor e tal. Ninguém se interessava por alguém que
continuava denunciando, lutando e falando. A década de 1980 foi a década dos yuppies e esse tipo de
pessoa não está interessada em Plínio Marcos. Já na década de 1990 começaram a se interessar
novamente porque viram que a coisa continuava de mal a pior (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op.
cit., p. 24-25).
Nesse período, outras montagens também levaram a assinatura de Plínio Marcos. O
homem do caminho, publicado como um dos contos do livro O truque dos espelhos, foi
transformado em um monólogo levado aos palcos em 1996 com Cláudio Mamberti, dirigido
pelo irmão Sérgio Mamberti. Em 1991 o ator Cacá Carvalho também já tinha transformado o
100
Entrevista realizada para este trabalho, em 22 jan. 2005.
PAIVA, Marcelo Rubens. Fui um repórter dos temos que vivemos. Folha de São Paulo, São Paulo, p.4-5, 12
dez. 1996.
101
68
conto Inútil canto e inútil pranto para os anjos caídos em Osasco num espetáculo intitulado
Vinte e cinco homens.
Depois de anos editando seus próprios textos sob a forma de pequenos livros de bolso,
Plínio viu novamente o interesse em suas obras ganhar corpo quando a Editora Maltese
publicou em 1992 uma bela edição contendo três de suas mais famosas peças – Barrela, Dois
perdidos numa noite suja e O abajur lilás – num volume intitulado Teatro Maldito.
Diante dessa nova redescoberta, Plínio Marcos voltou a escrever para teatro, embora
seus textos tenham mais uma vez enfrentado diversas dificuldades para chegar ao palco. A
dança final, escrita em 1993, representou uma mudança temática em sua obra. Auto
intitulando-se uma comédia, apesar de seus contornos dramáticos, abordava a vida de um
casal de classe média alta refletindo sobre seu relacionamento após vinte e cinco anos de
casamento. A dança final foi publicada como livro pela Editora Maltese em 1994, mas só
debutou nos palcos em 2002, três anos após a morte de Plínio, em montagem dirigida por
Kiko Jaess, no teatro Itália, em São Paulo.
A peça O Assassinato do anão do caralho grande, inclusive pelo seu título, também
enfrentou dificuldades para ser encenada. Assim como Querô, tratava-se de uma novela que
ganhou versão teatral, narrando uma história em tons policiais passada no universo do
circo. 102
A última peça escrita por Plínio, O bote da loba, de 1997, permanece inédita até hoje.
Em relação a sua produção jornalística, Plínio também perdeu espaço em diversos
veículos de comunicação. Mesmo escrevendo para grandes revistas como Veja ou Placar,
também foi ativo na chamada “imprensa nanica”, colaborando para os jornais Opinião,
Pasquim e Versus. Na década de 80 chegou a assinar a coluna “Berrando da Geral” na Folha
de São Paulo, mas depois passou apenas a fazer colaborações esporádicas. O Jornal da orla,
semanário de Santos, e Caros amigos, opções alternativas no mercado editorial, foram os
últimos veículos em que Plínio colaborou como cronista.
Curiosamente, os momentos de retorno de Plínio Marcos às manchetes ao longo dos
anos 90 coincidiram, em geral, com o lançamento das novas adaptações cinematográficas de
suas peças. O filme Barrela, finalizado em 1990, foi lançado comercialmente somente em
1994. Naquele ano era anunciada também a estréia da inédita A dança final (o que acabou não
102
O assassinato do anão do caralho grande, novela e peça, foram publicadas como livro pela Geração Editorial
em 1996. Entretanto, na capa desta edição só se pode ler como título O assassinato do anão. A continuação – do
caralho grande – só é visível aberta a contracapa.
69
ocorrendo), além de uma nova montagem de Navalha na carne, no Rio de Janeiro, com
direção de Marcus Alvisi e os atores “globais” Diogo Vilela e Louise Cardoso no elenco. Os
jornais estampavam novamente o rosto de Plínio Marcos nas páginas principais com
manchetes como “Maldito em alta”.
Mas Plínio era redescoberto pelo seu passado. No presente, como sempre, o autor
maldito não era alguém tão fácil de ser transformado em unanimidade, apesar das tentativas.
Ou seja, ao mesmo tempo em que suas peças então recentes eram consideradas como uma
diluição de sua obra anterior – um jornalista afirmou: “O poeta dos miseráveis se transformou
no bufão dos miseráveis”
103
– e mesmo assim ignoradas por serem incômodas, o teatro da
primeira fase da carreira de Plínio Marcos, já considerado “clássico”, era redescoberto,
sobretudo pela violência (com toda sua atualidade), mas principalmente pelos sentimentos
universais de solidão, angústia e desamparo.
Ao mesmo tempo, Plínio Marcos, avesso às badalações, não era um personagem nem
um pouco glamouroso. Na verdade, o dramaturgo era descrito geralmente como uma figura
“quase mendiga”, de bermuda velha e suja, sandálias havaianas, com alguns dentes faltando
na boca e “o barrigão a saltar à frente de seus passos lerdos”.
104
No auge de sua fama ou em meio ao ostracismo, Plínio não exercitou uma vocação
para estrela ou celebridade. Fiel aos seus princípios e postura, mantinha sua postura antielitista. Radical e consciente de suas ações, o dramaturgo calçava seus chinelos de dedos para
ser entrevistado por Pedro Bial na Rede Globo, ou ia com uma camisa ostensivamente furada
participar do programa Roda Viva. No reino das aparências, o dramaturgo também se
destacava, embora sem se “corromper” – afirmando com orgulho jamais ter feito propaganda
ou anúncio publicitário para qualquer produto – nem se iludir. Em 1994, disse ter sido
convidado para trabalhar em duas minisséries da Rede Globo (A madona de cedro e Incidente
em Antares), “mas recusei porque não gosto mesmo de trabalhar, pôr terno e gravata, calçar
sapato, só se a grana for muito boa, e nos dois casos não era”.
105
Já reconhecido como um dos maiores autores do teatro brasileiro, no começo dos anos
noventa Plínio morava numa minúscula quitinete no 22º andar do enorme edifício Copan, na
Avenida Ipiranga, coração de São Paulo, e continuava com seu trabalho de camelô da cultura.
“Vendo meus livros apenas às sextas-feiras, sábados e domingos, senão vira trabalho”, dizia.
103
LUIZ, Macksen. O bufão dos miseráveis. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 mai. 1994.
INDIGNAÇÃO calada: Morre Plínio Marcos, a voz mais contundente do teatro brasileiro. Isto é, São Paulo,
n.1572, 24 nov. 1999.
105
CÔMODO, Roberto. O afiado anarquista do ócio. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 mai. 1994.
104
70
Além de sua peregrinação costumeira nas portas de teatros, cinemas e restaurantes, Plínio
continuava sobrevivendo das consultas de tarô, além de cursos sobre “o uso mágico da
palavra”.
A questão financeira também é algo importante a ser abordado na vida e obra de Plínio
Marcos. Em diversas entrevistas ele afirmou: “O teatro me deu muito dinheiro. Mas torrei”
106
. De fato, no final da década de 60, no auge de sua carreira, com suas peças sendo montadas
no Brasil inteiro, o dramaturgo ganhava uma pequena fortuna por mês. Diante do dilema da
possibilidade de enriquecer graças aos seus textos sobre os miseráveis, afirmava em 1968:
“Continuo um revoltado. O dinheiro não me corrompeu. Faço questão absoluta de gastar tudo
que ganho. Do jeito que der para gastar, eu gasto”.
107
Mas nos anos 90 ele lamentaria sua situação e acusaria os responsáveis: “Depois de
escrever 40 peças de teatro queria poder viver só de direitos autorais [...] Em São Paulo, a
SBAT ainda funciona, mas na sede carioca é muita bagunça e caso de polícia. Tenho peças
encenadas no mundo todo e até hoje nunca chega nenhuma grana”.
108
Muitas pessoas que foram apresentadas ao dramaturgo tiveram a impressão de um
Plínio Marcos grosseiro, rude, muitas vezes preocupado exclusivamente com dinheiro. De
fato, os amigos mais próximos falam de um homem genioso, impulsivo, radical e apaixonado
em suas opiniões. Mas o maldito também era conhecido por sua solidariedade, muitas vezes
não retribuída, e por seu desapego material.
Ainda no começo de carreira, o dramaturgo cedeu, no auge do sucesso, os direitos da
peça Navalha na carne, em São Paulo, a um ator – Jesus Padilha, recém saído da EAD – que
tinha sofrido um derrame cerebral em pleno palco e que precisava viajar para fazer um
tratamento. Plínio, que sequer conhecia direito Padilha, se justificava dizendo que devia à
mobilização da classe teatral a liberação da peça.
109
Na mesma época, a apresentação de Dois
perdidos numa noite suja no teatro Coliseu, que resultou em sua prisão em 1969, tinha a
renda destinada aos familiares de vítimas da ditadura. Ao final da vida, Plínio Marcos já tinha
doado os direitos de grande parte de suas peças (seus bens mais preciosos) para os filhos,
netos e para o enteado, Thiago Artaxo Netto.
106
PAIVA, Marcelo Rubens. Fui um repórter dos temos que vivemos. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 dez.
1996.
107
UM AUTOR revoltado mesmo com dinheiro. A Gazeta, São Paulo, 13 nov. 1968.
108
CÔMODO, Roberto. O afiado anarquista do ócio. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 mai. 1994. Caderno B,
p.1.
109
FREIRE, Roberto. Sou o analfabeto mais premiado do país. [São Paulo: s.n.], [1970].
71
O dramaturgo costumava repetir o ensinamento que escutara nas trilhas dos
saltimbancos e em quarenta anos de andanças: “jamais se prenda a nada”.
Além disso, embora lamentasse seus prejuízos ou injustiças, Plínio, orgulhoso, não
costumava incorporar o papel de vítima. Sobre a perseguição da censura, dizia: “Perseguido o
caralho. Eu não sou nenhuma mosca- morta. Eu fiz por merecer. Fui uma pessoa que
aproveitou bem a fama. Eu apedrejei carro de governador, quebrei vidraça de banco. Foi uma
farra. Não teve mau tempo”. 110
Em relação a questões financeiras, também era movida por questões práticas e
imediatas. Nos momentos de dificuldade, não reclamava de trabalhar como nas ruas vendendo
seus livros quando era necessário. Por outro lado, seu filho Kiko Barros, quando perguntado
se o trabalho de camelô cultural de Plínio rendia algum dinheiro a ele, respondeu
categoricamente: “ele pagou a minha faculdade dessa forma”.
111
Mas no fim de carreira, novamente em voga, Plínio Marcos exigia seus direitos com o
renovado interesse por suas peças, o que levou a ser mal visto em algumas circunstâncias:
“Só que todo mundo fica querendo montar "Dois Perdidos" sem pagar direitos autorais; me ligam
insistindo, achando que fico lisonjeado de ser escolhido. Não deixo, não deixo mesmo. [...] Tive que dar
um breque nessa folga teatral. Minhas peças são meu ganha-pão. Ademais, quando a censura me proibiu
de trabalhar, proibiu a montagem de qualquer uma das minhas 20 peças, eu fiquei no ora-veja e
ninguém me socorreu. Claro que considerei que são coisas da vida e não fiquei choramingando; fui
vender meus livros na rua. E agora as pessoas vêm choramingando nas minhas orelhas, na base do
somos amadores e tal e coisa, não vamos ter lucro, é só arte e coisas e loisas. Eu argumento que não vou
ficar andando a pé pra eles se bandearem de carro pra lá e pra cá, montando "Dois Perdidos" de graça.
Pergunto se me emprestam o carro deles por um tempo, já que eles me pedem a peça emprestada por
um tempo...” 112
Talvez sua postura seja compreensível para quem viveu por mais de vinte anos uma
situação dramática, isolado profissionalmente. Em 1975, chegou a justificar aos jornais sua
opção pela realização de palestras pagas Brasil afora: “Eu estou desempregado. Fui despedido
do jornal, minhas peças estão proibidas – todas – e não tenho acesso à televisão, porque
contesto a forma mesquinha como eles vêm aniquilando a nossa cultura. Por isso sou
obrigado a cobrar para falar aos jovens”.
110
113
SÁ, Nelson de. Saído do circo, autor encenou “lixo social”. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 nov. 1999.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/almanaque/plinio_marcos_saido_do_circo.htm>. Acesso
em: 30 jun. 2005.
111
BARROS, Carlos Juliano. Repórter de um tempo mau. Repórter Brasil, mar. 2003. Disponível em:
<http://www.reporterbrasil.com.br/reportagens/plinio/iframe.php#>. Acesso em: 18 jun. 2005.
112
MARCOS, Plínio. Encontraram Dois perdidos. [s.l. : s.n.], 11 jul. 1999. Disponível em:
<http://www.bethynha.com.br/dois -perdidos.htm>. Acesso em: 18 jun. 2005.
113
PLÍNIO na defesa da cultura popular. A Tribuna, Santos, 28 set. 1975.
72
Sobre a falta de solidariedade que Plínio Marcos sofreu muitas vezes em sua carreira,
é exemplar o caso que ocorreu em uma das vezes que esteve preso. Uma comissão do
Sindicato dos Jornalistas apareceu na Polícia Federal para visitar o cronista Lourenço Diaféria
enquanto Plínio estava sendo interrogado. Os jornalistas perguntaram ao delegado se podiam
visitar Lourenço e ignoraram Plínio, que, inclusive, pediu para ir junto à visita ao colega. A
comissão foi embora e o dramaturgo voltou para o interrogatório:
“Até o delegado se admirou pelo fato de a comissão não se interessar pelo meu caso. Eu expliquei com
sinceridade:
_ Sabe como é, ele são do Sindicato dos Jornalistas e eu não sou jornalista. O Ministério do trabalho não
me reconhece como jornalista. E o sindicato cuida dos sindicalizados”. 114
Sem diploma de jornalista, Plínio jamais conseguiu tirar o registro profissional e desde
a criação da lei de regulamentação da profissão, em 1969, a pressão dos sindicatos sobre as
redações pela reserva de mercado para os jornalistas era muito forte.
Mas Plínio Marcos também conheceu a falta de solidariedade e o corporativismo no
próprio meio teatral desde muito cedo. Em 1965, logo após o golpe militar, o dramaturgo,
ainda pouco conhecido em São Paulo, ensaiava Reportagem de um tempo mau quando
quatorze peças foram proibidas, incluindo a sua. Segundo Plínio, a atriz Tônia Carrero teria
falado com o então presidente Castelo Branco e “dobrado” o homem, que pediu um ofício
solicitando a liberação das peças.
“Teve uma reunião no teatro Oficina. Nossos coleguinhas – que infelizes! – fizeram a listagem de doze
peças, excluindo a minha e a do César Vieira. Alegaram que eu o César éramos desconhecidos. Os
censores, segundo os coleguinhas, iriam com certeza afirmar que eu o César só havíamos escrito para
sermos proibidos e aparecermos. Pode? Pode. Todas as doze peças foram liberadas. As duas fora da
lista, a minha e a do César, permaneceram proibidas” (MARCOS, 1996, p.98-99).
Mas o “autor maldito”, quando precisou, também contou muitas vezes ao longo de sua
vida com a ajuda de amigos, como de José Elias, um dos proprietários do restaurante Gigetto,
no centro de São Paulo, onde Plínio Marcos jantou diariamente por cortesia da casa durante
anos. Elias contou que Plínio, na fase mais difícil de sua carreira, ia de mesa em mesa vender
seus livros e alguns clientes começaram a reclamar. Abordado pelo dono do restaurante, o
dramaturgo teria respondido:
“Elias, seu eu não vender meus livros eu não posso comer, não posso almoçar nem jantar.’ Foi aí que eu
disse: ‘Olha, Plínio, se depender disso, você pode vir almoçar e jantar todos os dias aqui sem pagar
114
MARCOS, Plínio. Diário da Noite, 11 dez. 1978 (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.146-147).
73
nada.’ Isso eu fiz pela amizade, respeito e admiração que tinha por ele. E ele ficou comendo aqui por
mais de vinte anos.” (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.71)
No Gigetto, Plínio também foi homenageado, dando seu nome a um prato que tinha criado:
“galinha à Plínio Marcos”.
115
Mesmo nos momentos de sucesso, Plínio não esquecia de agradecer à solidariedade
dos outros, como fez no texto do programa de Balbina de Iansã, em 1971, ao amigo Bucka:
“[Ele] me emprestou seu ordenado para eu pagar o aluguel da minha casa e montar ‘Dois
Perdidos’ sossegado. Me lembro da frase dele: ‘Eu vou ficar duro e sei que tu não vai pagar
nunca, mas vou te emprestar. Toma lá’. O dinheiro demorou mas eu devolvi, o favor é que eu
não vou poder pagar jamais”.
Mas se a redescoberta de Plínio e de sua obra nos anos 90 transformou o autor
novamente numa figura folclórica – mas nem por isso mais palatável –, o “maldito”, assim
como nas décadas anteriores, continuou tendo problemas para divulgar sua obra. Numa
entrevista contou as dificuldades, por exemplo, de encontrar seus livros em livrarias. Numa
ocasião decidiu discutir com a vendedora: “‘Não tem livro meu aqui? Ela chamou o Pedro
Hertz, dono da livraria, ele disse: ‘Porra, os editores não dão seu livro aqui, você mesmo que
quer vender’. Falei: ‘Não é que eu mesmo quero vender, eles falam que põem e você é que
não pega”.
116
Seu teatro não deixou também de enfrentar problemas. Em 1997, a peça O assassinato
do anão do caralho grande, mesmo com agendamento e pagamento adiantado, não pôde ser
encenada no Teatro Municipal de Santos (sua cidade natal), por ser considerada inadequada
para apresentação pela Secretaria de Cultura. O espetáculo, então, teve que ser transferido
para o Teatro do SESC-Santos, onde foi apresentado com sucesso.
Outras peças, como A dança final, não tiveram a mesma sorte:
“Agora, eu, há muito tempo não monto uma peça, e pensa que eu não escrevo? Por exemplo, escrevi
uma peça chamada A dança final. No mesmo dia em que acabei de ler pros meus amigos, vendi para um
editor que não arranjou nenhuma livraria para pôr. Vendi pra um cineasta chamado Francarlo, que ficou
um ano com a peça, não conseguiu montar, não conseguiu patrocínio, vendeu pro Johnny Herbert, que
ficou mais um ano. Aí peguei a peça outra vez, veio tudo pra minha mão, vendi pro Juca de Oliveira,
um artista do sistema, ficou mais um ano, não conseguiu vender pra ninguém, não conseguiu patrocínio
pra encenar. Então eu não entro nessa cultura”. 117
115
O restaurante Mattos, na Praça Roosevelt, era outro lugar onde Plínio tinha crédito ilimitado.
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 40, set. 1997. Entrevista concedida aos
redatores da revista.
117
MARCOS, Plínio. O Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 36-37, set. 1997. Entrevista concedida
aos redatores da revista.
116
74
Mesmo no cinema o nome de Plínio ainda não era facilmente encarado. Recentemente
Carlos Cortêz contou das dificuldades de captar recursos para o projeto de adaptação de
Querô para o cinema, em exemplo da censura econômica que ainda cruzava o caminho do
autor maldito. Durante a procura por investidores, o cineasta falou da reação das pessoas ao
tomarem conhecimento de quem era o autor do romance no qual o filme seria baseado: “Um
carinha honesto, um carinha [de uma empresa] falou: tudo bem, ‘tô a fim de botar uma
graninha no cinema. Mas, pô? Plínio? Os caras vão querer me mandar embora. Os caras vão
dizer: qual que é? Quer a marca da nossa empresa nessas coisas?”.
Mas em 1997, novamente acompanhando sua presença no cinema brasileiro, Plínio
voltou a ter destaque com o lançamento da super-produção Navalha na carne, de Neville
D’Almeida, maior lançamento nacional daquele ano. Já contando com o “afeto generoso e a
lucidez pragmática” da jornalista Vera Artaxo, sua última companheira, com ela mudou-se
para uma ampla moradia de 200 metros quadrados, em Higienópolis (na mesma rua onde
morava o então presidente Fernando Henrique Cardoso). Não faltou quem o acusasse de ter se
vendido, mas Plínio mantinha sua coerência (e até sua teimosia), recusando-se, por exemplo, a
abrir, pela primeira vez, uma conta num banco.
Inadvertidamente, Plínio tornava-se uma unanimidade e passou a ser constantemente
entrevistado pelos mesmos jornais e canais de televisão que, anos antes, o tinham demitido ou
recusado seu trabalho. Em 1996, participou do CNT Jornal, da TV Manchete, respondendo a
perguntas dos telespectadores e comentando fatos da semana. Tomando frente de um grande
projeto, a Fundação Nacional de Arte (Funarte), orgão do governo federal, adquiriu os direitos
para publicar suas obras completas no ano em que Plínio completaria 40 anos de
dramaturgia. 118
118
Em 1997 a Funarte, através de seu presidente, o escritor Márcio Souza, aprovou o projeto de publicação das
obras completas de Plínio Marcos, que incluía, além de vinte peças de teatro, três musicais e cinco mini-peças,
um trabalho de pesquisa para contextualização de cada um dos textos escritos. Foi o maior adiantamento de
direitos autorais já pago no Brasil: R$ 100 mil reais pelos direitos de publicação por dez anos. Outros R$ 30 mil
seriam pagos posteriormente para o trabalho de reportagem que Vera Artaxo faria. O objetivo era lançar a obra
em 1998, quando o dramaturgo completaria 40 anos de carreira. Foi com esse dinheiro – além do fundo de
garantia de Vera –, que o casal comprou a casa em Higienópolis onde Plínio viveu seus últimos anos de vida.
Pela lei, as obras completas deveriam começar a ser publicadas em no máximo três anos (até 2000). Souza
deixou o cargo no final de 2002 sem ter publicado nada, com exceção da edição em francês de Dois perdidos
numa noite suja. Antes de morrer, Plínio cobrava uma posição do órgão, mas suas ligações sequer eram
atendidas pelo gabinete. Em 2002, a Funarte deu autorização e cedeu gratuitamente os direitos de cinco peças
para a Editora Global que as publicou numa edição da coleção Melhor Teatro. Antonio Grassi, que assumiu a
presidência da Funarte em 2003, prometeu investigar o caso e lutar na justiça para reaver os direitos e apurar o
ocorrido. Até 2006 não foi dada nenhuma notícia dessa questão e as demais obras de Plínio, cujas edições
anteriores estão todas esgotadas, ainda aguardam um relançamento.
75
O próprio órgão federal editou uma versão em francês de Dois perdidos numa noite
suja , publicação lançada no 18º Salão do Livro em Paris, em 1998, para o qual o dramaturgo
foi convidado. Para ir à França, tirou seu primeiro passaporte para, pela primeira vez na vida,
sair do Brasil.
Plínio Marcos jamais tinha viajado para fora do país. No auge da ditadura, quando
quase todas suas peças estavam proibidas pela censura, o dramaturgo não partiu para o exílio,
mesmo recebendo inúmeros pedidos para montar e traduzir suas peças fora do Brasil: “Eu, por
essa luz que me ilumina, nem estou aí. Deixo pra lá. O que pesa na balança e o que eu sempre
quis ser foi um autor brasileiro no Brasil. Era só isso que eu queria ser”, escreveu em 1974.
Mesmo quando a perseguição do regime militar chegou às raias do absurdo – Augusto
Boal sendo preso, torturado e partindo para o exílio em 1971, o mesmo acontecendo com Zé
Celso três anos depois – Plínio Marcos continuava no Brasil. Afinal, mesmo antes do AI-5 o
dramaturgo não tinha desfrutado das duas passagens para a Europa que ganhara a dupla
premiação do Molière de 1967: “Me dizem sempre: se arranca. Cuida das tuas peças lá fora.
Mas eu não me embalo. Nasci para ser quem eu sou, onde estou e não seria mais eu longe
daqui. Gosto daqui”.
119
No final da vida, Plínio recebia reconhecimento nacional e internacional. Em 1997, o
dramaturgo comentou numa crônica chamada Encontraram dois perdidos sua redescoberta e
o consagração alcançada depois de anos de carreira:
Fiquei a vida inteira sem poder sair do Brasil. De repente, descobriram ‘Dois perdidos numa noite suja’.
É França, Portugal... Começaram a ler minha peça mexe e vira. Vira e mexe vem alguém querendo ler
ou montar ‘Dois Perdidos’. Aliás, segundo dados da década passada, é a terceira peça mais montada no
Brasil: a primeira é ‘As mãos de Eurídice’, um monólogo do Pedro Bloch que sempre deu muito
dinheiro e foi o grande sucesso de Rodolfo Maier; a segunda, ‘Deus lhe Pague’, do Joracy Camargo,
eterno sucesso com Procópio Ferreira e sua companhia. As duas são bem antigas e já não têm sido
montadas, salvo a segunda, agora, pelas comemorações em torno do grande Procópio. Além de ser mais
recente (da década de 60), ‘Dois Perdidos’ ficou proibida pela censura por 20 anos. Considerando tudo
isso, é bem provável que a posição de "Dois Perdidos" no ranking seja ainda mais honrosa... 120
Àquela altura, Plínio, com mais de sessenta anos, já não ia mais para porta de teatros e
restaurantes vender seus livros. “Agora não dá mais, o pé não ajuda. Foram mais de 20 anos
trabalhando na noite. Claro que no início foi porque eu precisava e depois porque me
acomodei, era muito mais fácil vender assim”.
119
121
MARCOS, Plínio. A freguesia internacional. Ultima Hora, São Paulo, 17 out. 74.
MARCOS, Plínio. Encontraram Dois perdidos. [s.l. : s.n.], 11 jul. 1999. Disponível em:
<http://www.bethynha.com.br/dois -perdidos.htm>. Acesso em: 18 jun. 2005.
121
CARDOSO, Ivani. Meu trabalho é atual, o país não evoluiu. A Ttribuna, Santos, 13 mar. 1997.
120
76
E o autor maldito continuou e continua sendo redescoberto, mesmo e até mais após
sua morte. Em 2003, José Joffily lançou sua adaptação para o cinema de Dois perdidos numa
noite suja. O cineasta Carlos Cortez já filmou Querô, com previsão de lançamento no
segundo semestre de 2006. O diretor teatral Tanah Correia tenta captar recursos para adaptar
O truque dos espelhos para o cinema. Nos últimos anos, mesmo continuando o impasse com a
Funarte em relação à edição de suas obras completas, ainda assim foram relançadas em livro
diversas obras de Plínio Marcos: uma edição da coleção melhor teatro com cinco peças suas
(Global Editora, 2003), além de Nas quebradas do mundaréu (Editora de Cultura, 2004) e
uma versão fac-símile da encenação fotográfica de Navalha na carne de 1968 (Azougue
Editorial, 2005).
Em relação ao teatro, sua presença é ainda maior. Segundo dados do SBAT, em 2004,
atrás apenas de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos foi o autor mais encenado no país.
122
Além
de novas montagens dos “clássicos” Barrela, Dois perdidos numa noite suja e Navalha na
carne, seus outros textos vêm sendo redescobertos. Em 2006 uma nova montagem de Oração
para um pé-de-chinelo, dirigida por Alexandre Reinecke, conquistou o prêmio Shell de
melhor ator (Norival Rizzo) e atriz (Denise Weinberg, também premiada pela APCA).
Também em 2006 e também em São Paulo, a peça Sob o signo da discoteque recebeu sua
segunda montagem depois de 27 anos de sua estréia nos palcos, agora intitulada Balada –
tinta branca em parede suja, com direção do mesmo Mario Masetti da primeira montagem.
A morte alcançou Plínio Marcos quando o Brasil parecia finalmente se render
definitivamente ao seu talento. O grande dramaturgo já tinha sofrido um enfarto em 1985, aos
50 anos, sendo obrigado a implantar três pontes de safena no coração. Anos depois sofreu um
acidente vascular que atingiu suas pernas. Em agosto de 1999, foi internado com problemas
decorrentes da diabete, além de isquemia cerebral. Recebeu alta e em setembro ainda
participou do lançamento do livro de contos O truque dos espelhos (Una Editoria). Mas em
outubro deu entrada novamente no hospital, em decorrência de um acidente cardiovascular.
Após 27 dias internado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, Plínio Marcos faleceu,
em 19 de novembro de 1999, por falência múltipla dos órgãos. Seu corpo foi cremado e suas
cinzas jogadas no mar de Santos, na Ponta da Praia, onde morou com sua família.
Plínio, ao longo da vida, tratou a morte com a mesma irreverência que dedicava a
todos os assuntos. Ao vender seus livros na rua prometia ao comprador morrer logo para
122
OLIVEIRA, Roberta. Olha Nelson e Plínio aí mais uma vez: Autores malditos não saem de cena e têm
‘Barrela’ e ‘Boca de ouro’ abrindo a temporada de 2004. O Globo, Rio de Janeiro, 4 mar. 2004. Caderno B, p.2.
77
valorizar o autógrafo, ou afirmava ainda: “Eu sou um escritor imortal, não da Academia
Brasileira de Letras, mas porque não tenho onde cair morto.” Muitos dizeres de Plínio (que
era também um grande frasista) revelaram-se proféticas após sua morte. O que provavelmente
nunca imaginou é que algo que uma vez falou sobre Nelson Rodrigues – de quem desfrutou
amizade e admiração mútua – acabaria se aplicando também a ele próprio. O autor maldito
disse do anjo pornográfico: “Quando era vivo, o Nelson Rodrigues tinha que correr atrás do
dinheiro. Agora, morto, tudo o que leva o seu nome vira ouro”. Plínio Marcos, hoje, dá seu
nome a inúmeros teatros, centros culturais, bibliotecas e prêmios no Brasil inteiro, e suas
peças continuam sendo montadas em todo o país.
Quando Barrela foi finalmente liberada pela censura e pôde ganhar os palcos e as
páginas, Plínio escreveu:
“Vinte e um anos depois de ser escrita, a Barrela vai à cena como se tivesse sido escrita ontem. Ela
ainda vale. Lamentavelmente, essa peça-reportagem que, se chega com alguma poesia ao público, é pelo
que os atores emprestam a ela, ainda vale. Retratava a realidade dos presídios há vinte e um anos e
ainda tem validade. Uma pena. Pena, porque os méritos não cabem à peça. É tudo culpa do país que não
evoluiu nem um pouco esses anos todos. E, se continuarmos desse jeito, essa peça vira um clássico”
(MARCOS, 1981, p.75).
Em 2006, 25 anos depois de Plínio Marcos ter escrito essas linhas (e 48 anos depois de
ter escrito a peça), podemos afirmar que ele foi profético. Barrela realmente virou um
clássico. Trata-se, então, de um desafio tentar perceber quais são os elementos que tornam
Barrela e outras peças de Plínio Marcos tão singulares e marcantes.
Histórias das quebradas do mundaréu
Ao falar da obra de Plínio Marcos, é difícil separar sua produção teatral – consagrada e
mais conhecida – de todos os demais textos que escreveu, como crônicas, contos, poesias,
romances, reportagens e argumentos para filmes, novelas e programas de TV. Essa separação
é suspeita, antes de tudo, porque muitas de suas histórias migraram de um formato para outro,
indo, por exemplo, da prosa literária ou da crônica jornalística para o texto dramático e viceversa. Conforme Edelcio Mostaço (In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, 2002, p.10), em
autores de produção profícua e multiexpressiva como Plínio, são mesmo freqüentes as
migrações de temas, situações ou personagens.
78
E são realmente inúmeros os casos de reinvenções de histórias na obra de Plínio. O
romance Na Barra do Catimbó, por exemplo, teve origem em crônicas publicadas na
imprensa, enquanto o drama do pivete Querô surgiu primeiro num conto, depois num
romance e, mais tarde, ganhou versão teatral, assim como aconteceu também com a novela O
assassinato do anão do caralho grande.
Plínio Marcos foi dramaturgo, jornalista, escritor e muito mais. Mas era
principalmente e como o próprio gostava de afirmar, um contador de histórias – fossem elas
publicadas nos jornais, encenadas nos palcos, escritas em livros, gravadas em discos ou
narradas pessoalmente. Intitulava-se um “repórter de um tempo mau”, fazendo “reportagens
da realidade”, dando voz ao povão e relatando seus dramas e romances. Plínio Marcos se
apresentou desta maneira no prólogo do livro Nas quebradas do mundaréu:
Eu sou o repórter dessa gente simples. Conto seus amores, suas pequenas glórias e suas lutas cruentas
pra escapar da miséria. O que não presenciei com meus olhos, que a terra há de comer um dia, escutei
no bochicho das curriolas.
E é assim que encaro os lances.
Por essa luz que me ilumina, eu juro que conto os casos sem aumentar um ponto.
Se algum talento porventura tenho, é o de ver e ouvir minha gente.
Mas Plínio não assumia um papel de conhecedor íntimo dessa “gente simples” sobre o
qual ele contava suas histórias, e muito menos se vangloriava dessa posição. Pelo contrário,
afirmava seu distanciamento como artista e intelectual (mesmo com a origem que poderia
credenciá- lo para aquele papel), não se identificando como um próprio membro desse povão
lesado da sociedade para o qual ele dava voz. O autor reconhecia-se, simplesmente, como
uma testemunha atenta, como nesse trecho da crônica Profeta enganador ou enganado: “Está
certo que o meu puçá não vai além da superfície e que, por essas e outras, eu só pesco o que
vem à tona. Mas aparece tanta bronga boiando nas águas barrentas em que navego contra a
maré, que vivo assombrado com os lances que sou obrigado a encarar” (MARCOS, 2004,
p.61).
O amigo Roberto Bandeira também escreveu sobre o grande talento de Plínio como
observador privilegiado e perspicaz, independente de sua discutida formação intelectual:
Tu lia, sim, é claro que lia, mas, acima de tudo, tu tinha olhos de ver. Pra ti, bastava uns dias de
enganação no circo pra entender o que é a vida dura daqueles artistas mambembes e famintos e chegar a
nos oferecer Balada de um Palhaço. Pra ti, bastava um noite de papo com o bagrinhos desempregados
do porto de Santos para escrever Quando as máquinas param. Pra ti, bastava ver uma pobre puta
chorando encostada num poste da rua Vitória pra nos presentear com Navalha na carne (In: MARCOS,
2004, p.173-174).
79
Mas como excelente contador de histórias e verdadeiro artista, Plínio sabia reinventar
seus casos para diferentes platéias em momentos distintos. E muitos de seus casos envolviam
a ele próprio: sua vida, as pessoas que conheceu, os lugares por onde andou e os “pererecos”
que enfrentou. Não é a toa que uma das peculiaridades de sua obra é o caráter memorialista
da narrativa, com seus fragmentos e pinceladas biográficas, sem falar nos diversos livros de
relatos e contos autobiográficos propriamente ditos.
Criando a partir de sua própria vivência e experiência, Plínio inventou muitos
personagens retirados diretamente da realidade. O próprio autor revelou isso em crônica: “fui
criando personagens que, de início, eram baseados nos tipos que conheci na minha cidade
querida, mas que, aos poucos, foram crescendo, ganhando características próprias e,
acreditem ou não, se formavam quase sozinhos, indiferentes à minha influência”
(CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.36).
Além do aspecto da evolução criativa, Plínio teve também que modificar
deliberadamente suas criações, alterando seus nomes e criando, por exemplo, a imaginária
Barra do Catimbó, onde suas figuras habitariam. Esse artifício deveu-se ao fato de que alguns
dos personagens retratadas em seu texto, que foram retirados diretamente de seu cotidiano,
começaram a “estrilar” pelo fato de serem utilizados seus nomes verdadeiros (Ibid).
Mesmo consciente da organicidade do texto pliniano, independente de seu formato ou
estilo literário, é difícil abordar sua produção artística como um todo. Por outro lado, é
igualmente insuficiente discutir somente uma das facetas do texto de Plínio sem considerar
toda a produção restante. Os estudos sobre Plínio Marcos geralmente se restringiram a suas
peças (VIEIRA, P., op. cit., GUIDARINI, 1996), ou, em alguns poucos casos, a outra
expressão particular de sua produção como, por exemplo, as crônicas jornalísticas
(CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit.).
O objetivo aqui não é o de uma ambiciosa abordagem totalizante da produção artística
de Plínio Marcos, mas uma tentativa de traçar as principais características de seu texto (suas
peças, romances, crônicas etc.) como meio de proporcionar subsídios para a análise das
diferentes adaptações cinematográficas de suas obras. Procurou-se não fazer recortes da obra
pliniana pelo estilo ou gênero literário, uma vez que filmes foram baseados não só em suas
obras teatrais do autor, com também em argumentos ou contos.
Nos diversos estudos sobre a dramaturgia de Plínio Marcos convencionou-se separar
sua produção artística em diferentes fases. Paulo Vieira sugeriu uma divisão em três fases,
cuja primeira ele chamou de constatação, restringindo-se a sua produção teatral entre 1959-
80
1979, no qual Plínio Marcos, “com o olho clínico de um repórter”, constataria “a existência
do mal na sociedade”. A segunda fase, que o autor identificou como epifanias,
compreendendo os musicais escritos entre 1970 e 1976, se constituiria como uma etapa de
lenta transição para a terceira fase. Já esta última fase, de 1978 a 1988, seria chamada de
proposição, com peças em que Plínio “propõe a superação do mal na sociedade”. Os textos da
terceira fase são denominados de obras místicas e, segundo Vie ira, “perdem qualidade de
ação, de conflito e de personagem, e ganham um certo tom patético”.
123
Mário Guidarini (op. cit., p.85-86), por outro lado, identificou na obra de Plínio
Marcos diversas categorias diferentes: o realismo contestatório (suas principais peças),
esoterismo subversivo (as peças místicas da década de oitenta), heróis populares e inéditos
(peças que abordam o universo da música popular e do circo), introspecção subversiva
(apenas a peça A dança final) e, finalmente, reportagens e estórias marginais (outros
romances, textos curtos e livros de contos e crônicas). Essas categorias, apesar de menos
abrangentes e talvez mais específicas, são extremamente questionáveis, seja por utilizar como
critérios desde a publicação em livros (os textos inéditos124 ), até o formato (concentrando
todos os livros de contos, crônicas e romances na mesma categoria, reportagens e estórias
marginais). Além disso, uma obra peculiar como A dança final é comodamente alinhada na
indefinida categoria introspecção subversiva.
Por outro lado, as divisões da obra de Plínio Marcos em fases são geralmente
unânimes em afirmar a superioridade da primeira sobre a(s) seguinte(s). Vieira (op.cit.,
p.XV), por exemplo, escreveu sobre as mudanças sut is na passagem da primeira fase para a
segunda, e a chegada, na terceira delas, ao “esgotamento do próprio modelo de dramaturgia
criado pelo autor” que implicaria na perda de qualidade dramatúrgica. Foram apontadas
também mudanças em aspectos temáticos no decorrer da obra. A solidão, por exemplo,
motivo constante em sua obra, levaria, nas peças da primeira fase, à destruição, enquanto na
fase mística, “a uma espécie de ressurreição, quando não, pela tentativa de superação” (Ibid,
p.53).
Entretanto, as princ ipais críticas às obras posteriores de Plínio são centradas,
principalmente, nas próprias questões dramáticas: “Os problemas que eram expostos, rápida e
Paulo Vieira revelou se inspirar em estudos de Antonio Mercado que observava também duas fases distintas na
obra pliniana, de constatação e de contestação.
124
Aqui, Guidarini, inclui o texto Um crime no circo, que seria posteriormente publicado como O Assassinato do
anão do caralho grande.
81
intensamente, pelo conflito, perdem o centro e, consequentemente, também a agilidade,
tornando as peças lentas, discursivas” (Ibid).
Mostaço (In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.14) também critica a
produção teatral pliniana a partir dos anos oitenta, afirmando que a utilização de enredos
preexistentes (por exemplo, a vida de Jesus Cristo ou de Madame Blavatsky) prenderia o
autor ao exigir muitos personagens e mais de um ambiente cênico, forçando “um
desmembramento das situações de conflito”. Para Mostaço, “nesse molde expositivo, Plínio
admitia perder empuxo”.
Mas como os mesmos estudiosos admitem, tanto os traços místicos já estavam
presentes nas primeiras peças de Plínio, quanto os textos dramáticos posteriores de Plínio
igualmente compartilhavam diversas características de sua obra inicial. Dessa maneira, como
qualquer tentativa de categorização estrita, trata-se de uma tarefa ingrata e contestável separar
rigidamente fases numa obra tão orgânica quanto à do autor maldito.
Desse modo, parece ser ponto indiscutível a presença de características bastante
marcantes e autorais nas obras de Plínio como um todo, facilmente identificáveis e
reconhecíveis. Entretanto, nada é mais comum do que a pretensão de sintetizar toda a obra
pliniana com dois ou três adjetivos totalizantes e simplistas, caindo na armadilha de ignorar
as diversas especificidades e peculiaridades de cada uma das peças.
Vieira (op. cit., p.XIV) ressaltou, por exemplo, como a crítica não percebeu nuances
nos personagens das variadas peças escritas ao longo de trinta anos. Nesse sentido, por
exemplo, “a maldade, pura e simplesmente, tornou-se a marca de cada personagem, como se
todas obedecessem a um mesmo sistema de comportamento, no qual a crueldade fosse sempre
o motor da ação que desenvolvem”.
Mas mesmo apontando para todas essas ressalvas, é possível e trata-se do objetivo
deste texto tentar apontar para características gerais que possam nos ajudar a compreender a
obra de Plínio Marcos num espectro mais amplo. Entretanto, é necessária a ressalva de que o
interesse principal desta dissertação reside nas três peças mais conhecidas de Plínio Marcos,
justamente aquelas adaptadas para o cinema, além dos três contos / argumentos igualmente
transformados em filmes, todos eles escritos ou reescritos entre 1966 e 1971.
Ou seja, o foco aqui aponta para um interesse voltado para obras escritas num período
específico e especialmente importante da carreira do dramaturgo, quando se tornou um nome
consagrado nacionalmente. As peças são as célebres Dois perdidos numa noite suja e Navalha
na carne, de 1966 e 1967, respectivamente, e a “maldita” Barrela, de 1958, mas reescrita em
82
1968, quando assumiu a versão definitiva que seria publicada em 1976 e encenada a partir de
1979. Os outros textos são Nenê Bandalho, escrito em 1968 originalmente como um conto
e/ou um argumento para um seriado de televisão, além de A rainha diaba e Nas quebradas da
vida, feitos sob encomenda para os diretores Antonio Carlos da Fontoura e Roberto Farias
entre 1970 e 1971.
Curiosamente, um trecho da história e os personagens de A rainha diaba apresentam
muitas semelhanças com o conto O Batismo, publicado no jornal Última Hora e depois na
coletânea Nas Quebradas do Mundaréu, de 1973, enquanto a trama de Nas quebradas da vida
seria expandida no romance Uma reportagem maldita (Querô), publicado em 1976, que três
anos depois ganhou versão para o teatro.
Dessa maneira, não iremos estender demasiadamente a análise sobre as modificações
que são identificadas em sua obra a partir de meados dos anos 70, mas iremos nos concentrar
primordialmente nas características mais marcantes de seus textos do final da segunda metade
da década de 60 até o início da década seguinte. Justamente o período compreendido entre sua
redescoberta em São Paulo a partir do sucesso de Dois perdidos numa noite suja e Navalha na
carne e a brutal perseguição a suas peças pela censura após o AI-5, proibindo quase todas as
suas obras.
De um modo geral, acredito que podemos discutir as principais características da obra
de Plínio Marcos – do universo pliniano – a partir dos três seguintes aspectos: a linguagem, o
ritmo teatral, e os personagens e seu ambiente.
Gírias, palavrões e provérbios.
Os diálogos de Plínio Marcos são conhecidos por sua crueza e objetividade, além do
encadeamento milimétrico e do uso de um linguajar peculiar. O dramaturgo repetia várias
vezes que seu texto tinha “a sutileza de um arroto”.
Provavelmente, a característica mais clara do texto pliniano é o intenso uso de gírias e
expressões comuns na linguagem falada de determinado grupo social, mas que causaram um
grande impacto ao serem escritas – em livros e jornais – e, sobretudo, ao serem proferidas nos
palcos dos teatros brasileiros em determinada época.
Em diversas oportunidades, Plínio afirmou não fazer pesquisa de linguagem para
escrever suas peças. Dizia simplesmente que escrevia como se falava, que não tinha técnica
83
especial. Seu objetivo era simplesmente ser o mais claro possível e atingir a plena
comunicação com o público, através de uma radical verossimilhança com o universo
retratado. Ou seja, a questão, não era somente o que se escrevia, mas também como se
escrevia.
Nelson Rodrigues também causou um enorme impacto no teatro brasileiro, dentre
diversos motivos, por levar a linguagem das ruas para os palcos, incluindo as gírias da época e
os palavrões. Mas o universo de Nelson era o dos subúrbios do Rio de Janeiro, especialmente
da pequena burguesia ou da baixa classe- média. Mesmo suas prostitutas eram geralmente
moças de família, bem educadas, que, por um motivo ou outro, ingressavam numa vida
“desviante”. Os palavrões, por mais comuns que fossem, eram usados com certo pudor, em
momentos de explosão de raiva, causando o impacto nas platéias acostumadas a ouvi- los em
casa, no trabalho ou nos bares, mas não nos teatros, na boca dos atores.
Na peça Beijo no Asfalto, escrita para Fernando Torres e Fernanda Montenegro,
Nelson Rodrigues teve de ser convencido “a tornar o texto um pouco mais ofensivo,
salpicando-o com alguns palavrões”. Ou seja, foi em 1960 (depois de Barrela, portanto), que
“muitos se deram conta de que, até então, nenhuma peça de Nelson contivera um único
palavrão!” (CASTRO,1992, p.315).
Em sua peça seguinte, Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária, o personagem
Edgar, depois de ser seguidamente humilhado por Werneck, seu patrão e futuro sogro,
finalmente rebate:
EDGARD – Escuta aqui. E você também, Peixoto. (Para Werneck) Você não é doutor, não. E você.
Olha! Eu não vou me casar com sua filha. Não vou, não! E saio do emprego. Você enfie os 11 anos, a
estabilidade! E fique sabendo. Sou um ex-contínuo. E você um filho da puta! (Num berro maior) Seu
filho da puta! (RODRIGUES, 1989, p.270) (grifo meu).
Esta fala encerra – com um berro e um palavrão – o primeiro ato desta peça escrita e
encenada pela primeira vez em 1962. É o único momento em que uma palavra de baixo calão
é dita claramente por algum personagem em todo o texto. Na fala de Edgard, o “filho da puta”
é a explosão final, o desabafo, o grito não mais contido. As frases interrompidas, inacabadas,
muito características do texto de Nelson, revelam, por exemplo, o pudor dos personagens em
falar certas palavras (“Você enfie os 11 anos, a estabilidade!”).
No texto de Plínio Marcos, por outro lado, assim como os personagens são de um
outro universo, o uso do palavrão também é distinto. Como no começo de sua primeira peça,
Barrela, na versão de 1968:
84
Um xadrez onde são amontoados os presos que aguardam julgamento.
(Ao abrir o pano, todos dormem. De repente, Portuga desperta com um pesadelo).
PORTUGA – Não!Não!Não!
(Todos acordam sobressaltados. Bereco pula de seu beliche para o meio da cela. Os outros, de pé, ficam
em posição de defesa. Somente Portuga fica sentado, olhando assustado para os outros)
BERECO – Que puta zorra foi essa?
BAHIA – Foi o Portuga de merda de novo?
TIRICA – Quando é que vai aprender a dormir sem fazer zoeira?
PORTUGA – Foi pesadelo.
BAHIA – E o que é que a gente tem com isso.
PORTUGA – Desculpe.
FUMAÇA – Agora não adianta pedir arreglo. Já acordou meio mundo.
TIRICA – Disso a gente sabe. Se tu tivesse a cara-de-pau de cortar a onda de sono que a gente engatou,
ia levar tanta pancada que quando a gente te largasse tu ia estar um mingau.
BERECO – Por querer ou não, esse filho-da-puta me fez perder o sono. Desgraçado, vou te aprontar
uma sacanagem que você vai parar na solitária. Lá não vai encher o saco de puto nenhum.
PORTUGA – Poxa, Bereco, livra a minha cara.
BERECO – Livra a sua cara, uma porra! Vou te aprontar. E se ciscar, já sabe: te arrebento de porrada.
FUMAÇA – Tá certo assim. A moçada custa pra se apagar. Quando consegue, aí o sabido faz barulho e
acorda a curriola. É o fim da picada. Tem que pegar uma gelada pra tomar um chá de semancol.
TIRICA – Se eu fosse o xerife dessa merda, já viu. Dava o castigo agora mesmo. Não ia ser mole.
LOUCO – Enraba ele! Enraba!. 125
Pode-se perceber que o palavrão é utilizado com enorme naturalidade e freqüência,
não estando nem sequer nas frases de maior violência ou agressividade. As gírias, ao mesmo
tempo, são peculiares daquele ambiente, e não de conhecimento mais amplo da sociedade
como as utilizadas por Nelson Rodrigues.
Para alguns estudiosos são justamente as gírias e os palavrões os principais
responsáveis por uma possível característica de distanciamento presente na obra de Plínio
Marcos. Segundo Antonio Mercado, citado por Paulo Vieira, isso se devia à distância entre a
classe social dos personagens – o grupo humano representado no palco –, e a classe social do
público na platéia. O próprio desconhecimento do significado de algumas das gírias (como
“curriola” ou “barrela”, por exemplo) pelas pessoas que assistiam às peças, poderia ser
responsável pelo sentimento de distanciamento apontado por Mercado.
126
Outro aspecto recorrente da linguagem das obras de Plínio Marcos é o uso de ditados
populares. Segundo Guidarini (op. cit., p. 48) “o dramaturgo coloca na boca dos personagens,
em média, oito provérbios por peça”. Diversas crônicas e contos de Plínio têm como títulos,
máximas como Afobado come cru ou queima a boca (sobre um bandido inexperiente que,
125
A primeira versão de Barrela, escrita em 1958, embora com menos palavrões, era possivelmente até mais
violenta, como quando Bahia diz ao Louco depois dele ser ameaçado de curra: “A tua sorte é ser feio que nem a
peste”, sendo logo completado pela sugestão de Tirica: “A gente pode barrelar ele com o cabo da vassoura”.
126
É importante recordar que, com o reconhecimento de Plínio Marcos no final dos anos 60, suas peças foram
apresentadas em salas como a do Teatro Maria Della Costa, em São Paulo, ou do Teatro Maison, no Rio de
Janeiro, locais freqüentados por membros das classes médias e altas.
85
nervoso, acaba matando o próprio parceiro), Se não tem tu, vai tu mesmo (a história de um
ladrão de galinhas que começa a pintá- las de preto para atender as encomendas dos clientes de
um pai de santo) ou Por gama também se mata (sobre namorada de um bandido que o mata
por ciúmes).
Esse uso reiterado de ditos populares confere aos textos, sobretudo os mais curtos,
como os contos, um curioso caráter de fábulas morais, envolvendo nem tanto questões
maniqueístas do bem e do mal, mas, sobretudo, saberes do senso comum, de experiência e
vivência. Conforme será discutido a seguir, não se trata tanto de definir regras morais, mas
sim, regras de sobrevivência. Um dos personagens mais recorrentes em diversas obras de
Plínio é o Mestre Zagaia, “o velho cabo de esquadra”, sempre citado pelas dicas de sua
Tabuada das Candongas – geralmente máximas como “trouxa não precisa de grana”, “nada
como um dia atrás do outro” ou “quem vê cara não vê coração”.
Assim como os temas, situações ou personagens, muitas frases ou expressões de Plínio
também estão sujeitos à migração característica de sua obra, aparecendo várias vezes em
diversos textos diferentes, assim como em entrevistas e depoimentos do próprio autor.
Expressões como “Nas quebradas do mundaréu”, “juro por essa luz que me ilumina”,
“roçados do Bom Deus” ou “onde as pragas botam os ovos” adquirem o status de jargões,
recursos típicos de humoristas e palhaços, por exemplo.
Por outro lado, essa repetição de expressões chegou, em determinado momento, a um
nível poético quase concretista. No conto Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos em
Osasco (MARCOS, 1977, p.22), a repetição formal e argumentativa do texto representa um
momento de transição na obra de Plínio, localizada justamente na passagem de um texto
realista para um mais poético.
Nas celas-cubículos, nas celas onde mal caberiam oito, mas onde são espremidos vinte e cinco homens.
Vinte e cinco homens. Vinte e cinco homens mais seus fedores, suas misérias, seus ócios, seus
desesperos, seus vícios, suas ansiedades. Vinte e cinco homens e seus desesperos num cubículo onde
mal caberiam oito. Ninho perfeito para as pragas colocarem seus ovos.
Nessa mesma compilação salta aos olhos que o talento de Plínio não se restringia
somente à linguagem crua, “sem técnica”. Em Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos
nas voltas da bola e da boleta (Ibid, p.52), por exemplo, o texto é muito mais depurado,
sofisticado e com versos de grande beleza:
86
Todos meninos vindos de tão longínquos recantos, nas precárias conduções movidas por parcas
esperanças de escaparem da sina de conterrâneos, lavradores de almas áridas pela capina na terra mal
adubada pelo sono sem o repouso do sonho.
Também em sua trajetória pela imprensa, Plínio se distinguiu não somente nas
crônicas, como também em entrevistas e reportagens que realizou, por utilizar características
próprias de linguagem e manter suas incursões pelo universo da gíria, se diferenciando do
jornalismo tradicional em vários aspectos (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.38).
Ritmo teatral e o jogo do poder.
Essa é talvez a característica mais ressaltada na dramaturgia de Plínio Marcos. O
crítico e diretor de teatro Alberto D’Aversa (apud VIEIRA, op. cit., p. 80-81) afirmou sobre
Navalha na carne o que, na verdade, pode talvez ser estendido para outras peças de Plínio.
Segundo ele, apesar dos méritos, não se trata uma peça extraordinária:
A temática desenvolve o óbvio; o diálogo, às vezes, não está isento de um certo moralismo patético e
convencional, e a linguagem, não sendo depurada e filtrada pelo crivo de uma consciência filológica, é
prolixa e fastidiosa. Mas o grande mérito é que tudo isso é visto, sentido e expressado com prodigioso
instinto teatral, ou seja, através de situações e de personagens; os nós dramáticos sucedem-se com
freqüência assombrosa e ininterrupta, determinando constantes variações nas relações das três
personagens, num ritmo de precisão matemática.
O mesmo D’Aversa reafirmou suas idéias sobre a obra de Plínio em outra ocasião:
A revolução – em termos brasileiros – dramática de Plínio Marcos não se manifesta através dos temas
(extraídos todos da mais banal e cotidiana crônica) nem através dos palavrões usados sem pudor
filológico e moralista, mas através de uma estrutura dramática que coloca constantemente os atores numa
série de conflitos de evolução elíptica onde os termos antiestéticos são renovados e repropostos com uma
127
generosidade que não tem comparação no moderno teatro brasileiro. E não somente brasileiro.
Entretanto, acredito que esse aspecto está intrinsecamente ligado à questão da
linguagem de Plínio, não podendo desvincular a crueza, a espontaneidade e a naturalidade dos
seus diálogos (adequando-se perfeitamente ao vocabulário de gírias, palavrões e máximas), do
preciso encadeamento dramático das ações dos personagens. O ator Sérgio Mamberti, que
interpretou Veludo na primeira montagem de Navalha na carne, afirmou:
127
D’AVERSA, Alberto. Um autor testemunha: Plínio Marcos – II. Diário de São Paulo, São Paulo, 1967.
87
Na época da estréia da Navalha, Plínio inaugurou a modernidade do teatro brasileiro já pelo formato da
peça. O timing dele era outro. As peças que eram encenadas naquela época duravam 2h30, em média,
extremamente prolixas por todo um detalhamento. E o Plínio, em três ou quatro palavras, já dava seu
recado, desenhava um personagem, um ambiente e fazia uma denúncia social. Ele tinha um poder de
síntese muito forte e mostrava logo de cara o que tinha para mostrar. (CONTRERAS; MAIA;
PINHEIRO, op. cit., p. 60).
As peças de Plínio Marcos, sobretudo as do período em questão, são caracterizadas por
atos curtos e às vezes únicos, em que poucos personagens circulam num mesmo cenário
claustrofóbico e asfixiante, desenvolvendo conflitos embalados num ritmo intenso e
vertiginoso. Para Mostaço (In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.12), na obra
pliniana, “o dramático é um ato espontâneo. Nasce da aguda naturalidade (e mesmo do
naturalismo) com que desenha as frases, engendra a ação verbal, grava o pormenor que não
poderia possuir outro talhe”.
O conflito é colocado desde o primeiro instante, prendendo a atenção do espectador,
sem, em nenhum momento, “enrolá- lo”. No trecho inicial de Barrela citado anteriormente,
em pouco mais de uma página de texto, Plínio já delineia seus personagens (do Louco, com
apenas uma fala, ao Bereco, xerife da cela, com cinco falas), sugere as relações entre eles (a
rixa entre Tirica e Portuga, o poder de Bereco sobre todos e o enfrentamento do mesmo
Bereco por Tirica), e, principalmente, apresenta o principal conflito da peça – quem vai currar
quem.
Como afirma Guidarini (op. cit., p.59), nas peças plinianas “o conflito gera o desfecho
em cada peça”. E o desfecho é invariavelmente a concretização da violência anunciada
anteriormente, seja a curra, o assassinato, o abandono, a traição ou a morte. Mas a violência
em Plínio Marcos, segundo Vieira (op cit., p.44), mais do que à linguagem, à história ou ao
tema, está associada, sobretudo, ao conceito teatral básico do conflito.
Por outro lado, os violentos conflitos entre os personagens plinianos também estão
irremediavelmente ligados a questões banais ou pueris. Seja o fato de Portuga ter acordado os
outros presos em Barrela, pelo par de sapatos que Paco tem e Tonho inveja em Dois perdidos
numa noite suja , ou pelo dinheiro diário que Neusa deixou para Vado e Veludo roubou em
Navalha na carne, o ponto motivador dos embates sempre esconde a verdadeira questão por
trás de tudo – o exercício do poder.
Ou seja, os grandes conflitos das peças são gerados a partir de pequenos motivos, mas
representando questões maiores. Os atos praticados aparentemente sem razão geram reações
desproporcionais, como se as peças criassem um álibi para atingir a ação.
Para Mostaço (In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.12):
88
Nem suas peças nem suas crônicas são marcados pela exuberância da geografia ou a descrição dos
deslocamentos, pela engenhosidade do enredo ou a ardilosa teia de intrigas que, costumeiramente,
enredam personagens no reino da ficção. Bem ao contrário é a psicologia milimétrica, o pormenor, o
detalhe perturbador causado numa ordem que se acreditava estável – geralmente flagrada nas
culminâncias de exacerbação ou de seu influxo tônico diante da situação –, que dão vida e alimentam suas
criações.
É justamente nessa dinâmica de violência aparentemente gratuita e exacerbada, que
indiscutivelmente se esconde uma visão política. Conforme Vieira (op. cit., p.27-28), as peças
de Plínio são uma alegoria do poder e, nesse sentido, são também uma metáfora do jogo
político. Afinal de contas, a política pode também ser definida como a arte (ou técnica) de
conquistar e exercer o poder.
É o sociólogo Michel Misse (1999), em seu estudo sobre a acumulação social da
violência, quem, de forma bastante apropriada para os interesses desta pesquisa, introduz
alguns conceitos sobre essa questão. Em meio ao processo de constituição do Estado Moderno
na Europa Ocidental, ocorreu também o processo de monopolização do emprego legítimo da
violência pelo Estado. Surgiu aí a diferenciação entre a violência legítima, com o objetivo da
manutenção de determinada ordem pública e administração legal, e a violência ilegítima,
como recurso privado, condenada e reprimida social, legal e juridicamente, além de
controlada pelo “assujeitamento” individual às normas e aos códigos ético-jurídicos e pelo
processo de normalização.
128
Se a violência pode ser definida como o “emprego da força física ou suas extensões
para impor sua vontade contra a vontade dos outros”, esta também é a definição clássica de
poder. Entretanto, na modernidade, os significados de violência e poder – e a diferenciação de
um e de outro – assumiram novos sentidos através dos atributos de legitimidade ou
ilegitimidade (MISSE, 1999, p.26). Se de fato, violência é uma noção tão amorfa quanto a
noção de poder, no teatro de Plínio Marcos seus sentidos estão completamente imbricadas.
128
129
Esse complexo processo histórico-social de “normalização” mobilizou os ‘indivíduos’ a auto-regularem sua
premência e sua ganância (de necessidades, interesses e desejos), através da socialização do ‘valor de si’ como o
valor próprio que deriva do desempenho do auto-controle (ou, em ultimo caso, estatalmente controlada).
Conforme Misse (op. cit., p.48), “Não é uma aventura existencial, mas uma racionalidade por preferir seguir as
regras do convencionalismo, das boas maneiras e da civilidade”.
129
“Não existe violência, mas violências, múltiplas, plurais, em diferentes graus de visibilidade, de abstração e
de definição de suas alteridades. A violência é, em primeiro lugar, uma idéia, a tessitura de representações de
uma idealidade negativa, que se define por contraposição a outra idealidade positiva, de paz civil, de paz social
ou de consenso, de justiça, de direito, segurança, de integração e harmonia social” (MISSE, op. cit., p.38).
89
Uma das principais características do universo pliniano, e que lhe dá o acentuado teor
político, assenta-se justamente na representação do emprego, por indivíduos marginalizados
contra outros marginalizados, da violência e de poder ilegítimos – no sentido de “violação”,
de “excesso” ou de “crueldade” –, traçando uma metáfora da estrutura de poder e da violência
do Estado e da sociedade, que embora legítimas, não seriam menos cruéis.
Dessa maneira, as peças de Plínio Marcos escrutinam as diversas maneiras através dais
quais um indivíduo consegue exercer a sua vontade sobre a do outro com fins mesquinhos e
egoístas. Seja o poder exercido por meio da força física (de Giro, através de Oswaldo, em O
abajúr lilás), do porte de uma arma de fogo (daí a sedução que ela provoca, por exemplo, em
Querô), do conhecimento (a descoberta do passado de Tirica no reformatório por Portuga, em
Barrela), da segurança em cima do desespero alheio (Paco sobre Tonho em Dois perdidos
numa noite suja ) ou da aparência e da atração física (a juventude de Vado versus a velhice de
Neusa, em Navalha na carne).
Mas Plínio examina o jogo de poder num universo particular, onde as regras são
singulares. O drama de Tonho, por exemplo, se deve ao fato do seu estudo não valer nada
dentre os carregadores do cais do porto. Naquele local, são outros os valores que garantem o
poder, o que ele alcança, no final da peça, ao perder todas suas reservas e valores morais
anteriores. Mostaço (In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.13) aponta a presença
na obra de Plínio de traços simplificados de Lamarck ou Darwin, teóricos da evolução das
espécies, ao perceber como seus personagens acabam sendo obrigados a se adaptarem ao
ambiente no qual estão inseridos, num processo em que só os mais aptos sobrevivem.
No mesmo viés da “lei da selva”, talvez uma das características dos textos de Plínio seja
sua capacidade de, através do conflito entre os personagens, se aproximar aparentemente do
que Thomas Hobbes, no século XVII, chamou de “estado natural do homem”. O
“pessimismo” de parte da filosofia hobbesiana foi consagrado através das célebres expressões
Homo homini lupus (o homem é o lobo do homem) e Bellum omnium contra omnes (é a
guerra de todos contra todos). Para Hobbes, a sociedade não é uma totalidade natural, mas
uma realidade artificial e frágil que depende do consentimento dos homens, o que não seria
alcançado em situações de igualdade de força, onde, segundo o filósofo, somente a luta
resolve os conflitos e dela ninguém sai vitorioso.
O pensamento de Hobbes guarda ainda semelhança com a dramaturgia pliniana quando
afirma:
90
A maldade é apenas resultado da desconfiança mútua que nunca deixa de aparecer quando os homens,
entregues a seus desejos e argumentações vãs, opõem-se mutuamente para impor seus interesses sem
levar em conta qualquer jurisdição instituída e qualquer poder capaz de fazer respeitar suas determinações
(ZARKA. In: HUISMAN, 2000, p.502).
Na obra de Plínio Marcos, apoiando-se na dor, todos os conflitos, o desenrolar das ações
e as relações entre os personagens estão, conforme Mostaço (In: CONTRERAS; MAIA;
PINHEIRO, op. cit., p.13), centrados na alteração constante de posições entre os
protagonistas, de algozes violentos para vítimas pisoteadas e vice- versa:
O apogeu destes círculos de tensão é insuflado pelas alternâncias entre as personagens, em que algozes e
vítimas intercambiam seus papéis, numa batalha que só terá fim num confronto armado entre as figuras e
do qual sobreviverá o mais apto. A dramaticidade de Plínio não admite soluções de compromisso ou
acomodamento de situações, apenas o rompimento dos vínculos, a morte ou a supressão de uma das
partes geradoras de tensão.
Obviamente, por trás disso também está presente a questão política referente ao
contexto em que muitas de suas peças foram escritas, sobretudo a ditadura militar e todos os
atentados contras as liberdades individuais. Porém, se pensarmos que Barrela foi escrita em
1958, essas características se desvinculam de uma possível associação imediatista entre obra e
contexto. Por outro lado, uma peça como O abajúr lilás, de 1969, é uma metáfora clara (e
cruelmente contundente) da situação política que o Brasil vivia no final da década de sessenta.
Mas se assim como Plínio Marcos, Hobbes acredita que o homem não é mau por
natureza, mas são as condições de existência que o tornam assim, por outro lado a maior parte
do pensamento do filósofo inglês se distancia radicalmente das idéias do dramaturgo. Os
argumentos de Hobbes são colocados como justificativa para a defesa do Estado e de um
“poder absoluto, coercitivo e punitivo”, a maneira de garantir a passagem do homem de um
estado natural para o estado civil.
130
Para Plínio Marcos – que chegou a se auto- intitular anarquista, apesar de sua recusa
constante de rótulos –, toda forma de poder corrompe. Diametralmente oposto ao racionalista
Hobbes, considerado o pai do conceito do Estado moderno, para o humanismo do dramaturgo
a solução estaria na solidariedade, traço presente no mais cruel dos homens, e elemento que
seria desenvolvido, sobretudo, nas peças ditas “místicas” do dramaturgo. Se tanto para
Hobbes quanto para Plínio, a guerra de todos contra todos existe, em parte, devido à ausência
130
Por outro lado, algumas interpretações da obra de Hobbes também apontam para a relevância de diversos
aspectos de seu pensamento, como, por exemplo, a afirmação que o Estado, diante do pacto social e da cessão de
direitos, também está sujeito às regras do contrato (as leis) que regem tanto o soberano quanto os cidadãos
(LIMONGI, 2002, passim).
91
do Estado, para o filósofo essa é a justificativa para a defesa de um Estado forte. Por outro
lado, numa possível “filosofia pliniana”, o homem nunca nasce mal, é a sociedade que o faz
assim – incluindo aí o Estado. Nos anos setenta esse raciocínio foi depurado, embora de
maneira simplista, maniqueísta e então com traços de espiritualidade latente, em Inútil canto e
inútil pranto pelos anjos caídos em Osasco:
Mas, lá estavam, no cubículo imundo, vinte e cinco homens empilhados, espremidos, esmagados de corpo
e alma, esperando o julgamento dos cidadãos contribuintes. Todos os vinte e cinco homens confessaram
faltas e crimes hediondos. Confessaram debaixo de pancada. Debaixo de pancada, confessaram crimes
contra a sociedade dos cidadãos contribuintes. Crimes contra a sociedade que sempre os amesquinhou.
Crimes que não seriam crimes diante de santos de qualquer fé. Mas eles confessaram roubos, assaltos,
agressões, assassinatos, contra os cidadãos contribuintes. Confessaram crimes que não sabiam crimes.
Não sabiam crimes os crimes que confessaram. Quem se alimentou anos a fio do desamor não tem
consciência do bem e do mal. O mal não existe para o anjos caídos. Para os anjos caídos existe o
desespero. O desespero é o que existe. Existe a aflição. Essa é que existe. O mal, a maldade toda está com
os cidadãos contribuintes. No coração imundo do cidadão contribuinte é que existe o mal. Deles é a fúria
alucinada de acumular, de garantir privilégio para si e seus porcos descendentes, até o fim dos tempos. Os
cidadãos contribuintes abrigam o mal. Os anjos caídos são anjos (MARCOS, 1977, p.18-19) (grifo
meu).
Sem fazer uma ligação mecanicista entre autor e obra, é importante, nesse caso,
acentuar características da própria postura ideológica de Plínio. Em toda sua trajetória, o
dramaturgo sempre priorizou a independência e, principalmente, a liberdade, e foi em nome
dela que escreveu grande parte de seus textos:
Malditas sejam as ditaduras! Malditos sejam todos os ditadores! Os grandes e os pequenos. Os que, com
suas forças governamentais, escravizam o povo. Ou os homens que se deixam amesquinhar a ponto de
perderam a noção de sua própria humanidade e que se transformam em déspotas em qualquer situação em
que tenham comando. Malditos sejam os autoritários! (MARCOS, 1996, p.30).
Plínio nunca permaneceu muito tempo ligado a nenhum grupo teatral e jamais foi
filiado a partido algum. O autor maldito não via alternativas na sociedade em que vivia e,
numa crônica, afirmou: “nesse sistema capitalista, industrial, consumista, não há possibilidade
de fazer justiça social” (In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p.38).
Posteriormente, nos anos noventa, seria um anarquista assumido – “Acredito na democracia,
mas meu sonho é não ter nenhum governo e muito menos políticos por aí”.
131
Porém, a palavra chave para compreendermos o pensamento de Plínio Marcos é,
indubitavelmente, liberdade – plena liberdade de expressão e de reivindicação por uma
sociedade que garanta igualdade de oportunidades para todos. Suas obras sempre apontavam
131
CÔMODO, Roberto. O afiado anarquista do ócio. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 mai. 1994.
92
para a defesa da liberdade e, justamente, daqueles que raramente tiveram alguém que lhes
dessem voz.
Marginais: personagens e cenários.
Na crônica em que relatou o episódio no qual foi ignorado pela comissão do sindicato
dos jornalistas quando esteve preso, Plínio Marcos, respondendo à pergunta do policial sobre
o que ele era (já que jornalista, oficialmente, ele não era), afirmou ser: “Um marginalizado,
como a grande maioria dos brasileiros”.
132
Na trajetória pessoal e artística de Plínio Marcos encontramos inúmeros momentos em
que ele foi marginalizado de diferentes maneiras – no colégio, como mau aluno; no meio
artístico e intelectual, como “semi-analfabeto” e “ex-palhaço de circo”; pela censura, como
subversivo e pornográfico; ou no mercado da indústria cultural, como figura incômoda e
desagradável.
Se Plínio abordou a vida dos marginalizados, ele escreveu com conhecimento de
causa. Não somente pelas situações e experiências vividas, mas também pelas pessoas e
lugares que conheceu em suas andanças ao longo dos anos. O dramaturgo conviveu com
artistas mambembes, trupes de ciganos, prostitutas, jogadores de futebol e até bandidos. Em
sua juventude, nos períodos de desemprego com as dificuldades da arte circense, se virou nas
malandragens do cais do porto de Santos, conheceu sujeitos e fez amigos que, mais tarde,
enveredaram pela criminalidade (CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op. cit., p. 109).
Esse adjetivo – marginal – talvez seja o que melhor defina, justamente, os personagens
e o universo que grande parte de sua obra abordou. Plínio escreveu sobre pessoas e lugares
marginalizados, exatamente no sentido que o dicionário aponta. Ou seja, seus textos retratam
personagens e cenários colocados à margem de e por um outro grupo de pessoas, que, se não
aparecem, por exemplo, nos palcos, estão geralmente nas platéias. Ou seja, uma das principais
características de sua obra é o foco em tudo que está à margem, seja da sociedade, da lei ou da
vida pública.
Entretanto, se Plínio traça “o retrato dos excluídos pela sociedade” ou aborda um
universo marginal, falamos de personagens marginalizados ou excluídos por quem? Pelos
132
Crônica sem título, publicada no Diário da Noite, 11 dez. 1978. In: CONTRERAS; MAIA; PINHEIRO, op.
cit., p.146-147.
93
“cidadãos contribuintes”, para usar uma expressão pliniana? Também, mas não apenas isto.
Plínio Marcos nunca procurou transformar alguém ou um grupo de pessoas em vítimas
inocentes. Ele próprio, perseguido barbaramente pela censura, não costumava se fazer de
“coitado” e recusava qualquer rótulo comodista de “vítima”.
Na dinâmica das obras de Plínio, quem marginaliza é quem tem o poder – não há um
maniqueísmo de vítimas ou algozes pré-determinados. Mesmo dentro de uma cela de cadeia,
num relacionamento entre cafetão e prostituta, ou num grupo de miseráveis carregadores do
cais do porto, quem detiver alguma migalha de poder vai subjugar o próximo.
Consequentemente, quanto maior o poder (de uma pessoa ou de um governo), maior a
possibilidade de opressão ao próximo. Assumindo uma postura política, Plínio demonstra a
crueldade do jogo de poder dentre os próprios marginalizados pela sociedade, evidenciando a
violência inerente à própria sociedade, abordando o universos daqueles que ela mesma exclui.
Como apontou a crítica teatral Ilka Marinho Zanotto (In: MARCOS, 1975 p.7), a
chave do enigma de sua obra, é o fato de que Plínio:
Mostra como gente aqueles que normalmente são considerados ‘marginais’. E ao responder a Neusa
Suely que ela é gente sim, Plínio lança ao ar um desafio imenso à nossa obrigação moral e cívica de
tratá-la como tal. Isso implica em reavaliação de toda uma estrutura social e em compromisso de
transformar uma estrutura, que ao nosso imediatismo não interessa questionar, que à nossa inércia
comodista de avestruz não interessa abalar, que à nossa covardia não interessa denunciar.
Para Plínio, “mostrar como gente”, é mostrar como qualquer um pode ser cruel,
egoísta e mesquinho quando se encontra numa situação de miséria, desigualdade e desamparo.
Ao se falar de personagens egoístas e mesquinhos, é importante lembrar que para
diversos estudiosos, e para o próprio Plínio Marcos, Nelson Rodrigues influenciou toda a
dramaturgia moderna brasileira.
Analisando os personagens da obra teatral de Plínio Marcos, Vieira (op. cit., p.14-15)
sugeriu que os três grupos de personagens de Nelson Rodrigues descritos por Sábato Magaldi
– as prostitutas, os loucos e os homossexuais – também seriam comuns ao universo das obras
de Plínio Marcos. Mas além desses três, Vieira descreveu um outro conjunto de personagens
também recorrentes na obra de Plínio: “os bandidos e os marginais” (Ibid, p.20-21). Pouco
desenvolvido pelo autor, nessa categoria ele acrescenta os aspectos da criminalidade, do
desemprego e da falta de caráter. Entretanto, acredito que a característica da marginalidade
abarque todos os demais grupos de personagens e seja muito mais definidora dessas mesmas
figuras dramáticas.
94
Todos os personagens de Plínio são marginais em algum sentido. As prostitutas são
marginalizadas por sua profissão, que por ser, inclusive, ilegal, as condenam não só
moralmente, como também criminalmente. Em Navalha na carne, a prostituta Neusa Sueli
chega a reclamar, por exemplo, que o “novo delegado que entrou está querendo fazer média.
Toda hora passa o rapa”. Apesar da “demanda” não ser proibida, a condenação moral e legal
recaí sobre aquelas que oferecem o serviço. Situação muito parecida com a dos traficantes de
drogas, por exemplo.
Os loucos, por outro lado, se excluindo e sendo excluídos de uma sociabilidade
convencional por seu comportamento, são completamente alijados da sociedade e “estão
sujeitos também à legislação repressiva como membros da classe delinqüente” (VIEIRA,
op.cit.,p.17).
Os homossexuais, de certa maneira, são igualmente excluídos da parte mais ampla da
sociedade devido à moral conservadora vigente, sobretudo nas décadas de 50 e 60. Plínio não
aborda qualquer homossexual (ou a homossexualidade de forma mais ampla), mas aqueles
que assumem sua sexualidade no ambiente característico das obras plinianas. As “bonecas”
na obra de Plínio Marcos provavelmente teriam menos motivos para serem marginalizadas –
geralmente tem emprego, mesmo que de baixa remuneração, e não costumam ter
envolvimento com o crime –, se não fosse por sua opção sexual quando claramente
explicitada, tanto pela roupa, quanto por gestos, postura e ações em público.
Por outro lado, nas peças de Plínio Marcos, em que “sexualidade é uma arma e um
castigo” (Ibid, p.19), a curra, assim como o assassinato, é mais uma maneira de exercer e
impor poder. A dignidade ou o poder através do estupro, feminino ou masculino, é a única
coisa que pode ser conseguida por ou daqueles que não tem nada, além somente da própria
vida. Além da curra, resta o assassinato. Curiosamente, nesse universo alguns personagens
homossexuais, como os travestis, por sua auto-afirmação
surpreendentemente, como figuras de força.
impositiva,
aparecem,
133
Por último, os criminosos (aqueles que transgridem a lei, os “fora da lei”) são os que
sofrem a forma mais óbvia e explícita de marginalização e de exclusão. Estes se transformam
em presos, atingindo o nível máximo visível de guetificação (o encarceramento), ou em
fugitivos, sendo obrigados a se afastarem ao máximo da vida pública para escapar da
perseguição policial.
133
Esta questão será mais desenvolvida no capítulo 6.
95
Provavelmente o aspecto mais interessante apontado por Vieira é o fato de quase
nenhum personagem da dramaturgia pliniana possuir emprego ou propriedade (Ibid, p.21).
Apesar das possíveis exceções, nenhuma das atividades se configura como emprego formal,
mas como estratégias de sobrevivência. Talvez a forma mais comum (e cruel) de
marginalização seja, justamente, a econômica. A peça Quando as máquinas param, por
exemplo, retrata a decaída de um casal após o personagem Zé, profissional não especializado,
ter perdido um emprego na fábrica. A ação, novamente curta e vertiginosa, tem início num
momento posterior à demissão, quando a jovem família já gastou todo o “dinheiro da
indenização”, e se vê diante das conseqüências trágicas do desemprego prolongado.
Em relação aos ambientes asfixiantes que servem de cenário à maior parte de suas
obras, Plínio também aborda locais esquecidos, à margem. Não o centro, mas o entorno. Seus
personagens transitam pelos subúrbios, periferias, desvios, becos e ruas escuras do universo
urbano: as zonas de prostituição, os lixões, as prisões e o cais do porto. A Barra do Catimbó,
favela criada pela imaginação de Plínio no romance de mesmo título (MARCOS, 1982), surge
como uma terra prometida, distante e desconhecida, como um quilombo tardio fundado pelo
crioulo Catimbó, fugitivo da polícia e do esquadrão da morte, e por sua amante, Negra Bina
Calcanhar de Frigideira.
Aparentemente, das três características ressaltadas na obra de Plínio – a linguagem, o
ritmo e os personagens e ambientes marginais – as duas primeiras se referem primordialmente
a aspectos formais, e a última, a aspectos temáticos. Entretanto, o entrelaçamento delas é
inevitável. A linguagem de gírias e palavrões está intimamente ligada, justamente, aos tipos
que seus textos abordam, assim como o ritmo vertiginoso e oscilante das peças está em
sintonia com o tema fundamental do jogo de poder que permeia os conflitos desenvolvidos.
Sobre os aspectos temáticos, podemos, ainda, apontar para o que foi descrito como os
temas favoritos da obra pliniana. Para Szoka e Bratcher (1988) trata-se da procura da
liberdade individual e do conhecimento espiritual, a dificuldade de comunicação entre os
indivíduos e a revolta contra as regras sociais. Guidarini (op. cit., p.42) considerou como
constantes temáticas da obra pliniana, sobretudo, o interesse pela “pessoa humana da ralé
urbana” acuada pelo sistema; a ausência de soluções no universo de cada peça; personagens
que não se portam como símbolos do povo; e o interesse do autor em comunicar-se com o
público.
Ou seja, a obra de Plínio Marcos, de extrema riqueza, nos encaminha ainda para
discussões sobre fé e espiritualidade, a incomunicabilidade humana, a desesperança da
96
sociedade moderna, além de questões complexas que envolvem o nacional e o popular na
cultura brasileira. Desse modo, não foram poucas as influências apontadas e as semelhanças
traçadas entre suas obras e demais artistas.
Influências e antecedentes
Em relação a certas características da obra de Plínio são apontadas influências
estrangeiras, do teatro mundial, especialmente a respeito do que existiria de “universal” em
suas peças. O questionamento da prostituta Neusa Sueli, quando se indaga “Será que somos
gente?”, se aproximaria, por exemplo, do existencialismo Sartreano. Décio de Almeida Prado,
sobre Navalha na carne, peça em que três personagem se agridem mutuamente trancados num
quarto de pensão, afirmou que “sem nenhum intuito de ironia ou menosprezo, é uma espécie
de ‘Huis-Clos’ dos pobres”. De fato, a expressão “L’enfer, c’est les autres” (O inferno são os
outros), da peça Entre quatro paredes, de Jean-Paul Sartre, parece se adequar bastante ao
universo pliniano.
134
São nítidas também as semelhanças de suas peças com o Teatro do Absurdo de um
Fernando Arrabal ou Samuel Beckett, sobretudo em determinada etapa de sua carreira – como
será descrito no capítulo 2 –, assim como com nihilismo do moderno teatro americano,
especialmente História do Zoológico (Zoo Story), de Edward Albee. Com apenas dois
personagens em um único cenário, a peça que mostra o interminável diálogo – às vezes banal,
outras surreal, muitas vezes violento – entre um vagabundo e um jovem escritor burguês e pai
de família num banco de praça, foi considerada uma clara influência, por exemplo, para Dois
perdidos numa noite suja .135
Outra referência foi apontada por Kátia Carvalho da Silva (2001), que localizou na
adaptação cinematográfica de A Navalha na carne (dir. Braz Chediak, 1970) e,
consequentemente, no texto de Plínio Marcos, marcas e traços que fazem evocar os cultos e as
estratégias que figuram na ficção decadentista. A autora traçou paralelos entre os personagens
134
PRADO, Décio de Almeida. A prospecção de “A Navalha na carne”. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1
out. 1967. In: MARCOS, Plínio. A Navalha na carne. São Paulo: Senzala, 1968.
135
Zoo Story foi montada pelos alunos da Escola de Artes Dramática no começo dos anos 60 e, aparentemente,
também por uma companhia estrangeira (com o ator Ben Gazarra no elenco) no Teatro Municipal de São Paulo.
De fato, em 1966, Emílio Fontana, amigo de Plínio, montou o texto no mesmo palco do Ponto de Encontro, na
Galeria Metrópole, onde Dois perdidos numa noite suja estrearia no mesmo ano. Em 1967, a peça de Plínio
Marcos era apresentada em uma programa duplo no Teatro da Rua (Rua Augusta, 2203, São Paulo) juntamente
com a peça de Edward Albee.
97
do filme / peça e as figuras típicas do fenômeno estético-existencial que dominou parte da
Europa Ocidental nos anos finais do século XIX, como o dândi, o andrógino e a prostituta,
além de ver no “quarto-estufa” em que se passava a ação, semelhanças com o palácio artificial
decadentista.
136
Em relação às influências nacionais, Plínio Marcos, como todo o teatro brasileiro que
se seguiu a sua descoberta em 1943, foi obviamente influenciado por Nelson Rodrigues. É
famosa a história de que quando Pagu leu pela primeira vez Barrela, falou para Plínio que
seus diálogos eram mais fortes do que os de Nelson Rodrigues. O jovem autor teria
respondido: “Quem é Nelson Rodrigues?”. Posteriormente, Plínio admitiria a influência do
“pai do teatro brasileiro moderno”, nem tanto por suas peças, mas especialmente pelas
crônicas “A vida como ela é”, que Nelson começou a publicar a partir de 1951, e o jovem
dramaturgo santista lia sem saber que era o autor. Na década de 60, ao contrário da maior
parte dos jovens e engajados dramaturgos de sua geração, o autor de Navalha na carne
tornou-se muito amigo do “reacionário” Nelson Rodrigues, de quem chegou a ser apontado
como sucessor.
137
Algumas características de Plínio Marcos, como o uso de gírias e palavrões e a
presença de personagens típicos de um imaginário brasileiro popular e urbano (o malandro, e
a mulher do malandro, o imigrante que se dá mal na cidade grande, o vagabundo espertalhão),
também já estavam presentes em certos aspectos no teatro de Nelson Rodrigues.
136
Apesar da análise detalhada e cuidadosa da autora, guiada por um “olhar semiológico”, e da pertinência de
algumas de suas considerações, discordo da maior parte de suas conclusões. Ao ignorar o contexto do cinema e
do teatro brasileiro quando a obra foi realizada, deixar de investigar as características do teatro de Plínio Marcos
e não analisar com mais profundidade o próprio filme de Chediak (se retendo primordialmente nos diálogos),
suas aproximações resultam apressadas e superficiais. Diversas características do decadentismo apontadas pela
própria autora são radicalmente opostas às do filme de Chediak e da peça de Plínio Marcos, tais como o “caráter
de ourivesaria e obsedante preocupação estilística”, os preciosismos de linguagem, o tom de bon vivant de
alguns personagens e o clima refinado e exuberante.
137
Algumas semelhanças entre os dois podem ser observadas no próprio desenvolvimento de carreiras
simultâneas de jornalista e dramaturgo, com pela rica produção tanto de crônicas quanto de peças, além do
grande interesse pelo futebol (Nelson com seu Fluminense, Plínio Marcos com o Jabaquara F.C., de Santos). A
relação entre os dois se aprofundou nos anos 60, quando Nelson deixou de ser uma referência para a nova
geração de dramaturgos. Nas palavras de Plínio: “Eu gosto muito do Nelson Rodrigues. Era uma pessoa
ext raordinária. [...] O problema é que ele fez a revolução no teatro brasileiro, esqueceram isso de sacanagem,
porque ele não queria ser filiado à esquerda”. o autor maldito disse ainda que o problema do Nelson era “o
charme”, na vontade de ficar se comparando com os outros autores, especialmente quando era criticado.
Segundo Plínio, Nelson disparava contra todos: “Quero que o Vianinha venha comer alpiste na minha mão. O
Boal era muito melhor quando copiava meus defeitos. O Zé Celso tem a profundidade de uma formiga. E o Dias
Gomes não consegue ser melhor nem na casa dele, porque tem a Janete Clair”. Apesar da amizade, Nelson não
deixou de disparar também contra Plínio Marcos no episódio em que ele liderou o protesto contra a novela
Cabana do Pai Tomás (TV Tupi, 1969), na qual o ator Sérgio Cardoso, com o rosto pintado, interpretava o
papel de um negro. Na crônica Furioso com o sucesso alheio, Nelson acusava Plínio de querer fingir uma luta
racial no Brasil por inveja do sucesso de Sérgio Cardoso na novela (RODRIGUES, 1996, p.129).
98
Dias depois da morte de Plínio, Carlos Heitor Cony publicou uma crônica na qual
manifestava sua admiração pelo dramaturgo e traçava comparações com Nelson Rodrigues:
Eles viram a comédia humana em forma de tragédia, Nelson atingindo o universal, Plínio se detendo no
local. O primeiro às voltas com a classe média, serviçal histórica das classes superiores da sociedade. O
segundo na ralé, nos subúrbios da marginalidade.
Na linguagem, o pudor de Nelson que evitava o palavrão. Em Plínio, a escancarada violência verbal do
nosso tempo.
Nelson sofria e fazia seus personagens sofrerem porque aspirava à dignidade e, em alguns casos, à
santidade. Seu universo não conhecia a fome.
Plínio desprezava a dignidade e se lixava para a santidade. A fome e a miséria, física ou moral,
substituíam os valores burgueses da obra de Nelson. 138
Houve ainda diversos outros antecedentes da obra de Plínio Marcos na literatura
brasileira, como escritor João Antônio, revelado em 1963 e de quem Plínio se aproximava
pelos personagens marginais, pelo retrato sujo da cidade de São Paulo e pelo uso de uma
linguagem coloquial; além, por exemplo, de Carolina Maria de Jesus, catadora de papel da
antiga favela do Canindé, que publicou, em 1960, o livro Quarto de despejo.
139
Ou seja, mais do que tentar identificar precursores, antecedentes ou influências, é
importante perceber o contexto cultural que se esboçava desde o pós Guerra, marcados pela
crescente seriedade dos temas, pelo apelo do nacional-popular e pela politização e interesse
social.
No capítulo seguinte serão brevemente caracterizadas as relações entre o teatro e o
cinema brasileiro nas décadas de 50 e 60 – sendo necessário, para isso, uma breve
recapitulação – como forma de relacionar a obra de Plínio com o contexto do teatro brasileiro
da época, destacando, especialmente, a “dis-sintonia” que marcou sua trajetória. Por outro
lado, para abordar os filmes baseados em suas obras, serão discutidas as razões que
despertaram o interesse de cineastas e diretores por seus textos, e também como essas mesmas
adaptações cinematográficas se encaixavam na trajetória mais ampla do cinema nacional.
Por último, se foi apenas esboçada uma reflexão sobre as diversas características do
universo pliniano, nos capítulos seguintes que irão abordar as diferentes adaptações
cinematográficas das obras de Plínio Marcos, os aspectos temáticos, ideológicos e formais
específicos de cada peça ou texto que serviu de fonte para esses filmes serão aprofundados.
138
CONY, Carlos Heitor Cony. Folha de S.Paulo, 22 nov. 1999.
Aos 26 anos João Antônio publicou seu primeiro e elogiado livro Malaguetas, perus e bacanaços, sendo
imediatamente consagrado. Já Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, era uma compilações de trechos
de seus diários, onde contava sua vida, seus sonhos e seu dia-a-dia de mulher negra e pobre. Recentemente o
docu-drama em curta-metragem Carolina (dir. Jeferson Dé, 2003) abordou sua vida.
139
99
100
2. PALCOS E TELAS
Theatro e o cinematographo.
140
A longa tradição de diálogo entre o teatro e o cinema no Brasil data desde a chegada
do cinematógrafo ao país, em 1896, quando, para conquistar popularidade depois do interesse
inicial, o novo invento não deixou de roubar diversos predicados do teatro, que era então o
divertimento preferencial do público. Esse “empréstimo” pode ser notado, por exemplo, em
dois dos principais “gêneros” da produção cinematográfica brasileira de ficção da primeira
década do século XX, o filme cantante (nos quais famosos cantores do teatro lírico dublavam
as canções dos filmes, ao vivo, atrás da tela) e a revista de ano filmada (que se aproveitava de
um gênero teatral popular, mas já decadente àquela altura). Se o cinema esteve inicialmente
associado à linha de divertimentos populares e de espetáculos de feira (que incluía o teatro
popular), a aliança com um teatro de maior “nível” também foi uma forma buscada para
angariar prestígio à atividade, como no caso dos film d’art franceses.
141
No Rio de Janeiro, entre 1907 e 1911, houve um grande desenvolvimento da atividade
cinematográfica (chamado na época de “a febre do cinematógrafo”), com o crescimento do
número de salas fixas de cinema e o conseqüente aumento da produção de filmes
brasileiros. 142 Passado este momento, diante de fatores diversos como a disjunção de
interesses entre produtores e exibidores com o surgimento do distribuidor de películas
estrangeiras e a organização industrial do cinema nos EUA a partir de 1912, o mercado
assumiu uma nova feição (SOUZA, J, 2004, p.102-103). Um dos efeitos desse processo foi a
drástica diminuição da produção de filmes brasileiros e, posteriormente, a crescente
140
Pelo foco de interesse e os limites da dissertação, este relato se concentra sobretudo no universo do Rio de
Janeiro e São Paulo, mas sem com isso desconsiderar a importância, além das diferenças e peculiaridades, do
desenvolvimento do teatro e do cinema brasileiro nas demais regiões do país.
141
Realizados nas primeiras décadas do século XX, estes filmes eram anunciados como filmagens de “peças
escritas pela Société Cinématographique des Auteurs et Gens de Lettres e representadas pelos primeiros artistas
dos primeiros teatros parisienses” (SOUZA, J., 2004, p.299), sendo parte de uma ampla estratégia de conquista
do público burguês para o cinema.
142
A historiografia clássica consagrou esse período como a Bela Época do Cinema Brasileiro (ARAÚJO, 1985),
mas conforme estudos recentes (BERNARDET, 1995, SOUZA, J., op. cit.), o filme brasileiro continuou
marginalizado no seu próprio mercado, representando uma pequena parcela dos filmes exibidos, produzidos
principalmente na França, Itália, Dinamarca, Alemanha e Estados Unidos.
101
hegemonia do cinema americano, que tomaria definitivamente o lugar do filme europeu
durante a crise decorrente da Primeira Guerra Mundial.
Enquanto isso, o teatro permaneceria como o segmento mais vigoroso do ramo de
diversões populares, mesmo que sem o esplendor de outrora. Passada a época das óperas,
operetas, revistas e burletas, as revistas musicais com o moderno espírito do show é que se
tornariam os grandes sucessos, principalmente tomando o carnaval como tema e a marchinha
como trilha. A pequena elite, por outro lado, continuaria se satisfazendo em viagens pela
Europa ou com as turnês de companhias européias ao Brasil.
A partir dessa época, o apoio mútuo entre o cinema e o teatro se materializaria tanto
nos locais de exibição, os cine-theatros que alternavam as duas atividades, como também no
próprio espetáculo, com o casamento das duas artes nos chamados espetáculos de palco e
tela. Essas duas experiências seriam a tônica, não a exceção, do teatro e do cinema brasileiro
até a chegada e consolidação do filme sonoro.
Ao longo também da década de 20, enquanto a dinamização das revistas musicais com
atores as encaminhava para os shows de cantores, a comédia passou a dominar os palcos
brasileiros, através de uma geração privilegiada de grandes astros, como Leopoldo Fróes,
Jaime Costa e Procópio Ferreira.
143
A principal característica do que ficou conhecido como esse “teatro para rir” era
permitir que os primeiros atores, verdadeiros ídolos populares, dispusessem de um esboço de
texto sobre o qual projetar sua personalidade. A peça era um mero apoio para a improvisação
com abundância de “cacos”, numa época em que o papel primordial do “encenador” era
simplesmente determinar as marcas dos atores, e quando uma figura essencial do espetáculo
era o “ponto”.
144
Dessa forma, permanecia sempre em primeiro plano a figura do astro, senhor absoluto
do palco – e muitas vezes também das companhias, das quais costumava ser empresário ou
dono (MAGALDI, 2001, p.194-195).
143
Com cada vez mais números musicais – mais luxuosos e requintados –, a revista se encaminhou para os
shows de cassino nas décadas de 30 e 40, e para os shows de boates, nas décadas de 50 e 60. Além disso, face ao
crescimento e a popularização do rádio nos anos 30 e ao desenvolvimento da indústria fonográfica, o teatro
perdeu o papel de divulgador da música popular, enquanto o fenômeno novo dos programas de auditório
radiofônicos substituiria gradativamente o teatro de revista no contato direto entre o cantor e o público.
144
O ponto era o responsável por ler em voz baixa todo o espetáculo para orientar o elenco que diante da
mudança constante de peças, poucas vezes tinha o texto decorado nas primeiras apresentações. Conforme Décio
de Almeida Prado (2003, p.19), “alguns espetáculos extras de Leopoldo Fróes, famoso por sua presença de
espírito dentro e fora de cena, não puderam ser repetidos, apesar do sucesso, simplesmente porque o ator já
pouco se lembrava do que dissera na noite anterior”.
102
A hegemonia do teatro na preferência do público somente seria ameaçada com o
advento do filme sonoro e sua consolidação no Brasil, entre o final dos anos 20 e meados da
década de 30. A partir desse momento, com o cinema se impondo definitivamente como
principal divertimento popular, auxiliado pelo crescimento do circuito e o barateamento dos
ingressos, o espetáculo teatral se encaminharia para um processo gradativo de elitização nas
décadas seguintes.
145
Por último, é importante chamar atenção para o fato de que tanto o teatro quanto o
cinema permaneceram ausentes dos eventos da Semana de Arte Moderna, realizada em São
Paulo, em 1922, marco do modernismo nas artes brasileiras, especialmente na literatura e nas
artes plásticas. Ficando de fora desse processo, se tornou corrente a idéia de que o teatro
brasileiro só atingiu a modernidade na década de 40, enquanto o cinema brasileiro moderno
apenas seria configurado a partir dos anos 50. Entretanto, é possível refletir se esse fato talvez
se deva menos à inexistência de aspectos modernos no teatro e no cinema brasileiro até esses
marcos definidos pela historiografia, do que ao desprezo da intelectualidade e da elite pelos
filmes e peças realizados até então no país.
146
Palcos: o astro sai dos holofotes e o autor e o diretor entram em cena.
Segundo Décio de Almeida Prado (2002, p.14), o teatro profissional existente no
Brasil nos anos 30 continuou sobrevivendo nos “limites estreitos da comédia de costumes”,
que já teria se esgotado após o surto criador da década de 20. Porém, com o cinema se
tornando indiscutivelmente a principal opção de lazer do grande público, a única possibilidade
do teatro passava a ser não enfrentá- lo no campo que ele se tornava imbatível. Desse modo,
145
O movimento de barateamento dos ingressos no circuito carioca teve início em 1932 e continuou até 1936,
com os cinemas dos bairros e depois da própria Cinelândia progressivamente reduzindo o preço dos ingressos
para os tetos praticados no início da década de 20. Em 1935, o cinema Pathé estendeu o preço do balcão –
considerado a 2º classe – à platéia. Foi o fim das separações econômicas dentro das salas e o teatro e o cinema,
no aspecto do local de encenação/exibição, se diferenciariam cada vez mais (GONZAGA, 1996, p.166).
146
Enquanto na Europa o cinema foi logo descoberto pelas vanguardas artísticas como o expressionismo alemão,
o impressionismo francês, o construtivismo soviético ou o surrealismo, nas primeiras décadas do cinema
brasileiro foram raros os exemplos de diálogo com o modernismo e a tendência na historiografia clássica foi
considerar o célebre Limite (dir. Mário Peixoto, 1931) como a “única incursão do cinema mudo brasileiro na
vanguarda estética” (Galvão, 1984), além de São Paulo, sinfonia de uma metrópole (dir. Adalberto Kemeny e
Rodolfo Lustig, 1929). Por outro lado, desde o seu surgimento, a atividade cinematográfica em sua essência – a
realização de qualquer filme ou o simples ato de ir ao cinema – já se configurava como um dos ícones da
“invenção da vida moderna” (CHARNEY; SCHWARTZ,1995).
103
em contraponto ao “teatro para rir” profissional, ainda predominante, mas cada vez menos
significativo no circuito de diversão popular, surgiria o “teatro sério” amador, com apoio
decisivo do Estado (Ibid, p.37-38).
Foi através da ação renovadora do amadorismo, esboçada pelo Teatro de Brinquedo,
criado por Eugênio e Álvaro Moreyra ainda em 1927, que o teatro brasileiro ganhou
consistência nas décadas de 30 e 40, por meio de uma prática intensa, inclusive com o apoio
do Estado Novo. Desse modo, as experiências do Teatro do Estudante do Brasil (1938), do
Teatro Universitário (1939) e da companhia Os Comediantes (1938) se tornaram marcos
fundamentais na busca da “fixação de um teatro com padrão artístico”.
Segundo Gustavo Dória, um dos participantes desse processo, no Rio de Janeiro de
então, capital cultural do país e de onde partiam companhias em excursões para outras cidades
e estados,
Somente o povo, em suas camadas abaixo da média freqüentava as nossas salas de espetáculo, que se
resumiam ao teatro de revista, localizado na Praça Tiradentes, ou então ao único teatro estável de
comédia que era o Trianon, situado na Avenida Rio Branco. O Trianon, com as suas comediazinhas,
que se sucediam quase que semanalmente no cartaz, [...] cuidavam rotineiramente dos pequenos
problemas sentimentais e domésticos das famílias mo destas, moradoras dos subúrbios (DÓRIA, 1975,
p.20-21).
Ou seja, a renovação dos amadores foi almejada pelos “componentes da média
burguesia que não se encontravam nos espetáculos que lhes eram oferecidos, geralmente onde
não havia qualquer identidade entre os seus anseios, os seus problemas e o que lhe aparecia no
palco” (Ibid, p.81). Antes da explosão dos amadores, sem existir um teatro profissional, em
atividade regular que satisfizesse à classe média ou à elite, a chamada “sociedade” e os
“intelectuais” contentavam-se com as temporadas de teatro francês ou,esporadicamente, as do
teatro português ou italiano (Ibid, p.22-23).
Por outro lado, não se pode deixar de sublinhar tanto avanços ocorridos também no
teatro brasileiro profissional ao longo da década de 30, por espetáculos e por autores como
Joracy Camargo (Deus lhe Pague, 1932), Oduvaldo Vianna (Amor, 1934) ou Renato Viana
(Sexo, 1934), quanto às dificuldades decorrentes das restrições impostas pela pesada censura
do Estado Novo a partir de 1935.
147
147
A relação do teatro brasileiro com o Estado Novo foi importante e contraditória, mas obviamente inserida no
projeto mais amplo de intervenção estatal na cultura pelo governo Vargas. Até 1937, quando foi criado o SNT
(Serviço Nacional de Teatro), excetuando mecanismos repressivos, o Estado jamais havia criado formas de
participação contínuas no setor teatral (Pereira, V., 1998). Por outro lado, em sintonia com o populismo, Getúlio
Vargas prestigiava o “teatro para rir” e era até certo ponto complacente com sua caricatura nas revistas. Por outro
104
Em 1943 ocorreu o que a historiografia oficial convencionou considerar como o marco
da renovação moderna dos amadores, com a montagem no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro de O Vestido de Noiva pelo grupo Os Comediantes. Considerada como fundadora do
teatro brasileiro moderno, a encenação da segunda peça de Nelson Rodrigues pelo diretor
polonês Zbigniew Ziembinski (no Brasil desde 1941, fugindo da guerra na Europa), foi
aclamada como um “milagre”, explicado “pelo encontro entre um drama irrepresentável se
não em termos modernos e o único homem porventura existente no Brasil em condição de
encená- lo adequadamente” (PRADO, op.cit., p.40).
Dessa maneira, o teatro brasileiro, ao encontrar-se talvez pela primeira vez à altura do
que já era visto nos palcos estrangeiros, fez com que o país – na verdade, a elite – descobrisse
“essa arte julgada até então de segunda categoria, percebendo que ela podia ser tão rica e
quase tão hermética quanto certa poesia ou certa pintura moderna” (Ibid).
Não considerando a montagem de Vestido de Noiva uma ruptura radical, mas sim um
ponto de culminância com as experiências anteriores de renovação do teatro brasileiro 148 , é
possível apontar também para outras colaborações nesse processo ao longo da década de 40,
tenha sido através de autores como Joracy Camargo, Abílio Pereira de Almeida ou Paschoal
Carlos Magno, ou de cenógr afos como Santa Rosa. O próprio teatro de humor também passou
por mudanças, como na modernização da comédia carioca efetuada por Silveira Sampaio. Da
mesma forma, não se deve omitir a permanência de espetáculos populares como os do teatro
de revista, lembrando, por exemplo, da Companhia de Revistas Walter Pinto, surgida em
1939 e que atravessou com sucesso as duas décadas seguintes.
149
lado, o Ministro Gustavo Capanema em sua gestão no Ministério da Educação e Saúde Pública (1934-1945),
cercado de intelectuais de renome como Carlos Drummond de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade
ou Manuel Bandeira, prestou grande apoio às companhias amadoras, gerando inúmeros protestos dos
profissionais. Essas reclamações, mesmo de forma bem-humorada, ainda podiam ser notadas em 1949, como
numa canção da revista Está com Tudo e não está prosa (Walter Pinto e Freire Júnior): “O Serviço de Teatro /
Está levando o diabo a quatro / A mercê dos amadores, / Que tem outras profissões / Além das subvenções / Que
lhes dá este Serviço. / Ninguém tem nada com isso: / Pensem bem e me dirão: / Só paga imposto real / O teatro
nacional. / E os seus profissionais, / Triste sorte, triste sina, / Continuam lá na esquina, / Passando à média e pão
(In: FREITAS, 2001/2002, p. 26-27).
148
Conforme Aline Andrade Pereira (2004), mesmo sendo aclamada na época como o marco do “nascimento”
do teatro moderno brasileiro, na verdade quem reconheceu Vestido de Noiva como excepcional e revolucionária
foram os críticos literários e/ou críticos teatrais de uma nova geração; “os primeiros preocupados com uma arte
que refletisse a elite, e os segundos, empenhados em uma mudança de comportamento por parte da crítica”. Ou
seja, ao se referir à montagem da peça de Nelson Rodrigues como original e inédita, se alinhando ao novo tipo
de criação teatral (primordialmente “séria”, em contraponto ao “teatro para rir”), os críticos construíam um lugar
de autoridade para o próprio grupo, se legitimando também como uma crítica moderna.
149
Mesmo respeitando as convenções da revista, o empresário deu uma nova feição ao gênero, imprimindo-lhe
um ar de modernidade, sobretudo pelo aparato espetacular (efeitos de luz e sombra, cascatas, escadas e
passarelas monumentais no palco, coreografias elaboradas), além de “uma linguagem cênica mais sofisticada
para atrair um público burguês, sem abrir mão das camadas mais populares.” Sob a influência dos musicais de
105
No final dos anos 40, como decorrência da renovação amadora, surgiria o novo
profissionalismo, tentando conter em seus mais severos limites a flama amadora, traduzir em
dados orçamentários as conquistas estéticas e evoluir das temporadas fortuitas para a
continuidade das companhias permanentes (PRADO, op.cit.,p.41). Seu principal símbolo foi o
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), criado em 1948, abrindo espaço para o surgimento de
diversas companhias modernas na década de 1950. Mesmo aumentando o preço dos
ingressos, o TBC atraiu não só a elite ao teatro, como também a classe média, que podia
finalmente assistir no Brasil e em português aos grandes mestres do teatro mundial (e um ou
outro autor nacional), em espetáculos com direção e interpretações de “alto nível”.
Embora o centro de criatividade passasse do Rio de Janeiro para São Paulo, o TBC
não investia numa estratégia muito diferente da que era posta em prática na capital federal
pelas companhias profissionais que incorporavam gradativamente avanços dos amadores, que
era a aliança de textos consagrados e encenadores estrangeiros. No Teatro Brasileiro de
Comédia “a diferença seria antes de caráter empresarial, consistindo numa economia interna
mais perfeita e num considerável salto quantitativo” (PRADO, op.cit., p.43). Dessa maneira, a
companhia paulista manteve-se durante uma década como o denominador comum do palco
brasileiro e seu mais alto padrão de qualidade.
Uma grande mudança que ocorria também no teatro brasileiro era a passagem do
comando do espetáculo do primeiro ator para o encenador, mas cujo poder ele não exercia em
benefício próprio – “acima de tudo e de todos, conforme a lição de Stanislávski e de Copeau,
brilhava, inatingível, o texto literário” (Ibid,p.47).
150
Nesse sentido, não se deixava de alertar para a necessidade de também serem
encenados originais brasileiros – não tendo sido outro o conselho de Louis Jouvet a Os
Comediantes, levando-os a Nelson Rodrigues –, mas a pressuposição da superioridade
cultural estrangeira cada vez mais motivava os empresários à encenação quase exclusiva de
Hollywood, tudo se tornava mais “bonito” – tanto o cenário, as roupas e, principalmente, as mulheres – dando
passagem para “a aparição do maior símbolo do sonho e da fantasia do teatro de Walter Pinto, a vedete”
(FREITAS, 2001/2002, p.29-30).
150
Nesse processo ocorreu um abrupto corte histórico que cindiu duas gerações de atores – de um lado os
amadores, quase que exclusivamente formado por jovens abaixo dos trinta anos –, e do outro, astros
acostumados com o ponto (que viria a ser abolido pelos amadores), desabituados a ensaios exaustivos e
defensores do “caco”. Diferentemente dos veteranos, para essa nova geração de atores, a dignidade do intérprete
residia justamente no respeito ao texto, sobretudo os clássicos.
106
textos de autores estrangeiros, tanto por convicções pessoais quanto pelo interesse em
corresponder às expectativas de uma parcela do público e da crítica.
151
Mesmo alguns dos mais reconhecidos autores brasileiros das décadas de 40 e 50, como
Guilherme Figueiredo, Pedro Bloch ou Henrique Pongetti, seriam marcados mais pela busca
de temas universais, que os colocaria à altura dos autores estrangeiros, do que pela tentativa
de construção de uma dramaturgia caracteristicamente brasileira. Segundo Décio de Almeida
Prado (op. cit., p.51), o próprio Nelson Rodrigues, apesar de seus personagens
“brasileiríssimos” e seus diálogos recheados de gírias e expressões coloquiais, “não
permaneceu de todo imune à tentação universalizante”, sobretudo em suas obras iniciais,
notadamente suas peças psicológicas e suas peças míticas.
Telas: dos estúdios aos temas nacionais.
O cinema brasileiro de ficção viveu entre as décadas de 30 e 50 o apogeu do cinema
de estúdio no país, nos diferentes empreendimentos da Cinédia (1930), Atlântida (1941) e
Vera Cruz (1949). Segundo João Luiz Vieira, “o modelo hollywoodiano de sucesso
comprovado definiu-se, através da década de vinte, como o paradigma inquestionável diante
do qual todo e qualquer impulso criativo em cinema deveria se confrontar”.
152
A Cinédia inaugurou o cinema industrial no Brasil justamente no momento da
passagem do filme mudo para o sonoro, que embora determinasse o fim das iniciativas
efêmeras e dispersas da década de 20, por outro lado gerava a (vã) euforia da possibilidade de
enfrentamento do cinema americano dominante em nosso próprio território.
153
Se o projeto inicial da Cinédia era calcado nos preceitos da revista Cinearte, tendo
como objetivo um cinema de estúdio, sofisticado, luxuoso, moderno e ao nível de Hollywood,
a companhia acabou encontrando alguns dos seus principais sucessos na aliança com a música
popular (consagrando os musicais carnavalescos) e com o teatro popular (importando muitos
151
Simbolizando o pensamento elitista de parte da sociedade da época, Carlos Lacerda, além de político, também
dramaturgo, em entrevista publicada no Diário de Notícias em 2 de junho de 1946, afirmava: “Prefiro (Bernard)
Shaw mal representado a qualquer “chanchada” bem urdida” (PEREIRA, V., op.cit.).
152
VIEIRA, João Luiz. Espelhos embaçados: o cinema de estúdio no Brasil, 1930/50, Rio de Janeiro, [199?].
Mimeografado.
153
A fundação dos estúdios de Adhemar Gonzaga coincidiu também com a Revolução de 30 e com o projeto
nacionalista de Getúlio Vargas, quando pela primeira vez o governo apoiou o cinema, tenha sido através de uma
legislação pioneira ou de uma intervenção mais direta, nesse caso, em relação ao cinema educativo, em sintonia
com o projeto cultural e educativo do Estado Novo.
107
de seus astros e diretores). O primeiro filme da célebre trilogia inicial dos musicais
carnavalescos – Alô, alô, Brasil (dir. Wallace Downey, 1935), Estudantes (dir. Wallace
Downey, 1935) e Alô, alô, carnaval (dir. Wallace Downey e Adhemar Gonzaga, 1936) – teria
surgido, segundo José Ramos Tinhorão (1972), no momento em que a revista virava show, se
inspirando no espetáculo Alô... Alô... Rio?, de Jardel Jercolis, encenado em 1934 no Teatro
Carlos Gomes.
154
Em outra chave, a popularidade do teatro nacional também era imediatamente
aproveitada pelos filmes brasileiros, chegando a alimentar os temores dos defensores do
cinema mudo pela “volta à teatralidade” decorrente da “praga dos talkies”, como acusavam os
redatores do jornal O Fan, editado pelo primeiro clube de cinema do país, o Chaplin Club. O
filme Alô, alô Brasil, por exemplo, foi acompanhado em parte de sua carreira pelo
complemento Procopiadas com “dois impagáveis monólogos de Procópio Ferreira”
(BERNARDET, 1979), provavelmente registrando em forma de “teatro filmado” o que o
grande astro fazia com enorme sucesso nos palcos brasileiros.
155
Máximo Barro (2001, p.51) reforçou a influência no cinema brasileiro dos anos 30 do
teatro popular:
Grande parte da obra de Mesquitinha, Lulu de Barros e outros cariocas, nos anos 30, são ‘adaptações’
de peças teatrais que haviam carregado público ao teatro: O bobo do rei, Bonequinha de seda,
Maridinho de luxo, Samba da vida, Bombonzinho, Futebol em família, Anastácio, Aves sem ninho,
Onde estás, felicidade? e O simpático Jeremias.
Nesse sentido, o que se constituiria uma das “síndromes” dos cineastas brasileiros da
década de 30 seria “a teatralização representada por marcações solenes, olhares ‘psicológicos’
154
O filme Alô, Alô, Carnaval, por exemplo, se passa justamente num ambiente luxuoso – como o dos cassinos
para onde esses shows migravam –, no qual um fiapo de história (a tentativa de dois pobretões montarem uma
revista musical) servia para os improvisos dos humoristas teatrais Barbosa Júnior e Pinto Filho e era entremeada
por inúmeros números musicais de cantores de sucesso nas revistas da Praça Tiradentes e no Rádio.
155
Com o advento do som, muitos críticos e cineastas temeram pela volta do “teatro filmado”, nos termos dos
então condenados films d’art dos primórdios. De fato, na passagem para o cinema sonoro, tanto por questões
técnicas (uma maquinário maior e mais pesado) quanto pelas incontáveis adaptações de obras teatrais,
aproveitando o amplo repertório de peças clássicas ou de sucessos contemporâneos, foi apontado um possível
“retrocesso” de uma linguagem que atingira seu auge no cinema mudo no final da década de 20. No Brasil, no
segundo número de O Fan, de outubro de 1928, um artigo de Octávio de Faria intitulado Contra o Film Falado
oferece uma medida do tom dessas críticas em que o teatro representava a exata oposição de tudo que o cinema
tinha de autêntico (e puro) e que estaria sendo ameaçado pelo advento do som: “Será que a América não vê que o
film falado é uma retrogradação de não sei quantos anos, uma volta aos primeiros dias em que se confundia
cinema com filmagem de teatro? Teatro. Aproximação do teatro. Volta à teatralidade. [...] Em uma palavra, que
o film falado é um erro, desses mesmos sinistros, sobretudo num momento em que as mais modernas teorias
sobre o scenário são pela absoluta supressão dos letreiros, definindo assim cada vez mais o cinema como arte
pura, essencialmente visual...” (mantida a grafia original).
108
e ritmo arrastado, provenientes do teatro de Procópio Ferreira ou Jaime Costa, inspirado em
Itália Fausta ou Leopoldo Fróes, cuja fonte era Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, Lavedan e a
Comédie Française” (BARRO, 2001).
Por outro lado, o cinema brasileiro só ganhou ao aproveitar a espontaneidade, o
histrionismo e a agilidade verbal, enfim, o talento dos atores criados no tal “teatro para rir”,
como Jaime Costa em Samba da vida (dir. Luis de Barros, 1937) ou Mesquitinha em
Maridinho de luxo (dir. Luis de Barros, 1938). Além disso, como desprezar a enorme
popularidade de astros dos palcos e rádios, como o casal Gilda de Abreu e Vicente Celestino,
protagonistas dos maiores sucessos do cinema brasileiro nas décadas de 30 e 40: Bonequinha
de seda (dir. Oduvaldo Viana, 1936) e O ébrio (dir. Gilda de Abreu, 1946).
Dessa forma, podemos afirmar que além do sucesso das músicas e dos artistas do
rádio, foi o humor de origem teatral, especialmente a partir de uma tradição de comédia do
teatro nacional, que sustentou parte do êxito do cinema brasileiro assumidamente popular da
década de 30 a 50. A condenada e abundante comicidade, assim como o subestimado teor de
crítica social e sátira política das chanchadas cinematográficas (termo também utilizado no
teatro), que conheceriam seu auge nos anos 40 e 50, têm muito a ver com um teatro que na
revista Para Todos, de 27 de agosto de 1927, o crítico Mário Nunes já condenava:
Rir... Rir...Rir... Verdadeira fábrica de gargalhadas... O recorde da graça... O espetáculo mais
desopilante... Etc... Etc... Etc... Os cartazes de nossos teatros são todos assim. Das duas uma: ou o nosso
público, na opinião das empresas, é parvo, ou os autores brasileiros são os homens mais engraçados do
mundo... (apud DÓRIA, op.cit., p.22).
Entretanto, se para a Cinédia o investimento nos musicais e comédias carnavalescas se
confirmou bem sucedido comercialmente, o objetivo de Adhemar Gonzaga permanecia sendo
investir em filmes mais sofisticados, de acordo com suas pretensões iniciais. Essa estratégia
que se mostrou aparentemente acertada com o enorme êxito de A bonequinha de seda não
logrou o mesmo êxito em outras ocasiões.
156
156
Em comparação com os filmes musicais daquele momento (tanto os da própria Cinédia, como também os
“abacaxis” da Sonofilms), uma comédia sofisticada como 24 horas de sonho (dir. Chianca de Garcia, 1941),
estréia dos atores Dulcina e Odilon de Morais nas telas, representava um diferencial semelhante ao que as peças
da própria Companhia Dulcina-Odilon simbolizavam no panorama teatral profissional da época. Na década de
40, os espetáculos do casal se diferenciavam do “teatro para rir” mais rasteiro por constituírem um “vaudeville
bem-acabado” de apuro material ou, ainda, um teatro de boulevard de maior nível, com cenários e figurinos
luxuosos. A “diferença flagrante entre o teatro feito por Dulcina e o realizado pelos demais” (DÓRIA, op.cit.,
p.94) se acentuou quando a atriz-empresária passou a representar originais estrangeiros de autores importantes e
a valorizar o papel do encenador.
109
Além da Cinédia, na década de 30 também foram criados outros estúdios como a
Brasil Vita Filmes (1935), da atriz Carmen Santos, ou a Sonofilms (1936) do empresário
Alberto Byington Jr. Apesar das diferenças entes eles, todos foram afetados pelas dificuldades
inerentes ao mercado dominado pelo filme americano, por problemas na importação de
equipamentos e película virgem com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, além de
complicações de outras ordens. Desse modo, o cinema brasileiro entrou em grave crise no
começo dos anos 40, com a paralisação quase total da produção de longas- metragens pelos
estúdios surgidos na década de 30.
Por outro lado, em 1941, antes ainda do final do conflito mundial, surgiria a Atlântida,
criada pelo homem de cinema Moacyr Fenelon (vindo da Sonofilms, arrasada por um
incêndio no ano anterior), pelo fotógrafo Edgar Brasil, pelo advogado Arnaldo de Farias e
pelos jornalistas Alinor Azevedo e José Carlos Burle. A empresa pretendia ser uma produtora
de filmes independentes, realizando um cinema de cunho social. “Através de um novo sócio,
o Conde Pereira Carneiro, dono do Jornal do Brasil, a Atlântida conseguiu o capital
necessário para construir um estúdio algo improvisado, comprar equipamentos de segunda
mão e partir para a produção de cine-jornais e documentários”.
157
O manifesto de criação da Atlântida dava o tom das pretensões do estúdio, apontando
para a preocupação social e o nacionalismo latente de suas intenções: “Seremos uma grande
empresa brasileira, começando por valorizar nossos temas, no que possuímos de mais belo,
nos ambientes pictóricos e regionalistas, nos aspectos sociais do homem brasileiro, na sua
história e seus costumes, e na psicologia desse homem”.
158
O primeiro longa- metragem de ficção realizado pelo estúdio apontaria na direção
sugerida pelo manifesto: Moleque Tião (dir. José Carlos Burle, 1943) livremente baseado na
vida do ator Sebastião Prata, o Grande Otelo. Entretanto, mesmo com o sucesso do filme,
diante de dívidas melancólicas que se acumulariam posteriormente, já a partir de Tristezas
não pagam dívidas (dir: José Carlos Burle e Rui Costa, 1944), primeira película na qual
157
AUTRAN, Artur. A questão da indústria cinematográfica brasileira na primeira metade do século.
Mnemocine: Memória e Imagem. Cinema. História. São Paulo. Disponível em:
<http://www.mnemocine.com.br/cinema/historiatextos/arturBras.htm>. Acesso em: 20 nov. 2005.
158
Uma outra versão do manifesto (de tom economicista) foi divulgada por diversos pesquisadores ao longo dos
anos (NOBRE, 1955, p.57; VIANY, 1959; CATANI; SOUZA, J., 1983, p.41, VIEIRA, J., 1987, p.154).
Entretanto, a que parece ser a versão “verdadeira” foi apresentada no catálogo de mostra sobre Moacyr Fenelon,
baseado em pesquisa realizada a partir de seu acervo pessoal (BARRO, 2001). A presença de um trecho dessa
versão – exatamente o citado aqui – num texto sobre a Atlântida no álbum de figurinhas Ídolos da Tela, de 1952
(acervo Cinemateca do MAM), parece comprovar a autenticidade dessa versão.
110
Grande Otelo e Oscarito formaram uma dupla, a Atlântida também seguiu o rastro das
comédias musicais carnavalescas.
Apesar de algumas esparsas tentativas posteriores de realizar filmes “sérios”, foi
através das chanchadas que a Atlântida se consagrou e alcançou sucesso comercial. Essa linha
seria seguida com mais ênfase após a aquisição da empresa, em 1947, por Luiz Severiano
Ribeiro Jr., principal distribuidor cinematográfico do país, e nos filmes dirigidos por Watson
Macedo e, posteriormente, Carlos Manga.
Nessa mesma época, com a vitória aliada na Segunda Guerra, o Brasil saía da ditadura
do Estado Novo alimentado pela política de substituição de importações, ingressando num
processo de industrialização crescente. A burguesia paulista enriquecida,
através de
“industriais amadores das artes” (SOUZA, C., 1998, p.112), se encarregou de transformar São
Paulo, motor econômico da nação, também na capital cultural do país, tanto por meio de um
mecenato cultural, como pela possibilidade de diversificar seus negócios.
Nesse ambiente surgiu a Companhia Cinematográfica Vera Cruz em 1949, liderada
por Franco Zampari, o mesmo engenheiro que criara o TBC no ano anterior. Além do
contexto econômico e cultural já apontado, ambos os projetos tinham em comum a pretensão
de produzir tanto espetáculos teatrais quanto filmes à altura de seus equivalentes estrangeiros,
ignorando ou desprezando o que era feito até então em São Paulo pelo teatro profissional
(teatro de revista, o teatro para rir) e pelo cinema comercial carioca (as chanchadas da
Atlântida).
159
Apesar dos resultados econômicos frustrantes e das acirradas críticas aos filmes
produzidos, não se pode menosprezar os dividendos gerados pela Vera Cruz. Deve ser
destacada, por exemplo, a indiscutível elevação do nível técnico do cinema brasileiro
proporcionada pelo estúdio – nos mesmos moldes do que o TBC representou para o teatro
brasileiro –, tanto pelos vultosos investimentos, quanto pela contratação de prestigiosos
profissionais estrangeiros. Nessas duas experiências, em meio ao aprendizado e ao convívio
com italianos, ingleses, russos e alemães, foi formada toda uma nova geração de atores,
159
Um exemplo dessa diferenciação se deu noite de entrega do troféu Índio (criado à imagem e semelhança do
Oscar americano) aos melhores do cinema brasileiro de 1952. Nesta cerimônia realizada no Teatro Municipal do
Rio de Janeiro e entremeada pela apresentação de árias de óperas, foram oferecidos prêmios de “melhor filme”
(Tico-tico no fubá, de Adolfo Celi, produção da Vera Cruz) e “melhor filme carnavalesco” (É fogo na roupa, de
Watson Macedo, da Atlântida).
111
diretores e, especialmente, técnicos brasileiros de cinema e de teatro que nos anos seguintes
se tornariam nomes importantes para essas duas áreas.
160
Com o aumento da produção de filmes brasileiros, tanto com as populares chanchadas
cariocas, quanto com os mais bem acabados filmes dos estúdios paulistas, o cinema brasileiro
aparentemente se reerguia da crise no início dos anos 40, constituindo, inclusive, um
verdadeiro estrelismo (star system) do cinema nacional. Mesmo ainda aproveitando
humoristas revelados no circo, revistas e shows dos cassinos (como Ankito) ou nos programas
radiofônicos (como Zé Trindade), além do elenco estelar de cantores e artistas do rádio,
alguns dos maiores astros da Atlântida foram aqueles que se consagraram diretamente nas
telas, realizando o sonho de se tornar “artista de cinema”. Surgia um grupo de atores que pela
primeira vez trabalhava com enorme sucesso quase que exclusivamente em filmes nacionais,
como a eterna mocinha Eliana Macedo, o galã Anselmo Duarte e seu sucessor Cyll Farney, ou
o vilão José Lewgoy. Mesmo comediantes como Grande Otelo ou Oscarito, com origens e
passagens por picadeiros e palcos, seriam elevados a celebridades através do sucesso das
chanchadas nas telas de cinema.
161
Ainda assim, a vedete, por exemplo, continuava sendo uma figura que se projetava no
teatro de revista e que o cinema incorporaria aproveitando sua fama, charme e glamour, numa
linhagem de Virgínia Lane e Renata Fronzi até Norma Bengell e Irma Alvarez. 162
Por outro lado, mesmo a Vera Cruz, que não deixou de importar atores dos palcos,
especialmente do Teatro Brasileiro de Comédia, como Cacilda Becker, Paulo Autran ou
Jardel Filho, também tratou de descobrir suas próprias estrelas cinematográficas, como Eliane
Lage ou Marisa Prado.
160
Entretanto, o TBC e a Vera Cruz não foram os únicos responsáveis por esse avanço. Além das companhias
teatrais que foram formadas por ex-integrantes do Teatro Brasileiro de Comédia, entre 1949 e 1953 também
surgiram 20 novas companhias cinematográficas e produtoras no rastro da Vera Cruz, mas além dela, apenas
outros dois empreendimentos de vulto sustentados por grupos industriais paulistas foram à frente: a Maristela
(1950) e a Multifilmes (1952).
161
Nesse processo, outros artistas formados no “teatro para rir” passaram a atuar mais efetivamente em cinema
somente a partir da década de 50, diante da decadência mais acentuada desse tipo de teatro e do grande sucesso
das chanchadas cinematográficas. Tanto Procópio Ferreira quanto Dercy Gonçalves, por exemplo, com esparsas
atuações em filmes até os anos 40, participaram ativamente de comédias cinematográficas realizadas em estúdios
paulistas a partir da década seguinte. Numa entrevista oferecida em 1949, Procópio Ferreira, afirmava que o
teatro estava morrendo, pois “a concorrência com o cinema é mais do que um fato, é uma calamidade” (PRADO,
1984, p.14). Mas quem morria (ou se enfraquecia) era, talvez, um certo tipo de teatro ou de comicidade nacional
do qual Procópio tinha sido o maior astro, mas que no cinema ainda parecia ter sobrevida.
162
É curioso apontar que o ultimo espetáculo da Companhia de Revistas Walter Pinto, principal empresa do
gênero de revista, ocorreu em 1963, um ano após a paralisação das atividades da Atlântida, símbolo das
chanchadas cinematográficas, ambas as empresas já sofrendo com a concorrência acirrada da televisão.
112
Se os atores já não vinham apenas de outros meios, os argumentos de boa parte dos
filmes brasileiros, fossem paulistas ou cariocas, continuavam tendo origem em peças de
sucesso, tanto da nova geração de dramaturgos, como Pedro Bloch, Silveira Sampaio e Abílio
Pereira de Almeida – que chegaram a participar efetivamente da produção de filmes –, ou
ainda dos antigos e populares comediógrafos como Armando Gonzaga, Gastão Tojeiro, José
Wanderley e Mário Lago.
Entretanto, a década de 50 seria caracterizada, essencialmente, por uma geração de
jovens que marcados pela seriedade e pelo desejo de mudanças, sacud iria definitivamente o
panorama do teatro e do cinema brasileiros numa busca pelo que eles consideravam a essência
do Brasil, o seu povo.
Nos palcos e telas, a redescoberta do Brasil.
Na década de 50, as salas de teatro no Brasil encolheram definitivamente. Sem frisas,
camarotes, balcões, galerias e nem fosso para orquestra, tanto o número de lugares quanto as
dimensões do palco diminuíram. “Na maioria dos casos, não se tratava nem mesmo de salas
de espetáculos construídas para tal fim, mas de adaptações um tanto quanto improvisadas, a
cujas irregularidades a polícia e o corpo de bombeiros fechavam os olhos” (PRADO, op. cit.,
p.46). Mesmo a sala do Teatro Brasileiro de Comédia foi construída adaptando um antigo
casarão.
Mas nessas salas menores seriam permitidas mais liberdades, sobretudo de jovens
companhias, como a de dar preferência ao autor brasileiro. O Teatro de Câmera, formado por
Lúcio Cardoso, Agostinho Olavo e Gustavo Dória, por exemplo, foi criado em 1947 com a
intenção de apresentar somente textos nacionais, pois “na verdade, depois de Vestido de
Noiva, tudo voltara ao mesmo marasmo de antes” (DÓRIA, op. cit, p.124).
O teatro finalmente aceitara sua posição secundária como diversão popular,
“renunciando aos gêneros musicais, mais dispendiosos e lucrativos, para se concentrar no
drama e na comédia”. Perdendo o grande público, mas conquistando a elite, o teatro passou a
mirar nos pequenos públicos, nos “happy few das artes de vanguarda” (PRADO, op.
cit.,p.46). Ou seja, acentuava-se um processo que já vinha se delineando desde a década de 30
de elitização do teatro frente a outras formas de lazer mais populares, como o cinema e o
rádio e, em seguida, a televisão.
113
Por outro lado, com o enfrentamento pelos amadores da década de 1940 do
preconceito em relação à profissão do ator (uma atividade que até então não era vista com
bons olhos), os jovens, principalmente os estudantes, passaram a se envolver cada vez mais
com o teatro. É significativo o surgimento a partir daí de diversos cursos e escolas – como a
própria Escola de Artes Dramáticas (EAD), criada em 1948 – assim como o prosseguimento
dos movimentos amadores através, por exemplo, de iniciativas como o Festival Nacional de
Teatro de Estudante, organizado por Paschoal Carlos Magno.
Nesse contexto que em 1953 foi fundada em São Paulo a Companhia do Teatro de
Arena por José Renato e Geraldo Matheus, diplomados em teatro na primeira turma da EAD,
ao lado de Sérgio Sampaio e Emílio Fontana. Aproveitando fundamentos teóricos do teatro de
arena e tentando repetir bem sucedida experiência norte-americana que possibilitava grande
barateamento das montagens, as primeiras apresentações ocorreram em clubes, fábricas e
salões. No ano seguinte a Companhia já se instalaria na sala situada na Rua Teodoro Baima,
n. 94, no bairro da Consolação, com seus 150 lugares.
Por outro lado, grandes transformações também ocorriam no mundo do cinema. Após
a idade de ouro do cinema americano no período entre guerras, a audiência dos filmes nos
Estados Unidos e o lucro de suas produções seguiram em declínio, forçando Hollywood a
mirar em dois públicos específicos – os adolescentes (que se tornavam o público principal) e
os adultos. Para atender esses últimos, crescia o n “cinemas de arte” e de “companhias
produtoras independentes”.
Uma das principais dificuldades enfrentadas por Hollywood foi o fato de que no
contexto do pós-guerra o cinema perdeu a centralidade na sociedade americana e o posto de
principal opção de lazer nos Estados Unidos. Além disso, o cinema dos anos 40 também
presenciou uma estética regeneradora do realismo de crítica social emergindo em diversas
cinematografias. Os EUA não foram exceção e, nesse período, o cinema americano foi
marcado pelo surgimento de uma nova geração de cineastas conscientes socialmente, fossem
formados no teatro nova- iorquino ou na televisão ao vivo. Além disso, era notável a crescente
influência em Hollywood de filmes europeus, especialmente do neo-realismo italiano, a partir
do sucesso de Roma, cidade aberta (Roma, città aperta, Itália, dir. Roberto Rosselini, 1945).
Entretanto, a grande indústria cinematográfica continuaria ainda perseguindo um
público de massa indiferenciado e para isso enveredaria pelos orçamentos espetaculares e
apelaria continuadamente para inovações tecnológicas que a televisão não poderia
114
acompanhar.
163
De um modo geral, “Hollywood passou a investir cada vez mais em menos e
maiores filmes, alcançando menos e maiores sucessos, mas correndo também menos e
maiores riscos” (SCHICKEL, 1992).
No Brasil, o cinema, obviamente, também passou por mudanças. No Rio de Janeiro, o
circuito exibidor que atingira seu auge em 1954, entrou em retração. A queda de público e de
receita seria ainda mais acentuada a partir de 1961.
164
Os filmes exibidos também não eram mais os mesmos e a produção européia passou a
ser uma grande influência para o cinema brasileiro. Se em 1945, dos 347 filmes lançados no
país, 310 eram americanos, essa proporção de cerca de 90% cairia para 37% em 1959. Ainda
assim, apesar de lançar menos filmes, durante alguns anos Hollywood continuou alcançando
lucro igual ou até maior do que antes. A crise chegaria ao cinema americano com mais força
na década de 60.
Em meio às mudanças no universo cinematográfico, o Brasil dos anos 50 continuava
vivendo na era de ouro do rádio, com o reinado absoluto da Rádio Nacional desde 1940. Se a
chegada da televisão ao Brasil, em 1950, com a inauguração da TV Tupi de Assis
Chateaubriand, não modificou significativamente esse panorama, ao final dessa década o
meio teria crescido, superado o rádio em investimento publicitário, e começaria a ocorrer a
migração direta para o novo veículo tanto de programas radiofônicos de sucesso (novelas,
jornalísticos, humorísticos e os programas de auditório) quanto de diversos profissionais e
artistas.
Do mesmo modo, os filmes brasileiros também passaram por muitas mudanç as ao
longo dos anos 50. As chanchadas se modificaram na segunda metade da década,
apresentando um maior leque de personagens, novos produtores e diretores e maior definição
dos tipos, mas aparentemente viu suas fórmulas se esgotarem no início dos anos 60 (VIEIRA,
1987, p.174). A televisão também incorporaria seu humor e linguagem, além de diretores e
estrelas, como Carlos Manga, Chico Anísio, Costinha ou Jô Soares, além de diversos técnicos.
Por outro lado, a falência da Vera Cruz em 1954, expôs todas as contradições de seu
projeto. Como apontou Artur Autran (2004, p. 24), o país já tinha presenciado os principais
163
Entre elas, o filme colorido e o desenvolvimento de grandes formatos de imagem panorâmica, inaugurado em
1952 com o Cinerama e disseminado a partir de 1953 com o Cinemascope. Além, é claro, do 3-D, do advento do
som estereofônico e de outros processos que usavam negativos de maior dimensão e definição de imagem, como
o Todd-Ao e outros formatos de película 70 mm.
164
Do mesmo modo que os teatros, as salas de exibição ficaram menores e com o visual mais despojado. A partir
de meados dos anos 60, novos cinemas não mais surgiriam como construções autônomas, mas geralmente
localizados em galerias e centros comerciais (GONZAGA, op.cit., p.205).
115
estúdios cinematográficos brasileiros se desviarem de suas intenções diante das dificuldades
do processo de industrialização. A Cinédia de Adhemar Gonzaga – crítico feroz dos
“naturais” – acabaria se tornando uma grande produtora de cine-jornais; a Atlântida de
Moacyr Fenelon, desejoso de filmes com aspirações sociais, teria que apelar para as
famigeradas chanchadas; e a Vera Cruz de Franco Zampari, almejando realizar filmes com
qualidade técnica e artística internacional e crendo na possibilidade de atingir até mesmo o
mercado externo, seguiria já a partir de 1951 por uma linha de filmes capitaneada pelo
comediante Mazzaropi dirigidos ao público popular.
Nessa década, conforme o clássico artigo de Maria Rita Galvão (1980), é que
surgiriam as contraditórias idéias de um cinema independente. Reunidos nos Congressos de
Cinema, realizados no Rio e em São Paulo, em 1952 e 1953, seus partidários defendiam a
temática nacional, mas com boa qualidade técnica. Havia uma ânsia por realismo e
autenticidade – por mostrar o modo do brasileiro andar, se vestir, falar – mas sem a
precariedade nem a “grossura” da chanchada. Por outro lado, se a qualidade técnica das
produções da Vera Cruz era reconhecida, os filmes da companhia paulista eram criticados por
não refletirem sobre a vida do povo.
Em suma, pretendia-se um cinema que se baseasse num sistema de produção diferente do dos grandes
estúdios, feito em cenários naturais, sem grandes vedetes caras, com equipes mínimas, sem luxos (mas
com bom equipamento, é claro, fotografia limpa, bom som, continuidade etc.), sem submissão ou
obrigação qualquer que fosse para com ninguém, [...] mas com proteção governamental para existir,
financiamento para desenvolver-se, e se possível com a colaboração técnica dos grandes estúdios
(GALVÃO, 1980, p.22).
Do mesmo modo que o “cinema independente” dos anos 50 se colocou como
alternativa às desprezadas chanchadas carnavalescas e às produções europeizadas e
cosmopolitas da Vera Cruz, símbolo de uma burguesia considerada decadente, o Teatro de
Arena também se opunha ao Teatro Brasileiro de Comédia e à resistente tradição do “teatro
para rir”. Segundo o ator e dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, a pretensão da Companhia era
criar, dentro do esquema profissional, uma alternativa ao modelo TBC – um teatro
esteticamente sólido, mas desligado da realidade brasileira e “prestigiado por uma platéia grãfina que, segundo o Vianinha radical do início dos anos 60, assistia a Ibsen e a Pirandello sem
notar diferença alguma” (MORAES, 2000, p.58).
Tanto no cinema quanto no teatro, a divergência principal residia na questão do
conteúdo. Em várias teses apresentadas nos congressos, como a de Nelson Pereira dos Santos,
116
O problema do conteúdo no cinema brasileiro, a discussão se dava no nível do argumento e
pouco se falava da forma ou do ‘tratamento’ do assunto. A questão principal era se buscar
temas e histórias de caráter popular e de características nacionais (GALVÃO; BERNARDET,
1983, p.75-79).
De forma semelhante, também no Teatro de Arena a ênfase continuava residindo no
texto. Se nos filmes a recusa pelo estúdio, além de baratear as produções, também permitia
uma aproximação maior com o realismo almejado, a opção pelo teatro de arena, além de
econômica, favorecia também a autenticidade do texto teatral. Conforme as palavras do
diretor José Renato em 1956, “com a ausência de cenários e a proximidade do palco, toda a
atenção se concentra sobre a peça e o desempenho. Os autores deveriam, aliás, entusiasmar-se
com o teatro de arena, porque é o que mais os valoriza. Nos teatros comuns, uma rica
montagem pode iludir o espectador” (apud MAGALDI, 1984, p.16).
No campo cinematográfico, no começo da década de 50 poucas obras refletiam os
discursos e os anseios dos participantes dos Congressos e eles tinham que “escolher” filmes
para falar bem. Entretanto, depois de um marco como Rio 40 graus (dir. Nelson Pereira dos
Santos, 1956), mais produções seguiram o mesmo ideário, como o segundo longa-metragem
do mesmo Nelson Pereira dos Santos, Rio zona norte (1957), e o filme de estréia de Roberto
Santos, O grande momento (1957), produzido por Nelson.
Por outro al do, embora os espetáculos apresentados pelo Arena de 1953 até 1958
tenham merecido elogios de alguns críticos (cf. MAGALDI, op.cit.), para Vianinha, egresso
do Teatro Paulista de Estudante que se fundiu com o Arena em 1956, até a montagem da peça
Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri, “o Arena era um teatro como outro
qualquer – talvez a única diferença fosse a de que era um teatro pior do que os outros. Um
repertório comercial, feito por atores pouco expressivos, e principalmente pouco preocupados
com tudo – inclusive com o teatro, que era um passatempo entre famílias.” (MORAES, op.
cit., p.52).
Assim como no cinema, também no teatro brasileiro era evidente o desejo dos jovens
artistas de “descobrirem” o Brasil para os palcos e telas do país. Afinal, o teatro nacional já
proclamava ter alcançado nível internacional com a evolução técnica do TBC, conquistando
“consistência de encenação” e permitindo às classes médias e altas finalmente terem acesso a
montagens “dignas” de grandes peças de “alto nível”. Superada essa “etapa”, o desafio da
nova geração era tornar esse teatro realmente “brasileiro”, além de social e politicamente
conscientes.
117
O mesmo se dava em relação ao cinema nacional, pois como Carlos Ortiz proclamava
em 1949, aproveitando o lema de Louis Delluc, “façamos com que o cinema brasileiro seja
verdadeiramente cinema e verdadeiramente brasileiro”. Um pensamento igualmente etapista
também era corrente no meio cinematográfico, como é claro na constatação do mesmo Ortiz,
em 1951, que após os primeiros anos da Vera Cruz o filme brasileiro teria vencido “sua
grande e primeira luta: a batalha da produção”, superando os famosos problemas técnicos que
o entravavam (In: BERRIEL, 1981).
Nesse sentido, os jovens que vinham sendo formados no movimento cineclubista que
voltara com força a partir do final dos anos 40, finalmente tendo acesso às obras-primas do
cinema mundial e ao próprio passado do cinema brasileiro, confrontados com a despretensão
e “grossura” das chanchadas e com a tão almejada quanto frustrante evolução técnica da Vera
Cruz, encontravam-se igualmente ansiosos para traçar um retrato mais “autêntico” do país e
do seu povo nas telas.
165
Ou seja, os jovens interessados em discutir a realidade de seu país, fossem através do
teatro ou do cinema, começaram a querer ter sua própria voz. E da garganta de um deles saiu
um berro assustador.
“Ao abrir o pano, todos dormem. De repente, Portuga desperta de um pesadelo”.
Plínio Marcos, Barrela
Um grito parado no ar.
165
Podemos apontar semelhanças entre esses jovens pretendentes a cineastas com a geração de amadores do
teatro brasileiro dos anos 30 e 40. Se a companhia Os Comediantes tinha sido formada por advogados,
funcionários públicos e estudantes, o Cinema Novo também foi formado por estudantes de origem distintas.
Como contou Zelito Viana, “Joaquim Pedro era físico, eu e o Leon éramos engenheiros, Cacá, Jabor e Glauber
eram do direito, éramos todos de universidades distintas. Foram os cineclubes que nos reuniram” (NICOLAS,
2004, p.64). Após iniciativas pioneiras na década de 20, o movimento cineclubista renasceu definitivamente em
São Paulo com o segundo Clube de Cinema da Faculdade Nacional de Filosofia, em 1946, que daria origem à
Filmoteca do Museu de Arte Moderna e, mais tarde, à Cinemateca Brasileira. No Rio de Janeiro, um marco foi a
criação, em 1954, do departamento de Cinema do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, futura Cinemateca
do MAM. Em 1949, já se realizava o I Congresso Brasileiro de Clubes de Cinema e, em 1957, o boletim mensal
de cinema do Museu de Arte Moderna publicava uma reportagem com o significativo título “Cineclubismo no
Brasil: uma realidade”. O movimento cineclubista, apoiados pelas cinematecas, possibilitou a realização de
sessões, mostras, festivais, encontros e debates que formaram toda uma geração de cinéfilos e futuros cineastas
nos anos 50 e 60, estando também ligado à organização de inúmeros cursos, seminários e escolas de cinema na
mesma época.
118
Em 1958, Plínio Marcos, 22 anos, ator e diretor de teatro amador na cidade de Santos,
escreveu sua primeira peça, Barrela, no qual já estavam presentes muitas das principais
características, formais e temáticas, que sua dramaturgia consolidaria posteriormente.
Plínio inspirou-se num fato real, ocorrido em Santos e reportado pela imprensa, sobre
“um garoto que, por pouca coisa [...] foi recolhido ao xadrez, junto com a malandragem da
pesada e penou o bastante para ficar picado de raiva e saindo de lá, se armar e ir matando
todos que o barbarizaram no xadrez” (MARCOS, 1976, p.5-6). Comovido pela história do
rapaz, que ele conhecia das vizinhanças, “despejou no papel” através de diálogos, “em forma
de espetáculo de teatro”, que era o que ele mais conhecia, a história dos seis detentos (e mais
o tal garoto) atravessando uma noite no xadrez tão trágica quanto banal, lutando por tudo e ao
mesmo tempo por nada.
A imediata proibição de Barrela após sua aclamação – e o posterior fracasso de sua
peça seguinte, Os fantoches – fizeram com que os primeiros passos de Plínio Marcos no teatro
ficassem circunscritos à Santos, sendo sua carreira interrompida pela “proverbial estupidez da
censura que não precisou aguardar a ditadura militar para manifestar-se” (MAGALDI, 2003,
p.94). Plínio lamentou muitas vezes não ter podido estrear junto com a sua geração,
lembrando o fato de ter escrito Barrela no mesmo ano em que foi montada a peça Eles não
usam black-tie.
A proibição de Barrela em pleno governo democrático de Juscelino Kubitschek é
característica, dentre outros aspectos, do conservadorismo da sociedade brasileira na década
de 50, e que não evoluiria muito nos anos seguintes. Além do próprio Estado e da Igreja
Católica, organizações civis como a Confederação das Famílias Cristãs (CFC) – criada em
1950 – intitulavam-se defensoras da “moral e bons costumes”, e o cinema e o teatro eram
alvos constantes de seus ataques.
166
Nesse sentido, estritamente sob o aspecto da “moralidade”, não foi surpreendente que
uma peça repleta de palavrões, na qual os personagens encarcerados num xadrez ameaçam
uns aos outros com a possibilidade de curra, tenha sofrido repúdio e aversão tanto por um
166
No filme Anjo do lodo (dir. Luiz de Barros, 1950), adaptação atualizada do romance Lucíola, de José de
Alencar, uma silhueta da atriz e vedete Virgínia Lane nua causou uma enorme polêmica, resultando no corte da
cena. Alguns anos depois, a subtendida cena de sexo do filme francês Os a mantes (Les Amants, dir. Louis Malle,
1959) provocou enorme repercussão no Brasil. No caso do teatro, o próprio repúdio às primeiras obras de
Nelson Rodrigues nos anos 40 e 50, considerado pornográfico e degenerado, é um caso exemplar. A peça Álbum
de família, de 1945, ficou proibida durante 20 anos e o Anjo negro, de 1946, também sofreu tentativas de censura
religiosa, conseguindo ir à cena apenas dois anos mais tarde.
119
Estado conservador quanto pela “burguesia provinciana de nossa cidadezinha”, nas palavras
do santista Pedro Bandeira (In: MARCOS, 2004, 171). 167
Da mesma maneira, o retrato dramático traçado em Barrela de personagens cercados
por “janelas de grade e tristeza” onde “a esperança não entra / não entra a crença / o sol não
entra”, como dizia o prólogo da peça, diverge radicalmente da idéia de um “feliz 1958, o ano
que não devia terminar” (SANTOS, J., 1997). Num ano freqüentemente idealizado como auge
de um período marcado pela euforia desenvolvimentista dos “cinqüenta anos em cinco” de
JK, pela relativa estabilidade política do país, pela alegria ufanista com a conquista da Copa
do Mundo de Futebol (como dizia a marchinha, “com o brasileiro, não há quem possa”), pelo
otimismo com a modernidade despontando no horizonte (junto com as primeiras construções
da nova capital, Brasília) e pela esperança no futuro (Chega de saudade, já cantava a Bossa
Nova); Plínio Marcos levava aos palcos, em sua primeira peça, um outro universo, menos
utópico, risonho e feliz.
Justamente em 1958, ano em que Plínio escreveu seu primeiro texto para o teatro, o
enorme sucesso de crítica e público da montagem de Eles não usam black-tie pelo Teatro de
Arena salvava o grupo da falência e revolucionava o panorama teatral brasileiro,
representando o “abrasileiramento do nosso palco, pela imposição do autor nacional”
(MAGALDI, 1984, p.7). Esta primeira e bem sucedida experiência na linha de apresentação
de peças nacionais do Teatro de Arena, aliada ao surto de criatividade durante e a partir do
Seminário de Dramaturgia iniciado em 1956 com Augusto Boal – recém chegado dos Estados
Unidos, onde estudara na School of Dramatic Arts da Universidade de Columbia – foram
responsáveis pela fisionomia definitiva do grupo, que viria a se tornar o principal elemento do
teatro brasileiro nos anos seguintes.
Mesmo inserido num momento de ampla renovação da dramaturgia nacional com a
revelação de jovens autores, Eles não usam black-tie foi um marco que reorientou os rumos
do Teatro de Arena e do próprio teatro brasileiro. Antes já havia aparecido Jorge de Andrade,
com A moratória, em 1955, mas que fora montada pelo TBC (com grande prejuízo) e tratava
da decadência de uma grande propriedade rural na passagem para os anos 30. Em Recife,
ainda em 1956, também surgira Ariano Suassuna com a peça O auto da compadecida, mas
que só chegou triunfalmente ao Rio de Janeiro dois anos mais tarde. Somente após o sucesso
167
Em 1958 Nelson Rodrigues também provocou polêmica no Rio de Janeiro com o “mar de incestos” de Os
sete gatinhos. Entretanto, o dramaturgo já era um nome consagrado e mesmo com toda sua habitual controvérsia
a peça foi encenada com grande sucesso.
120
absoluto da peça de Gianfrancesco Guarnieri é que novos dramaturgos despontariam com
mais força, como José Celso Martinez Corrêa, Carlos Queiroz Telles e Dias Gomes, além de
outros também egressos do Teatro de Arena, como Augusto Boal e Oduvaldo Vianna Filho.
Plínio Marcos também deveria ser um desses nomes, se não tivesse que esperar até 1966 para
que conseguisse novamente fazer ouvir sua voz.
Nessa mesma época, o cinema brasileiro também passava por um momento de
renovação, através de filmes engajados socialmente, tendo o “povo” como objeto, feitos com
poucos recursos e sob o impacto do neo-realismo italiano e seus herdeiros. A influência dos
filmes realizados na Itália devastada pela guerra podia ser notada na própria peça Eles não
usam black-tie, assim como em filmes do chamado “cinema independente”, nos já citados
Rio zona norte e O grande momento, mas também nos emblemáticos documentários Arraial
do Cabo (dir. Paulo Cezar Saraceni e Mário Carneiro, 1959) e Aruanda (dir. Linduarte
Noronha, 1959).
168
Ao final da década de 50 surgiam os primeiros trabalhos – sobretudo em forma de
curtas- metragens – dos jovens que viriam a formar o núcleo do Cinema Novo no começo dos
anos 60.
169
Diante desse panorama, é interessante questionarmos, como o fez Sábato Magaldi
(2003, p.95), se seria outra a evolução da dramaturgia brasileira caso a primeira peça de Plínio
Marcos pudesse ter sido apresentada livremente logo depois de escrita. Em que medida, por
exemplo, Barrela se relacionava com o panorama teatral brasileiro do final da década de 50,
que já teria se modificado quando Plínio voltou a despertar atenção anos depois. Indo mais
além, podemos ainda pensar no que Barrela poderia ter significado para o cinema brasileiro
naquele momento. O dramaturgo santista estaria de alguma forma em sintonia com os
aqueles novos movimentos da cultura brasileira, especialmente o teatro e o cinema, que
tinham como marcas o ideário político de esquerda, o nacionalismo e o populismo, além de
uma moldura “realista” ou “naturalista”?
Dessa maneira, acredito ser proveitoso ainda refletir brevemente sobre o filme Rio
zona norte e a peça Eles não usam black-tie – obras emblemáticas do movimento de
168
Em comum nos quatro filmes nota-se o interesse em ver e mostrar o “verdadeiro povo brasileiro”. Na ficção,
com um sambista de um morro carioca lutando para viver de sua arte ou com um proletário da periferia
paulistana tentando realizar dignamente sua festa de casamento; no documentário, através do retrato de uma
comunidade de pescadores do litoral do Estado do Rio de Janeiro ou de um agrupamento de remanescentes de
quilombolas no sertão da Paraíba.
169
Entre outros, O pátio (dir. Glauber Rocha, 1959), Caminhos (dir. Paulo Cezar Saraceni, 1958), Fuga (dir.
Cacá Diegues, 1959), Mestre de Apicucos (dir. Joaquim Pedro de Andrade, 1959) e O maquinista (Marcos Faria,
1958) (RAMOS, F., 1987, p.323-324).
121
renovação da produção cinematográfica e teatral brasileira e marcadas por caracterís ticas do
ideário nacional-popular – como forma de apontar semelhanças e diferenças com Barrela,
escrita, encenada e proibida na mesma época.
Apesar de tanto o filme de Nelson Pereira dos Santos quanto a peça de Gianfrancesco
Guarnieri terem sido dirigidos / escritos por paulistanos, a ação de ambos se passa em uma
favela do Rio de Janeiro e tem dentre seus moradores os personagens principais. Em Rio zona
norte, o protagonista é Espírito da Luz Soares (Grande Otelo), um sambista do morro que
sonha em fazer sucesso, sendo igualmente admirado e ignorado por Moacir, músico
profissional e burguês (Paulo Goulart). Entretanto, em sua ingenuidade e boa- fé, o compositor
acaba sendo enganado por um empresário (Jece Valadão) que rouba suas músicas. Mesmo
assim, Espírito, personagem inspirado na vida de Zé Kéti, autor da trilha sonora, encontra em
seus amigos do morro, como no compadre, na afilhada e em seu patrão na mercearia, apoio e
solidariedade. Por meio do flashback, com uma narrativa e linguagem bem articulada, mas
convencional (o que foi motivo de críticas na época), a história é contada através das
lembranças do protagonista após sofrer um acidente caindo dos trens da Central do Brasil.
Já em Eles não usam black-tie, embora o roubo do samba de um cantor do morro
ocupe o pano de fundo da peça, os personagens principais são os membros de uma família de
operários. O texto de Guarnieri é centrado especialmente na relação entre o pai, Otávio, e o
filho, Tião, a respeito de uma greve na fábrica em que ambos trabalham. O drama principal
reside no conflito entre a solidariedade e a união pregada pelo sindicalista veterano Otávio e o
individualismo do jovem fura-greve Tião, que prestes a casar e ter um filho, não deseja
colocar em risco suas ambições. No doloroso desfecho, Tião – que fora criado “no asfalto”
por seus padrinhos enquanto o pai esteve preso – acaba expulso da casa dos pais e do morro,
perdendo o amor de Otávio e de Maria, sua noiva.
A peça exalta o sentimento de solidariedade, principal característica presente nos
personagens “bons” (os pais de Tião, Otávio e Romana, a noiva, Maria, e o amigo da família,
Bráulio), ausente nos personagens “maus” (o ambicioso Jesuíno, além dos somente
mencionados padrinhos de Tião e os patrões da fábrica) e difuso naquele simplesmente
“medroso” (Tião). Mesmo que seja preciso separar o joio do trigo – ou os feijões bons dos
ruins, como expresso na emblemática cena final, com Otávio e Romana – e o futuro esteja
incerto, a esperança não morre, mas renasce no futuro rebento de Maria que terá o mesmo
nome do avô, Otávio.
122
Da mesma maneira, em Rio zona norte, se Espírito finalmente morre no hospital
devido ao acidente, ele caíra do trem no auge do entusiasmo, não apenas recuperado da
tristeza pelo roubo de sua composição, como enquanto compunha um novo samba. Além
disso, sua morte de alguma maneira promove a união, tirando o músico burguês de sua inércia
e levando-o ao morro para auxiliar o compadre de Espírito no resgate das composições do
sambista.
170
Também no filme de Nelson Pereira dos Santos há um embate entre a solidariedade e
o individualismo e entre duas gerações, seja com Espírito e Adelaide, sua jovem e interesseira
esposa, ou, principalmente, com seu filho, Norival. Arrancado do morro e de seu pai pelo
juizado de infância, o garoto foi criado num internato (como Tião, no asfalto) e sob má
influência dos amigos, tornou-se ladrão e egoísta. Entretanto, mas uma vez há a redenção no
final, quando o filho morre defendendo o pai dos outros bandidos.
171
Já em Barrela, de Plínio Marcos, solidariedade e esperança de um futuro melhor é
justamente o que não existe. Pelo contrário, o ódio surge por quase nada e o individualismo é
a marca de todos os mesquinhos personagens. Algumas características comuns podem ser
claramente encontradas entre a primeira peça de Plínio Marcos e Rio zona norte ou Eles não
usam black-tie, como o interesse por dramas e personagens do povo, a busca de uma
representação autêntica dessa realidade e uma moldura realista para essas histórias.
Entretanto, os personagens populares de Barrela estão muito distantes de serem ingênuos,
idealistas, corajosos, solidários ou positivos.
Nesse sentido, é importante fazer algumas considerações a respeito do conteúdo
político dessas obras realizadas num momento de crescente politização da juventude
brasileira, do meio artístico e dos movimentos sociais. Na década de 50, acompanhando o
desejo de mudanças após a era Getulista, a cultura brasileira foi claramente marcada por
170
O filme mostra o próprio “nascimento” da música, do momento em que Espírito tem a idéia de uma melodia
e começa a batucá-la até finalmente desenvolver a canção e sua letra. Tanto em Eles não usam black -tie quanto
em Rio zona norte fica clara a oposição morte e renascimento, como metáfora da necessidade de superação
daquele modelo de sociedade decadente por outro.
171
É importante lembrar que essa questão individualismo (burguês) versus solidariedade (do povo), notada em
Rio zona norte e Eles não usam black -tie, está associados aos fundamentos ideológicos presentes nas duas obras,
realizadas por jovens influenciados pelo comunismo (Guarnieri era militante do PCB e Nelson também fora
membro do partido). Nesse sentido, um marco no cinema brasileiro foi Ana, episódio dirigido por Alex Viany
para o filme A Rosa-dos-ventos ou Cinco Canções (Die Windrose, 1955), produzido pela Alemanha Oriental,
que conta a história de um grupo de retirantes nordestinos num pau-de-arara a caminho de São Paulo. A
personagem Ana (Vanja Orico), junto com um operário (Miguel Torres) que voltava de uma visita à família,
lidera a revolta dos viajantes contra o motorista do caminhão que, a mando de um coronel, enganava o grupo, o
levando para uma fazenda de trabalho escravo. No fim do filme, o proletário fala à camponesa: “a única coisa
que eu aprendi e posso te dizer, é que com união, ninguém pode nos derrotar”.
123
idéias de transformação sociopolítica, começando a se delinear a partir de então a “relativa
hegemonia cultural de esquerda no país” que seria alcançada na década de 60 (SCHWARZ,
1978, p.62). Entretanto, com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) afetado pelas revelações
da ditadura Stalinista e por seu posicionamento sectário na primeira metade dos anos 50, parte
do pensamento progressista convergiu para o nacional-desenvolvimentismo, que pregava a
aliança do povo com a burguesia nacional.
Desse modo, o período democrático de governo JK (1956-1961) e, principalmente os
anos que precederam o golpe militar de 1964, foram favoráveis à divulgação de um
pensamento de esquerda sob a ótica do nacional-popular. Esse despertar para o debate, a
discussão e o aprendizado, para Guarnieri, por exemplo, teve um momento marcante durante
os cursos ministrados no Arena por volta de 1957. Para o dramaturgo, naquela ocasião
ocorreu “o pontapé para nossa maioridade. Começamos a nos preocupar com questões
estéticas e filosóficas. ‘Tem um tal de Hegel aí que tem que ser lido’, alguém recomendava.
‘E o Marx, o que diz disso?’, indagava outro. Enfim, a curiosidade foi aguçada como nunca”
(MORAES, 2000, p.66-67).
Já Plínio Marcos, se por um lado também viveu essa efervescência cultural,
especialmente com os grupos de teatro amador e nas reuniões com o círculo de intelectuais de
Pagu em Santos, por outro lado, era primeiramente um “ex-palhaço de circo”, “semianalfabeto” e filho de proletários, estando, talvez, fora de sintonia do caldo ideológico que
permeava outras obras daquela mesma época. A peça de estréia de Plínio apresentava
aspectos políticos distintos de algumas obras de artistas “comunistas de carteirinha”, uma vez
que os personagens que se consagraram como tipicamente plinianos, já delineados em sua
primeira peça, se revelam distantes da representação idealizada do povo. Fundamentalmente
atravessada pelo plano econô mico na ótica marxista, os personagens populares seriam
marcados por duas linhas de força:
A idéia do politizável na qual não cabem mais atores populares que à classe trabalhadora, nem mais
conflitos que os que provêm do choque entre capital e trabalho, nem mais espaços que os da fábrica e
do sindicato; e uma visão heróica da política [...] deixando de fora o mundo da cotidianidade e da
subjetividade (O. SINKEL apud MARTÍN-BARBERO, 1997, p.36-39).
Essa análise leva à percepção de dois modos de operação que dariam origem tanto ao
popular não representado (aceitos socialmente, mas não representados: atores e espaços
como o velho, a mulher, a casa, o hospital, a medicina popular, a religião), quanto ao popular
124
reprimido. Os personagens e os cenários da peças mais famosas de Plínio Marcos se
encaixam perfeitamente nesta última categoria, que:
Se constitui como o conjunto de atores, espaços e conflitos que têm sido condenados a subsistir às
margens do social, sujeitos a uma condenação ética e política. Atores como as prostitutas, os
homossexuais, os alcoólatras, os drogados, os delinqüentes etc.; espaços como os reformatórios, os
prostíbulos, os cárceres, os lugares de espetáculos noturnos etc. (Ibid).
Mesmo no final dos anos 60, quando um novo contexto permitiu que Plínio Marcos emergisse
no panorama cultural brasileiro, suas peças continuavam subvertendo todo o esquema do
teatro político brasileiro realizado até então – e exacerbado desde a década anterior –,
marcado pela figura do herói revolucionário ou da classe revolucionária, mostrando no palco,
conforme Sônia Regina Guerra (1988, p.162), “aquele grupo social para o qual nem mesmo o
próprio Marx encontrava solução”.
172
Distante do nacional-popular e do pensamento conservador, assim como de qualquer
dogma, tanto de esquerda quanto de direita, a obra de Plínio Marcos realmente caminhava na
direção dos esquecidos por todos, pelo Estado, pelas elites, mas também por autores de
inspiração marxista. Desse modo, não é surpresa que após Barrela, Plínio tenha conhecido o
fracasso, o anonimato e, principalmente, um longo caminho de tentativas e erros antes de sua
consagração em 1966 e 1967. Esse período compreendido entre 1960 e 1965 – sempre
ignorado quando se aborda a carreira do dramaturgo, como se tivesse havido um vácuo entre
Barrela e Dois perdidos numa noite Suja – é fundamental para compreendermos sua obra e o
que significou sua consagração nos últimos anos da década de 60.
Ao longo desses cinco anos, Plínio Marcos sofreu diversas influências, tanto estéticas
quanto políticas, evidenciadas diretamente em suas peças escritas nesse período. O
dramaturgo se integrou ao meio teatral paulistano e procurou de diversas maneiras
acompanhar as idéias, tendências e modismos que atravessaram o teatro brasileiros naqueles
conturbados anos. Ou seja, Plínio procurou entrar em sintonia com seu tempo.
Ao final dessa trajetória, mais do que alcançar novamente o sucesso de público e
crítica, Plínio Marcos conseguiu se encontrar com sua própria obra. Se Plínio era
demasiadamente ousado, pioneiro e original em 1958, ele continuaria sendo em 1966 e 1967.
Mas aí, então, Brasil já estava mais preparado para ouvi- lo, enfrentá- lo e aplaudi- lo. Pelo
menos enquanto os donos do poder permitissem.
172
Sobre essa questão, Plínio, bem-humorado como sempre, apenas dizia: “Como posso ser marxista se nunca li
Marx?”.
125
Homem tem que vencer naquilo que escolheu, senão ele fracassa.
Plínio Marcos, Enquanto os navios atracam
1960 a 1965: Jornada de um dramaturgo em busca de si mesmo.
A primeira montagem de Os fantoches em Santos, em 1960, é lembrada sobretudo
pela arrasadora crítica de Pagu, madrinha artística e mentora intelectual do próprio Plínio
Marcos, e pela recepção frustrante da platéia, como foi dito no capítulo 1.
O fracasso imediatamente seguinte à consagração de Barrela ajudou a condenar seu
autor a anos de ostracismo e Os fantoches ao esquecimento quase completo. Ao mesmo
tempo, a visão crítica de Pagu na época consolidou determinado julgamento a respeito do
texto – até corroborado por Plínio depois de consagrado – como o de uma peça escrita por um
semi-analfabeto tentando incorporar precariamente leituras de peças de vanguarda como as de
Fernando Arrabal ou Samuel Beckett. Anos mais tarde, o dramaturgo repetiria diversas vezes
as histórias sobre ter ouvido leituras de Esperando Godot e depois ter dito jocosamente “igual
a essa eu escrevo umas dez” (apud VIEIRA, P., op. cit., p.156).
Por outro lado, Os fantoches foi o texto que Plínio mais re-trabalhou. Após a estréia
em Santos, a peça foi reformulada ao ser montada pelo teatro universitário do Teatro de Arena
em 1962, sob a direção do próprio autor. Em 1966, reescrita e já com o título de Chapéu
sobre um paralelepípedo para alguém chutar, foi censurada e impedida de ser levada ao
palco. Finalmente em 1968, renomeada como Jornada de um imbecil até o entendimento, foi
encenada profissionalmente pelo Grupo Opinião.
A análise das modificações efetuadas por Plínio, além de demonstrar os caminhos e as
opções na construção de sua dramaturgia, pode ajudar a traçar um retrato das mudanças do
país na época através das incorporações e alterações no texto efetuadas pelo autor. Essa breve
análise baseia-se em três versões diferentes do texto, mas cujas datas e contextos, como toda
labiríntica produção do Plínio, é difícil definir com precisão.
173
173
Não tive acesso à primeira versão da peça (de 1960), a única que Paulo Vieira comenta em Plínio Marcos: A
Flor e o Mal (1994). A partir de sua análise pudemos perceber as poucas modificações para a versão de 1962.
Nos acervos da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), no Rio de Janeiro, e do arquivo Miroel
Silveira, em São Paulo, encontrei uma versão de Os fantoches, e duas de Chapéu sobre um paralelepípedo para
alguém chutar, com pequenas diferenças entre si. Esta versão de Os fantoches foi aquela apresentada em 1962.
A versão 1 de Chapéu sobre um paralelepípedo para alguém chutar (arquivo Miroel Silveira) foi o texto
126
Na montagem do Teatro Universitário do Teatro de Arena, Os fantoches foi
apresentada como uma “sátira em um ato”, com cinco personagens – os vagabundos Popo,
Mandrião, Teco, Pilico e Manduca –, sendo passada em “uma clareira, à beira de um abismo”.
O personagem Mandrião possui dois chapéus e com a ajuda de Teco – responsável por
criar “mitos e superstições” e que estabeleceu ser anti- higiênico pedir esmolas sem chapéus –
explora Popo e Manduca, fazendo-os mendigar com esses chapéus. Recebendo apenas 10%
do “lucro” da mendicância e sendo obrigados a comprar comida do próprio Mandrião, ambos
permanecem endividados e presos a ele.
Entretanto, Pilico, vagabundo que também possui um chapéu, começa a ameaçar os
negócios de Mandrião querendo que Manduca e Popo trabalhem com ele. Porém, Manduca
tem o ideal de que “cada um tenha seu próprio chapéu e ninguém seja explorado”. Pilico diz
que trabalhar com ele é uma fase para atingir esse ideal, mas Manduca acredita que ele é igual
aos outros. Por outro lado, Popo, o mais obediente às crenças de Teco e às ordens de
Mandrião, é considerado um estúpido por todos.
À noite, depois de Mandrião e Teco recolherem a féria do dia, Manduca tenta roubar
um chapéu, mas é pego por Pilico. Mandrião e Teco querem matá- lo, mas decidem primeiro
fazer um julgamento de fachada. Sabendo que Manduca vai ser condenado, Pilico faz um
último apelo para que eles se juntem. Manduca recusa, pois prefere morrer a renunciar a suas
crenças. “Antes ser NADA do que escravo”, diz. Manduca ainda tenta manipular Popo para
que ele o solte, mas não consegue convencê- lo.
Por fim, ao ser levado para a morte no abismo, Manduca declara: “Está bem, vocês
ganharam esta batalha, podem me matar, mas a idéia de que cada um deve ter o seu chapéu
vocês nunca conseguirão sufocar”.
Ao final, Popo, triste e pensativo, é abordado por Pilico:
censurado em 1966. Já a versão 2 de Chapéu sobre um paralelepípedo para alguém chutar (acervo SBAT),
parece ser mais próxima de Jornada de um imbecil até o entendimento, encenada em 1968.
127
Pilico: Que é isso Popo, parece que você está pensando, você não era disso.
Popo: É, mas agora estou pensando!
Pilico: O que você está pensando Popo?
Popo: Estou pensando que cada um poderia ter seu chapéu.
Os fantoches, sem dúvida, revela influências do teatro do absurdo, tanto pelos
personagens vagabundos como os de Esperando Godot, assim como por sua paisagem
inóspita, vazia e desértica, que exprime a metáfora de um mundo absurdo, sem perspectivas,
literalmente “à beira do abismo”. Apesar do tom metafísico, muito distante do realismo cru de
Barrela, por exemplo, e enveredando pela metáfora, muito próxima de uma estrutura de
fábula, não concordo com a crença de a peça ser simplesmente “o resultado de uma lição mal
assimilada sobre o teatro do absurdo” (VIEIRA, P., op.cit., p.157).
Na verdade, essa é a propagação da mesma idéia de Pagu, em seu artigo de 1960,
quando afirmava de forma até preconceituosa, que o “nível mental e intelectual do autor” se
desencontrava com a possibilidade de invadir o “terreno difícil para sua experiência e seus
conhecimentos” de um texto de tonalidades filosóficas. De fato, um ex-analfabeto podia
escrever um bom texto em tom de reportagem, mas seria necessário um “milagre de circo”
para que ele escrevesse uma peça como as de Arrabal ou Beckett.
Pagu era uma admiradora do teatro experimental ou de vanguarda, representado por
Jarry, Beckett, Ionesco, e do teatro poético de Lorca, Tardieu e Paz. Viajada e amiga de
diversos artistas e intelectuais europeus, foi uma das primeiras divulgadoras do teatro do
absurdo no Brasil. Na EAD, em São Paulo, traduziu para o português pela primeira vez A
cantora careca, de Ionesco, e em Santos traduziu e co-dirigiu montagens de Fando e Lis, de
Fernando Arrabal, e de A filha de Rappaccini, de Octavio Paz.
Na década de 1950, o teatro do absurdo ainda não era uma escola influente no Brasil
com seria alguns anos mais tarde. Nesse sentido, sob influência das leituras e das montagens
de Pagu, Plínio Marcos escreveu um texto com características do teatro de absurdo de certa
forma pioneira no país, mas também fora de sintonia com o teatro daquele momento, aliás,
como a própria Barrela, mas em diferente chave.
174
174
A tradução feita por Patrícia Galvão na EAD para A Cantora Careca, de Ionesco, foi utilizada para a
representação pelos alunos do curso de interpretação, a primeira desse autor no Brasil. A versão de Pagu foi
utilizada posteriormente (sem ser creditada) pelo mímico Luiz de Lima nos espetáculos profissionais dessa peça.
Outro precursor do Teatro do Absurdo no Brasil, Luiz Lima dirigiu também na década de 50, além de A cantora
careca, as peças A lição e Os rinocerontes, de Ionesco (ambas pela primeira vez encenadas aqui). Entretanto,
com exceção de montagens pioneiras na EAD, sempre na vanguarda da representação de textos experimentais no
país, e as de Luiz Lima no final dos anos 50, somente a partir de meados da década de 1960 o Teatro do Absurdo
chegou com mais força ao teatro brasileiro, adequando-se ao irracionalismo daquele momento na cultura
128
Pelos comentários de Paulo Vieira (op. cit., p.156), a versão de 1960, ainda que
apresentasse modificações na ordem dos acontecimentos, não tinha muitas diferenças nos
diálogos em relação à versão de 1962. Mas mesmo assim podemos perceber um mais
acentuado tom metafísico, notadamente na última fala da peça. Ao contrário do texto
encenado pelo grupo amador do Arena, no texto montado em Santos o desfecho se dava
quando Pilico, sozinho depois de todos já terem se retirado, refletia no palco: “A vida é
engraçada. Uns morrem, outros partem... Nada mais”. O lamento melancólico semelhante à
fala final de Bereco em Barrela – “É... Mais um dia...” – parece, de fato, um tanto pueril e
menos interessante que o teor político, mesmo que panfletário, da versão de 1962.
Ou seja, é perceptível uma maior politização do texto de Os fantoches de sua
encenação em Santos para a montagem no Teatro de Arena de São Paulo dois anos mais tarde.
Aparentemente, Plínio se afastava da esfera de influência de Pagu – ex-comunista que não se
entusiasmava com o teatro político e que chegou a atacar a “coceira nacionalista” do Arena –
para se aproximar dos jovens politizados da companhia paulista.
Talvez não tanto quanto a primeira versão, mas ainda “frágil em sua tessitura
dramática” (Ibid, p. 153), o texto de 1962 de Os fantoches, menos interessado em questões
existenciais, demonstra claramente suas intenções políticas. Embora também apresentasse,
mesmo que de forma embrionária, óbvia ou didática, algumas questões da dramaturgia
pliniana, como a exploração do homem pelo homem, Plínio evidencia a influência do teatro
politizado nos moldes das experiências do Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE. Como o
próprio Plínio Marcos comentou, Os fantoches e suas demais versões são essencialmente
ilustrações da mais-valia.
Todos os personagens da peça de alguma forma tentam dominar os próximos, seja o
capitalista inescrupuloso Mandrião ou o religioso a serviço do dono do poder Teco, seja o
burguês progressista Pilico ou até mesmo o herói romântico e esclarecido com vocação para
mártir, Manduca. O personagem mais surpreendente, entretanto, é Popo (cujo nome já remete
à “povo”), o mais ingênuo e subestimado por todos, mas que, ao final da peça, contrariando a
avaliação de Pilico (e do público), afirma estar começando a pensar sozinho.
brasileira. Os primeiros contatos com a obra de Arrabal ocorreram em 1966, com as montagens de Piquenique
no front e O triciclo, mas foi Cemitério de automóveis, com direção do argentino Victor Garcia, em 1968, que se
tornou um marco do teatro brasileiro. Nesse mesmo ano foi descoberta a obra do autor brasileiro do século XIX
José Joaquim Campos Leão, o Qorpo Santo, com elementos surrealistas. Em 1970, a peça O arquiteto e o
Imperador da Síria, também de Arrabal, com direção de Ivan Albuquerque, ficou mais de um ano em cartaz no
Teatro Ipanema. A própria peça Esperando Godot, escrita por Beckett em 1953 e encenado por estudantes no
Brasil em 1955 e 1959, só foi montada profissionalmente em 1969, pelo Teatro Cacilda Becker, com direção de
Flávio Rangel.
129
Ao contrário de Barrela, em sua melancólica visão de “um dia após o outro”, o final
da versão de 1962 de Os fantoches é de certo modo otimista, pois mesmo com a execução de
Manduca, desponta a almejada “conscientização” das massas. Da mesma forma, Os fantoches
também resvala para um romantismo na representação do personagem popular (Popo),
ausente antes em Barrela e que desapareceria também posteriormente em Dois perdidos numa
noite suja ou Navalha na carne.
Mas mesmo se alinhando ao ideário esquerdista pré-1964, Plínio se revela singular ao
defender veementemente a visão de que o povo pode aprender sozinho, de que ele não é um
simples “fantoche”. A peça contradiz a opinião arrogante, ainda que de boas intenções, do
progressista Pilico, que acreditava que os homens, mesmo sendo “bons, trabalhadores,
humildes e fiéis”, são uns “coitadinhos”, “porque não sabem andar sós, nem pensar por si”. A
desconfiança também se estende ao “intelectual” Manduca, com toques de prepotência,
vaidade e intransigência, e que deseja esclarecer e conduzir as massas como se elas fossem
estúpidas.
Dessa maneira, na versão de 1962 de Os fantoches, além de sua evidente politização,
identifico como uma influência mais notável do que a dos clássicos do teatro do absurdo, a da
peça Deus lhe pague, de Joracy Camargo, o maior sucesso do comediante Procópio Ferreira,
reapresentada milhares de vezes ao longo das décadas.
Segundo Décio de Almeida Prado (1984, p.46-47), a estréia de Deus lhe Pague, nos
últimos dias de 1932, significou a culminação de tendências que já vinham se desenhando
anteriormente, tanto teatrais (a aproximação à literatura dos anos 20, com seu gosto por
trocadilhos, jogos de palavras e frases espirituosas), quanto políticas (o deslocamento para a
esquerda sucitado pela Revolução de 30). Considerada como a precursora do teatro social no
país, introduzindo o nome de Karl Marx nos palcos brasileiros, Deus lhe pague apresentava
um mote aparentemente absurdo. Enquanto pede esmolas na frente de uma igreja, um
mendigo revela a outro vagabundo ser na verdade um milionário, e lhe conta a história de sua
vida, entremeada de comentários em que desfia idéias cínicas, progressistas e anti-capitalistas.
É mais do que notável a influência e a admiração de Plínio por Procópio Ferreira, que
ele afirmou ser “o maior artista dos palcos brasileiros” (MARCOS, 1996, p.41). Com a
decadência do teatro para rir a partir dos anos 40 e 50, Procópio passou a excursionar pelo
país, levando seus antigos sucessos para cidades menores e para o interior. Plínio escreveu
sobre o dia em que o “grande ator” chegou a Santos para encenar Deus lhe pague e ele foi
130
chamado para fazer uma pequena ponta na peça. De tão nervoso por estar diante do mestre, o
jovem ator esqueceu a fala e foi um verdadeiro fracasso.
175
Tanto na peça consagrada por Procópio Ferreira quanto na escrita por Plínio estão
presentes a explicitação e posterior condenação (panfletária e explicativa, mas também
metafórica) dos principais mecanismos do sistema capitalista. Também em seus defeitos Os
fantoches se aproxima de Deus lhe Pague, seja pela literalidade – uma demasiada ênfase no
texto, substituindo as ações – como pela ausência de uma evolução mais intensa de um
conflito propriamente dito ou pelo didatismo na discussão das idéias.
Mas se por um lado, um dos trunfos de Deus lhe pague estava justamente no talento de
comediante de seu protagonista (que, como em todos os seus espetáculos, recheava o texto de
cacos cômicos), Plínio Marcos também procurou ornamentar a mensagem social de seu texto
com humor, sobretudo após o fracasso inicial.
Na versão renomeada Chapéu sobre um paralelepípedo para alguém chutar, escrita e
censurada já sob a égide da ditadura militar, o dramaturgo ampliou a peça (que passou a ter
dois atos), e acrescentou uma personagem feminina, Totoca. Embora sendo também uma
mendiga que pede esmolas com o chapéu de Mandrião, ela é seduzida pelos “chefes” para
ficar ao lado deles contra Pilico e, principalmente, Manduca. Ao final, é Totoca quem
interroga Popo a razão dele estar pensativo.
O humor está mais evidente e com claras conotações políticas. Em determinado
momento Mandrião ordena que Teco invente algo para acabar com a revolta de Manduca e
Popo. Insatisfeito com as opções, ele grita: “Invente algo mais forte, mais forte!” e Teco
começa então, a enumerar possíveis armas num crescente: “Cacetete, metralhadora, canhão,
bomba atômica”, e, finalmente, “mulheres marchadeiras!”, no que seu comparsa explode:
“Bravo! Muito Bem!”. Era uma alfinetada nas respeitosas senhoras de família que em
passeatas de protesto como a Marcha da Família com Deus, pela Liberdade, dois anos antes,
em 1964, tinham ajudado a precipitar o Golpe de Estado.
Resultado: a peça foi censurada. Na corroboração do parecer do censor, o diretor da
Divisão de Diversões Públicas da Secretaria de Segurança de São Paulo escreveu:
175
Após esse dia, Plínio foi apresentado a Procópio outras vezes e depois de se tornar um dramaturgo conhecido,
acabou virando seu amigo. Mas Plínio nunca deixou de ser um fã assumido e foi um dos poucos a visitá-lo no
hospital, doente e sozinho, dois dias antes de morrer. Plínio conta essa história no conto Mestres fingidores
(MARCOS, 1996).
131
Somos pela proibição do texto em julgamento, pois o mesmo reflete inteligentemente o eterno conflito
da exploração do ‘homem pelo homem’, que na época atual, quando se procura harmonizar apesar das
dificuldades, serviria apenas para exaltar as platéias, mormente aquelas menos avisadas .
Há ainda uma outra versão de Chapéu sobre um paralelepípedo para alguém chutar,
que acredito ser semelhante ao texto que foi montado como Jornada de um imbecil até o
entendimento, em 1968. Nessa versão, o tom do absurdo continua presente, igualmente
atravessado pelo engajamento político, porém menos por um teor metafísico e mais por um
caráter anárquico e non-sense, em sintonia com as experimentações do teatro brasileiro na
segunda metade da década de 1960. Como no esquete Verde que te quero verde, escrito por
Plínio Marcos para a Primeira Feira Paulista de Opinião do Teatro de Arena, nessa nova
versão de sua segunda peça o dramaturgo extravasava suas críticas políticas e sociais com um
humor agudo, debochado, escrachado e, como diziam os militares, “subversivo”.
176
Com os mesmos dois atos e seis personagens, essa versão 2 de Chapéu sobre um
paralelepípedo para alguém chutar é aparentemente mais absurda e menos séria. Teco, por
exemplo, agora professa a fé num deus chamado “Orogon”, ora associado ao cristianismo, ora
ao candomblé (ele ordena à Popo, “Vá fazer suas obrigações para o encantado”, e depois reza.
“Louvado seja Orogon, Saravá”).
Nos diálogos quase surreais, se fala de bomba atômica e James Bond, passando pela
jovem-guarda. Mas atrás do aparente non-sense, se esconde definitivamente uma curiosa
sátira política. A discussão travada por Teco e Mandrião, quando decidem agir contra Popo,
Manduca e Pilico, é recheado de citações, ditados populares, slogans publicitários e frases de
efeito, numa composição pré-tropicalista:
Teco: Araruta tem seu dia de mingau”
Mandrião: A alta no preço dos ovos é episódica.
Teco: ´W mais nobre dar um balde de sangue para um anêmico do que fazer a barba todos os dias.
Mandrião: Não podemos falhar
Teco: O caso requer ação
Mandrião: Pronta e rápida
Teco: Então agiremos. Da nossa atuação depende o nosso futuro.
Mandrião: O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Teco: O futuro da pátria repousa na juventude
Mandrião: É de pequeno que s e torce o pepino.
Teco: Deus, pátria e família.
Mandrião: A sobrevivência da cultura ocidental é um imperativo
Teco: Precisamos incentivar o plantio do agrião.
Mandrião: Só Esso dá a seu carro o máximo.
176
No programa da Primeira Feira Paulista de Opinião está escrito que Verde que te quero verde foi reescrita a
partir de outra peça “inoesquiana” chamada O aumento do preço dos ovos é puramente episódico – frase esta
que é dita em Chapéu sobre um paralelepípedo para alguém chutar.
132
Teco: Sem dúvida. Não estamos aqui para botar azeitona na empadinha dos outros. Viva o Tratado de
Tordesilhas.
Mandrião: Atacaremos o inimigo.
Teco Já.
Mandrião: Agora
(Os dois ficam parados. Depois de um certo tempo, Mandrião fala)
Mandrião: Bom, e daí?
É muito mais clara a influência circense nesta obra de Plínio, na qual os personagens
em certos momentos agem como palhaços saídos dos picadeiros
piadas.
177
e permeiam o texto de
178
Por outro lado, os personagens da peça são mais definidos, refletindo a desilusão após
o golpe de 1964 e a situação concreta do país. Pilico, por exemplo, que inicialmente apóia as
reivindicações lideradas por Manduca, acaba cooperando com Mandrião e Teco em nome do
“convênio entre os da mesma categoria”, sendo depois enganado por eles.
De forma semelhante à peça O abajur lilás, nesta versão de Chapéu sobre um
paralelepípedo para alguém chutar, cada um dos três mendigos assume uma postura diferente
diante da opressão dos “patrões”. A vaidosa Totoca é logo cooptado através de um “cargo”
superior. Manduca que pregava a união de todos, acaba sendo “demitido” e no desespero
solitário, rouba um chapéu e é preso. Já Popo fica na dúvida em ajudar a libertar ou não
Manduca, encontrando-se diante do dilema de “se omitir” e não salvar o companheiro da
morte, ou agir e “arrumar encrenca”.
O final desta peça, escrita e encenada nos exaltados meses anteriores ao AI-5, também
se distingue do desfecho das outras versões. Depois da execução de Manduca (explicitamente
mostrada em cena):
(Popô fica em pose clássica de pensador por alguns instantes . Depois levanta-se, recolhe os chapéus e
atira-os para o público)
(Todos o cercam ameaçadoramente)
Popô: (para o Teco) E agora?
(Teco olha ameaçadoramente, Popô começa a rir, gargalha, e todos, rindo e gargalhando, contorcendose de riso, esperam o pano cair).
177
Mandrião: [... o Manduca] anda com idéias / Teco: Cruz, credo. / Mandrião: Isso é grave. / Teco: Lamentável
/ Mandrião: Terrível. / Teco: Gravíssimo / Mandrião: lamentável / Teco: Terrível. / Mandrião: Gravíssimo. /
Teco: lamentável. / Mandrião: Terrível. / Teco: Gravíssimo. / Mandrião: Chega.
178
Num momento, quando Teco fala dos problemas com Popo, Manduca e Totoca, Mandrião conta um caso que
ele viu. “Mandrião: [...] fui para atrás de uma árvore próxima, para escutar o que diziam. / Teco: Como você
sabe que foi atrás da árvore, poderia estar na frente. / Mandrião: E onde é a frente da árvore. / Teco: Do lado
oposto ao montinho de cocô. / Mandrião: Como você sabe? / Teco: Elementar meu caro Watson, todo mundo
caga atrás da árvore.”
133
Plínio encerra sua peça não mais de forma otimista, com a conscientização plantando
esperanças de um futuro melhor, mas propondo a ação concreta e o enfrentamento imediato.
Entretanto, ao impasse diante da ameaça do horror e da violência, só resta a histeria coletiva.
Mas voltando a 1962, no teatro universitário do Teatro de Arena, junto com Os
fantoches Plínio Marcos apresentou a peça em um ato, Enquanto os navios atracam, que seria
reescrita seis anos mais tarde com o título de Quando as máquinas param. Além de mais
curta, esta primeira versão do texto apresentava algumas diferenças em relação àquela que se
consagrou como a versão definitiva da peça.
Comparando com a reformulação posterior, o casal de personagens (Zé e Nina). de
Enquanto os navios atracam não são tão bem delineados e é menos elaborada sua evolução
dramática. A história é basicamente a mesma, centrada nos dois jovens recém-casados e
apaixonados cujas dificuldades financeiras acabam levando a um confronto final, qua ndo o
homem, desiludido com o futuro, desfere um soco na barriga da mulher que tinha anunciado
estar grávida. A contundência do drama já estava fortemente presente em Enquanto os navios
atracam, em diálogos como:
Nina: Não dá para ter filho por quê?
Zé: Porque a gente não tem dinheiro. Filho é privilégio de rico.
Se em Quando as máquinas param, Zé é um operário não especializado demitido da
fábrica, em Enquanto os navios atracam o personagem é um “bagrinho” do cais do porto
tentando se tornar um estivador e, conseqüentemente, ser sindicalizado. Curiosamente, como
em Eles não usam black-tie, na peça de Plínio encenada pelo teatro universitário do teatro de
Arena é delineado um conflito de gerações, através do pai de Zé, Seu Mané, inexistente na
versão seguinte. Ele é justamente o presidente do sindicato dos estivadores e a resistência de
Zé em trocar de profissão (tornar-se motorista, como quer Nina) se deve, em parte, por
teimosia, em parte por crença no destino. “Vou ser estivador como meu pai foi e como meu
filho vai ser”, diz o bagrinho em determinado momento, justificando-se em outro: “Homem
tem que vencer naquilo que escolheu, senão ele fracassa”. O pai de Zé, entretanto, se recusa a
ajudá-lo a entrar no sindicato, afirmando que “nos tempos da Guerra” a situação era muito
pior e ele se virou sozinho. A solidariedade, sentimento aparentemente raro dos personagens
plinianos, nesta peça, sequer existe entre pai e filho.
A peça Quando as máquinas param termina somente com o soco de Zé na barriga da
esposa grávida – “que se dobra lentamente e vai caindo, com espanto e dor na expressão,
134
sempre olhando para Zé” – atingindo em cheio, sem mais palavras, também a platéia. Já no
desfecho da anterior Enquanto os navios atracam, as últimas falas imediatamente seguintes à
agressão do marido e encerrando definitivamente o espetáculo, são talvez ainda mais
perturbadoras:
Nina (em dores): Eu não sou mais tua mulher, Zé.
Zé: É sim, Nina. É sim.
Tentando montar suas peças no Arena num esquema profissional, as duas outras peças
que Plínio escreveu em 1964 e 1965 são bastante significativas de uma tentativa do
dramaturgo em acompanhar as tendências do teatro brasileiro, embora de forma frustrada. A
primeira, Nossa gente... nossa música, um musical em dois atos, tinha texto de Plínio Marcos,
roteiro e direção de Dalmo Ferreira e músicas de vários autores populares como José
Francisco, Antônio Martins, Celso Clóvis, Carlos Magno, Haroldo Costa, Chuvisco e Elton
Medeiros.
O musical de Plínio inseria-se numa linha de peças que apresentavam um forte vínculo
com a música popular brasileira. O enorme sucesso do espetáculo Opinião, que estreou em
dezembro de 1964, no Rio de Janeiro, lançou a fórmula da “colagem lítero-musical”, nas
palavras do crítico Yan Michalski. Sob a direção de Augusto Boal, o texto de Oduvaldo Viana
Filho, Paulo Pontes e Armando Costa era entremeado por canções interpretadas pelo trio Nara
Leão, a menina de Copacabana (depois substituída por Maria Betânia), Zé Kéti, o sambista do
morro, e João do Vale, o cantador nordestino.
Nessa mesma linha seguiram espetáculos montados pelo Arena em 1965, como Arena
conta Zumbi, Arena conta Bahia, além de outros que “se aproximavam mais de um show de
música do que de uma encenação teatral”, como Este mundo é meu e Tempo de guerra.
Iniciava-se uma fase predominantemente musical do grupo, que passou a contar com
colaboradores e intérpretes como Sérgio Ricardo, Toquinho, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Maria Betânia, Tom Zé e Maria da Graça, futura Gal Costa (MICHALSKI, 1985, p.22-23).
Da mesma maneira que alguns desses espetáculos, Nossa gente... nossa música
também apresentava vários quadros curtos, entremeando canções com cenas envolvendo
figuras arquetípicas do povo, como boiadeiros, cantadores, pescadores, marinheiros,
sambistas do morro e macumbeiros. Mas o texto de Plínio não parece ter a mesma força em
diálogos que remetem a um universo rural (é curioso uma fala pliniana num tom “caipira”
como: “Nessa vida num há dotô que dê jeito”) ou nos piadas e “causos” que permeiam a peça.
135
Algumas vezes o texto resvala para clichês, sem renová- los na forma ou no conteúdo, como o
velho drama do sambista do morro que vende sua canção para músico do asfalto que lhe
prometera parceria, mas depois descobre ter sido passado para trás quando ouve a composição
tocando no rádio apenas com o nome do impostor.
179
Do mesmo modo que em seus textos anteriores, em Nossa gente... nossa música
também encontramos, mesmo que dispersos, elementos marcantes da dramaturgia pliniana,
embora novamente atravessados por um otimismo no horizonte. No final da história, o
sambista, ao lado de sua namorada, mesmo descobrindo que foi enganado pelo “parceiro”,
tem esperança no futuro:
Cabrocha: Mas eu acho que não está certo.
Sambista: O que?
Cabrocha: A vida. Um engolindo o outro.
Sambista: Deixa pra lá. Amanhã é outro dia.
Ou seja, ao contrário do que afirma Sônia Regina Guerra (1988, p.164), que analisou a
obra pliniana como um das precursores da geração de 69 do teatro brasileiro, a experiência de
Plínio Marcos com o Arena e o CPC representou efetivamente em seus textos, especialmente
aqueles escritos entre 1962 e 1964, uma significativa influência de uma estética cepecista e
populista, ainda que misturadas às características mais autorais de seu teatro, já esboçadas em
Barrela. Entretanto, como todo o teatro brasileiro, Plínio também sinalizou uma mudança de
rumo após o golpe de 1964.
Reportagem de um tempo mau, proibida pela censura no dia de sua estréia em 1965,
era uma peça de apenas um ato, com texto de Plínio Marcos e colagem de citações diversas,
de Brecht até a Bíblia, passando por autores como C. N. Bialik e Langston Hughes.
180
A peça fala de diversos assuntos como intolerância, preconceito, bomba atômica e
racismo nos EUA, através de diálogos curtos, canções, poesias e esquetes. O Brasil surge no
palco através da música nordestina e de um diálogo entre um camponês e um coronel
expressando a exploração do trabalho no campo. O texto não deixa de ser atravessado por
179
Essa mesma história, pano de fundo em Eles não usam black -tie (a composição roubada tem, justamente, o
nome da peça) e trama principal de Rio zona norte, já tinha sido explorada antes em diversas ocasiões e obras,
como no filme Quem roubou meu samba? (dir. Hélio Barroso e José Carlos Burle, 1959). O próprio Plínio
escreveria mais tarde um conto, Uma história de amor, girando em torno do mesmo drama, mas com resultado
mais interessante.
180
Do poeta negro Langston Hughes eram declamados trechos de seu poema Ku Klux Klan, enquanto do
escritor Chaim Nachman Bialik, parte de Na cidade da matança, sobre o massacre de judeus ocorrido na Rússia,
em 1903.
136
argumentos um tanto simplistas e maniqueístas, como na condenação da indústria cultural e
do imperialismo norte-americano simbolizando o caos, em cenas que os atores dançam e
gritam freneticamente ao som de um “Rock alucinante”.
Alguns dos trechos mais curiosos de Reportagem de um tempo mau são os
depoimentos de três pessoas, numa espécie de análise de grupo. O primeiro é o de uma
mulher casada com um homem rico, mas que sofre de solidão e angústia. Em busca de
realização, tem três filhos, escreve poemas, mas ao final, termina se entregando a inúmeros
amantes. O segundo depoimento é o de um garoto ignorado pelos pais que acaba tendo uma
“relação” com o primo, sendo depois desprezado por ele. Atormentado, se questiona: “eu sou
um pederasta! Não sou?”. Por último, um rapaz solitário conta que foi levado a um bordel
pelo padrasto para perder a virgindade, mas traumatizado, torna-se zoófilo. Todos os três
choram no final de suas falas e são confortados por sentenças rigorosamente iguais de uma
espécie de psiquiatra, agradecendo a confiança por terem compartilhado seus dramas. Os
personagens burgueses são, enfim, adúlteros, homossexuais reprimidos, pervertidos e
igualmente infelizes.
O final da peça, escrita após o golpe de 1964, termina com um tom pessimista, com os
atores entrando em fila e no centro do palco, enforcando-se com gravatas.
É importante sublinhar também nesse período a relação de Plínio Marcos com o
Teatro de Arena, que juntamente com o Oficina, era o grupo mais importante do teatro
brasileiro de então. Plínio se juntou à companhia assim que chegou a São Paulo e permaneceu
com ela até aproximadamente 1965. Nelson Rodrigues deu seu testemunho sobre essa
questão. Reacionário assumido, crítico ferrenho do teatro politizado (ou panfletário) de
esquerda e diversas vezes envolvido em polêmicas com os jovens e engajados dramaturgos da
geração do Arena – basta conferir suas rusgas públicas com Vianinha (cf. MORAES, op. cit.,
e CASTRO, op. cit.) –, Nelson abordou esse período da carreira de Plínio com seu estilo
caracteristicamente ferino e, obviamente, parcial:
Eu diria que a fatalidade de Plínio foi ter começado no Teatro de Arena. Não sei se vocês sabem, mas o
Arena é quase um SBAT. Lá o sujeito não dá um passo sem esbarrar, sem tropeçar num autor. Ora, não
há ninguém que abomine mais um autor do que outro autor. E o Arena estava sendo um necrotério para
as esperanças autorais de Plínio. Seus companheiros o suportavam como administrador, secretário,
gerente, bilheteiro; como dramaturgo, jamais (RODRIGUES, 1996, p.126).
137
Em outra crônica em que Nelson falou de Plínio Marcos, que naqueles politizados
anos de chumbo foi “o único autor jovem que ainda ousava dizer-se seu fã” (CASTRO,
op.cit., p.370), o autor de Vestido de Noiva mais uma vez tocou no tema:
Plínio Marcos passou, no Teatro de Arena, meses, anos. Não saía de lá. Conversou mil vezes com
Augusto Boal; com Guarnieri; e com os outros. Todos o viam com os flancos abarrotados de
fecundidade. Ele faz, a bem dizer, uma peça por dia. Pois essa abundância autoral causava, no Teatro de
Arena, o maior desgosto e nojo. Jamais Augusto Boal ou Guarnieri foi dizer ao pobre Plínio: – ‘Vamos
te montar’ (a frase saiu-me horrível).
Se o não tão jovem autor ainda lá estivesse, continuaria virginalmente inédito. Sim, não teria uma
vírgula encenada. Até que, um dia, apanhou um original seu e foi representá-lo num boteco. E o público
de paus-d’água, gigolôs, contrabandistas e senhoras indignas foi muito mais generoso e solidário do que
o Teatro de Arena. Ali começou a glória (RODRIGUES, 1993, p.112-113).
De fato, as farpas disparadas por Nelson Rodrigues procedem em parte. Plínio nunca
conseguiu ter uma peça montada profissionalmente pelo Teatro de Arena, grupo que era
realmente conhecido por ser fechado internamente e só encenar peças de seus membros. Por
outro lado, justiça seja feita, é importante lembrar, por exemplo, que Reportagem de um
tempo mau, cujo pedido de avaliação enviado ao Serviço de Censura foi assinado por Augusto
Boal, só não estreou devido à proibição da Polícia Federal.
Ainda assim, é verdade que Plínio só alcançou o sucesso ao se desligar da companhia.
Independente de ter sido iludido, sabotado ou desprezado, foi principalmente por se afastar do
campo de influência do Arena que o dramaturgo pôde, afinal, amadurecer um estilo mais
pessoal. Talvez tenha havido algum rancor (ou, segundo Nelson Rodrigues, despeito e inveja)
nesse desligamento, pois a principal referência negativa feita posteriormente por Plínio aos
colegas do Arena foi justamente em relação à injusta divisão de renda que a companhia impôs
à ele para encenar Dois perdidos numa noite Suja no Teatro da Rua Teodoro Baima, depois
que o palco do boteco Ponto de Encontro ficou pequeno para seu sucesso.
181
Mas seja qual tenha sido o papel que o Teatro de Arena representou para a carreira de
Plínio Marcos, a análise dos diversos caminhos pelos quais o dramaturgo se aventurou depois
de Barrela até finalmente encontrar o estilo que o consagraria, de qualquer maneira permite
perceber em várias das peças escritas nesse período inúmeros elementos que seriam
aproveitados posteriormente em outras de suas obras.
181
182
Nas palavras do próprio: “Fomos pro Teatro de Arena. Pagamos 70 por cento de aluguel. Um roubo. O
normal é cobrarem 20, 30 por cento no máximo. Quem pediu isso foi o Augusto Boal, Guarnieri e todos os
outros sócios. E nem mesmo com essa onda toda foram assistir ao espetáculo, ignoraram” (MARCOS, Plínio. O
Maldito divino. Caros Amigos, São Paulo, n.6, p. 37, set. 1997. Entrevista concedida aos redatores da revista).
182
Alguns exemplos: na peça Enquanto os navios atracam, uma cena em que Zé manda Nina embora de casa,
mas depois não a deixa sair pela porta, é semelhante ao que ocorre entre Vado e Veludo em Navalha na carne.
138
Desse modo, a grande mudança na carreira de Plínio Marcos ocorreria em 1966,
quando partindo do conto O Terror de Roma (Il terrore di Roma), do escritor italiano Alberto
Moravia, o dramaturgo escreveu Dois perdidos numa noite suja, atingindo a maturidade de
sua dramaturgia e re-encontrando o sucesso. Por outro lado, podemos ainda pensar se essa
peça de Plínio não estaria de certa maneira também no rastro da “nacionalização ou
atualização de clássicos” empreendia pelo Arena, que levou aos palcos versões abrasileiradas
ou atualizadas de peças de Moliére, Martins Pena e Gogol, ou das montagens de tom realista
das peças de Gorki pelo Oficina.
Depois de Dois perdidos numa noite suja, com Navalha na carne, Homens de Papel,
Quando as máquinas param, entre outras peças, Plínio Marcos definitivamente construiu um
estilo e uma obra autoral. Mas nesse momento especial da cultura brasileira em que o
dramaturgo atingiu sua consagração, entre 1966 e 1968, o país já tinha mudado muito em
relação à época em que ele escrevera Barrela, assim como também tinham mudado em muito
o panorama do teatro e do cinema brasileiro e suas relações.
A minha música não traz mensagem
E não faz chantagem ou guerra fria
E nem fala em ideologia
Eu vim apenas para lhes falar
De uma grande perda
Que eu não sei
Se é da direita ou da esquerda
Guto Graça Melo e Mariozinho Rocha, Manifesto.
É proibido proibir.
Se na década de 50 o teatro foi o principal meio de expressão artística da juventude
intelectualizada em processo de crescente politização, na passagem para os anos 60, o cinema
é que se impôs como opção preferencial. Isso se deu quando jovens formados no movimento
cineclubista, com passagens pela crítica cinematográfica, admiradores do cinema europeu e
inspirados pelo slogan “uma idéia na cabeça e uma câmera na mão”, começaram a partir para
a realização de filmes.
Em Reportagem de um tempo mau há um poema (“Para o poeta, o castigo / Para o monge, a guilhotina / Para o
profeta, a cruz / E nós, onde vamos?”) que posteriormente ampliado, seria aproveitado no final da peça O abajúr
lilás.
139
Segundo Ismail Xavier (2001, p.63), “o Cinema Novo foi a versão brasileira de uma
política de autor que procurou destruir o mito da técnica e da burocracia de produção, em
nome da vida, da atualidade e da criação. Aqui, atualidade era a realidade brasileira, vida era
o engajamento ideológico, criação era buscar uma linguagem adequada às condições precárias
e capaz de exprimir uma visão desalienadora, crítica, da experiência social”.
A produção cinematográfica dessa geração – que de maneira alguma se restringiu
somente aos consgrados cinema-novistas –, foi resultado da busca por satisfazer um desejo de
criação e expressão artística. Muito freqüentemente esses jovens diretores tiveram que jogar
criativamente com o improviso e a precariedade, através do uso de pontas de negativo,
maquinário antigo e equipes amadoras e mínimas. Por outro lado, a realização desses novos
filmes também esteve condicionada a inovações técnicas como o surgimento de câmeras mais
leves, equipamentos mais baratos, aparelhagens como Nagra ou a popularização da bitola 16
mm, além do crescimento do mercado publicitário (que ainda usava película) e da cadeia de
laboratórios cinematográficos. Foi nesse contexto – não só brasileiro, mas como também em
outros países – que muitos jovens artistas passaram a optar pelo cinema como canal de
expressão de suas idéias e anseios em detrimento dos até então mais atraentes campos do
teatro e literatura.
Da mesma forma que ocorrera no teatro, com o “abrasileiramente” dos palcos
nacionais no final da década de 50, os cineastas brasileiros igualmente expressavam o desejo
de criar, pela primeira vez, um “estilo cinematográfico nacional” (GALVÃO; BERNARDET,
op.cit., p.183). Uma das resoluções finais da Primeira Convenção Nacional da Crítica,
realizada em 1960, já colocava como uma das metas:
Afirmar a necessidade de o cinema nacional fundamentar-se, sempre que possível, nos nossos costumes,
na realidade política e cultural da terra e da gente brasileira, aproveitando-se da experiência e das obras
do nosso teatro, da nossa literatura, da nossa música e das nossas artes plásticas, criando assim um
estilo próprio que retrate fielmente a paisagem, o homem e a vida brasileira (Ibid, p.189) (grifo meu).
Também de maneira semelhante ao que ocorrera no teatro nacional, no cinema esse
desejo surgia como uma segunda etapa, após os inegáveis avanços da década de 1950. JeanClaude Bernardet ressaltou que “nos anos 60, já estava realizada a ‘revolução técnica’ que a
Vera Cruz efetivamente trouxe ao cinema brasileiro”, incluindo também aspectos estéticos na
“conquista da linguagem”. A desmistificação da técnica e da sintaxe de um tipo de cinema
tido como universal e baseado na linguagem clássica narrativa que se consolidou como
140
hegemônica, foi um primeiro passo decisivo para a constituição, nos anos 60, de uma estética
para o cinema brasileiro que não se definiu apenas pela negação (Ibid, p.195-196).
183
Da mesma maneira, deve ser lembrado o contexto de um período que vinha sendo
celebrado como o do renascimento artístico do cinema mundial, iniciado com o neo-realismo
italiano e seguido pelo aparecimento de diretores (ou, como passaram a ser chamados,
autores) como Satyajit Ray, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Robert Bresson ou
Federico Fellini, a “descoberta” do cinema japonês de Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Kenji
Mizoguchi, e, posteriormente, o surgimento de movimentos como o Free Cinema inglês e a
Nouvelle Vague francesa. Ou seja, um novo cinema brasileiro estava obviamente em
consonância com os “Novos Cinemas” que surgiam no mundo todo, como no Leste Europeu,
em Cuba, na América Latina e no Japão. Por outro lado, os jovens cineastas brasileiros não
deixaram de se empenhar num esforço de legitimação artística deste novo cinema nacional,
inclusive através de um exercício de construção teórica e crítica a partir de uma ruptura com o
passado.
Não se deve esquecer que muitos filmes hoje clássicos do Cinema Novo não foram
recebidos na época com elogios unânimes da crítica e muito menos como sucessos absolutos
de público. Assim como a montagem de Vestido de Noiva, em 1943, foi legitimada como
marco fundador do teatro moderno brasileiro com a aprovação e elogios de crítico literários
ou de uma nova crítica interessada em igualmente legitimar-se como moderna, também foi
notável o esforço intelectual do Glauber Rocha de Revisão Crítica do Cinema Brasileiro
(livro publicado em 1963) na aproximação do cinema com outros campos de expressão
artística. Reconhecendo em Humberto Mauro as raízes de um almejado cinema
verdadeiramente nacional, o veterano cineasta estrategicamente foi comparado a escritores,
músicos ou artistas plásticos do porte de José Lins do Rego, Jorge Amador, Portinari, Di
Cavalcanti, Jorge de Lima ou Villa- Lobos, sendo colocado no mesmo patamar de outros
grandes nomes da poesia e do romance brasileiro.
183
184
Além da Vera Cruz, na década de 50 os filmes da Atlântida e de outros estúdios cariocas (tanto os “sérios”
quanto as chanchadas) foram também responsáveis pela aquisição de um maior domínio da narrativa clássica por
realizadores como Alex Viany, José Carlos Burle, Carlos Manga ou Jorge Ileli. O cineasta Roberto Farias, por
exemplo, um dos mais talentosos de sua geração, teve como escola a participação em filmes de Watson Macedo
e a direção de algumas comédias no começo de sua carreira. O mesmo pode ser dito de Anselmo Duarte, galã da
Atlântida e da Vera Cruz nos anos 40 e 50, que depois passou à direção.
184
Não se tratava, em absoluto, de uma estratégia que nunca tivesse sido tentada na história do cinema brasileiro.
Nos primórdios do cinema silencioso, muitos “posados” eram adaptações de obras de José de Alencar. Já a
Cinédia produziu uma adaptação do romance de José Lins do Rego, Pureza (dir. Chianca de Garcia, 1940), e o
escritor que também foi creditado como o autor dos diálogos caipiras da comédia urbano-rural O dia é nosso
141
Uma outra forma importante de legitimação empreendida pelo Cinema Novo brasileiro
se deu através do prestígio internacional alcançado em festivais europeus com os muitos
prêmios recebidos nos primeiros anos da década de 60. Já em 1965, depois da consagração na
França, Alemanha e Itália, dos elogios da crítica internacional e, da mesma forma, do
reconhecimento de parte da crítica brasileira, Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos
podiam afirmar, respectivamente, que “o cinema brasileiro não é mais uma atividade
divorciada das demais atividades culturais de nível mais alto do país”, e que “hoje o diretor de
cinema está no mesmo nível do que qualquer outro intelectual integrado no processo cultural
brasileiro, o que não acontecia antigamente”.
185
Da mesma forma que ocorrera com o “nascimento” do teatro brasileiro moderno nos
anos 40, o surgimento do Cinema Novo – tenha sido um movimento ou escola ou apenas um
surto ou rótulo – confirmava definitivamente a concepção do “cinema brasileiro moderno no
Brasil” iniciada por Nelson Pereira dos Santos nos anos 50. Mais além, acreditando que o
cinema brasileiro acompanhava mudanças em diversos campos da cultura brasileira, Glauber
Rocha afirmava, em entrevista de 1965, que:
Antes de surgir o Cinema Novo, surgiu o movimento de renovação do teatro brasileiro (com o teatro de
Arena), dentro daquela consciência de nacionalismo que começou a tomar forma nos últimos anos de
Getúlio Vargas e que minha geração conheceu nos turbulentos governos subseqüentes de Juscelino,
Jânio e Jango. 186
Conforme Ismail Xavier (2003, p.225), as propostas de atualização do teatro
brasileiro, como a dos jovens do Arena e do Oficina, realmente proporcionaram uma
transformação “que poderia ser vista, grosso modo, como paralela ao processo que preparou o
cinema novo”. Entretanto, o diálogo entre os dois terrenos “foi mais tímido do que seria de
esperar”.
Desse modo, é possível concluir apressadamente que ao longo dos anos 60, excluindo
o espectro político, as relações entre o “cinema moderno brasileiro” e “teatro brasileiro
moderno” não tenham sido marcadas por um diálogo forte e continuado, ao contrário do
(dir. Milton Rodrigues, 1941). No início dos anos 60, entretanto, essa aproximação do cinema com outros
campos da cultura como forma de legitimação foi muito mais bem-sucedida.
185
(CINEMA Novo: origens, ambições e perspectivas. Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha e Alex Viany.
Revista Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, n.1, mar. 1965); Por outro lado, importantes prêmios recebidos
pelos filmes da Vera Cruz (especialmente O Cangaceiro) e, principalmente, a Palma de Ouro conquistada por O
Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, não foram valorizados, mas identificados como equívocos de uma
crítica estrangeira alheia à realidade brasileira.
186
CINEMA Novo: origens, ambições e perspectivas. Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha e Alex Viany.
Revista Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, n.1, mar. 1965.
142
diálogo do Cinema Novo com a literatura e a música. Ainda assim, do mesmo modo como em
toda a história cinema no Brasil, o teatro nacional continuou exercendo uma forte presença no
campo cinematográfico, tanto através de adaptações de peças, quanto compartilhando atores,
diretores e também preocupações temáticas e formais.
187
É interessante apontar, por exemplo, que muitos dos futuros cineastas do próprio
Cinema Novo, antes de se dedicarem ao cinema, se interessaram primeiramente pelo teatro.
Leon Hirszman foi ligado ao grupo do Teatro de Arena e às atividades teatrais do CPC da
UNE.
188
Arnaldo Jabor foi outro membro do grupo de teatro do CPC e afirmou que antes do
Cinema Novo “não tinha contato maior com cinema. O que me interessava, então, era o
teatro”.
189
Paulo Cezar Saraceni também relatou que quando jovem, por não gostar de
chanchada, decidiu se dedicar ao teatro por “curtir” ator e literatura estrangeira: “No teatro fui
assistente de direção do Ziembinski e até pude dirigir Cacilda Becker em Pega fogo. Fui
assistente de Adolfo Celi, Eugenio Kusnet e finalmente Paulo Francis”.
190
Glauber Rocha,
ainda em Salvador, participou da série de espetáculos teatrais As jogralescas, no colégio
Central, além dos espetáculos da Escola de Teatro da Bahia, onde conheceu Helena Ignez, sua
primeira esposa.
Além disso, o Cinema Novo aproveitaria abundantemente em seus filmes toda uma
nova geração de atores oriundos, por exemplo, do Teatro de Arena, como Nelson Xavier,
Vianinha, Milton Gonçalves, Flávio Migliaccio, Paulo José, Isabel Ribeiro ou Dina Sfat.
Entretanto, a nova geração de cineastas que pretendia revolucionar o cinema nacional,
escrevendo uma nova página da história do cinema brasileiro, mesmo buscando legitimação
em outros campos da cultura brasileira de maior expressão – como a música ou a literatura –
fazia questão de estrategicamente se distinguir das demais expressões artísticas, especialmente
187
Da mesma forma que nas décadas anteriores, nos anos 60 foram realizadas muitas adaptações
cinematográficas de peças nacionais. É notável, inclusive, um intervalo muito curto entre as carreiras das peças
no teatro e no cinema, o que demonstra a permanência de um diálogo fértil entre os dois meios. Além das peças
da geração de dramaturgos engajados política e socialmente (que serão abordadas posteriormente), também
foram levadas às telas comédias de novos autores como Gláucio Gil (Procura-se uma rosa ou Toda donzela tem
um pai que é um fera) ou João Bethencourt (Como matar um playboy). Da mesma forma, a primeira onda de
adaptações para o cinema de peças de Nelson Rodrigues entre 1962 e 1966, se interessou especialmente por
peças então recentes, como Boca de Ouro, de 1960, Beijo no Asfalto, de 1961, e Bonitinha, mas ordinária, de
1962.
188
Leon participou do Seminário de Dramaturgia de Boal e de peças como Revolução na América do Sul, no
Arena. Como membro do CPC da UNE, fez a “parte de cinema” da peça A mais-valia vai acabar, seu Edgar,
com imagens do cine jornal Atualidades francesas e de filmes de ficção (LEON DE OURO: RETROSPECTIVA
DA OBRA DE LEON HIRSZMAN, 1995, Rio de Janeiro. Catálogo... Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do
Brasil, 1995).
189
Filme Cultura, n.17, nov-dez. 1970.
190
VIANY, Alex. Os primeiros sinais do cinema novo, 13 jun. 1979. Mimeografado. Acervo Alex Viany.
143
do sempre ameaçador teatro. Um momento emblemático desse desejo ocorreu ainda em 1959,
na tentativa de se escrever um manifesto do então embrionário Cinema Novo. O responsável
por fazer a síntese de todas as discussões teóricas do grupo foi Miguel Borges. Segundo as
palavras de Saraceni em sua autobiografia Por dentro do cinema novo (1993, p.47), o
manifesto acabou sendo o máximo da alienação, pois começava assim: ‘Não queremos mais
cinema literatura, não queremos mais cinema teatro, não queremos mais cinema música, não
queremos mais cinema ballet, não queremos mais cinema arquitetura, não queremos mais
cinema pintura, não queremos mais cinema escultura, queremos cinema cinema.” A leitura de
Miguel Borges gerou um debate acirrado e uma réplica bastante espirituosa de Saraceni
acabou batizando o frustrado manifesto: “isso é igual ao filho pedir ao pai uma bola, não de
futebol, nem de basquete, nem de vôlei, nem de tênis, nem de pingue-pongue, eu quero é uma
bola bola!” O manifesto acabou ficando conhecido como “Manifesto Bola Bola” e o grupo
desistiu da idéia.
As veementes acusações feitas por Saraceni na época – “Isto é manifesto dos anos 20,
do cinema mudo. Pretensioso, nem Eisenstein assinaria. Ridículo” – eram, de fato, críticas
bastante pertinentes. Conforme Robert Stam (2003, p.43), de modo geral os teóricos do
cinema mudo se mostravam muito mais determinados a tentar demonstrar e afirmar as
potencialidades artísticas do cinema seja, por exemplo, através de sua diferenciação em
relação às outras artes. Na década de 50, isso já tinha sido há muito superado pelos teóricos
menos defensivos e elitistas, e que já tomavam o estatuto artístico do cinema como
pressuposto.
Do mesmo modo que nos cineastas, numa parcela da crítica cinematográfica brasileira
dos anos 50 e 60 ainda se notava a permanência de uma concepção clássica do cinema como
‘arte autônoma e essencialmente vis ual’. Jean-Claude Bernardet (1983, p.233) chamou a
atenção para isso no caso do filme Boca de ouro (dir. Nelson Pereira dos Santos, 1962) – um
marco na “evolução do diálogo no cinema brasileiro” – que apontava para dois caminhos na
solução do problema da língua nos filmes: “o apoio no moderno teatro nacional e a
incorporação da linguagem popular”. Mas nesse caso, como aconteceria com a adaptação
cinematográfica de Navalha na carne, dirigida por Braz Chediak em 1969, o “excesso” de
diálogos (independente de sua qualidade ou vulgaridade) foi criticado por tornar o filme
menos cinematográfico e mais teatral.
Por outro lado, a influência da politique des auters, com a crença no diretor como
verdadeiro e único “autor” do filme (e preferencialmente, assinando também seu argumento e
144
o roteiro), não incentivava a adaptação para o cinema de obras literárias ou dramáticas de
nomes conhecidos. Como apontou James Naremore (2000, p.6), um dos mais bem guardados
segredos dos cineastas da Nouvelle Vague era que muitos dos seus próprios filmes eram
baseados em romances. As fontes que eles escolhiam, entretanto, eram geralmente pouco
sofisticadas, e quando eles adaptavam textos “sérios” e “importantes” ou escreviam ensaios
sobre adaptações desse tipo, eles faziam questão de que o cineasta (auteur) parecesse mais
importante que o escritor (author).
191
Segundo François Truffaut, estritamente de acordo com o “autorismo” que
caracterizou a Nouvelle Vague, não haveria boa ou má adaptação, nem sequer bons ou maus
filmes, mas somente autores de filmes e suas políticas. Ou seja, Truffaut assumia para o
campo das adaptações a frase de Girardoux, praticamente um lema da politique des auteurs:
“não existem obras, só existem autores”.
192
Por outro lado, foram extremamente férteis as relações do Cinema Novo com a
literatura, ocorrendo não apenas através do diálogo com determinadas obras ou escritores
(como o de inúmeros cineastas com a literatura regionalista dos anos 30 ou, em particular, de
Joaquim Pedro de Andrade com Mário e Oswald de Andrade e de Paulo Cezar Saraceni com
Lúcio Cardoso), mas especialmente “com a própria produção literária pelo intermédio da
caracterização dos personagens ou por citações” (BERNARDET, 1995, p.155).
Ainda assim, não foram muitos os filmes do Cinema Novo exp licitamente assumidos
como “adaptações formais” de outros textos. O padre e a moça (dir. Joaquim Pedro de
Andrade, 1965), por exemplo, nos créditos se assume apenas “sugerido” pelo poema de
Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, a maior parte dessas adaptações foi exaltada
justamente pela “recriação cinematográfica” dos elementos das obras originais, como a luz
191
Na clássica entrevista com Alfred Hitchcock, Truffaut comenta o fato de o diretor inglês ter optado
principalmente por adaptações “de uma literatura estritamente recreativa, de ro mances populares”, remanejadas
até se tornarem “filmes de Hitchcock”, embora muitas pessoas desejassem vê-lo levando às telas obras
“importantes”, como Crime e Castigo. Hitchcock concorda com a observação, afirmando que jamais adaptaria o
livro de Dostoiévski, mas se o fizesse, não teria um bom resultado. Segundo o diretor inglês, uma adaptação
“séria” do clássico do escritor russo deveria ter de seis a dez horas, por ser necessário substituir pela linguagem
cinematográfica todas as palavras da obra, cada uma delas com alguma função essencial. A questão colocada por
Truffaut, e afirmada por Hitchcock, de que “uma obra -prima é alguma coisa que por definição encontrou sua
forma perfeita, sua forma definitiva”, nos mostra que nem mesmo a Nouvelle Vague estava absolutamente livre
da idéia de respeito aos clássicos literários (TRUFFAUT, 1988, p.45-46).
192
TRUFFAUT, François. Ali Baba e a “política dos autores”. Cahiers du Cinéma, n.44, fevereiro de 1955. In:
NOUVELLE VAGUE, Lisboa. Catálogo... Lisboa: Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, 1999.
145
estourada de Vidas Secas (dir. Nelson Pereira dos Santos, 1963) de acordo com a secura e
aridez tanto do sertão nordestino quanto da prosa de Graciliano Ramos.
193
Como os filmes da Nouvelle Vague, as obras cinema- novistas procuravam destacar sua
especificidade em relação às fontes nos quais se basearam, entretanto, ao contrário dos filmes
franceses, adaptaram ou dialogaram com obras de autores consagrados da cultura brasileira,
inclusive de forma a legitimar seu cinema como uma continuidade da busca de “estilo
nacional” iniciado por esses escritores. O distanciamento temporal – fosse em relação aos
modernistas ou aos regionalistas –, por outro lado, ajudava a não “prejudicar” tanto a questão
da “autoria” do filme. Esse questionamento pode nos encaminhar na compreensão, por
exemplo, das razões por não ter sido fértil o diálogo desse mesmo cinema com a literatura
nacional contemporânea ao próprio movimento cinema- novista.
194
Da mesma forma, o quadro esboçado nas linhas acima pode, talvez, também ajudar a
esclarecer o fato de as adaptações para o cinema de peças teatrais da geração de jovens
dramaturgos surgidos na década de 50 e 60 – como Jorge de Andrade, Ariano Suassuna,
Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes, Lauro César Muniz e Plínio Marcos –, mesmo que de
alguma maneira alinhados ao Cinema Novo pela concepção do nacional-popular, terem sido
levados para a tela por diretores de um dito “cinema comercial”, como Anselmo Duarte,
George Jonas, Flávio Rangel, Carlos Coimbra ou Braz Chediak.
193
195
Em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, escrevendo sobre Boca de Ouro, Glauber afirma que “não pode ser
considerado uma obra de autor, pois o próprio Nelson, neste filme, confessa que foi apenas um artesão do texto
de Nelson Rodrigues” (1963, p. 83). Sobre premiada adaptação de Anselmo Duarte, diz que ele “em O Pagador
de Promessas esteve preso às limitações exigidas por Dias Gomes e teve pouca liberdade criadora [...]. Ainda
prefiro, por razões de verdade, o diretor simples, espontâneo e pessoal de Absolutamente Certo [com roteiro do
próprio Anselmo], seu verdadeiro filme de autor” (Ibid, p.135).
194
Romances de escritores como Carlos Heitor Cony, Fernando Sabino ou Ignácio de Loyola Brandão foram
adaptados em filmes como Antes o verão (dir. Gerson Tavares, 1968), O Homem Nu (dir, Roberto Santos, 1968)
ou Bebel, a garota-propaganda (dir. Maurice Capovilla, 1986), dirigidos por cineastas dificilmente identificados
como “cinema -novistas autênticos”.
195
O pagador de promessas, (dir. Anselmo Duarte, 1962), adaptação da peça homônima de Dias Gomes, de
1960; Gimba, presidente dos valentes (dir. Flávio Rangel, 1963), adaptação da peça homônima de Gianfrancesco
Guarnieri, de 1963; O Santo Milagroso (dir. Carlos Coimbra, 1965) adaptação da peça homônima de Lauro
César Muniz, de 1963; Vereda da salvação (dir. Anselmo Duarte, 1965), adaptação da peça homônima de Jorge
de Andrade, de 1961; A Navalha na carne (dir. Braz Chediak, 1970), adaptação da peça Navalha na carne, de
Plínio Marcos, de 1967; e A Compadecida (dir. George Jonas, 1970), adaptação da peça O Auto da
Compadecida, de Ariano Suassuna, de 1956. Na década de 60, existiram ainda outros projetos que não foram
realizados: Glauber Rocha chegou a planejar a adaptação de Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Este
projeto acabou dando origem ao filme A falecida, dirigido por Leon Hirszman, que anteriormente tinha a
intenção de levar às telas a peça então inédita de Dias Gomes, Odorico, amor e morte (que se transformaria nos
anos 70 na telenovela O Bem Amado). Outra peça de Dias Gomes, A Invasão, também foi alvo de interesse de
Alex Viany, enquanto O Berço do Herói, do mesmo autor, só não foi transformada em filme pelo produtor
Herbert Richers por ter sido proibida pela censura em 1965. O Auto da Compadecida, antes de chegar às telas
em 1970, passou pelas mãos de Anselmo Duarte e Victor Lima. Já Nelson Pereira dos Santos, se interessou pela
peça de Antônio Callado, Pedro Mico, que só viraria filme em 1985, mas dirigido por Ipojuca Pontes.
146
Num caderno especial sobre teatro publicado pela Revista Civilização Brasileira em
julho de 1968, Nelson Werneck Sodré afirmava que pelo fato de o teatro e o cinema
brasileiros terem assumido a vanguarda da cultura brasileira, seria bastante apropriado se falar
em Cinema Novo e Teatro Novo. Por outro lado, na mesma publicação, uma tentativa de
justificativa para o “diálogo tímido” entre os dois campos fo i esboçada por Luiz Carlos
Maciel. Neste artigo, seu autor afirmava que a geração de teatro posterior ao Teatro Brasileiro
de Comédia não levou a cabo um rompimento efetivo com a tradição estabelecida por seus
antecessores. Para eles, a renovação do TBC me recia respeito e sob a aparência externa de seu
ímpeto, escondia-se um caráter submisso e passivo. “Embora mais conscientes, os novos
pequeno-burgueses sentiam-se fiéis continuadores dos mais velhos”.
Já no campo cinematográfico, além das diferenças em relação ao caráter industrial da
atividade, “a tradição anterior do cinema brasileiro não lhes merecia o respeito que se voltava
ao teatro do TBC: era a desprezível chanchada que precisava ser erradicada para sempre e
substituída por um cinema moderno e empenhado”. Desse modo, inventando um novo modo
de produção, teria ocorrido um salto mais rápido no cinema que no teatro.
196
Embora sinalize alguns aspectos interessantes, essa análise apresenta, obviamente,
várias deficiências. Mas além dos argumentos já explanados, um outro fator importante numa
discussão sobre o cinema e o teatro brasileiro nos anos 60 talvez seja a questão da defesa
estratégica do cinema como campo de direito dos cineastas.
Numa edição da Revista de Cultura Cinematográfica, de 1963, foi feita uma lista com
os 34 diretores de cinema então em atividade no Brasil, separando-os em determinadas
categorias. Os grupos foram definidos por critérios aleatórios de tempo (“Os Pioneiros”),
gênero (“Cinema Experimental” e “Cinema de Animação”), região (“Geração Carioca”,
“Geração Paulista” e “Geração Baiana”) e, finalmente, também pela expressão artística
(“Geração de Teatro ”).
196
197
Luiz Carlos Maciel aponta também para “estruturas psíquicas diferenciadas” no comportamento global dos
artistas do teatro e do cinema brasileiro. O Cinema Novo seria “fálico-narcisista”,ou seja, seguro, arrogante,
agressivo, desinibido e vaidoso e, em sintonia com a política dos autores, também autoritário e individualista. Já
a geração posterior ao TBC seria “passiva-feminina”, sendo humilde, delicada, complacente e coletiva. Isso
explicaria o fato dos cinema -novistas serem todos homens e as atrizes de teatro, ao contrário das de cinema,
serem mais viris, empreendedoras e livres.
197
Dentre os Pioneiros, Humberto Mauro reinava solitário. A Geração Carioca, tinha o maior número de
cineastas, abrangendo de veteranos (José Carlos Burle, Aloísio T. Carvalho) aos jovens cinema-novistas (Paulo
Cezar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade, Marcos Farias, Cacá Diegues, Ruy Guerra, Fernando Cony Campos
e Miguel Borges), passando pelos seus precursores (Nelson Pereira dos Santos e Alex Viany) e pelos
“independentes do cinema comercial” (Jorge Ileli, Aurélio Teixeira e Carlos Hugo Christensen). Na Geração
Paulista localizavam-se os remanescentes da Vera Cruz (Lima Barreto, Tom Payne, Galileu Garcia) e os novos
147
A categoria “Geração de Teatro” incluía Adolfo Celi, Alberto D’Aversa, Flávio
Rangel e Flávio Migliaccio, que embora fossem efetivamente cineastas, todos eles já tendo
dirigido pelo menos um longa-metragem, tinham carreiras anteriores mais significativas no
teatro. 198
Formado por dois paulistas e dois italianos, os membros deste grupo parecem ser
marginalizadas pela velha alcunha de “aventureiros” por virem de outro campo (e até de outro
país) e invadirem o terreno dos cineastas, embora, como foi dito, a própria geração do Cinema
Novo (dividida principalmente entre os baianos e cariocas), também tivesse uma origem,
mesmo que passageira, no teatro.
Por último, além de todos os argumentos já colocadas a respeito das relações entre o
teatro e o cinema brasileiro nos anos 60, uma outra questão indispensável nessa discussão diz
respeito à forma.
autores, próximos ou distantes do cinema novo (Walter Hugo Khouri, Anselmo Duarte, Rubém Biáfora,
Trigueirinho Neto, Carlos Coimbra e Roberto Santos). A Geração Baiana era representada somente por Roberto
Pires e Glauber Rocha. Ainda eram citados os grupos do Cinema experimental (Bassano Vaccarini, Rubens F.
Lucchetti), com integrantes do Centro de Cinema Experimental, anexo a Escola de Artes Plásticas de Ribeirão
Preto, e outro dedicado ao Cinema de animação (Roberto Miller). Por último, restava o Cinema científico,
representado somente pelo também crítico Benedito J. Duarte.
198
Adolfo Celi, diretor contratado para o TBC, também dirigiu filmes na Vera Cruz. Alberto D’Aversa, diretor,
crítico e professor de teatro, já tinha dirigido filmes no exterior. Flávio Rangel era um dos principais diretores de
teatro da nova geração; Flávio Migliaccio era dramaturgo e ator do Teatro de Arena.
148
Forma e conteúdo – (ir)realismo e realidade.
Diferentemente do que acontecia até os anos 50, na década seguinte não era mais
apenas o conteúdo o que, para o Cinema Novo, definia o caráter nacional e/ou popular de um
filme, mas também a sua forma (GALVÃO; BERNARDET, 1983, p. 157). Ou então, como
contou Saraceni a respeito dessa mudança (inclusive de geração), nos anos 60 se colocava:
“De um lado Nelson dizendo que não tinha importância nenhuma onde colocar a câmera e eu e Glauber
achando que o importante era exatamente onde colocar a câmera. O neo-realismo de Nelson ia se
diluindo num realismo crítico da realidade brasileira e o nosso formalismo ia tomando a forma de
adaptar o nosso inconsciente, subjetivo e anárquico à essa mesma realidade”. 199
Nesse momento, um ponto fundamental que emerge na cultura brasileira diz respeito à
problemá tica do realismo, questão indispensável quando se aborda a obra de Plínio Marcos.
No começo dos anos 60, existiu uma clara oposição na jovem produção artística
engajada entre duas tendências que, grosso modo, podiam ser representadas pelas opiniões
das lideranças do CPC da UNE e pelos “cabeças” do Cinema Novo.
Muito simplificadamente, o primeiro grupo defendia a subordinação da arte à política,
pretendendo fazer uso de “conteúdos políticos em formas de cultura popular”, resultando
numa “cultura popular revolucionária”, nos termos do sociólogo Carlos Estevam Martins,
membro fundador e primeiro presidente do CPC. Uma linguagem previamente conhecida e
decodificada pelo povo (mesmo que considerada simplória, tosca ou ingênua) seria a forma de
dirigir-se efetivamente ao mesmo povo com intenções didáticas de conscientização das
massas. Foi essa visão, constantemente dogmática e paternalista (como a expressa no
Anteprojeto do manifesto CPC), que norteou algumas experiências, por exemplo, dos Centros
Populares de Cultura da UNE, no teatro, cinema, literatura e música. (Ibid, p.143-158).
Por outro lado, o Cinema Novo, apoiando-se no aforismo de Maiakóvski – “não há
arte revolucionária sem forma revolucionária” – e em sintonia tanto com o cinema de autor
quanto com o nacional-popular, pretendia construir uma linguagem condizente com a
realidade social expressa. Ou seja, era necessário elaborar uma nova e característica
“estética”, como convocava Glauber no manifesto Uma eztetyka da fome, de 1965.
O Cinema Novo buscou “um distanciamento crítico que suscitasse a reflexão sobre os
problemas em pauta, enquanto que o CPC, ao contrário, buscava o envolvimento” (Ibid
p.250). Dessa forma, se Carlos Estevam elogiava filmes como O pagador de promessas (dir.
199
VIANY, Alex. Os primeiros sinais do cinema novo, 13 jun. 1979. Mimeografado. Acervo Alex Viany.
149
Anselmo Duarte, 1962) ou O assalto ao trem pagador (dir. Roberto Farias, 1962), grandes
sucessos de público, o Cinema Novo, de maneira geral, os criticava ou desprezava. Por outro
lado, os cineastas eram acusados de formalistas e elitistas, e Vianinha, um dos principais
líderes do CPC, não deixava de chamar filmes como Porto das caixas, O padre e a moça e
Terra em transe de chatos ou herméticos.
Dessa maneira, por divergências especialmente em relação à “forma”, o diálogo (sob
o viés das adaptações) que se estabeleceu entre a nova geração de dramaturgos do teatro
brasileiro e os jovens cineastas brasileiros, não foi com a geração do Cinema Novo, mas com
outros diretores que podiam ser acusados pelos primeiros de trazerem a marca do capitalismo
(pela associação com os estúdios ou produtores que visariam somente o lucro), do
imperialismo (pela identificação com o cinema americano), da alienação (pela opção por uma
narrativa clássica que seria confortante e artificial) ou da tradição (por ligações com a Vera
Cruz ou as chanchadas).
Ao longo da década, com os cinema-novistas sendo confrontados com a questão de
atingir maior comunicação com o povo e diante do problema da marginalização do cinema
brasileiro em seu próprio mercado, algumas soluções ou meio-termos foram tentados ou
propostos. Uma crítica de Gimba, presidente dos valentes (dir. Flávio Rangel, 1963),
adaptação cinematográfica da peça de Guarnieri, afirmava que o filme interessava ao cinema
brasileiro por conciliar o Cinema Novo com a produção industrial, num meio termo já
aplicado com êxito em O pagador de promessas e O assalto ao trem pagador. Apesar de seus
defeitos enquanto filme, Gimba mostraria aos jovens do cinema novo ser “possível conciliar a
liberdade expressiva com um mínimo de base industrial” e, ainda, que “o cinema ‘puramente’
independente” não era a única solução para o futuro de um genuíno cinema brasileiro. Ou
seja, o apelo ao teatro brasileiro, assim como ao cinema de gêneros, poderia servir de
contraponto ao excessivo hermetismo do cinema novo.
200
Entretanto, se no começo da década de 60 Carlos Estevam, à frente do CPC, chegou a
dizer “nada de Brecht aqui”, as idéias do dramaturgo alemão – em consonância com uma
tendência mundial – passaram a influenciar mais e mais a discussão a respeito da forma, tanto
200
BARROS, José F. de. Brasil leva cinema a Sestri Levante. Revista de Cultura Cinematográfica, Rio de
Janeiro, n.35, mai-ago 1963, p.73.
150
no teatro quanto no cinema brasileiro, em sintonia com as diversas mudanças ocorridas no
país, especialmente a partir do golpe de 1964, e, logo em seguida, com o tropicalismo.
201
Desse modo, em meio às novas questões que marcavam o meio artístico brasileiro
especialmente a partir de meados dos anos 60, pode ser apontado um outro viés de diálogo,
igualmente significativo, entre o teatro e o cinema brasileiro. Um dos mais importantes filmes
do Cinema Novo, Terra em transe (dir. Glauber Rocha, 1967), foi assumido como uma
“violenta influência” para a igualmente revolucionária montagem do Teatro Oficina para o até
então inédito texto de Oswald de Andrade, O rei da vela, com direção de José Celso Martinez
Corrêa. Nesse caso, a ousadia estética do Cinema Novo serviu de inspiração para uma
renovação formal do teatro brasileiro. Como afirmou José Celso num verdadeiro manifesto
publicado no programa de O rei da vela: “a peça é fundamental para a timidez artesanal do
teatro brasileiro de hoje, tão distante do arrojo estético do cinema novo” (In: MICHALSKI,
op. cit., p.31).
202
Em parte refletindo a violência e o absurdo da ditadura militar, uma parcela do meio
artístico se debateu em experimentações, contestações, agressões e invenções, e o realismo –
burguês, tradicional e conformista – foi se transformando definitivamente no inimigo a ser
combatido.
Nesse momento, nada talvez se distanciasse mais do formalismo, do irracionalismo ou
do experimentalismo que caracterizava, dada as devidas proporções e particularidades, o
Cinema Novo, o Teatro da Agressão ou o Tropicalismo, do que o teatro de Plínio Marcos.
Entretanto, 1967, o ano do lançamento de Terra em transe, da montagem teatral de O rei da
vela e da realização do III Festival de Música Popular Brasileira, também foi quando Navalha
na carne transformou Plínio Marcos num dos maiores nomes do teatro brasileiro.
201
203
A teoria Brechtiana foi muito influente nos anos 60 e 70 por sua forte crítica de inflexão marxista do modelo
realista dramático operante tanto no teatro tradicional quanto no cinema hollywoodiano. A “reflexividade”, por
exemplo, termo que se popularizaria junto à crítica de esquerda influenciada por Althuser e Brecht, passou a ser
exigida em peças e filmes como uma obrigação política: “A tendência à época era simplesmente equiparar
‘realista’ a ‘burguês’ e ‘reflexivo’ a ‘revolucionário” (STAM, 2003, p.175).
202
Em comum entre os artistas do cinema e teatro brasileiro na segunda metade da década de 60 está justamente
um intenso diálogo com o modernismo dos anos 20 (cf. JOHNSON, 1982).
203
O III Festival de Música Popular Brasileira, da TV Record, foi marcado pelas guitarras elétricas de Alegria,
alegria (Caetano Veloso com a banda de rock argentina Beat Boys) e Domingo no parque (Gilberto Gil com Os
Mutantes), pela ousadia da genial Roda viva (Chico Buarque e MPB 4) e pelas vaias que levaram Sérgio Ricardo
a quebrar seu violão e jogá-lo para cima do público. O primeiro lugar coube a Edu Lobo, representante da
esquerda musical no Brasil, com Ponteio. Conforme Nelson Mota (2000, p.157), “depois do vale tudo do festival
da Record, onde abalaram várias amizades, a MPB começou a rachar”. Em 1968, no III Festival Internacional da
Canção, da TV Globo, tudo se acentuaria: as vaias (Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, canção vencedora), o
engajamento das letras (Pra não dizer que falei de flores, de Geraldo Vandré, aclamada pelo público) e o
radicalismo tropicalista (É proibido proibir, Caetano Veloso, desclassificada).
151
Essa questão não deixou de ser apontada na época, como por Ian Michalski, em sua
crítica à montagem teatral de Navalha na carne, escrita em 1967, da qual reproduzo um longo
trecho:
Como crítico não posso ignorar o fato de que o realismo, como linguagem dramática, está
agonizando; e é bom que assim seja, pois a preocupação de mostrar naturalmente no palco a vida como
ela é, tolheu profundamente, durante mais de um século, os vôos da arte dramática em todas as regiões
da civilização ocidental. Principalmente no que se refere à conscientização social do público, a arte
realista [...] é hoje em dia quase que unanimemente condenada. A verdadeira linguagem social do
nosso tempo é, no teatro, a linguagem épica – com todas as suas subtendências, bem entendido – que
estimula a participação crítica do espectador e lhe apresenta exemplos que conduzem o raciocínio do
particular para o geral. E, no entanto, constato que no Brasil as peças que tem mostrado
verdadeiramente capazes de abrir os olhos do público para determinados fatores cruéis e injustos da
nossa realidade social tem sido precisamente aquelas que não se afastam dos conceitos formais de um
realismo tradicional: Eles não usam black -tie, Pequenos burgueses, e agora Navalha na carne.
Nenhuma encenação “brechtiana”, quer de textos nacionais ou estrangeiros, se tem revelado até agora,
entre nós, tão eficientemente “didática” quanto estes três exemplos de obras escritas dentro de cânones
que nada tem de “didáticos”. Não me cabe, dentro dos limites deste artigo, estudar o fenômeno; mas ele
me pareceu digno de ser proposto à reflexão do público e dos estudiosos (In: MARCOS, 1968) (grifos
meus).
A respeito da questão apontada por Ian Michalski, o contexto do surgimento do teatro
pliniano no Brasil pode ser confrontado com a crise do drama no teatro europeu no final do
século XIX. Empreendendo uma análise historicizante da forma dramática, Peter Szondi
(2001) apontou para um momento de crise no qual emergiam traços épicos no domínio da
poesia dramática, surgindo correntes que “se atêm à forma dramática e tentam salvá-la de
várias maneiras” (SZONDI, 2001, p.97). Entre essas tentativas de salvamento estaria o
naturalismo (com seus heróis escolhidos dentre as camadas mais baixas da sociedade), a peça
de conversação (sustentada basicamente sobre os diálogos), a peça de um só ato (procurando
a situação limite) e as peças de confinamento e isolamento. 204 Essas tentativas de salvamento
– segundo o autor, marcadas pela contradição entre uma forma não mais adequada ao
conteúdo – caracterizam exemplarmente os métodos formais de Plínio Marcos, que surgiu em
1966 e 1967 com peças criadas segundo “métodos tradicionais”, mas ainda assim se
revelando extremamente impactantes.
Numa outra chave de interpretação, devemos considerar o fato de que no final da
década de 1960, o espírito de rebeldia e inconformismo dos jovens validava qualquer proposta
ou linguagem, mesmo as “agonizantes”. Como os estudantes parisienses picharam nas paredes
204
“O estilo dramático ameaçado de destruição pela impossibilidade do diálogo, é salvo quando, no
confinamento, o próprio monólogo se torna impossível e volta a transformar-se necessariamente em diálogo”
(SZONDI, 2001, p.114)
152
da capital francesa em maio de 1968 e Caetano Veloso cantou no Brasil, naquele momento
era proibido proibir – tudo devia ser permitido. Para Plínio Marcos, foi justamente a
efervescência e a multiplicidade de idéias característica do período entre 1966 e 1968 – o
“mais sadio da dramaturgia brasileira” – que permitiu que ele alcançasse novamente o
sucesso:
A partir de 1966, cada um fazia o teatro que queria, cada um dava o seu testemunho. Então, se tinha um
cara discutindo o problema do homossexual, coisa que o artista brasileiro, dramaturgo, antes de 1966 se
recusava; eles só queriam fazer o discurso sobre Lampião, ou então montar peças falando do aspecto
social. De repente, começou a aparecer em cena peças onde todos os problemas do homem eram
discutidos. Cada um discutia os problemas que lhe interessavam. 205
Mas apesar dessa multiplicidade, esse final de década continuou sendo marcado por
maniqueísmos radicais, como novo e velho, direita e esquerda ou reformistas e
revolucionários, e o teatro brasileiro foi uma “arena” privilegiada para esses debates.
Augusto Boal, um dos principais nomes do teatro brasileiro politizado, escreveu em
1968 o artigo O que você pensa da arte de esquerda?, no qual procurou descrever as três
linhas principais do teatro brasileiro de esquerda. A linha Sempre de Pé seria representada
pelo repertório recente do Teatro de Arena (o gênero “Zumbi”), caracterizada, assim como os
espetáculos do extinto CPC, pela tendência exortativa, por simplificações analíticas e por um
maniqueísmo assumido e desejado. O problema desse teatro – com o qual o Cinema Novo
também se confrontava – seria o de “surdez”, pelo fato de que seu verdadeiro interlocutor
deveria ser o povo e seu lugar, a praça.
Classificando uma outra linha como Chacrinha e Dercy de Sapato Branco, Boal fez
uma feroz crítica ao que ele chamava de “tropicalismo-chacriniano-dercinesco- néoromantico”, lançando mal-disfarçados ataques contra os estrangeirismos de Caetano Veloso
ou à capitulação do Cinema Novo com Garota de Ipanema (dir. Leon Hirszman, 1967), mas
principalmente, contra o Teatro Oficina. Pregando a arte pela arte, o tropicalismo seria
individualista, romântico, politicamente indefinido e se aproximaria perigosamente da direita.
Por último, a linha do Neo-Realismo, seria constituída por peças e espetáculos cujo
principal objetivo seria mostrar a realidade (do povo, obviamente) como ela era, e Plínio
Marcos era apontado justamente como o principal cultor dessa linha naquele momento.
Entretanto, para Boal – crendo ainda no papel do intelectual como conscientizador das massas
205
MARCOS, Plínio. Entrevista com Plínio Marcos. Centro de documentação e informação sobre arte
brasileira contemporânea, São Paulo, 23 fev. 1978. Entrevista concedida a Cláudia de Alencar e Carlos Eugênio
Marcondes de Moura. Mimeografado.
153
– o problema desse Neo-Realismo seria a impossibilidade do autor conseguir passar a
mensagem desejada através dos personagens populares “que não tem verdadeira consciência
dos seus problemas”. Apenas confrontado com a miséria alheia, o espectador poderia se sentir
absolvido por sua comoção, sofrendo “terríveis dores morais, embora comodamente
refestelado numa poltrona”. Ainda assim, para o diretor e dramaturgo do Teatro de Arena,
este Neo-Realismo continuaria tendo um papel importante, mesmo que “esta importância seja
mais documental do que combativa”.
206
Do lado oposto, o diretor José Celso Martinez Correia, em entrevista oferecida
também em 1968, afirmava que naquela ocasião nada poderia ser mais eficaz politicamente
do que a arte pela arte. O líder do Teatro Oficia defendia o rompimento com o passado através
de um teatro anárquico, crue l e grosso, possibilitando que uma peça inventiva e confusa
exercitasse o sentido estético e despertasse a iniciativa individual:
O teatro não pode ser um instrumento de educação popular, de transformação da mentalidade na base do
bom mocismo. A única possibilidade é exatamente pela deseducação, provocando o espectador [...]. A
eficácia do teatro político hoje é o que Goddard colocou a respeito do cinema: a abertura de uma série
de Vietnames no campo da cultura – uma guerra contra a cultura oficial (p.117-118). 207
José Celso dizia ainda não acreditar no que ele chamava de “pequeno teatro de
crueldade”, que seria um “teatro dos maus costumes, com suas prostitutas folclóricas e tudo o
mais”.
Em meio às batalhas travadas no campo da cultura, Plínio Marcos, mesmo acusado de
se expressar através de meios e métodos tradicionais e de não se afastar das concepções
formais do naturalismo, ainda assim causou com as peças Dois perdidos numa noite suja e
Navalha na carne uma verdadeira revolução nos palcos brasileiros entre 1966 e 1968. Sendo
alinhado ao condenado e já superado (neo)realismo pela esquerda ou considerado um mero
subversivo pornográfico pela direita, Plínio Marcos se destacava como um elemento isolado e
de certa maneira independente e distintivo no panorama teatral daquele momento.
Sábato Magaldi (2003, p. 95) apontou como sendo uma grande novidade da
dramaturgia pliniana a incorporação do tema da marginalidade, em linguagem de
desconhecida violência. Entretanto, a originalidade de sua dramaturgia no panorama do teatro
brasileiro da segunda metade dos anos 60 não residia somente nos palavrões ou nos
206
BOAL, Augusto Boal. O que você pensa da arte de esquerda? In: PRIMEIRA FEIRA PAULISTA DE
OPINIÃO, 1968, São Paulo. Programa da peça.
207
REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA. Caderno especial: teatro e realidade. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, n.2, jul. 1968.
154
personagens miseráveis vivendo em condições sub humanas. Conforme Décio de Almeida
Prado (2003, p.103), seus personagens não constituíam propriamente o povo ou o proletariado
nas formas dramáticas imaginadas até então.
Em vez de propósitos revolucionários, ou de uma encantadora ingenuidade, revelavam em cena um
rancor e um ressentimento que, embora de possível origem econômica, não se voltavam contra os
poderosos, por eles mal entrevistos, mas contra seus próprios companheiros de infortúnio.
Por outro lado, mesmo sem apresentar uma posição esteticamente avançada ou
politicamente assumida, o teatro de Plínio Marcos também corria ao encontro de todas as
tendências, tanto da vanguarda (pelo ineditismo dos temas e da forma com que foram
tratados), como do teatro agressivo (pela violência exposta em cena sem pudores) e do teatro
engajado (pela exposição da miséria da vida brasileira) (VIEIRA, P., op. cit., p.77-78).
Nessa mesma conturbada época em que o teatro de Plínio Marcos foi revelado
nacionalmente, o “cinema brasileiro de esquerda” também passava por um momento de
diferentes rumos. Enquanto diversos cineastas ainda atrelados a certo romantismo
revolucionário faziam a auto-análise do Golpe, desde O Desafio (dir. Paulo Cezar Saraceni,
1965) até Terra em Transe e Vida Provisória (dir. Maurício Gomes Leite, 1968), outros
partiam assumidamente para um diálogo com o grande público, com resultados frustrantes
como Garota de Ipanema, ou bem sucedidos, como Macunaíma (dir. Joaquim Pedro de
Andrade, 1968). Ao mesmo tempo, a beleza e o sucesso dos filmes de Domingos de Oliveira,
Todas as mulheres do mundo (1966) e Edu coração de Ouro (1967), já podiam justificar a
opção por um tema individualista e burguês como o amor, em filmes feitos por jovens e para
os jovens.
Mas essa “virada para o mercado” também gerou rachas, como a saída de Roberto
Farias da Difilm – distribuidora que congregava o núcleo dos cinema-novistas – diante dos
crescentes frutos gerados pela linha mais explicitamente comercial que ele vinha seguindo
desde 1966. Os irmãos Farias (Roberto, Rivanides e Reginaldo) atingiam o auge justamente
naquele final de década, batendo sucessivamente os recordes de bilheteria do cinema
brasileiro em 1968 e 1969, respectivamente com Roberto Carlos em ritmo de aventuras (dir.
Roberto Farias, 1968) e Os Paqueras (dir. Reginaldo Farias, 1968).
Radicalmente oposto a esse direcionamento rumo à “qualidade técnica” e ao mercado,
surgia também um filme de encruzilhada, mas que acabaria sinalizando um outro caminho. O
Bandido da Luz Vermelha (dir. Rogério Sganzerla, 1968) era justamente “um filme
155
encurralado entre a desagregação cinemanovista, a derrocada de um projeto nacional de forte
repercussão, e a necessidade dilacerada de superação” (RAMOS, J., 1983, p.85).
De diferentes maneiras, a grande parte desses filmes era influenciada pelo
tropicalismo, que se tornava entre 1967 e 1968 o principal espaço da rebeldia e
questionamento formal e conceitual na cultura brasileira, embaralhando, sem a menor
cerimônia, “política, antropologia, arte, sexualidade e folclore, atrás do que imaginavam ser a
revelação da personalidade multifacetada do país” (MORAES, op. cit., p.248).
Ou seja, em meio à efervescência de propostas e projetos no teatro e no cinema
brasileiro – todos eles radicalmente afetados pelo AI-5 –, o teatro de Plínio Marcos ainda
assim surgia com um impacto que poucos dramaturgos brasileiros jamais alcançaram. Dentre
os muitos espectadores de suas peças que foram atingidos pela força de sua dramaturgia,
estava o então jovem cineasta Braz Chediak.
156
3. NAVALHA NA TELA
Braz Chediak, Jece Valadão e Plínio Marcos.
Braz Guimarães Chediak nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 1942, e
começou sua carreira como ator, tendo cursado o Conservatório Nacional de Teatro no Rio de
Janeiro, chegando a dirigir algumas peças posteriormente. Mesmo não dando prosseguimento
a uma carreira nos palcos, a ligação de Chediak com o teatro permaneceu como um traço
marcante de sua carreira no cinema.
Por volta de 1962 viajou para a Itália, onde permaneceu um ano estudando direção e
montagem cinematográfica. De volta ao Brasil, trabalhou como assistente de direção e dirigiu
os atores brasileiros em cinco episódios adaptados da obra de Robert Louis Stevenson para a
RAI-Televisão Italiana, com direção de Giorgio Moser.
208
No cinema brasileiro, Chediak também começou sua carreira como ator, fazendo
pequenos papéis na comédia O homem que roubou a copa do mundo (dir. Victor Lima, 1963).
Passou depois a assistente de direção no interessante “policial-social” Na mira do assassino
(dir. Mário Latini, 1965) e em Na onda do iê-iê-iê (dir. Aurélio Teixeira, 1966). Neste último
filme, veículo para astros da jovem guarda e primeiro encontro no cinema da dupla de
comediantes Renato Aragão e Dedé Santana, Chediak também foi um dos roteiristas. Mais
importante ainda foi o fato de ter sido este o seu primeiro trabalho com Aurélio Teixeira,
diretor com quem afirmaria ter aprendido tudo sobre cinema e de quem se tornaria um grande
parceiro.
209
Em seguida, Chediak começou a trabalhar na Magnus Filmes, produtora de Jece
Valadão, escrevendo argumentos e roteiros, além de atuar como assistente de produção, de
direção e ou de montagem em diversos filmes, entre eles, os policiais A lei do cão (1967) e As
208
BRAZ Chediak. In: ADORO CINEMA BRASILEIRO. Rio de Janeiro. Direção de Marcelo Drummond.
Disponível em: < http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/personalidades/braz-chediak/braz-chediak.asp>.
Acessado em: 7 fev. 2006.
209
Aurélio Teixeira, nascido em 1926, começou no cinema como ator, destacando-se em papéis de vilão nas
chanchadas da década de 50. Estreou na direção com Três Cabras de Lampião (1962), grande sucesso que
salvou financeiramente o produtor Jarbas Barbosa que o considerava “um dos maiores diretores do nosso cinema
[...] um dos maiores autores do cinema acadêmico” (OROZ, 1993, p.34). Teixeira transitou por diversos gêneros,
como o filme de cangaço, a comédia musical, o drama e o policial, alcançando grandes sucessos de bilheteria nas
décadas de 60 e 70, mas tendo sua carreira prematuramente interrompida pela morte em 1973.
157
sete faces de um cafajeste (1968), ou ainda, a cine biografia da cantora Dolores Duran, A noite
do meu bem (1968), todos dirigidos por Valadão. Trabalhou ainda no policial Mineirinho vivo
ou morto ( dir. Aurélio Teixeira, 1967), co-produzido por Herbert Richers.
A primeira experiência de Chediak como diretor foi o longa- metragem Os viciados,
junção de três curtas- metragens (A trajetória, A fuga e A favela) realizados a partir de 1966 e
lançados conjuntamente em 1968. Usando o expediente dos filmes em episódios, em moda na
época, Os viciados foi um fracasso de crítica e bilheteria que poucos anos depois seria
renegado pelo seu diretor. Mas mesmo assim, àquela altura Chediak já tinha se estabelecido
como um profissional eficiente e experiente, tendo trabalhado com três dos principais
produtores do cinema brasileiro, Jece Valadão, Jarbas Barbosa e Herbert Richers.
210
Ainda no final de 1968, Chediak partiria para sua segunda experiência como diretor –
A navalha na carne (no filme a peça ganhou um “A”) –, novamente estrelado pelo astro Jece
Valadão e produzido pela Magnus Filmes.
Seu interesse por Plínio Marcos começou quando assistiu à montagem carioca da peça:
[Chediak] teve logo vontade de fazer o filme, mas o texto já tinha sido vendido. Passou pela mão de
cinco diretores, que não se decidiram a filmá -lo. Chediak convenceu, então, Jece Valadão a comprar a
peça. Jece comprou sem saber de nada. Nem o nome da peça ele sabia: pensava que era ‘Navalha na
cara. 211
A filmagem da adaptação somente seria encerrada em 1969. Nesse intervalo o Brasil
presenciou a promulgação do AI-5 que transformou radicalmente a situação do país. O
dramaturgo Plínio Marcos, entre outros, foi preso e suas atividades artísticas passaram a ser
perseguidas sistematicamente. Diversas de suas peças que com graus variados de dificuldade
tinham sido liberadas, foram proibidas, entre elas, Navalha na carne.
Apesar disso, as filmagens de A navalha na carne foram devidamente concluídas e em
agosto de 1969 o filme foi enviado para a avaliação do Serviço de Censura. Diante da
ausência de respostas, o produtor Jece Valadão acusou pelos jornais o órgão federal de nem
sequer assistir ao seu filme submetido a exame. Segundo recado trazido pelo produtor Jarbas
Barbosa, Valadão afirmava que o então chefe da censura, o tenente-coronel Aloysio
210
Na época do lançamento de Os viciados, Chediak chegou a anunciar que dirigiria em seguida o policial Eu
sou um matador profissional, mas permaneceu apenas como roteirista do filme que veio a se chamar O matador
profissional (1968), com direção de Jece Valadão. Chediak foi também roteirista da produção de Jarbas Barbosa,
Juventude e ternura (1968, dir. Aurélio Teixeira), estrelando a rainha da jovem guarda Wanderléa, além de
Bobby Di Carlo e Os Vandecos.
211
“DOIS perdidos” só depende da censura. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 11 mar. 1971.
158
Muhlethaler de Souza, não queria nem que ele fosse ao seu gabinete, em Brasília, e o acusava
pelos jornais: “Pessoas ligadas ao meio cinematográfico revelaram ontem que a atitude do
chefe da Censura já era esperada, pois ele demonstrava verdadeira repulsa pela peça de Plínio
Marcos, em sua versão teatral”.
212
A questão ganhou as manchetes e provocou polêmica. Jece Valadão afirmava ter
mantido contato com o chefe de gabinete do Ministro da Justiça, a quem relatou o fato, além
de ter constituído advogado para impetrar mandado de segurança que lhe garantisse o direito
de freqüentar a censura na qualidade de produtor. Valadão ainda rebateu as supostas agressões
verbais vindas do chefe da censura: “Quanto aos adjetivos de marginal e ameaças de lhe
quebro a cara, disse Jece que sabe como comportar-se quando chegar o momento”.
213
No dia seguinte às declarações de Valadão, o tenente-coronel Aloysio Muhlethaler de
Souza, através de sua assessoria de imprensa, afirmou que o produtor seria recebido “com a
mesma consideração dispensada a todos os cineastas brasileiros”. Na mesma nota oficial, o
então chefe do Serviço de Censura de Diversões Públicas (SCDP) refutava a acusação do
filme não ter sido sequer submetido ao exame da censura.
214
Apesar dessa declaração, o caso de A navalha na carne só foi realmente tratado pelo
SCDP dois meses depois, em novembro daquele ano, com a formação de uma comissão
censória com cinco membros para analisar o caso. O que pode ser notado em comum nos
diferentes pareceres emitidos é a relação sempre estabelecida do filme de Chediak com a peça
e com a figura de Plínio Marcos.
Em seu parecer, o censor Vicente de Paulo Alencar Monteiro afirmou: “Quando foi
exibida em forma de peça teatral, Navalha na carne, pela má qualidade, não causou maior
transtorno à vida artística do país. Caiu no vazio e logo foi esquecida. Não vejo razões para
propor a interdição do filme ante o acima exposto”. Apesar de não identificar “valor
educativo” no filme, o censor chegou a ver no filme uma “mensagem positiva”, por mostrar
“que o tipo de vida não é o ideal e que a situação a que quase sempre é levada a prostituta não
compensa”.
212
215
JECE Valadão afirma que a censura não quer ver seu filme A navalha na carne. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 21 ago. 1969. 1º caderno
213
CENSURA não quer Navalha na carne nem seu produtor. [s.n.], Rio de janeiro, 21 ago. 1969. Primeiro
caderno.
214
CENSURA VOLTA A DIZER que receberá Valadão. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23 ago. 1969.
215
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Parecer sobre o
filme Navalha na carne. Parecer, Brasília, 26 nov. 1969. Censor: Vicente de Paulo Alencar Monteiro.
159
Da mesma forma, o censor José Augusto Costa, pela peça ter sido aprovada pela
censura na ocasião de sua montagem sem ter causado na época “nenhum problema de ordem
moral ou política”, liberava o filme com boa qualidade e livre para exportação. O censor
também considerava que a produção de Valadão tinha “valor educativo” e uma “mensagem
positiva”, por mostrar “um problema inconteste [...] tão cruamente que serve de advertência
àqueles que por infelicidade se vejam atraídos por aquele tipo de vida”.
216
Diferentemente dos seus dois outros colegas, o censor Wilson de Queiroz Garcia
sugeria a proibição de A navalha na carne para o circuito comercial, liberando o filme apenas
para cineclubes e cinematecas. O censor acreditava que:
O modo como este filme é apresentado – num tom de agressividade maior do que o que caracterizou a
peça do mesmo nome e autor – é um acinte e um desrespeito à moral social. O cinema, como veículo de
comunicação de massa, eminentemente popular, diferencia-se do teatro na razão direta do público que o
freqüente. Se no teatro temos uma faixa de público mais intelectualizada, no cinema não há condições
de se distinguir o público. Assim, os efeitos de um filme como o que era analisado, são, no cinema,
terrivelmente mais danosos. 217
Com o “placar” marcando 2 a 1 a favor da liberação do filme, a opinião do censor Manoel
Felipe de Souza Leão Neto, também relator da reunião, não só empatou a questão, como
ajudou a “virar o jogo”.
Em seu violento relatório, Manoel Felipe de Souza Leão Neto fez um duro ataque a
Plínio Marcos, esquecendo-se do papel do diretor Braz Chediak e do produtor Jece Valadão
no filme e aparentemente responsabilizando o dramaturgo pela adaptação cinematográfica de
sua obra. Seu texto é uma síntese exemplar de preconceito, perseguição política,
obscurantismo, hipocrisia e conservadorismo:
Usando da chamada ‘liberdade artística’ (?), o senhor Plínio Marcos compôs uma obra cinematográfica
somente de elementos deletérios, abusando de palavras e gestos obscenos.
As leis brasileiras PROIBEM O GÊNERO LIVRE. E o filme em tela enfoca um tema LIVRE – face a
presença de diálogos chulos, imorais e atentatórios à moral e aos bons costumes.
Não vamos tecer considerações amplas sobre a película examinada. Apenas rebatendo a ousadia do
produtor (?) Plínio Marcos, esclarecendo que, diariamente, os jornais e emissoras de radiodifusão do
País, reverberam contra a Polícia, incriminando-a de decúria e descaso diante dos problemas sociais,
demonstrando a inconveniência e os perigos que representam a prostituição, a malandragem, a
vadiagem, a homossexualidade, a cafetinagem campeando livremente.
E o filme “estrelado” por Jece Valadão é uma apologia ao crime a ao vício!!!...
216
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Parecer sobre o
filme Navalha na carne. Parecer, Brasília, 26 nov. 1969. Censor: José Augusto Costa
217
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Parecer sobre o
filme Navalha na carne. Parecer, Brasília, 26 nov. 1969. Censor: Wilson de Queiroz Garcia.
160
SE LIBERADO – será melhor guardar as leis penais vigentes, eis que, face ao comportamento dos
críticos que defendem o chamado cinema verdade ou cinema livre, referidos diplomas estarão obsoletos,
superados, a caminho dos incineradores... (grifos do texto). 218
Desse modo, o voto de Minerva coube ao chefe substituto do SCDP, Constâncio
Montebello, que no dia 3 de dezembro de 1969, atendendo ao pedido de interdição sumária do
filme proposto pelo relatório do censor Manoel Felipe de Souza Leão Neto, interditou o filme
A navalha na carne, proibindo sua exibição pública em todo o território nacional.
Durante esse tempo, na mesma estratégia seguida pelas peças de Plínio Marcos, Jece
Valadão vinha exibindo o filme em sessões fechadas para convidados em busca de apoio.
Diante da proibição do filme, a principal questão colocada em pauta pelo produtor não foi a
da liberdade de expressão, mas a da possibilidade de enorme prejuízo financeiro diante da
eventual proibição de um filme já concluído, que representava um alto capital já investido. O
estabelecimento da pré-censura, por exemplo, era uma das formas debatidas para solucionar
esse impasse, além da exigência de critérios rígidos e da sugestão de adoção do sistema
classificatório por idade. Ou seja, as reivindicações pela liberação do filme assumiram um
ponto de vista eminentemente econômico. Jece Valadão não lutava a favor da defesa da
liberdade de expressão e da condenação irrestrita da censura como era a bandeira de Plínio
Marcos, por exemplo, mas utilizava a defesa do desenvolvimento uma indústria
cinematográfica nacional como argumento para um diálogo conciliatório com a ditadura.
Esse discurso é claro na carta enviada por Jece Valadão, em 12 de dezembro de 1969,
ao Diretor Geral da Polícia Federal, o General Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, na
qual pede o indeferimento da proibição da Censura. O produtor afirmava:
Estando o cinema brasileiro em desenvolvimento, ele precisa da ajuda de homens, que como V.S.
compreendam nossas dificuldades e nos auxilie m, principalmente nesse momento em que toda a arte
cinematográfica se renova numa luta enorme pela conquista do mercado nacional e internacional. [...]
Ao mesmo tempo, acredito ser do conhecimento de V.S. o alto custo de um filme e as dificuldades que
atravessamos durante sua realização. Dificuldades essas que somente serão ultrapassadas com a
exibição do mesmo, pois sua interdição significaria, para mim, uma perda muito grande, além mesmo,
de minhas possibilidades e me arrastaria à desintegração daquilo que consegui através de anos de lutas
constantes, e de profundo crédito nessa indústria cinematográfica. 219
Aparentemente o tenente-coronel Aloysio Muhlethaler de Souza devia ter, de fato,
uma aversão especial a Plínio Marcos, pois chegou a enviar também uma carta ao General
218
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Parecer do relator
sobre o filme Navalha na carne. Parecer, Brasília, 26 nov. 1969. Relator: Manoel Felipe de Souza Leão Neto.
219
VALADÃO, Jece. Pedido de liberação de “A navalha na carne” ao General Walter Pires de Carvalho e
Albuquerque, Diretor Geral da Polícia Federal, 12 dez. 1969.
161
Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, solicitando indeferimento da petição legal
encaminhada por Valadão. Em sua carta afirmava:
O senhor Plínio Marcos, autor intelectual do enredo do filme, usando da chamada ‘liberdade artística’,
compôs uma obra somente de elementos de moral precária, de tipos deletérios, de párias da sociedade,
usou para tal o linguajar obsceno e gestos imorais.
O SCDP, ao vetar o filme nada mais fez do que cumprir a legislação vigente, defendendo a moral
pública do espetáculo tão degradante e atentatório aos nossos costumes. 220
Entretanto, o Diretor Geral da Polícia Federal acabou por atender ao pedido do produtor e
em 30 de dezembro de 1969 ordenou a liberação de A navalha na carne, mas já sugerindo os
seguintes cortes a serem reexaminado pelo SCDP:
1)
2)
3)
4)
retirar as cenas em que são vistos o pederasta e o cáften, na cama, em atos libidinosos;
retirar as cenas em que o pederasta apalpa o pênis do cáften;
retirar as cenas em que o cáften encosta o cigarro de maconha em seu pênis e manda o pederasta fumálo;
retirar todas as palavras de baixo calão proferidas pelos atores.
Obedecendo a esses cortes que A navalha na carne recebeu, em 7 de janeiro de 1970, o
certificado do SCDP com o parecer de “liberado em grau de recurso pelo Sr. Diretor geral”. O
filme recebeu a classificação de “boa qualidade” e “liberado para exportação”, mas, além dos
cortes, foi proibido para menores de 18 anos e para exibição na televisão.
Um documento ainda sugeria uma lista de cortes adicionais ao filme, incluindo expressões
como “porra”, “puteiro”, “puta sem calça”, “puta nojenta”, “Botar no seu rabo” e “Puta que
não gosta de bacanal”. Por fim, o certificado definitivo, de 19 de fevereiro de 1970, agora
assinado pelo novo chefe do SCDP, o Prof. Wilson Aguiar, determinava os seguintes cortes:
1 - corte da cena em que aparecem as mãos do cáften deslizando pelas costas do pederasta;
2 – corte da cena em que o cáften beija o pederasta;
3 – corte da cena em que o pederasta apalpa o pênis do cáften;
4 – corte das cenas em que o cáften encosta o cigarro de maconha em seu pênis e manda o pederasta fumálo;
5 – corte e substituição (na trilha sonora) das seguintes palavras: porra – puteiro – puto – puta – rabo e
puteiro. 221
220
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Pedido de
Indeferimento da Petição ao Diretor Geral do DPF. Pedido, Brasília, 30 dez. 1969. Responsável: Aloysio
Muhlethaler de Souza.
221
Devido aos cortes impostos pela censura, no filme os palavrões puto ou puta foram substituídos por outras
expressões, geralmente por nomes de animais. Neusa lembra que seu cliente “contou toda a história da porca da
vida dele, da porca da mulher dele, da porca da filha dele”, e os personagens se xingam de “filho de uma cadela”
e “filho de uma égua” (no lugar de “filho da puta”) ou “é a vaca da sua mãe” (ao invés de “é a puta que o pariu”).
Mesmo quando a palavra puta é utilizada não como adjetivo, mas como substantivo, no sentido de prostituta –
como na frase “puta que não gosta de bacanal” – ela é substituída, no caso, por mina. No mesmo sentido, “Vovó
162
Após mais de seis meses “retido para estudos”, finalmente foi autorizado o lançamento
comercial do filme e Jece Valadão comemorou a liberação de A navalha na carne pela “nova
censura de Brasília”. Sem necessariamente questionar o próprio aparato censório, o que era
condenado era o procedimento de seus responsáveis. Depois de resolvida a sua questão,
Valadão afirmou que “a censura, com o Dr. Wilson Aguiar, melhorou muito”.
222
Entretanto,
para outras pessoas, como Plínio Marcos, a censura continuou piorando cada vez mais.
223
Pode-se notar a singularidade da adaptação de Chediak em relação à produção corrente
da Magnus Filmes pelo fato da pré-estréia de A navalha na carne ter ocorrido no dia 6 de
março de 1970, na Cinemateca do MAM, berço da cinefilia carioca e do Cinema Novo,
movimento que não via o ator e produtor com bons olhos. Segundo Jece Valadão, o filme
teria agradado muito aos convidados daquela pré-estréia.
224
A boa repercussão que o filme vinha gerando animava seu produtor. Antes do
lançamento, Valadão anunciara que Luiz Severiano Ribeiro Jr. teria se interessado pela
primeira vez em distribuir um filme da Magnus, utilizando sua melhor cadeia de cinemas. O
das putas” vira “Vovó da zona”. Além disso, se no final da peça, Neusa, armada com a navalha, tentava obrigar
Vado a transar com ela, e fazê -la gozar, no filme a prostituta diz que eles vão se deitar e ela vai ter que gostar.
No programa Retratos brasileiros sobre Plínio Marcos, produzido pelo Canal Brasil, Braz Chediak afirmou que
ao refazer a dublagem do filme para atender aos cortes da censura, ele colocou as palavras trocadas num volume
diferente das demais. Desse modo, nas salas de cinema os espectadores notavam claramente os cortes exigidos
pela ditadura.
222
MACHADO, Ney. A Navalha e a censura. Diário de notícias, Rio de Janeiro, 24 fev. 1970.
223
Sobre uma nova proibição de sua peça após o AI-5, Plínio comentou numa reportagem: “A medida da censura
me desorientou. Como posso aceitá-la se a peça ficou tanto tempo em cartaz no Brasil, se o filme baseado nela
continua a ser exibido tranquilamente?” (MOREIRA, Célia. Plínio Marcos, um ex-dramaturgo. Jornal do Brasil,
Rio de Janeiro, 27 jul. 1972).
224
O público da Cinemateca do MAM podia ser muito agressivo em certas situações, como mostraram as vaias e
os insultos que Hector Babenco recebeu na pré-estréia de O rei da noite, em 1975. O mesmo não aconteceu com
Valadão, que embora com uma origem que o aproximava do Cinema Novo (ator de Rio 40 graus e Rio zona
norte e protagonista e produtor de Os cafajestes), posteriormente se afastou gradativamente deste grupo. Na
verdade, o Cinema Novo desde o início olhou Valadão com desconfiança, tanto por seu passado nas chanchadas
da Atlântida, quanto pelo caráter duvidoso dos seus personagens que era estendido ao próprio. Antes ainda do
lançamento de Os cafajestes, Alex Viany afirmava que o ator virava produtor para se promover a cafajeste com
pinta de “nouvelle vague”. Após o sucesso do filme de Ruy Guerra (com quem chegou a trocar tapas no set),
seguido do bem sucedido Boca de ouro , Valadão se distanciou mais e mais do movimento que ele afirmava se
tornar cada vez mais “hermético”. Da mesma maneira, Valadão também foi rechaçado pelo Cinema Novo por
sua persona de cafajeste, por sua ligação com o “reacionário” Nelson Rodrigues, por divergências políticoideológicas (chegou a dizer que odiava a esquerda) e por sua investida numa produção assumidamente
comercial. Numa crítica sobre seu filme História de um crápula em Cadernos da Cinemateca (n.1, fev. 1966),
publicação da própria Cinemateca do MAM, o crítico Wilson Silva descreveu sua carreira: “Sob o signo do
crápula inicia -se em 1953 [...] a carreira – cinematográfica? – de Jece Valadão. Sempre posando – com muita
verossimilhança – de crápula, Valadão foi passando, no tempo e no espaço, por vários filmes [...] Carreirista –
com muita verossimilhança com o personagem que encarna – fez uma onda terrível [...] pretendendo que esta sua
história representasse o Brasil no I Festival Internacional do Filme”.
163
astro de A navalha na carne afirmava ainda que a Columbia Pictures também desejava
comprar o filme para exibição em todo o mundo.
225
Aos jornais, Valadão dizia acreditar que as perspectivas de bilheteria do filme eram as
melhores, por ele apresentar uma história “bastante comercial, ou melhor, humana”, que
contava o “outro lado da vida” de muita gente.
226
A navalha na carne estreou na segunda quinzena de março de 1970, nos cinemas
cariocas São Luiz, Odeon, Rian, Comodoro, entre outros, entrando em exibição
posteriormente em Recife e Belém, com distribuição da União Cinematográfica Brasileira, de
Luiz Severiano Ribeiro Jr. Nas demais praças do país, a distribuição do filme ficou a cargo da
recém-criada distribuidora Ipanema Filmes. A navalha na carne teve uma recepção
satisfatória da crítica – que concedeu notas de “regular” a “bom”, numa acolhida muito acima
das normalmente conferidas às demais produções da Magnus –, e alcançou, ainda, um
excelente resultado de bilheteria para uma produção de baixo custo. Ao ser lançado em São
Paulo, no final de abril, nos cine mas Marabá, Lumiere e Mini-Piga lle, uma reportagem
afirmava que o filme tinha batido “recordes de bilheteria no Rio e no norte”.
227
Sem termos dados precisos da renda e do público de A navalha na carne, é possível se
orientar por dados da imprensa que afirmavam ter a primeira adaptação de Plínio Marcos
surpreendido seu próprio produtor ao render, só no Brasil, Cr$ 1 milhão, sendo Cr$ 190 mil
somente na primeira semana de exibição no Rio de Janeiro. Levando em conta que o
orçamento do filme, também conforme divulgado na imprensa, foi de Cr$ 250 mil, o lucro foi
realmente significativo.
228
Comparando com dados de outros filmes lançados em 1970, podemos avaliar que se A
navalha na carne alcançou a renda citada, seu público teria correspondido a aproximadamente
500 ou 600 mil espectadores. Confiando nesta projeção bastante crível, podemos realmente
225
FCF. Jece: a navalha. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 4 mar. 1970.
FCF. Jece: a navalha. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 4 mar. 1970; MENEZES, Joaquim. Jece Valadão
agora com “A navalha na carne”. O Jornal, Rio de Janeiro, 8 mar. 1970.
227
NAVALHA na carne. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 1 abr. 1970; COM Navalha na carne o palavrão
invade o cinema. A Gazeta. São Paulo, 24 abr 1970; MENEZES, Joaquim. Jece Valadão agora com “A navalha
na carne”. O Jornal, Rio de Janeiro, 8 mar. 1970.
228
É importante alertar que as informações sobre renda ou público dos filmes brasileiros até, pelo menos,
meados dos anos 70 são muito pouco confiáveis pela inexistência de dados precisos, como pela própria
manipulação das informações devido à sonegação de impostos pelas distribuidoras e à alteração dos borderôs
pelos exibidores.
226
164
afirmar ter sido um resultado realmente bem sucedido, sobretudo para uma produção
extremamente simples e polêmica.
229
De qualquer modo, o resultado positivo do filme também pode ser confirmado
simplesmente pela iniciativa imediata da produtora de tentar repetir seu sucesso no projeto
seguinte. Antes mesmo do lançamento comercial de A navalha na carne, já era anunciado
para breve o início das filmagens de Dois perdidos numa noite suja, produção da Magnus
Filmes “também baseada em original de Plínio Marcos”.
Semelhante à situação de Plínio Marcos em relação ao teatro brasileiro, a presença e o
sucesso de um filme como A navalha na carne, a princípio, também parece um “corpo
estranho” no contexto do cinema brasileiro do final da década de 60. Embora seja um filme
preto e branco, realizado a um baixíssimo cus to, com equipe mínima e que aborda
personagens e cenários marginais com grande agressividade (pelo tema, história e linguagem,
bruta e cruel), A navalha na carne se distancia de obras do chamado Cinema Marginal, no
mínimo, pelo teor sério-dramático, intenso realismo e estrita linearidade narrativa.
Por outro lado, mesmo compartilhando parcialmente a concepção “nacional-popular”
do Cinema Novo e seu interesse em retratar sob o viés do filme autoral a problemática social
do país, a adaptação de Chediak se distingue, entre outros motivos, por ter sido realizada no
momento em que os cineastas do movimento reviam suas posições anteriores ao golpe de
1964, com parte deles se rendendo ao filme colorido e através dos “espetáculos-alegorias”
seguindo a favor do mercado e contra quase tudo que atacavam antes.
230
Por último, mesmo tendo sido produzida por um membro do “grupo industrial” do
cinema brasileiro e aproveitando a fama de uma peça de grande sucesso e o nome de uma
figura de destaque nacional (Plínio era, ao mesmo tempo, um dramaturgo consagrado, o
inimigo número um da censura e astro de telenovela), a adaptação cinematográfica de uma
obra tão polêmica, agressiva e cercada de inimigos nas esferas do poder quanto Navalha na
carne, não pode também ser alinhada simplesmente ao rótulo de “cinema comercial”, no
sentido usualmente utilizado para designar filmes digestivos para o grande público.
229
A projeção do número de espectadores de A navalha na carne foi feita ao comparar com outras produções de
1970 que tinham alcançado uma renda próxima à Cr$ 1 milhão, a partir de dados de bilheterias oficiais Setor do
Ingresso Padronizado do Instituto Nacional do Cinema. Seguindo esse raciocínio, a adaptação de Chediak teria
superado, por exemplo, a bilheteria do mais ambicioso filme colorido de época, o Vale do Canaã (1971),
adaptação do romance de Graça Aranha, dirigido por Jece Valadão.
230
Se Glauber Rocha afirmava em 1966 (In: COSTA, 1966, p.52) que “o caráter de um verdadeiro diretor de
cinema se mede, sobretudo, pela sua resistência diante das tentações da indústria”, poucos anos depois um filme
de um diretor alinhado ao Cinema Novo como Pindorama (dir. Arnaldo Jabor, 1970), era co-produzido pela
Vera Cruz e distribuído pela Columbia Pictures.
165
Desse modo, para uma análise mais aprofundada de A navalha na carne, buscando
compreender seu sucesso na época e seu esquecimento posterior, é necessário não se balizar
simplesmente por categorias que podem ser usadas de forma aprisionadora, simplificadora ou
redutora como, por exemplo, “Cinema Novo”, “Cinema Marginal” ou “Cinema Comercial”.
Acredito ser mais proveitoso compreender o filme de Chediak – assim como a consagração do
teatro de Plínio Marcos – como fruto específico de uma época, um momento tão rico e diverso
quanto efêmero, em que o desejo dos cineastas de abordar certos temas coincidiu veio ao
encontro da vontade das platéias de ver tratados esses mesmos assuntos.
Quem não tem papel
Dá recado pelo muro
Quem não tem presente
Se conforma com o futuro
Raul Seixas, Como vovó já dizia (versos censurados)
O encontro dos palavrões com a vontade de xingar.
O primeiro filme de Braz Chediak, Os viciados
231
, se aproximava de uma parcela da
produção cinematográfica dos anos 1960 que pretendia atingir as platéias através do
movimento de atração e repulsa exercido pelo binômio sexo e violência. Em relação à ainda
conservadora década de 50, os mais liberais anos 60 presenciaram uma produção cada vez
mais ousada. No cinema brasileiro, a nudez frontal de Norma Bengell em Os cafajestes e o
concurso de seios de Boca de ouro (ambos produzidos por Jece Valadão e estrelados por ele e
Daniel Filho) foram verdadeiros marcos. A violência dos filmes de cangaço como A morte
comanda o cangaço (dir. Carlos Coimbra, 1961) também representou um avanço semelhante.
Nesse mesmo contexto, um dos fenômenos de bilheteria da década de 60 foram os
filmes ditos “documentários”, sobretudo europeus (italianos, franceses, ingleses ou suecos),
tanto de strip-tease quanto “de viagem”, que pretendiam mostrar a “verdade nua e crua” sobre
aspectos polêmicos, sórdidos ou chocantes ao redor do mundo.
231
232
Esse tipo de produção
O argumento, roteiro e direção eram de Chediak, a direção de fotografia do espanhol Antonio Smith Gomes
(veterano técnico de som das chanchadas dos anos 50 que depois se tornou fotógrafo de diversas produções de
Valadão) e a montagem de Rafael Justo Valverde. O filme foi produzido pela Magnus Filmes e distribuído por
Herbert Richers.
232
Um dos pioneiros dessa produção foi o filme italiano O mundo de noite (Il Mondo di notte, 1959, dir. Luigi
Vanzi) e suas continuações e similares, como Mundo não (Mondo cane, Itália, 1962, dir. Paolo Cavara,
166
alcançou grande sucesso no Brasil e posteriormente viria a inspirar os produtores paulistas da
Boca do Lixo a seguir na mesma linha.
233
O próprio circuito exibidor também consagraria o
casamento entre violência e erotismo, por exemplo, com a volta dos programas duplos em
salas populares – no Rio de Janeiro, a partir de 1967 –, exibindo principalmente filmes de
kung fu e western spaghetti.
Por outro lado, o tratamento ousado de temas tabus, sobretudo o sexo e a violência,
mas também “sub-temas” como incesto, homossexualidade, uso de drogas ou doenças
mentais, sinalizavam para um filão que vinha sendo explorado igualmente por um cinema de
maior prestígio, especialmente os “filmes de arte europeus” ou o “novo cinema americano” –
como Perdidos na noite (Midnight cowboy, EUA, dir. John Schlesinger, 1969) ou Os viciados
(The panic in the needle Park, EUA, dir. Jerry Schatzberg, 1971).
234
Na carta enviada ao
diretor da Polícia Federal solicitando a liberação de A navalha na carne pela Censura Federal,
o produtor Jece Valadão faz menção a essa produção e alinha o filme de Chediak ao que ele
chama de um novo “gênero”:
O referido filme [...] foi feito com o maior cuidado e carinho, sendo dado aos personagens um
tratamento de grande profundidade, que vem colocá-lo lado a lado com as grandes produções
estrangeiras que abordam o mesmo tema, tais como Punhos Cerrados 235 , de Marco Belochio, vencedor
de vários festivais internacionais, inclusive Veneza, O incidente 236 , também várias vezes premiado, e
Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi), um enorme sucesso que popularizou essa expressão e o gênero “Mondo
films”. Essa linha também assumiu o lado erótico, por exemplo, com Mondo Topless (dir. Russ Meyer, EUA,
1966). Os também chamados “Shockumentaries” seriam retomados nos anos 80, com a conhecida série norteamericana Faces da morte (Faces of Death), que alcançou enorme sucesso já na era do videocassete. É evidente
que mesmo com todo o sucesso de bilheteria, houve complicações na exibição desses filmes no Brasil e O
mundo de noite 3 (Mondo di notte numero 3, Itália, 1963) a ser retirado de cartaz pela censura em 1964.
233
O caso do filme Vidas nuas (dir. Ody Fraga) é bastante significativo. Iniciado em 1962 com o título de
Eróticas, o filme ficou inacabado. Alguns anos mais tarde, foi comprado pelo produtor Antônio Polo Galante e
pelo montador Sylvio Renoldi, sendo completado com a introdução de cenas de São Paulo à noite e de mulheres
fazendo strip-tease. Lançado em 1967 com o nome Vidas nuas, o filme foi um dos marcos iniciais da
pornochanchada (MELO, Luis Alberto Rocha. Galante, um produtor. Contracampo, Rio de Janeiro, n.36, 2002.
Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/36/galanteprodutor.htm>. Acesso em: 5 fev. 2006.).
234
Em Perdidos na noite, o cowboy Joe Buck (Jon Voight) chega à Nova York onde conhece o marginal Ratso
Rizzo (Dustin Hoffman) e acaba se prostituindo e conhecendo a face crua da vida. Foi o primeiro filme X-rated a
ser premiado com o Oscar de Melhor Filme. Os viciados trata do drama de usuários de drogas que freqüentam o
Needle Park (Parque das Agulhas), em Nova York, focando a trajetória do traficante e viciado Bobby (Al
Pacino).
235
I pugni in tasca (Itália, 1965, dir. Marco Bellocchio). Numa família marcada por doenças hereditárias (mãe
cega, um filho deficiente mental), o epiléptico e paranóico Alessandro decide livrar seu único irmão saudável,
Augusto, do fardo de sustentar sozinho os parentes. O filme é considerado hoje um clássico do cinema mundial.
236
The incident (EUA, 1967, dir. Larry Peerce). Dois marginais invadem e aterrorizam os passageiros de um
vagão do metrô de Nova Iorque. As agressões covardes dentro do ambiente claustrofóbico do trem subterrâneo
se assemelham ao filme de Chediak. Es trelando Martin Sheen, Beau Bridges e Thelma Ritter, o filme ganhou
aura de cult movie.
167
atualmente em cartaz no Rio de Janeiro, e muitos outros filmes de vanguarda europeus ou americanos
(grifo meu). 237
Tanto de modo apelativo e rasteiro ou mais intelectualizado e sofisticado, o apelo à
agressão / sedução pelo sexo e violência foi comum no cinema brasileiro de ficção dos anos
60. Muito freqüentemente essas características apareceram em diversas obras como marcas de
um mundo caótico e desestruturado. Se o país vivia uma conturbada situação política,
especialmente a partir do golpe de 1964 e chegando ao máximo de ebulição em 1968, na
segunda metade da década, além de uma verdadeira revolução de costumes, o mundo também
atravessou inúmeras turbulências. Como cantava a música de Guarnieri e Edu Lobo – que
virou nome de peça do Teatro de Arena e trilha do filme O desafio – era “um tempo de
guerra, um tempo sem sol”: Revolução Cultural na China, Guerra do Vietnã, Maio de 68 em
Paris, Primavera de Praga, lutas por igualdade racial nos EUA, Che Guevara morto nas
cordilheiras da Bolívia, aumento generalizado da violência urbana.
238
Antes ainda de A navalha na carne, o primeiro filme de Chediak já se encaixava nesse
quadro. Os viciados, na época de seu lançamento, foi anunciado como “um filme de
violentação. São três episódios nos quais os personagens se debatem, se aniquilam na
tentativa de fuga de um mundo sórdido, desumano”.
239
Os viciados apresentava três episódios, com histórias independentes unidas pelo tema
da violência.
237
240
Lançado apenas no Rio de Janeiro (em 30 de setembro de 1968) e em São
VALADÃO, Jece. Pedido de liberação de “A navalha na carne” ao General Walter Pires de Carvalho e
Albuquerque, Diretor Geral da Polícia Federal, 12 dez. 1969.
238
O tropicalismo, apesar do caráter carnavalesco e irreverente, também se inseria nesse contexto de violência e
agressão. O disco manifesto Tropicália (1968), por exemplo, começa e termina ao som de explosões de bombas,
no final das canções Miserere Nóbis (Gilberto Gil e Capinam) e Hino do Senhor do Bonfim (Gilberto Gil, Gal
Costa e os Mutantes).
239
OS VICIADOS, [Rio de Janeiro, 1968]. Material de divulgação. Mimeografado.
240
Como não existe cópia disponível de Os viciados (nem em película, nem em vídeo), sendo um filme
completamente inacessível, traço uma descrição de sua narrativa baseada em diferentes fontes impressas. No
primeiro episódio, A trajetória, José Américo (Andros Chediak) é um jovem advogado que, sem condições
financeiras para levar a vida desejada, chega à “conclusão que, no mundo capitalista, é apenas uma peça na
máquina que o prende e resolve libertar-se, tornando-se traficante de entorpecentes”. Rompe com a amante que o
sustenta, fica noivo da namorada e se alia a outro advogado e também contraventor, Dr. Woni Leon Gomes (José
Lewgoy). Disfarçado de peixeiro, passa a traficar cocaína (ou maconha?) enfiando papelotes na goela dos peixes.
Ao final, José Américo é traído, “preso, julgado e eliminado”. No segundo episódio, Fuga, o repórter criminal
Renato (Claudio Marzo), ao presenciar o atropelamento de uma criança, decide se afastar de um “mundo
material” para procurar um “mundo de pureza”. Numa festa da sociedade, conhece uma moça que se passa por
colegial (Esther Lessa), mas na verdade é uma prostituta e que mantêm um relacionamento “anormal” com outra
mulher (Darlene Glória). O último episódio, Favela, remete à tragédia de Édipo e Jocasta. Jorge (Jece Valadão) é
um favelado viciado em maconha que mora com a mãe viúva, Julia (Dinorah Brillanti). “Sem que ela saiba, dálhe cigarros dessa erva, mantendo relações incestuosas quando sob o torpor provocado pelo alucinógeno, sem
que ela perceba”. Ao descobrir-se surpreendentemente grávida, Julia segue os conselhos do médico (Fábio
168
Paulo (em 8 de dezembro do mesmo ano), a crítica jornalística foi implacável com o filme,
assim como costumava ser com esse tipo de produção considerada apelativa. O crítico Jaime
Rodrigues afirmou que Os viciados se encaixava no contexto de “películas execráveis, que
sequer são comercialmente dignas, e que ainda tentam travestir-se numa embalagem
intelectualizada”.
241
Seu colega de O Jornal considerou que ao expor o sórdido, o filme não
evitou descambar para o ridículo e a grossura, come ntando ainda a “vulgaridade dos diálogos,
acompanhadas, não raro, de gestos obscenos dispensáveis”.
242
A crítica do jornal Luta
democrática concluiu afinal que o longa- metragem de Chediak “é um filme vazio, que não
conduz a nada, preocupado com cenas de ‘choque’, [...] composto do que há de mais
corriqueiro em narrativa cinematográfica, [...] abusando de ‘clichês’ que hoje em dia qualquer
filme modesto de produção francesa recusa com veemência”.
243
Chegando a se surpreender
com sua liberação pela censura, o crítico Eduardo Monteiro não teve receio de considerar
categoricamente Os viciados “uma vergonha para o cinema naciona l”. 244
Encaminhado para a censura em agosto de 1968, Os viciados recebeu dois pareceres.
As opiniões divergentes da dupla de censores e “dublês de críticos” permitem uma visão
talvez mais próxima do olhar de um público médio da época. Para o mais severo censor
Carlos Lúcio Menezes, no filme de Chediak os atores atrelados “a uma direção medíocre,
apresentam-se de maneira ridícula sem conseguir expressar autenticidade artística,
desfigurando o cinema nacional que se encontra em fase de evolução”. Concedendo raros
elogios à fotografia e ao elenco, de resto nada se salvava: “diálogos são de mau gosto e
inexpressivos; som exageradamente mal gravado; montagem, regular, ritmo cansativo,
entediante; câmera, regular”.
Já o censor Coriolano de Loiola Cabral Fagundes afirmou que Os viciados tinha
“direção e desempenho de satisfatório padrão artístico”, além de fotografia esmerada, “câmera
de boa movimentação e equilíbrio rítmico interno e externo. A fita não chega a cair em
monotonia nas passagens mais lentas. Enredos interessantes e diálogos adequados aos
ambientes [...] soluções cinematograficamente convenientes para as diversas situações do
enredo”.
Sabag): “troca o cigarro de noite e, ante as arremetidas do filho completamente alucinado pela maconha, mata-o
com vários tiros”.
241
RODRIGUES, Jaime. Os viciados. Diário de notícias, Rio de Janeiro, 09 out. 1968.
242
SANCHES, N. Huebra. Os viciados. O Jornal, Rio de Janeiro, 10 out. 1968.
243
OS VICIADOS, Luta democrática, Rio de Janeiro, 04 out. 1968.
244
MONTEIRO, Eduardo Nova. Os viciados, Tribuna da imprensa, Rio de Janeiro, 3 out. 1968.
169
Ambos os censores sugeriam proibição para menores de 18 anos, mas Coriolano
Fagundes, apesar de não indicar cortes nas imagens, apontou para duas “passagens mais fortes
dos diálogos”. Seus comentários foram acatados e no certificado de censura de Os viciados,
de 30 de agosto de 1968, estavam indicados “cortes na trilha sonora: a) da frase este país só
tem miséria. b) da palavra Brasil, na frase No Brasil nem o amor salva”. Ou seja, a miséria e a
desilusão podiam ser expressas, desde que não fossem localizados no Brasil da ditadura
militar.
245
De qualquer maneira, a liberação do filme pelo serviço de censura com poucos
cortes demonstrava uma postura menos rígida da que se estabeleceria a partir de 13 de
dezembro de 1968.
246
Segundo entrevista antes do lançamento de Os viciados, o desejo de seu diretor era
que o filme assumisse um tom de denúncia. Chediak declarou aos jornais: “A ser intimista eu
prefiro xingar e xingo fazendo cinema [... Os viciados] é um filme de agressão: agressão em
imagem, diálogo, ritmo”. As intenções do diretor claramente se aproximavam do “repórter de
um tempo mau”, do dramaturgo que escrevia, com a sutileza de um arroto, obras recheados
de palavrões. Dizia Chediak palavras que poderiam perfeitamente ter saído da boca de Plínio
Marcos naquela mesma época: “Eu não apresento soluções [...] apenas registro as angústias. E
as registro com pressa, sem me deter”.
247
Em relação ao contexto do cinema brasileiro em 1968, a mesma reportagem tentou
esclarecer a situação de Chediak:
Sobre sua ligação com o grupo do cinema industrial (Jece Valadão) e a polêmica existente entre esse
grupo e o pessoal do chamado cinema novo, Braz Chediak, esclarece: ‘Ser comercial quer dizer atingir
o grande público. E essa é a meta de todo diretor honesto. Eu preferi ligar-me ao Jece não só por
considerá-lo um excelente ator-produtor-diretor, como também por achar que ele, sendo homem do
povo, é o que mais atinge esse povo. E quanto a ser participante, uma das metas do cinema novo, meu
filme o é. Se não me liguei diretamente ao cinema novo – que considero válido – é porque não sinto o
tipo de problema para o público ao qual ele se dirige: nunca morei em Ipanema, nunca fui de muito
intelectualismo, não sou intimista. 248
245
O mesmo procedimento também ocorreu em dois cortes da censura no filme Vida provisória, de Maurício
Gomes Leite, também de 1968: “B) eliminar o letreiro ‘Brasil’ sobre imagens tomadas de helicóptero no bairro
de Copacabana; C) Eliminar na trilha sonora, a palavra ‘real’, na frase ‘esta é uma história real”. Posteriormente,
quando lançava a adaptação da peça de Plínio Marcos, Chediak teria outro discurso: “A estrutura de Navalha na
carne é universal. Tão que a censura não teve dúvida em liberar o meu filme”.
246
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Departamento de Polícia Federal. Ficha de censura de
Os viciados, Brasília, 29 ago. 1968. Censor: Carlos Lúcio Menezes; BRASIL, Serviço de Censura de Diversões
Públicas, Departamento de Polícia Federal. Ficha de censura de Os viciados, Brasília, 29 ago. 1968. Censor:
Coriolano de Loiola Cabral Fagundes; BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Departamento de
Polícia Federal. Certificado de censura de Os viciados, Brasília, 30 ago. 1968. Censor: Aloysio Muhlethaler de
Souza e Manoel F. de S. Leão Neto.
247
CHEDIAK com cinema, quer xingar. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 2 out. 1968.
248
Ibid.
170
Com o objetivo de atingir o grande público – desejo não realizado do Cinema Novo, que se
assumiu inicialmente como anti- industrial – Chediak não teria recusado o cinema comercial
(ou industrial, com todas as contingências que isso trazia) e disparava a repetitiva acusação
dos cinema-novistas pertencerem à elite e somente atingirem essa mesma elite com seus
filmes. Por outro lado, apesar de suas nobres intenções, é evidente também que Os viciados
não deixava de ser, da mesma forma que as demais produções da Magnus nos anos 60, um
veículo para o astro Jece Valadão desfilar sua consagrada persona cinematográfica, além de
um filme obediente às convenções de um filão cinematográfico oportunamente em voga no
cinema brasileiro.
Para Chediak, o fato de seu produtor e representante do cinema industrial, Jece
Valadão, ser um “homem do povo”, era um dos trunfos para o diretor alcançar seu objetivo de
maior comunicação com esse mesmo povo. Nesse sentido, a peça Navalha na carne, do
igualmente “homem do povo” Plínio Marcos, seria um instrumento ainda mais apropriado
para atingir esse fim, aproveitado pelo diretor no seu filme seguinte. Ou seja, permanecendo
aliado a Valadão e, imediatamente em seguida, também a Plínio Marcos – dramaturgo
distante do intelectualismo e autenticamente “popular”, mas inegavelmente consagrado pela
própria elite –, Chediak estaria se alinhando a esse mesmo povo, se apropriando do prestígio e
do talento do premiado dramaturgo e ainda continuando distante dos chamados elitistas do
Cinema Novo. 249
249
A trajetória de Valadão pode ser aproximada da de Plínio Marcos pela origem humilde e pelo trânsito junto à
marginalidade, além de uma vida marcada pela sucessão de sucessos e fracassos. Nascido em 1930, em
Murundu, no Estado do Rio de Janeiro, aos oito anos foi morar em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.
De uma família de classe baixa, filho de um ferroviário, na adolescência trabalhou como engraxate e aprendeu o
ofício de alfaiate, além de outros biscates. Saiu de casa aos 16 anos e caiu na estrada, ganhando a vida como
alfaiate ou na mesa de sinuca e no carteado. Retornou a sua cidade natal para se tornar radioator e depois locutor
de rádio. Em 1951 mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro, virando locutor comercial da Rádio Tupi.
Como recebia um “salário de fome”, começou a trabalhar como corretor de anúncios de rádio e ganhou uma
pequena fortuna. Aos 22 anos, morando em Copacabana e dirigindo um carro novo, decidiu ser ator. Já tinha
feito figuração em filmes como Também Somos Irmãos (dir. José Carlos Burle, 1949) e batendo novamente na
porta dos estúdios da Atlântida, foi só isso que conseguiu fazer novamente, em diversas chanchadas ou no
policial Amei um bicheiro (dir. Jorge Ileli, 1952), no qual era um dos membros do bando do bicheiro interpretado
por Cyll Farney. Como figurante perdeu todo o dinheiro e voltou a sobreviver “limpando os trouxas” na sinuca
do Salão Palácio, em cima do Cinema Palácio, e aceitando “o dinheiro que as estrelinhas mais famosas e mais
bem pagas lhe ‘cediam”. Conheceu Nelson Pereira dos Santos e Hélio Silva no I Congresso Brasileiro de
Cinema, em 1953, sendo convidado para atuar em Rio 40 graus (1954), do qual também foi assistente de
direção. Sua atuação no filme lhe valeu o prêmio de melhor ator no I Festival de Cinema do Rio de Janeiro:
“Não queriam dar o prêmio, pois diziam que eu era mesmo marginal do morro. No fim, souberam da minha
experiência como figurante e o prêmio foi entregue”. Voltou sua carreira para o teatro, atuando em peças de
Nelson Rodrigues e casando com sua irmã, Dulce Rodrigues. Quando decidiu largar o teatro e partir
definitivamente para o cinema, “investiu tudo que tinha” em Os cafajestes, cujo sucesso alavancou sua carreira
de ator e produtor na década de 60.
171
Essa estratégia aparentemente funcionou em A navalha na carne, sendo elogiada em
reportagem antes do seu lançamento. Para um jornalista que compartilhava da visão de
Chediak, sua adaptação da peça de Plínio Marcos, “lírica e chocante ao mesmo tempo”, era
também:
Um excelente trabalho, direto, simples, seco e comunicativo na sua forma de narrar cinema sem se
perder em elucubrações e mirabolantes mis-en-scènes cinematográficas. [...] Não se considerando um
filho propriamente dito do Cinema Novo, realiza ao mesmo tempo um Cinema Novo, simples e
novíssimo, quando não dispensa um só instante os recursos teatrais existentes na obra de Plínio Marcos.
[...] Navalha na carne tem o dom e a pureza da arte e o comércio. É o binômio perfeito numa relação
perfeita de cinema-indústria (grifos meus). 250
O filme de Chediak também se distancia do Cinema Novo (ou do cinema de esquerda,
em geral) pelo teor “apelativo”, “escatológico” ou “grosseiro” da peça. O moralismo também
presente na esquerda que condenava a investida em temas considerados “vulgares” (além de,
obviamente, burgueses e alienados) não deve impedir o reconhecimento de semelhante teor
nacional-popular em outras obras de programas aparentemente distintos. Indo contra uma
visão romântica, paternalista ou preconceituosa do povo, as peças de Plínio Marcos, assim
como a adaptação de Chediak, por outro lado, se aproximava m de idéias caras à esquerda
como a investigação sobre um modo autêntico de expressão dos hábitos e modos de falar,
viver e andar de personagens populares. Conforme afirmou com ousadia Décio de Almeida
Prado em sua crítica de Navalha na carne, a peça de Plínio Marcos era “violenta, mas sadia –
como um palavrão na boca de um homem do povo”.
251
Às vezes chego a pensar: Será que sou gente? Será que eu, você, o Veludo, somos gente? Chego até a
duvidar. Duvido que gente de verdade viva assim, um aporrinhando o outro, um se servindo do outro.
250
(DINIZ, F. Navalha na carne, Diário de notícias, Rio de Janeiro, 11 mar. 1970). Um crítico como Salvyano
Cavalcanti de Paiva, que não era exatamente fã do Cinema Novo, também ressaltava como virtude a capacidade
de comunicação de certos filmes, aproveitando várias oportunidades para atirar farpas contra os “autores”. Na
sua crítica de Os viciados, apesar de apontar inúmeros defeitos, o crítico elogiava a “vontade de acertar, de
comunicar, sem apelar para o formalismo rebuscado de outros noviços. Na simplicidade, a larga estrada do
triunfo”. (PAIVA, Salvyano Cavalcanti. Os viciados. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 2 out. 1968). Mesmo
quando nada se salvasse num filme comunicativo, ele não deixava de soltar algum comentário, como na crítica
do filme de Mário Latini: “Pensávamos que não existissem filmes brasileiros iguais ou piores do que Terra em
Transe; há um, igual – pois pior ainda não apareceu. Está em cartaz. Chama -se Na mira do assassino” (PAIVA,
Salvyano Cavalcanti. Na mira do assassino. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 2 set. 1967).
251
O moralismo de esquerda é especialmente notado no segmento Zé da cachorra de Miguel Borges, no filme
Cinco vezes favela (1962), em que há a associação entre a burguesia e o sexo e o prazer. Do mesmo modo, em A
Grande feira (dir. Roberto Pires, 1961), um jovem político progressista e idealista (Geraldo Del Rey), quando
briga com a namorada Helena Ignês, uma jovem burguesa e alienada, diz: “Você não passa de uma romântica
sem moral”.
172
Isso não pode ser coisa direita. Isso é uma bosta. Uma bosta! Um monte de bosta! Fedida! Fedida!
Fedida!
Plínio Marcos, Navalha na carne.
Corte lento e doloroso.
Navalha na carne, de Plínio Marcos, é uma peça em ato único com uma trama que se
desenvolve vertiginosamente da primeira à última fala. Encenado em apenas um ambiente –
um quarto de pensão com poucos móveis –, conta com somente três personagens: Neusa
Sueli, uma prostituta; Vado, seu cafetão; e Veludo, faxineiro homossexual da pensão onde
vive o casal. A ação começa com Neusa Sueli chegando de mais uma noite de trabalho na
“viração” e encontrando Vado enraivecido por não achar o dinheiro que a prostituta sempre
deixava para ele. Desconfiada de que Veludo poderia ter roubado a “grana” enquanto limpava
o quarto, ela chama o faxineiro, estabelecendo-se uma situação de tensão entre os três. Após
Veludo deixar a cena, Vado e Neusa mantêm uma discussão dramática, numa tensa relação de
amor e ódio, até que, ao fim, o cafetão abandona a prostituta. Sozinha e solitária, só lhe resta
comer seu sanduíche de mortadela.
Escrita depois da repercussão de Dois perdidos numa noite suja, a peça seguinte de
Plínio Marcos o elevou ao posto de principal revelação do teatro brasileiro em 1967. Segundo
a crítica, Navalha na carne afirmou definitivamente seu “talento raro” de dramaturgo e
confirmou sua vocação de autor teatral. Precedida por numa longa campanha pela liberação
do texto que tinha sido proibido pela censura federal, as montagens simultâneas no Rio e em
São Paulo da peça corresponderam plenamente às expectativas que as cercavam, alcançando
enorme sucesso de público e crítica. Navalha na carne foi considerada por muitos, desde sua
estréia até hoje, como a obra-prima de Plínio Marcos.
De forma geral, nas críticas sobre as montagens pioneiras de Navalha na carne a maior
parte das atenções se concentrou no texto teatral.
252
A peça foi aclamada quase que por
unanimidade, sendo elogiada principalmente pelo seu pujante realismo e contundência, o que
fica claro por algumas das expressões utilizadas na avaliação do texto, como “admirável
autenticidade”, “intensamente verdadeira”, “audácia”, “sinceridade”, “nitidez feroz e
amarga”, “dureza”, “narrativa franca” e “crueza da matéria bruta”.
252
Por outro lado, este não era um fato incomum, dada a primazia do texto no teatro brasileiro desde a década de
40 e 50, que só começaria a mudar nos anos 60/70.
173
Encontramos ainda expressões próximas de um vocabulário cinematográfico, remetendo à
idéia da vocação realista da imagem fotográfica, como “fotografia perfeita e sem retoques”,
“neo-realismo que impede a caricatura”, “investigar sem lentes embelezadoras a realidade” ou
“objetivo de documentar a realidade”. Em sua crítica, Sábato Magaldi cristalizou numa frase
os aspectos mais elogiados na obra: “A literatura teatral brasileira nunca produziu uma peça
de verdade tão funda, de calor tão autêntico, de desnudamento tão cru da miséria humana
como essa de Plínio Marcos”.
253
Nessas montagens pioneiras os demais aspectos do espetáculo (direção, cenário,
figurinos, iluminação, interpretação dos atores etc.) foram elogiados ou criticados por sua
sintonia com esse grau de realismo do texto. A direção de Jairo Arco e Flexa, por exemplo,
foi ressaltada em sua “simplicidade” por João Apolinário. Na montagem carioca, Van Jaffa
elogiou “o realismo fotográfico” da cenografia de Sarah Feres, assim como os figurinos, que
“simplesmente vestem os personagens, com uma naturalidade cotidiana, sem artificialismo
barato nem estereotipado”. Por outro lado, o crítico Alberto D’Aversa, a respeito das
primeiras encenações exclusivas para convidados, considerou que “sendo o texto de uma
escritura prepotente realista, a falta de cenário prejudicou o espetáculo e os atores, não
conseguindo um clima de suficiente verossimilhança”.
254
Chediak, que decidiu adaptar o texto para o cinema após assistir à badalada montagem
carioca, possivelmente encontrou na peça de Plínio Marcos a possibilidade de alcançar as
mesmas intenções que tinha com Os viciados – denúncia social, choque agressivo, realismo
contundente –, mas auxiliado pelo talento de Plínio. O filme anterior de Chediak fora
justamente acusado de ser vulgar, grosso, de mau gosto ou apelativo, e em muitas das suas
críticas encontramos condenações como “puro melodrama sentimentalóide à mexicana”,
“diálogos péssimos”, “caindo na escatologia” 255 , “filosofia tão barata quanto constrangedora”
256
e “gestos obscenos dispensáveis”
257
. Já a peça Navalha na carne tinha sido aclamada pela
crítica justamente por sua “não gratuidade”, por não fazer “qualquer concessão à
melodramaticidade ou à pieguice” e por mesmo aquilo que pudesse ser acusado de “obsceno”
(os palavrões, por exemplo), estarem subordinados a intenções e valores elevados, exercendo
253
MAGALDI, Sábato. Navalha na carne é apenas um espetáculo, mas como dói. O Estado de São Paulo, São
Paulo, 12 set. 1967.
254
Todas as críticas citadas estão disponíveis no sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos
conservado por seus filhos, disponível em: <http://www.pliniomarcos.com >. Acesso em: 18 jun. 2005.
255
PAIVA, Salvyano Cavalcanti de. Os viciados, Correio da manhã, Rio de Janeiro, 02 out. 1968.
256
OS VICIADOS. Luta democrática, Rio de Janeiro, 04 out. 1968.
257
SANCHES, N. Huebra. Os viciados. O Jornal, Rio de Janeiro, 10 out. 1968.
174
uma função significativa no contexto total. Navalha na carne foi considerada definitivamente
como poesia, mesmo que criada “a partir do mais sórdido dos ambientes e da mais vulgar das
linguagens”. Como sintetizou D’Aversa, tratava-se de “uma peça de berrante humanidade, em
que o melodrama assume dignidade de realismo, em que o convencional se faz psicológico e
o retórico se transforma em tácita poesia”.
258
A adaptação cinematográfica de Navalha na carne, dirigida por Braz Chediak,
estrategicamente se aproximou do texto e também da montagem teatral da temporada 1967 /
1968, especialmente da carioca. Com exceção do que chamaremos de “introdução” (que
abordaremos mais a frente), a direção de arte do filme, com o mesmo despojamento e
obediência das encenações teatrais, seguiu rigorosamente à descrição do texto de Plínio sobre
o cenário único e sua cenografia: “Um sórdido quarto de hotel de quinta classe. Um guardaroupa bem velho, com espelho de corpo inteiro, uma cama de casal, um criado mudo, uma
cadeira velha, são os móveis do quarto” (MARCOS, 2003, p.138). 259
No filme, Chediak escalou para o papel de Veludo o ator Emiliano Queiroz, o mesmo que
interpretara o personagem na montagem carioca. Jece Valadão, produtor e astro principal,
obviamente assumiu o papel de Vado, personagem que se encaixava adequadamente ao seu
perfil. Para interpretar Neusa Sueli, a escolha recaiu sobre Glauce Rocha. Se a grande dama
do teatro Tônia Carrero corajosamente encarou o papel da prostituta no teatro (meio no qual
os atores se permitem maiores ousadias), para o filme Glauce Rocha pareceu uma escolha
mais viável e coerente. Além de reconhecida pela absoluta dedicação e identificação passional
com seus personagens, uma das características da atriz era o ecletismo, jamais se vinculando a
companhias ou grupos específicos. No cinema transitou tanto pelos “independentes” dos anos
50 e pelo Cinema Novo, quanto pelo chamado cinema comercial.
258
260
Todas as críticas citadas estão disponíveis no sítio oficial criado a partir do acervo de Plínio Marcos
conservado por seus filhos, disponível em: <http://www.pliniomarcos.com >. Acesso em: 18 jun. 2005.
259
Obviamente, o deslocamento da câmera no filme permite a revelação de um número maior de detalhes, como
uma estátua de São Jorge na mesa, um terço pendurado na cama, garrafas vazias esquecidas pelos cantos, jornais
velhos espalhados, diversos objetos na penteadeira ou outras roupas no armário.
260
No meio cinematográfico, Tônia Carrero era mais associada à decepcionante experiência da Vera Cruz, do
qual a atriz foi uma das maiores estrelas. Significativamente, na passagem da década de 50 para 60, Tônia atuou
principalmente em co-produções estrangeiras ou em filmes do “universalista” Carlos Hugo Christensen.
Entretanto, na mesma época da adaptação de A navalha na carne, a atriz voltou ao cinema depois de sete anos
num papel intenso – que envolvia inclusive uma cena de estupro – no interessante, mas esquecido Tempo de
violência (1969), dirigido pelo fotógrafo argentino Hugo Kusnet, também emblemático daquele contexto
ilustrado pelo seu próprio título. Por outro lado, Glauce Rocha desde os anos 50 vinha atuando em filmes
dirigidos por “nacionalistas” como Alex Viany, Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirszman e Glauber Rocha,
sendo uma das mais reconhecidas intérpretes do cinema brasileiro. Já Ruthinéia de Moraes, atriz que interpretou
Neusa Sueli na montagem paulista, praticamente não tinha ligação com o meio cinematográfico carioca,
desenvolvendo uma carreira principalmente no teatro paulista e em televisão.
175
Em relação ao universo de Navalha na carne, pouco tempo antes a atriz já tinha
interpretado uma favelada que se prostituía para ajudar o namorado no filme Na Mira do
assassino, protagonizando uma corajosa cena de nudez. Além do mais, Glauce Rocha também
tinha trabalhado na primeira produção da Magnus Filmes, Os cafajestes, fazendo uma
pequena participação como uma prostituta seduzida pelo personagem de Valadão (que ela
conhecia desde Rio 40 graus). Sua escolha para o papel de Neusa Sueli não poderia ser
melhor.
261
O roteiro da adaptação cinematográfica de Navalha na carne foi escrito pelo próprio
Chediak com a colaboração do crítico de cinema Fernando Cezar Ferreira e do principal
representante da montagem teatral, o ator Emiliano Queiroz. Mas os diálogos do filme eram
quase que única e exclusivamente as falas da própria peça, seguindo rigorosamente o texto de
Plínio Marcos.
A navalha na carne foi praticamente todo rodado em longos planos-seqüência 262 com
câmera na mão, criando uma estrutura de continuidade que a crítica chegou a acusar de
“teatro filmado”, um filme “que nada tem a ver com cinema”.
263
A partir do momento em que
surgem os diálogos iniciais da peça (após a “introdução”), a narrativa segue espaçotemporalmente o mesmo desenrolar que o texto de Plínio Marcos. Não foram utilizadas
elipses temporais, flash backs ou flash fowards, câmeras lentas ou aceleradas. Pelo contrário,
os poucos cortes foram disfarçados, ou pelo menos não evidenciados, proporcionando uma
fluidez do início ao fim do que seria a “peça”. Do mesmo modo, não há mudanças de cenário
ou locação, permanecendo a câmera e os atores dentro do mesmo quarto de pensão. Essa parte
que comporta dois terços do filme, com cerca de 60 minutos de duração, tem menos de 30
planos. Para fins de comparação, os 119 minutos do filme Os pássaros (The birds, EUA,
1963, dir. Alfred Hitchcock) tem 1360 planos.
261
264
Ainda em relação ao elenco, o ator Carlos Kroeber – diretor de produção da montagem carioca da peça – fez
uma ponta em A navalha na carne, sua estréia no cinema.
262
Uma seqüência (unidade narrativa de um filme baseada no desenvolvimento e continuidade de uma idéia)
realizada toda num só plano (unidade mínima do filme, localizada entre dois cortes) costuma ser chamada de
plano-seqüência, tratando-se geralmente de um longo plano desenvolvido com freqüência através de
virtuosismos da câmera.
263
RODRIGUES, Jaime. Navalha na carne. Diário de notícias, Rio de Janeiro, 10 abr. 1970.
264
Um exemplo anterior e célebre da estratégia de realizar um filme com planos longos no limite da duração dos
chassis, é Festim diabólico (Rope, EUA, 1948, dir. Alfred Hitchcock), também adaptado de um texto teatral (de
Patrick Hamilton). Segundo seu diretor, o filme buscou um equivalente para a peça que “transcorria no mesmo
temp o que a ação, que era contínua, do levantar da cortina até a cortina baixada”. Como A navalha na carne, a
trama também se passava num apartamento fechado, mas durante uma festa que durava de 19:30 às 21:15 da
noite. Na célebre entrevista com François Truffaut, Hitchcock se mostrou severo com a experiência que chamou
de “armadilha”. O diretor francês, entretanto, fez um interessante comentário de que o diretor inglês realizava
176
Desse modo, foi fácil considerar o filme como teatro filmado, ainda mais por uma parcela
da crítica ainda presa a uma concepção puramente visual do cinema. Como apontou com
perspicácia Susan Sontag (In: KNOPF, 2005, p.134-135), a história do cinema foi
constantemente tratada como a história da sua emancipação dos modelos teatrais.
Primeiramente da frontalidade teatral (a câmera imóvel, reproduzindo a posição do espectador
de uma peça sentado em sua poltrona); depois da atuação teatral (gestos desnecessariamente
estilizados e exagerados – desnecessários pois a partir de certo momento o ator passou a poder
ser visto em close up); e, em seguida, do “mobiliário” teatral (“distanciando” o envolvimento
emocional da platéia ao desperdiçar a oportunidade de imergi- la na realidade). Ou seja, os
filmes foram vistos como uma evolução da imobilidade teatral para fluidez cinematográfica,
da
artificialidade
teatral
para
naturalidade
e
imediatez
cinematográfica.
Embora
demasiadamente simplista, essa visão continuou ainda muito presente.
No início da década de 1950, contrariando os advogados do “cinema puro”, que
pretendiam definir especificidades e vocações da sétima arte, o crítico André Bazin defendia o
que ele chamava de “cinema impuro”, apontando para o intenso intercâmbio de todas as artes.
Na época, frente às bem sucedidas adaptações cinematográficas de obras teatrais (como as de
Laurence Olivier, Orson Welles, William Wyller ou Jean Cocteau
265
), um dos fundadores da
Cahiers du cinéma apontava que diante da dialética do realismo cinematográfico e da
convenção da ilusão teatral, o problema do teatro filmado tinha sido radicalmente renovado.
Se antes os filmes, especialmente as adaptações de peças, procuravam disfarçar o teatro
(injetando à força cinema no teatro), a partir de então esses filmes acertadamente passaram a
acentuar seu caráter teatral. Para Bazin não havia alternativa, uma vez que o texto já
determinava modos e um estilo de representação que eram, em potencial, o teatro. Ou seja,
para o crítico não era possível a um só tempo decidir ser fiel a ele e desviá- lo da expressão
para o qual tendia. Entretanto, naquele momento a possibilidade de se incorporar o repertório
um “sonho que todo diretor deve acalentar”, que é de querer “ligas as coisas a fim de não obter senão um único
movimento”. Mas diante da autocrítica retrospectiva de Hitchcock, Truffaut divagava que na carreira de todos os
grandes diretores, “quanto mais se reflete sobre cinema, mais se tem a tendência de reatar com a boa e velha
decupagem clássica, que nunca deixou de mostrar seu valor desde Griffith”. Sem tentar compará -lo com o
mestre inglês, Chediak não foi exceção nessa tendência (TRUFFAUT, 1988, p.107-110).
265
Henrique V (The chronicle history of king Henry the fift with his Battell fought at Agincourt in France,
Inglaterra, 1944, dir. Laurence Olivier) Hamlet (idem, Inglaterra, 1948 dir. Laurence Olivier), Ricardo III
(Richard III, Inglaterra, 1955 dir. Laurence Olivier), Macbeth (idem, EUA, 1948, dir. Orson Welles), Othelo
(The tragedy of Othello: The moor of Venice, EUA, 1952, dir. Orson Welles), todos baseados em peças de
Shakespeare, O pecado original (Les parents terribles, França, 1948, dir. Jean Cocteau), baseado em peça do
próprio Cocteau, Pérfida (The little foxes, EUA, 1941, dir. William Wyller), baseado em peça de Lillian
Hellman.
177
teatral revelaria um sinal de maturidade do cinema. Adaptar peças não significaria mais traílas, mas respeitá- las (BAZIN, 1991).
Nos filmes citados por Bazin se esboçava o cinema moderno que se instalaria
definitivamente no pós-guerra e, obviamente, entre seu pensamento e A navalha na carne, o
universo cinematográfico foi atravessado pela politique des auteurs, pela Nouvelle Vague e os
Novos Cinemas (incluindo o Cinema Novo brasileiro), que retrabalharam a questão da
adaptação cinematográfica de peças teatrais.
266
Além disso, nos anos 60 surgia um novo
contexto em que a oposição entre artificialismo teatral e o realismo cinematográfico também
mudava de figura.
267
Colocadas essas questões, passamos a abordar justamente o que a adaptação de
Chediak criou a partir da peça, um trecho que não existe no texto original de Plínio Marcos e
que consiste nos primeiros 30 minutos do filme.
Introdução: O silêncio que precede o esporro.
268
O filme de Chediak começa com Neusa Sueli (Glauce Rocha) acordando e se arrumando
para sair. A escuridão da noite enquanto ela se veste no quarto, com Vado (Jece Valadão)
dormindo ao seu lado, parece dar a impressão do operário que se levanta para ir trabalhar
266
A frase de Bazin (“Adaptar, enfim, não é mais trair, mas respeitar”), que provavelmente se referia ao
aforismo de Carlo Rim (“Uma adaptação honesta é uma traição”) ganhou outro ponto de vista no polêmico artigo
de François Truffaut Uma certa tendência do cinema francês, publicado na revista Cahiers du cinéma, em
janeiro de 1954. Neste artigo, Truffaut atacava o cinema francês de uma “Tradição de qualidade”, representado
especialmente pelos consagrados argumentistas Aurenche e Bost, que buscando o respeito ao “espírito” e não à
“letra” das fontes literárias, faziam filmes marcados por pouca invenção para muita traição, infiéis tanto ao
espírito quanto à letra. Mesmo ainda marcado pela crença no respeito à fonte original, Truffaut fazia uma
contundente defesa da “política de autores” ao conceber uma adaptação somente se ela fosse escrita por um
“homem de cinema”. Posteriormente, com a Nouvelle Vague, a questão do respeito à obra original ganharia mais
sutilezas diante da defesa de que “não existem obras, somente autores”.
267
Como vimos no capítulo anterior, após a voga do neo-realismo no pós-guerra, no cinema dos anos 50/60 a
questão artificialismo versus realismo foi radicalmente reavaliada a partir da oposição dos Cinemas Novos a um
realismo disfarçado no dito universalismo do cinema clássico narrativo consagrado por Hollywood. Considerado
burguês e decadente, o realismo passou a ser amplamente rejeitado em diversas obras e movimentos
cinematográficos, representando, por outro lado, um retorno a certa “artificialidade” (através do “distanciamento
brechtiano” ou da reflexividade) que podia remeter, em outra chave, a uma nova teatralidade. Entretanto, a
crítica ao realismo não significou necessariamente o enterro dessa opção no cinema (tanto no “cinema de arte” e
muito menos no hegemônico), não apenas pela inesgotável força dessa estética, quanto pela constante renovação
da linguagem clássica em Hollywood a partir dos anos 40, pela permanência da influência do neo-realismo e
pela emergência e influência de novos “estilos” realistas como o cinema direto ou o cinema verdade.
268
Com a licença de O Rappa.
178
ainda de madrugada ao som das badaladas de um sino distante. Antes de sair, a prostituta
deixa para o cafetão um bolo de dinheiro próximo ao abajur do criado- mudo.
A câmera acompanha Neusa saindo do quarto, atravessando os corredores e escadas da
pensão, e percorrendo o ambiente mal iluminado do cortiço miserável que parece ser habitado
por sombras. A fotografia em preto e branco é extremamente contrastada e não há diálogos ou
som direto – mesmo o som ambiente acrescentado em estúdio no processo de finalização é
escasso. O silêncio da madrugada é quebrado somente pelos passos da prostituta e poucos
ruídos. Os latidos distantes de um vira-lata e uma lavadeira pendurando as roupas no varal do
pátio ouvindo música num rádio reforçam a imagem de cotidianidade, do retrato naturalista
do dia-a-dia.
Nos corredores, a câmera permanece mais estática, movimentando-se apenas em seu
próprio eixo, observando os personagens indo e vindo, se aproximando e se distanciando. Em
alguns momentos ela ainda assume ângulos não convencionais, como, por exemplo, quando
enquadra por cima do corrimão da escada. A iluminação de claros e escuros e sombras
projetadas, com um tom expressionista (recorrente, às vezes involuntariamente, no cinema
brasileiro), realizada efetivamente à noite e com poucos refletores, completam o teor
desolador da pensão.
Através de um extraordinário plano-seqüência com travelling lateral
269
, a câmera
acompanha a prostituta saindo da pensão e seguindo pela rua, numa verdadeira trans ição
sonora, fotográfica e emocional. Deixando as luzes do cortiço, os latidos do cachorro e a
música do rádio para trás, Neusa atravessa um trecho de calçada deserta, escura e silenciosa,
até chegar a um local mais movimentado e claro – iluminado pelas luzes das lojas, bares e
postes –, e o silêncio vai dando lugar ao barulho de carros da cidade que não dorme. Ainda no
mesmo plano-seqüência, a personagem passa em frente a um bar onde Veludo (Emiliano
Queiroz) conversa com um rapaz (Ricardo Maciel), e a câmera abandona a prostituta para
acompanhar os dois conversando e se despedindo.
Logo, a montagem paralela estabelece simetrias através de planos cada vez mais curtos:
Neusa na "viração" e Veludo começando a faxina na pensão. Mesmo sem fala, a aparênc ia
(cabelo grande com franja caindo nos olhos, camiseta curta, apertada e enrolada na manga,
calça justa e baixa), além dos gestos e do modo de andar de Veludo, já o caracterizam de
269
O travelling é um plano em que a câmera se desloca horizontalmente acompanhando um personagem ou uma
ação e estando sobre um carrinho ou dolly (aparato mecânico com quatro rodas, geralmente deslizando sobre
trilhos, que serve de plataforma para câmera e seu operador).
179
forma “efeminada”. A câmera acompanha sem pressa, sem cortes e novamente apenas com
uma música distante de um rádio, o trabalho cotidiano do faxineiro, limpando e espanando
despreocupadamente os quartos, inclusive o de Neusa, onde Vado continua dormindo. Muito
discretamente, e após hesitar por instantes, Veludo sutilmente apanha o dinheiro do criadomudo, larga a faxina e volta para o quarto para se limpar e se trocar.
270
Pode-se perceber um tom documental na busca de um retrato cru da realidade nas
cenas em que a prostituta faz seu trotoir. Neusa Sueli é filmada de longe, por trás das grades
de um jardim como uma câmera escondida, andando na rua em meio a anônimos
transeuntes. 271
O primeiro som de voz humana que se ouve no filme é o bocejo de Vado ao acordar,
enquanto Veludo e Neusa já estão, aparentemente, trabalhando há horas. O cafetão senta-se na
cama, ainda no escuro, acende um cigarro e somente quando se levanta e liga o interruptor,
podemos finalmente vê- lo, de corpo inteiro e apenas de short, no meio do quarto.
Novamente temos ações simultâneas apresentadas pela montagem paralela, dessa vez
envolvendo os três personagens: Vado acordando e começando a se arrumar; Veludo se
penteando e se perfumando no quarto antes do seu encontro; e Neusa Sueli e outras prostitutas
tentando se abrigar numa ma rquise da chuva que começou a cair. Já há uma simetria entre os
dois personagens masculinos, pois são montados em seqüência dois planos semelhantes de
ambos diante do espelho, enquanto a prostituta está na rua, literalmente com o pé na lama.
Enquanto Vado continua se arrumando e depois procura – e não acha – seu dinheiro,
desenvolvem-se alternadamente duas seqüências: Veludo, numa esquina escura e tenebrosa,
comprando maconha e depois se encontrando com o rapaz do bar e ambos indo para o seu
quarto; e Neusa finalmente conseguindo um “cliente” depois de a chuva parar. O “freguês” já
tinha abordado e sido recusado por outras prostitutas, mas é Neusa Sueli quem o interpela.
Após um aparente desacordo (supostamente em relação ao preço), ela se encaminha para ir
embora, mas muda de idéia e topa o programa. Não se ouve diálogo algum entre os dois,
270
Veludo coloca, então, uma camisa branca com listras horizontais, no estilo marinheiro, muito em moda na
época. Repetia-se no filme o figurino do personagem em algumas montagens teatrais, bastando conferir a foto de
Sérgio Mamberti no programa de Navalha na carne (São Paulo, 1968), ou dele e de Edgar Gurgel Aranha no
sítio oficial de Plínio Marcos (http://www.pliniomarcos.com/teatro/navalha-progsp.htm). Esse aspecto acentua o
tom de “revelação dos bastidores” que a introdução do filme possui, dando à seqüência o aspecto do ator estar se
vestindo para entrar em cena na segunda parte de A navalha na carne.
271
Essas cenas foram filmadas na Lapa, centro do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio e nas proximidades do
Passeio Público.
180
somente o barulho dos carros na rua. Ambos vão para um hotel barato, onde cruzam na
entrada com outros casais.
272
As duas cenas de sexo são mostradas alternadamente. Enquanto Veludo e o rapaz se
acariciam delicadamente e o primeiro parece apaixonado e deliciado, Neusa está dividida
entre o nojo e a ind iferença ao homem que se contorce e ofega grotescamente. A dessimetria
entre os dois casais está refletida na própria posição inicial dos corpos (Neusa por baixo,
Veludo por cima), na iluminação (Neusa no quarto com a luz acesa, Veludo no escuro) e na
movimentação dos personagens (o “cliente” treme e se contorce grotescamente, Veludo e o
rapaz se movem suavemente). O “freguês” da prostituta (Carlos Kroeber) segue o perfeito
estereotipo – para certo tipo de teatro e cinema dos anos 60 – de um “típico” pequeno
burguês: branco, gordo, suarento, de meia- idade, com óculos, costeletas e bigode, levemente
grisalho e vestindo terno e gravata. Na cama, o personagem é retratado de forma repulsiva
com as costas cobertas de pêlos, empapado de suor, ofegando e lambendo a prostituta.
273
A seqüência do programa, como toda a introdução, ilustra e antecipa o que o texto de
Plínio Marcos revelava através dos diálogos. No monólogo em que Neusa questiona sua
própria humanidade, a prostituta lembrava o que passara antes naquela mesma noite: “Hoje
foi um dia de lascar. Andei para baixo e para cima, mais de mil vezes. Só peguei um trouxa a
noite inteira. Um miserável que parecia um porco. Pesava mais de mil quilos. [...] O
desgraçado ficou em cima de mim mais de duas horas. Bufou, bufou, babou, babou, bufou
mais para pagar, reclamou pacas.” (MARCOS, 2003, p. 164)
Esta mesma seqüência representa também o auge de uma gradual aproximação da
câmera à personagem. Nas cenas externas iniciais a prostituta era observada com um aparente
distanciamento documentário, chegando a ser vista na rua do outro lado da grade do Passeio
272
Nessa cena aparece o único texto legível da introdução – uma placa onde está escrito que se alugam quartos.
Podemos enxergar nesta seqüência de A navalha na carne uma ligeira crítica à classe média brasileira e sua
fachada de respeitabilidade, numa linha que Nelson Rodrigues abordava há alguns anos e o cinema,
principalmente a partir da década de 50, também procurou ilustrar, inclusive no primeiro filme de Chediak (o
crítico Jaime Rodrigues apontava, já em Os viciados, “figuras e situações típicas de Nelson Rodrigues, de onde,
claramente, se originaram”). É possível perceber ainda outras implicações na seqüência de Neusa e o cliente,
como, por exemplo, uma visão metafórica de uma classe trabalhadora (daí a analogia da prostituta com o
operário) explorada econômica e sexualmente pela burguesia. A adaptação de Chediak, na introdução, ressalta
algo que estava também presente na peça, ainda que implicitamente. Apesar de restringir-se a personagens e
cenários marginais, Plínio Marcos também levava a burguesia à cena, fosse para demonstrar a corrupção moral
de todos, independente das classes sociais, quando Vado fala para a prostituta que “velha cansa à toa. [...] Mas
isso é igual na vida e nas casas de família. Os machos só aturam as coroas por interesse. Pra se divertir, a gente
sempre tem uma garota enxutinha” (MARCOS, 2003, p.161); ou ainda, para afirmar que o vazio existencial não
é exclusividade de seus personagens, quando Neusa conta para o cafetão de seu cliente: “Um miserável que
parecia um porco. [...] Contou toda a história da puta da vida dele, da puta da mulher dele, da puta da filha dele,
da puta que o pariu. Tudo gente muito bem instalada na puta da vida” (ibid, p.164) (grifos meus).
273
181
Público, na calçada oposta. Posteriormente, a câmera passava a enquadrar a cena do meio da
rua e, finalmente, na mesma calçada em que Neusa e as outras “mulheres da vida” andavam.
Se nas primeiras cenas de intimidade (no quarto de Vado e Neusa e no de Veludo) os planos
já eram mais próximos dos personagens, na cena de sexo (no quarto de hotel), pela primeira
vez são vistos close-up dos rostos de Veludo (extasiado) e Neusa (enojada), além de planos de
detalhes de partes do corpo dos casais (mãos, olhos, braços), que, na montagem, parecem se
misturar e se embaralhar. A câmera, antes mais distante e contemplativa, torna-se mais íntima
para ampliar o contraste entre os sentimentos distintos de ambos. A deliberada e
absolutamente total ausência de som acentua o grotesco das expressões de prazer do homem,
se contorcendo por cima da prostituta que perma nece em expressivo silêncio. No final da
seqüência, com a força que a imagem cinematográfica possibilita através do close-up, a
tristeza é latente nos rostos de Veludo e Neusa – tanto no personagem que pagou quanto no
que recebeu dinheiro em troca de sexo (carinho? amor? companhia?).
Exausta, Neusa retorna ao cortiço e já ouvimos o som do galo cantando ao longe. Após
subir as escadas, cruza ainda com o amante de Veludo saindo de seu quarto, fumando e
fechando o cinto.
Quando finalmente chega ao quarto, Neusa pela primeira (e praticamente única) vez abre
um sorriso, mesmo encontrando Vado vestido e irritado. Temos, finalmente, o diálogo que
abria a peça, mas que também se constitui como o primeiro do filme:
Neusa Sueli: Oi, você está aí?
Vado: O que você acha?
Neusa Sueli: É que você nunca chega tão cedo.
Vado: Não cheguei, sua vaca! Ainda nem saí!
Neusa Sueli: Tá doente?
Vado: Doente, o cacete!
Neusa Sueli: Não precisa se zangar, só perguntei por perguntar
Os conflitos dramáticos surgidos desde o início da peça e desenvolvidos num crescente,
características do teatro de Plínio Marcos, procuraram ser mantidos no filme, apesar de só
surgirem após a introdução. Entretanto, a crítica na época do lançamento de A navalha na
carne se dividiu a respeito dessa parte inicial. Os críticos Carlos Frederico e José Lino
Grünewald
274
elogiaram o prólogo, mas José Carlos Avellar questionou essa primeira meia
hora – que situaria o ambiente e os personagens ao ilustrar os acontecimentos, antes
274
FREDERICO, Carlos. Tostão e a Navalha. O dia, Rio de Janeiro, 12 abr. 1970; e GRÜNEWALD, José Lino.
A navalha na carne. Correio da manhã, Rio de janeiro, 8 abr. 1970.
182
simplesmente citados nos diálogos – por, justamente, diminuir a agressividade do espetáculo.
275
Ronald Monteiro também demonstrou restrições à introdução inexistente no texto original
da peça, considerando-a um acréscimo inútil, já que esvaziaria a ação ao eliminar a surpresa
da violência inicial e a dúvida sobre a culpa no roubo.
276
Entretanto, embora os xingamentos e a “gratuidade aparente da surra de boas-vindas”
percam em parte seu impacto por se localizarem após um terço de projeção, acredito que
Chediak conseguiu manter a agressividade original pelo fato daquelas permanecerem como as
primeiras falas do filme. O tratamento sonoro na primeira parte de A Navalha na carne, de
sofisticação e ousadia raras no cinema brasileiro, revelam criatividade no uso de elementos
cinematográficos na adaptação teatral. O uso parcimonioso da música (localizada
diegeticamente num aparelho de rádio na pensão), e a deliberada ausência de diálogos na
introdução, marcada somente por sons de passos, portas, carros, além de latidos, grunhidos,
gemidos e bocejos, preservam o choque da explosão de violência (talvez mais “explicada”,
mas ainda surpreendente) que caracteriza as palavras iniciais de Vado. No universo pliniano
recriado cinematograficamente por Chediak, os personagens só se expressam verbalmente
para se enredar no emaranhado de agressões mútuas.
Como contraponto analítico, o filme Boca de ouro (1962), adaptação da peça
homônima de Nelson Rodrigues igualmente produzida por Jece Valadão, também já
apresentava uma “introdução” ao que seria o “corpo da peça”. Nos aproximadamente cinco
minutos iniciais do filme são encadeadas breves seqüências inexistentes na peça – quase que
puramente visuais, praticamente sem diálogos ou música – que contam a história do
protagonista e sua escalada no mundo do crime. Segundo Ismail Xavier (2003, p.236),
“desfilam em imagens as armações de uma carreira padrão de bandido, em verdade próxima
do modelo de ascensão de Scarface, tudo pontuado pelos créditos do filme e apoiado numa
trilha musical associada ao gênero policial”.
O protagonista (Jece Valadão) começa como mero contador do jogo do bicho que
acaba preso num “rapa” da polícia. Após sair da prisão, onde já adquire respeito, começa a
arrochar as bancas rivais (primeiro armado com porrete, depois com revólver), até se tornar
braço-direito de um chefão do jogo do bicho. Logo seduz a mulher do bicheiro e o mata, mas
acaba novamente preso. Dessa vez, ao invés de ser empilhado num camburão para ser levado
para a delegacia como da primeira vez, ele simplesmente sai de lá num “carrão” com
275
276
AVELLAR, José Carlos. A navalha na carne. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 de abril de 1970.
MONTEIRO, Ronald. A navalha na carne. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 de abril de 1970.
183
motorista e sob continência dos policiais. Finalmente, já como bicheiro, desenvolve-se a cena
inicial da peça de Nelson Rodrigues num consultório odontológico, em que o personagem
pede para o dentista lhe arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura toda de ouro, se
tornando o Boca de ouro.
No filme dirigido por Nelson Pereira dos Santos nota-se uma espécie de introdução
sociológica e didática para a origem do protagonista. Essa opção naturalista, em sintonia com
a moldura realista do filme, embora eficiente e bem realizada, por outro lado enfraquece o
caráter mítico transcendental do texto rodriguiano, especialmente em relação aos inúmeros
simbolismos da peça (o nascimento do persona gem numa pia de gafieira, a comparação com o
deus asteca e a fixação pela dentadura e pelo caixão de ouro).
Apesar da inegável existência de elementos simbólicos em Navalha na carne (as
badaladas do sino e o pão como alimento ao final da peça, por exemplo), estes são
freqüentemente menosprezados diante da crueza e da força realista do texto de Plínio Marcos.
Dessa forma, sem querer traçar hierarquias, comparada com o filme de Nelson Pereira dos
Santos, a moldura cinematográfica realista que Chediak confere à peça Navalha na carne
parece, por um lado, uma opção mais óbvia e menos criativa, mas por outro, uma alternativa
que não dispensa elementos fundamentais do texto original. É curioso que ambas as peças,
tanto Navalha na carne quanto Boca de ouro, receberam novas adaptações cinematográficas
na década de 90 em que, diferentemente dos filmes anteriores, foram ressaltados aspectos
míticos e não-realistas dos textos originais.
277
Encerrada a discussão sobre a introdução, passo a me deter nos dois terços finais de A
navalha na carne, do momento em que o filme passa a seguir o texto e as ações da peça, até o
seu desfecho, que serão referidos como a peça no filme, expressão que não guarda nenhum
juízo de valor.
277
Além da adaptação de Neville D’Almeida para a peça de Plínio Marcos, de 1997, também o filme Boca de
ouro (1990, dir. Walter Avancini).
184
Peça no filme: A Navalha recriada
Na adaptação de Chediak, em seguida ao que chamei de introdução, as ações do filme
em sua última hora de projeção podem ser perfeitamente descritas pelo resumo mais
detalhado da peça que Sábato Magaldi fez em sua crítica escrita em 1967:
Neusa Suely, voltando ao quarto, encontra Wado na cama, a ler uma revista em quadrinhos. Ele nem
havia saído: sem dinheiro, o que fazer lá fora? Antes de revelar a Suely o motivo do mau humor, Wado
exercita o seu sadismo, e ela acredita numa intriga da vadia do 102. Garantindo Suely que deixou no
criado-mudo o dinheiro, ocorre a suspeita de furto, e só Veludo seria o responsável por ele.
Interrogatório nos mais persuasivos métodos policiais, e Veludo acaba confessando que tirou a quantia
destinada a Wado: a metade fora para o resistente rapaz do bar e a outra metade para a maconha. A
entrega do cigarro de erva a Wado sela o princípio de reconciliação, com a promessa de que o dinheiro
seria devolvido. Veludo quer apenas uma baforada e se inicia uma cena ambígua entre os dois, cortada
por uma explosão de Suely, que expulsa do quarto o homossexual. Ele deixara escapar o xingatório de
“galinha velha”, que Wado retoma depois, para ferí-la e humilhá-la. Com sadismo implacável, Wado
menciona as pelancas de Suely e tira-lhe a maquilagem do rosto para esfregar nele o espelho
denunciador dos cinqüenta anos (ela diz não ter mais de trinta, gastos e envelhecidos naquela vida
triste). Ao reconhecer, arriada, a própria miséria, Suely tenta uma saída pela verdade: se não tem beleza
para assegurar a correspondência de Wado, que ele cumpra o papel de quem recebe dinheiro feminino.
Prostituta, Suely inverte a situação, tornando consciente o jogo prostituído de Wado. E apóia o desejo
de tê-lo à força da navalha. Ao ver-se acuado, o homem de fala macia tenta uma nova sedução e Suely
se rende, desfazendo-se da arma. Seguro, Wado acaba por sair tranqüilamente. Quando se apagam as
luzes, Suely tira a pelinha da mortadela do sanduíche, companheiro único da solidão. 278
Mesmo sendo possível uma comparação estrita, acredito que alguns elementos do
filme (como a cenografia, o figurino e, principalmente, o texto) são próximos dos respectivos
elementos teatrais presentes nas montagens originais de Navalha na carne. 279 Como já foi
dito, os diálogos do filme são praticamente os mesmos da peça. O cenário do quarto de
pensão foi recriado em estúdio para a adaptação cinematográfica, permitindo um controle da
cenografia semelhante ao de um palco de teatro e igualmente buscando o realismo, fosse na
parede descascada de tinta, nos móveis velhos ou nos objetos característicos daquele
ambiente.
Entretanto, outros elementos do filme aparentemente se distinguem de seus
equivalentes teatrais e saltam aos olhos numa análise da adaptação cinematográfica de
Chediak, principalmente a direção e a interpretação dos atores e a iluminação.
Sobre os atores, Jece Valadão tem uma atuação convincente e intensa, talvez a melhor
de sua carreira, embora sem se afastar do protótipo do cafajeste inescrupuloso com o qual se
278
MAGALDI, Sábato. Documento dramático. O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 jul. 1967.
Para uma tentativa de comparação do filme com as montagens teatrais, tive acesso a algumas fotos das
montagens de Navalha na carne em 1967 / 1968, como as impressas nos programas da peça, as que ilustram o
livro publicado em 1968 (e re -editado em 2005), as disponibilizadas no site oficial do dramaturgo
(www.pliniomarcos.com) e as existentes no arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo.
279
185
consagrou. Seu cafetão não está muito distante do malandro Miro de Rio 40 graus, do
empresário mau-caráter, aproveitador e dissimulado de Rio zona norte, do playboy sacana e
sedutor Jandir de Os cafajestes, ou do bicheiro mulherengo, violento e vaidoso de Boca de
ouro, para citar seus papéis mais conhecidos. Entretanto, o porte físico e a interpretação de
Valadão dão ao seu Vado um novo tom, diferentemente de Paulo Villaça ou de Nelson
Xavier, atores que tinham assumido o personagem no teatro.
Paulo Villaça, com seu topete loiro e costeletas, roupas estampadas e porte altivo,
provavelmente era um Vado bastante diferente. Os críticos apontaram para um “ar
ligeiramente postiço”, “cantando um pouco as falas”
280
, assim, como para um cafetão
composto “sobre lembranças de tango e de literatura marginal”, algumas vezes com modos,
gestos e dicção um pouco artificiais e pré-fabricados.
281
Na maior parte das fotos é possível
vê- lo totalmente vestido (no máximo com a camisa aberta no peito) e muitas vezes numa pose
ensaiada de superioridade: de pé, cabeça erguida e as mãos apoiadas na fivela do cinto. Podese imaginar o parentesco de seu Vado com o personagem boçal e blasé que interpretou em
seguida no filme O bandido da luz vermelha, para o qual foi escolhido após o cineasta
Rogério Sganzerla tê- lo visto na peça de Plínio Marcos, considerações que serão discutidas
mais à frente, no capítulo 5.
Já Nelson Xavier, o Vado dos palcos cariocas, também passava, como no filme, parte
da peça sem camisa. O corpo magro e forte, aliado à beleza morena do ator, aparentemente o
aproximava mais da figura do malandro carioca ou das figuras que freqüentavam os salões de
bilhar da Boca do Lixo. A interpretação maliciosa de Nelson Xavier como o Catitu no filme A
rainha diaba (outra adaptação de um texto pliniano) possivelmente nos fornece uma pista de
como deveria ser o seu Vado.
Na adaptação de Chediak, o cafetão de Jece Valadão tem um aspecto muito mais rude,
grosso e, até mesmo, grotesco. Sua aparência cabocla e rústica – diferente da elegância de
Xavier ou do deboche de Villaça –, assim como seu corpo mais forte, atarracado e
praticamente curvo, confere Vado uma aparência brutalizada, quase simiesca, sobretudo nas
cenas de violência que no filme são aparentemente mais “realistas”.
280
282
MAGALDI, Sábato. Navalha na carne é apenas um espetáculo, mas como dói. O Estado de São Paulo, São
Paulo, 12 set. 1967.
281
D’AVERSA, Alberto. “A Navalha” como espetáculo. Diário de São Paulo, São Paulo, 17 set. 1967.
282
Na seqüência em que Veludo é chamado ao quarto de Neusa e passa a ser agredido pelo cafetão e pela
prostituta, percebemos claramente que um pontapé de Emiliano Queiroz realmente acertou Glauce Rocha nas
costas e a machucou (isso sendo mantido e incorporado ao filme). Já numa das montagens de Navalha na carne
em São Paulo, a falta de “realismo” das brigas gerou até mesmo uma crítica de Alberto D’Aversa: “não se pode
186
De forma mais acentuada do que na peça, o filme é todo atravessado pelo ato de Vado
se vestir, fazendo com que o corpo seminu de Valadão adquira uma presença central na
narrativa. Depois de acordar e não encontrar o dinheiro, o cafetão continua no quarto, somente
de cuecas. A partir do momento em que a prostituta chega e os diálogos têm início, todo o
drama é permeado pelas ações de Vado se arrumando (se penteando e perfumando) e se
vestindo (botando meia, sapato, calça e camisa). A preparação é brevemente atrasada por
Veludo (suado depois do corpo-a-corpo, Vado tem que tirar a camisa), mas finalmente se
completa quando no final, já totalmente alinhado para a noite (com camisa e paletó nos
ombros), o cafetão abandona a prostituta sozinha no quarto.
Veludo (Emiliano Queiroz), por outro lado, é o personagem camaleônico, mais
consciente do “jogo” que permeia as relações no universo pliniano, escolhendo e trocando de
“aliados” a todo o momento. Figura intrometido, seu papel é fazer o drama andar, criando
novos conflitos entre o casal. No filme de Chediak, durante a agressão que sofre, ele está no
meio da ação, entre Vado e Neusa, e, posteriormente, simbolicamente na cama entre os dois.
Inicialmente agredido por Vado, Veludo se esconde atrás de Neusa (sua “amiga”).
Sem conseguir maior apoio da prostituta, o faxineiro acaba incluindo-a em sua tentativa de
contra-agressão a Vado (“Tu e essa perebenta”). Em sintonia com os ciclos de ação do teatro
de Plínio Marcos, Veludo vai novamente apelar para Neusa (“Pelo amor de Deus, Neusa, não
deixa esse tarado judiar de mim”), para atacá- la logo depois (“Não sou que nem você que tem
que dar dinheiro pra homem”). A partir daí a situação se inverte e Neusa passa a assumir a
luta corporal com Veludo. Mas isso é o que ele deseja (“Ela é mulher. Com ela eu posso”) e
Vado novamente intervêm.
Entretanto, é justamente Neusa, e não Vado, quem consegue dobrar definitivamente
Veludo, ameaçando cortar seus olhos com a navalha. Conseguindo a confissão desejada,
Neusa logo volta ao papel de mãe, sem persistir na agressão como o sádico Vado. No
momento de trégua após Veludo conversar, é Neusa quem está no meio, tentando promover
tímida e inutilmente um momento de carinho.
falar como se fala no texto de Plínio e no momento de uma surra os atores fingirem bater-se sem se bater. Com
isso não quero dizer que pretendo ver os atores massacrarem-se no palco, mas tenho o direito de exigir que me
transmitam a ilusão de que isso está realmente acontecendo” (D’AVERSA, Alberto. “A Navalha” como
espetáculo. Diário de São Paulo, São Paulo, 17 set. 1967).
187
Embora hoje, com o naturalismo de parte do queer cinema
283
, a interpretação de
Emiliano Queiroz (na peça e no filme) possa soar caricata ou segundo Antonio Moreno
(1995) estereotipada, e até sendo equivocadamente alinhada às “bichas” recorrentes nas
pornochanchadas da década de 70
284
, o Veludo de A navalha na carne se distingue tanto por
sua complexidade quanto por certo pioneirismo. Seu personagem não disfarça, mas assume
sua homossexualidade (referindo-se a si próprio no gênero feminino) e utiliza isso como
força. Ao contrário da postura curva e dos lamentos da personagem de Glauce Rocha, o
Veludo de Emiliano Queiroz fala alto, é empinado e tem a cabeça erguida e o queixo
levantado. Com ar de superioridade e orgulho, ele chega a dizer para a prostituta que ao
contrário dela, ele não precisa pagar para ter homem e que não atura agressão de seus machos.
Mesmo que esses comentários sejam totalmente desmentidos pela própria narrativa, Veludo,
impositivo e abusado, consegue sair de cena “por cima”.
Apesar da força de Veludo – que passa pelo filme como um furacão revirando tudo – é
a personagem da prostituta que dá o tom ao filme. Glauce Rocha foi considerada uma das
maiores atrizes de seu tempo e sua interpretação em A navalha na carne talvez tenha sido o
ponto alto de sua carreira nas telas e, certamente, uma das maiores atuações da história do
cinema brasileiro.
Conforme a professora e crítica teatral Mariâ ngela Alves de Lima, um dos trunfos de
seu desempenho foi a economia na configuração do trágico:
Sua interpretação da prostituta Neusa Sueli [...] é uma singular construção reducionista. Exposta a
planos longos [...], a personagem também se movimenta lentamente, sob o peso de um cansaço que
283
Sem subestimar as ainda existentes reações de preconceito, hoje um “cinema gay” já é razoavelmente mais
aceito pelo grande público, e, obviamente, pelo próprio público homossexual importante fatia do mercado de
produtos para classes A e B), como pode ser notado pelo sucesso de O segredo de Brokeback Mountain
(Brokeback Mountain, EUA, 2005, dir. Ang Lee). Na “Hollywood dos trópicos”, algo semelhante pode também
ser percebido pela presença cada vez mais comum de personagens homossexuais “normais” na grade de
programação da Rede Globo, especialmente o casal adolescente Rafaela (Paula Picarelli) e Clara (Aline Moraes)
na novela Mulheres apaixonadas (Manoel Carlos, 2003), o “não-assumido” Júnior (Bruno Gagliasso) em
América (de Gloria Perez, 2005), e o militante Jean Willys, vencedor da quinta edição do Big Brother, em
2004/2005. Apesar do ainda enorme moralismo e conservadorismo (vide a censura ao beijo gay de América ou a
não premiação do Oscar de melhor filme para O segredo de Brokeback Mountain) a situação parece ter mudado
muito em relação, por exemplo, a 1995, quando o ator André Gonçalves, por interpretar o personagem
Sandrinho, que mantinha um relacionamento inter-racial e homossexual – implícito – com Jeferson (Lui
Mendes), na novela A próxima Vítima (de Silvio de Abreu), foi agredido por um grupo de jovens na Zona Sul do
Rio de Janeiro.
284
Em muitas das chamadas pornochanchadas, além dos personagens masculinos “reprimidos” que tentam
desastrosamente disfarçar a sexualidade não-assumida, muitas vezes os personagens “machões” eram obrigados,
por injunções da trama, a se passarem por homossexuais, abusando dos trejeitos e excessos, como em A viúva
virgem (dir. Pedro Carlos Rovai, 1972) ou, de forma emblemática, no trio de protagonistas de Os machões (dir.
Reginaldo Faria, 1973).
188
parece infinito. É incapaz de esboçar um gesto à altura das violências que a atingem. O rosto encoberto
pelo cabelo em desalinho e a voz que não tem força para o grito, que, pelo contrário, se reduz a um
murmúrio quando o sofrimento se intensifica, reforçam a idéia de que há sempre um degrau mais baixo
nesse calvário de humilhação. Glauce percorre, enfim, o caminho inverso ao da progressão dramática,
retirando camadas de vitalidade da sua personagem até conduzi-la ao impressionante mutismo final.285
Já na introdução de A Navalha na carne, do momento em que acorda sonolenta de
madrugada até o retorno da “viração”, subindo as escadas para o quarto lentamente e com
enorme esforço, a prostituta parece carregar todo o mundo sobre seus ombros curvos. Em seus
lamentos, Neusa se agarra a fragmentos de esperança, que mesmo risíveis, são as únicas
coisas que ela ainda pode ter. Sua defesa contra as agressões de Vado ganha uma dimensão de
revolta solitária não apenas contra as violências do amante, mas também das injustiças da vida
agravadas pelo o peso da idade. Neusa luta para provar (para o cafetão e para si própria) que
ainda agüenta, que ainda suporta.
Mas a personagem de Glauce Rocha jamais parece ter realmente força suficiente para
lutar. Embora não desista nunca e no final, após o cume das agressões físicas e psicológicas
de Vado, ela ainda ressur ja com a navalha tentando uma última virada, a prostituta jamais
parece que vai “ganhar” mesmo. Suas ameaças de agressão (seja contra Vado ou contra a
“vadia do 102”) são murmuradas, quase inaudíveis e sem nenhuma convicção. Na verdade,
Neusa parece já ter se cansado de tudo, inclusive de lutar, de se revoltar ou de tentar
recomeçar. Quando ela diz que não é velha, mas sim “gasta”, toda sua interpretação adquire
um tom de verdade único, reforçado no desfecho do filme, em que parece finalmente tomada
por um cansaço infinito.
A aparência de Glauce Rocha também confere singularidade à sua interpretação.
Diferentemente da beleza em decadência da Tônia Carreiro ou da devastada exuberância de
Ruthinéia de Moraes, Glauce Rocha representa alguém que jamais foi bela. O corpo magro de
pele e ossos e o rosto de traços marcados, pouco sensuais ou femininos indicam uma beleza
rude, de dureza compatível com sua vida. Na última seqüência de A navalha na carne, o
close-up de seu rosto borrado de maquiagem, com o cabelo desgrenhado, os olhos
esbugalhados e o esboço de um sorriso um tanto enlouquecido tornam sua ameaça para Vado
– “agora nós vamos transar” – uma imagem muito mais forte. A artificialidade da aparência
da prostituta sob a espessa camada de maquiagem transfigura-se numa verdadeira máscara de
horror.
285
LIMA, Mariângela Alves de. Ela expressava a inquietação de várias gerações de artistas. O Estado de São
Paulo, 5 de maio de 1998
189
Além da direção dos atores, o outro importante elemento que merece ser destacado na
adaptação cinematográfica de Chediak é a fotografia de Hélio Silva. Sua importância se deve
não apenas pelo fato de que a possibilidade de variação de pontos de vista através da câmera e
a duração e a distância dos planos filmados serem apontados como os principais diferenciais
entre o cinema e o teatro, mas também pelo papel fundamental que a iluminação, o
enquadramento e a movimentação da câmera têm em A navalha na carne.
Um dos principais e mais exaltados elementos estéticos da obra de Plínio é o ritmo de
suas peças, dotadas de “nós dramáticos que se sucedem com precisão matemática”. A relação
entre o cafetão e a prostituta parece se estabelecer através de gradações de agressões
286
,
enquanto a ampla movimentação dos personagens, a alternância de posições e relações uns
com os outros, chegam a se aproximar de uma verdadeira dança.
287
Na adaptação de Chediak, com pouca interferência da montagem, a câmera assume o
papel de principal condutor do ritmo do filme, sendo seus movimentos e posições primordiais.
Parte dos méritos são inequivocadamente de Hélio Silva, responsável pela direção de
fotografia e pela câmera de A navalha na carne e um dos maiores fotógrafos do cinema
brasileiro.
288
O trabalho de Hélio Silva em A navalha na carne foi fruto de “quarenta dias de
pesquisa de laboratório” que solucionou o problema do foco, permitindo total liberdade de
286
Essa gradação está presente, por exemplo, na abertura da peça. Em seguida à violenta agressão física e verbal
de Vado, sem maiores explicações ou palavras, o cafetão passa a agredir Neusa não só verbalmente, mas também
psicologicamente (“Quer ver eu te aprontar uma dessas e você me agüentar? Duvida? Te faço uma pior e você
me engole”). Posteriormente, a agressão segue num crescente, atingindo seu máximo quando alia tanto a
humilhação física, verbal e psicológica, quando o cafetão agarra seu rosto à força e a obriga a dizer que ele só
está com ela “por causa da grana”.
287
Não à toa, suas duas peças mais famosas já foram traduzidas para esse outro meio de expressão. Além da
adaptação de Navalha na carne para um espetáculo de dança pelo Balé Stagium, apresentado no Teatro
Municipal de São Paulo, em 1975, a peça Dois perdidos numa noite suja, também foi adaptada no espetáculo de
dança moderna Dois perdidos, apresentado no Centro Cultural São Paulo, em 1997, com os bailarinos Mário
Nascimento e Sandro Borelli, dirigidos por Fábio de Carvalho.
288
Hélio Silva tornou-se diretor de fotografia na década de 50, estreando nos clássicos Rio 40 graus, Rio zona
norte e O grande momento, “materializando a partir de parcos recursos a inovadora imagem do filme
independente dos anos 50” (HEFFNER, In: RAMOS; MIRANDA, 2000, p.514). Apesar de preterido pelo
cinema novo, que trabalhou sobretudo com técnicos estrangeiros como Guido Cosulich ou com uma nova
geração de fotógrafos (Waldemar Noya, Mário Carneiro, Fernando Duarte, Luiz Carlos Barreto, José Medeiros),
Hélio Silva já antecipava um domínio de recursos estilísticos que viriam a se tornar característicos dos cinema novistas, como a câmera na mão e o uso de luzes naturais, que ele já utilizara vigorosamente nos filmes baianos
de Roberto Pires, especialmente Tocaia no asfalto (1962). Na década de 60, Hélio Silva trabalhou novamente
com seus primeiros parceiros Nelson Pereira dos Santos e Roberto Santos, enquanto se encaminhou
gradativamente para o cinema comercial. Antes de A navalha na carne, já tinha fotografado também O matador
profissional para a Magnus Filmes.
190
movimentação para a câmera e os atores.
289
Segundo Valadão contou em entrevista décadas
depois, “o Braz pendurou a câmera por uma corda no teto e podia mexê- la em todas as
direções seguindo os atores”
290
. Este truque extremamente simples e barato possibilitou ao
filme a segurança necessária para uma extrema mobilidade da câmera semelhante a de
mecanismos sofisticados como uma grua, ou mesmo um steadycam
291
, e sem o ar “irreal” que
esses mecanismos freqüentemente proporcionam, mas sim com o toque de “realidade” da
câmera na mão.
A crueza do preto e branco, num momento em que o cinema brasileiro caminhava
inexoravelmente para o filme colorido, colaborou para garantir ao filme o clima decadente, o
aspecto realista-documental, um trabalho mais intenso de contraste na fotografia, além de
películas mais baratas.
292
Falsamente despojados ou improvisados, os enquadramentos de A
navalha na carne revelam uma extrema elaboração na busca de uma sintonia entre a imagem
e os diálogos. Na época de lançamento, seu diretor afirmou:
Confesso que tinha um certo receio de confundirem meu filme com mais uma montagem teatral jogada
na tela. A minha intenção de usar elementos e recursos teatrais do texto, numa estrutura
cinematográfica, sem cair no teatro puro, foram muito pensadas e elaboradas o que me permitiu um
filme seco e essencial no seu resultado. Na própria fotografia, no próprio trabalho de câmara; lenta,
analítica, como se fosse o olho humano que vê analisando, eu sinto, cada vez que revejo meu filme, que
determinei a análise crítica-social-urbana sofisticada e as reflexões políticas que o drama Navalha na
carne reflete [...].” 293
Mesmo ensaiados previamente, os planos-seqüências de A navalha na carne são
marcados pela extrema naturalidade, mas sem nem por isso deixar de revelar uma profunda
preocupação com a composição dos quadros. Por exemplo, na cena em que Vado e a câmera
se aproximam de Neusa na cama, ela se abaixa, acompanhada pelo movimento vertical
descendente da câmera e pela saída de Vado do quadro. Quando o cafetão entra novamente
em cena – pelo mesmo lado que saiu (direita) –, ele está dessa vez à frente das barras da cama.
289
Trabalhando com um foco único, em A navalha na carne, somente quando a câmera se aproxima muito de
algum objeto ou pessoa – aparentemente menos de um metro, o que ocorre poucas vezes – é que a imagem se
desfoca.
290
O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 ago. 1995.
291
O steadycam é um mecanismo composto por um colete com um jogo de molas e suportes que permite ao
operador se movimentar livremente com a câmera sem causar tremidos à imagem.
292
Para se ter uma noção, dos 21 projetos aprovados pelo INC em 1969, quando A navalha na carne foi filmado,
20 eram filmes a cores (RAMOS, J., 1983, p.63). Se inicialmente os marginais apelavam para o preto e branco e
o 16 mm para fazer filmes a qualquer custo, cinema -novistas consagrados como Leon, Joaquim Pedro, Glauber e
Cacá já se encaminhavam definitivamente para o filme colorido em Garota de Ipanema (1967), Macunaíma
(1968), Dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969) e Os Herdeiros (1969).
293
DINIZ, F. Navalha na carne, Diário de notícias, Rio de Janeiro, 11 mar. 1970.
191
Os dois personagens são novamente enquadrados num plano fechado, mas dessa vez com as
grades entre eles. No meio de um plano-seqüência, a sintonia do movimento dos atores e da
câmera com o texto de Plínio Marcos acentua o aparente “aprisionamento” de Neusa pelo seu
cafetão-carrasco-carcereiro.
294
Se A navalha na carne foi chamado de “teatro filmado”, essa crítica pode ter sido
motivada pela fidelidade aos diálogos, pelo respeito à locação única ou, ainda, à primazia
verbal no filme. Entretanto, se a imobilidade do ponto de vista é talvez o aspecto que mais
caracteriza um filme de “teatral” – levando, por outro lado, à equivocada idéia de que quanto
maior a mobilidade da câmera, mais cinematográfico é o filme –, Chediak consegue em sua
adaptação um grande dinamismo e fluidez.
Sendo a peça, como já foi dito, quase uma dança entre os personagens, alterando-se
posições (de poder, refletida na dos corpos) num movimento de atração e repulsa movido a
amor, sexo, ódio e repulsa, a câmera de Hélio Silva funciona praticamente como mais um
personagem do filme. Sem jamais abandonar o quarto, ou o trio de protagonistas, e em
momento algum sendo colocada sob um tripé, a câmera interage o tempo todo com os
personagens e, acima de tudo, com o texto de Plínio Marcos. Chediak soube aproveitar muito
bem a total liberdade concedida aos atores pela direção de fotografia de Hélio Silva,
acentuando dramaticamente o próprio texto teatral.
Se na introdução há uma gradual aproximação da câmera aos personagens, a partir do
momento em que o filme passa para dentro do quarto, todos eles – Neusa, Vado e, depois
Veludo – passam a viver um verdadeiro “jogo a jogo” com a câmera. Em toda a peça no
filme, a câmera nunca se distancia dos personagens, jamais se afastando do ambiente apertado
e claustrofóbico do quarto. Entretanto, nos momentos mais intensos, ela se aproxima ainda
mais de cada um deles. Na seqüência da “surra de boas-vindas”, Neusa é jogada no chão e
chutada várias vezes por Vado. Nesse momento, Glauce Rocha quase “cai”, literalmente, em
cima da câmera, que é obrigada a recuar instintivamente. Entretanto, nenhuma das duas
(câmera ou atriz) se abalou com esse “imprevisto” e nem interromperam o longo planoseqüência em curso. Nesta imensa intimidade da câmera com a atriz, marcada inclusive pelo
improviso, ambas, e, conseqüentemente, também os espectadores, compartilham da fúria do
cafetão enraivecido.
294
Em outro momento, já próximo do final do filme, a câmera permanece completamente estática, num quadro
cuidadosamente composto, em que Neusa, ajoelhada na cama no lado esquerdo, empunha a navalha que se
destaca sobre o fundo da camisa branca do cafetão, deitado no outro extremo da cama. Nesse caso, a fotografia
se abstém da movimentação da câmera para trabalhar exclusivamente o aspecto plástico da imagem.
192
Do mesmo modo, logo em seguida, quando o clima se ameniza entre Vado e Neusa
(mesmo sem ela ainda entender o porquê da agressão), a câmera igualmente “relaxa”, se
distanciando e ficando imóvel, ao nível do chão, na mesma altura de prostituta, humilhada,
que recolhe os objetos caídos de sua bolsa.
Evitando os cortes e insistindo no uso do plano-seqüência – verdadeiros tours de force
virtuosísticos –, A navalha na carne também recusa a estratégia básica do campo e contracampo. Ao longo do filme, a câmera “cola” num personagem, geralmente o que assume o
papel de “dono da situação”, até essa situação se inverter, passando a acompanhar outro. Não
é somente o enquadramento dos personagens que varia, mas também a posição dos atores e da
câmera dentro do quarto ao logo do filme. Na cena em que Vado prossegue humilhando
Neusa, dessa vez obrigando-a a responder por que ela lhe atura (“por causa da grana”, ela
responde dolorosamente), os personagens saem da contraluz do canto escuro do quarto para o
centro, embaixo do principal foco de luz, acompanhando o aumento do tom dramático.
Enquanto o contraste de iluminação do quarto é maior, percebemos que nos momentos de
agressão, os personagens vão para o “meio do palco”, para perto da luz do centro do quarto.
Nesta primeira parte da “peça no filme”, o principal foco de iluminação do ambiente são as
poucas lâmpadas dispersas, mas depois, com a chegada do amanhecer, o quarto vai ficando
mais homogeneamente claro pela luz da janela.
Na peça de Plínio Marcos, após a violenta discussão inicial, no momento em que a
questão do roubo do dinheiro chega a uma indefinição (Vado: Então alguém pegou. / Neusa:
Então pegou. / Vado: E não fui eu.), justamente, através da fala seguinte de Neusa (Será?...
Será que foi o desgraçado?...), o conflito é imediatamente deslocado. A adaptação
cinematográfica, por outro lado, neste e em outros momentos, valoriza e estende o impasse.
Apesar do ritmo acelerado dos diálogos de uma peça “curta e direta”, o filme A
navalha na carne apresenta uma “marcha lenta”, no qual os quase inexistentes tempos mortos
do texto são valorizados, numa estratégia semelhante, por exemplo, à opção sério-dramática
de Leon Hirszman ao adaptar a peça de Nelson Rodrigues, A falecida, também marcada pela
“cunhagem naturalista”. Conforme Ismail Xavier (2003, p.267), no filme A falecida (1965)
seu diretor ressaltava o drama interior que o filme procurava “trabalhar na cadência lenta, nos
tempos mortos, uma vez que sua premissa é a de uma conexão específica que ata o mundo
material das personagens e sua subjetividade, na solidão”.
193
De maneira semelhante, o filme de Chediak assume um tom mais cadenciado e menos
vertiginoso do que aponta o texto de Plínio Marcos, valorizando os impasses e alongando as
constrangedoras e silenciosas tréguas tensas.
Desse modo, após a “poeira baixar” depois da agressão inicial, Neusa recolhe seus
objetos e se recompõe da surra. A prostituta vai até a sacada da janela pendurar sua roupa no
varal, de onde ela pode ver a janela de Veludo. O faxineiro está em seu quarto, sem camisa e
cantarolando despreocupadamente. Neusa retorna pensativa ao quarto e, só aí, a partir dessa
visão, a prostituta suspeita: “Será que foi ele?”.
Enquanto na peça a dúvida aparece imediatamente após o momento de tensão anterior,
no filme instala-se uma pausa na qual cada personagem se recompõe antes de se iniciar um
novo momento de embate. Por outro lado, especificamente nessa cena, ao fazer com que a
imagem de Veludo desencadeie o prosseguimento do drama e não apenas a lembrança
expressada verbalmente pela personagem, Chediak aproveita as possibilidades (ou demandas)
visuais do cinema. A entrada de Veludo, tanto na peça quanto no filme, é justamente um
momento chave de reviravolta, quase que um segundo ato, iniciado, como o primeiro, por
uma surra de Vado em quem entra no quarto e na cena.
No filme, a agressão de Vado (e depois de Neusa) contra Veludo é ainda mais violenta
do que a surra que era encenada nos palcos. A liberdade dada aos atores permitiu um maior
improviso e espontaneidade nesta cena que, sem diálogos ou textos decorados, desenvolve-se
visualmente, praticamente apenas através de ações físicas. Num plano-seqüência, Veludo
corre para porta, mas Vado pula atrás dele e o segura antes dele conseguir escapar. O
faxineiro rola no chão e se esconde embaixo da cama, mas é puxado pelos pés pelo cafetão e
pela prostituta. Depois das pancadas inúteis, o casal ainda tenta torturá- lo com cócegas.
Chediak aparentemente deixou a ação “correr solta” e foi preciso um corte (até brusco) para
um plano fechado, no qual Vado está dando uma “gravata” em Veludo, para que os
personagens voltassem ao texto.
Ainda em relação ao texto original, o momento da confissão do roubo também é
representado de forma distinta no filme. Na adaptação de Chediak, há o acréscimo do seguinte
diálogo, inexistente na peça:
Vado: Você não vai sair vivo daqui, sua bicha danada. (Vado tira a camisa e se penteia)
Veludo: Deixa eu ir embora para o meu quarto, Seu Vado. Deixa eu ir.
Vado: O que você fez com o dinheiro?
194
Veludo fica com medo da ameaça de morte, mas mesmo assim não admite a autoria do
roubo. É somente com a navalha de Neusa Sueli que, como na peça, o faxineiro vai contar a
verdade.
Após a confissão de Veludo e sua promessa de reembolso com juros do dinheiro
roubado, o ritmo diminui e há novamente uma trégua tensa, mais uma vez distendida. Pouco
depois, um novo conflito e ponto de ação têm início, dessa vez com o cigarro de maconha que
Vado toma de Veludo e acende. Neusa que estava no “centro do palco”, extraindo
definitivamente a verdade de Veludo e depois tentando apaziguar a relação dos três, vai ficar
de fora da nova seqüência que gira em torno da droga – uma “porcaria” que ela não gosta de
ver sendo queimada no quarto, pois “Dona Tereza não gosta de bagunça aqui na pensão”. A
partir dessa exclusão da prostituta é que Veludo vai assumir o comando e se tornar maestro da
situação e dono da cena.
Sentado na cama com Neusa, após sentir-se mais à vontade diante da “trégua” e vendo
que a maconha opõe a prostituta ao cafetão, Veludo vai se tornar o protagonista dos
acontecimentos seguinte. O faxineiro se levanta, anda pelo quarto, dá conselhos para Neusa.
Ameaça deixar a cena, mas hesita. Já na porta, olha para Vado fumando a maconha que ele
comprara, e pergunta com submissão sedutora, voltando a usar o pronome de tratamento que
dispensava inicialmente ao hóspede da pensão: “Seu Vado, deixa eu dar um cheiro?”
Logo se desenvolve entre os dois um diálogo de duplo sentido, permeado por um
aspecto de sedução. Vado pergunta se ele gosta de maconha e Veludo responde “Sou tarado”,
o que pode se referir ao fumo ou outra coisa. Vado não fica atrás e depois de perguntar se o
faxineiro gosta mais de maconha ou de meninos – e Veludo responder que cada um tem seu
tempo –, o cafetão sentencia com aprovação: “bichona malandra”.
A conotação sexual vai se tornando gradativamente mais explícita, envolvendo até o
contato físico. Vado oferece o cigarro, colocando em frente de seu pênis – “Pega aqui” –,
enquanto Veludo pede infantilmente: “Dá?”. Impedindo que ele pegue o cigarro com as mãos,
o cafetão o obrigando a abaixar até ficar de joelhos à sua frente. O homossexual quase põe a
boca no pênis de Vado, que vibra, em júbilo, com a total submissão do faxineiro. Os dois
começam a brincar, simulando uma tourada, e o clima “esquenta” até o impasse que se dá
quando Veludo encosta explicitamente a mão no pênis de Vado. Nesse momento de tensão,
ambos olham para Neusa em busca do tom de reprovação em seu olhar.
295
295
Na peça, essa seqüência era resumida da seguinte maneira: “A cena repete-se várias vezes, sempre Veludo
tentando alcançar, com a boca, o cigarro que está na mão de Vado. Veludo fica cada vez mais agoniado. Vado ri
195
Vado muda de expressão e abandona a “brincadeira”. As indiretas tinham se tornado
diretas demais. Veludo também adota a seriedade e encara Vado, pela primeira vez
enfrentando-o de igual para igual, de queixo levantado: “Vado, deixa eu fumar”. O faxineiro
toma um tapa, mas depois desarma o cafetão da vantagem física quando rebate “Bate mais,
bate”; até finalmente fazê- lo recuar. “Seu trouxa”, o faxineiro diz, enquanto Vado apenas
resmunga: “viado de merda”. Veludo atinge tal superioridade que chega a aconselhar Neusa
sobre como ela deve tratar “seu macho”.
Neusa se irrita e manda Veludo sair do quarto, mas Vado o impede, pois agora quer
que ele fume. Mas Veludo pega o cigarro para logo em seguida o largar no chão com
desprezo (“Pra mim mixou”). Perdendo aos poucos o controle, Vado tenta desesperadamente
obrigar Veludo a fumar. Se antes era Vado quem se entusiasmava com a submissão de
Veludo, passa a ser o faxineiro quem domina a situação com sua recusa que atinge o orgulho
da pretensa onipotência do cafetão.
O ataque de Vado à Veludo, assim como suas agressões, são talvez mais explícitas no
filme que na peça. O cafetão pega nos seus cabelos e senta por cima dele na cama, enquanto o
homossexual o abraça gritando: “me mata, meu homem”. Em seguida, Vado ainda se deita
por cima dele de bruços na cama, tentando obrigá-lo a fumar. O contato físico que Veludo
encaminhou (a partir do seu toque no pênis de Vado) é conseguido e aproveitado pelo
homossexual.
Da mesma forma que na confissão, é Neusa quem resolve o impasse entre Vado e
Veludo. Depois do apelo do cafetão, a prostituta afugenta veludo que vai recuando da cama
até a porta.
Com a saída de Veludo, o tom exaltado do filme diminui. Vado é enquadrado parado
ao lado da cama fumando. Neusa entra em cena e lhe chama de “nojento”. A câmera
permanece imóvel, enquadrando os dois personagens de corpo inteiro, um de frente para o
outro, com Neusa xingando Vado com desprezo e o cafetão rebatendo os xingamentos
despreocupadamente.
Neusa então se afasta e Vado volta à carga ao ver que a prostituta se incomodou ao ser
chamada de velha. A câmera, a partir de então, cola no personagem. Com a saída de Veludo,
cada vez mais. Neusa Sueli permanece indiferente. Veludo agarra a mão de Vado, que lhe dá um violento
empurrão” (MARCOS, 2003, p.154). Nas fotos da montagem que ilustram o livro com o texto publicado em
1968, as imagens desse trecho da peça mostram Veludo arqueado de costas, com Vado pela frente (como que o
abraçando) tentando enfiar o cigarro em sua boca – muito distante do contato quase explícito dos dois
personagens no filme de Chediak.
196
o show é novamente de Vado. Ele senta-se ao lado de Neusa e começa a agredi- la
verbalmente. Mas os xingamentos mútuos, ao contrário de antes, são feitos sem nenhum dos
personagens mudar de fisionomia ou sequer alterar o tom de voz. A agressão é monocórdia.
Mas Neusa tenta fugir novamente do embate. Levanta da cama e senta-se na cadeira da
penteadeira, tentando se afastar e não alimentar a discussão (“deixa de história”), mas Vado
insiste e vai atrás. O cafetão, alimentado pelo sadismo, fala em seu ouvido, descobrindo seu
ponto fraco: “A vovó da zona todas é metida à família, é?”. Neusa não consegue mais se
segurar e explode: “Vovó da zona é a vaca da sua mãe!”.
Sendo a primeira a levantar a voz e a perder a paciência e o controle (seus lábios ficam
trêmulos), a prostituta começa a também perder o “jogo”. Percebendo isso, Vado parte para
cima de Neusa, andando a sua volta e lançando ataques sucessivos e cada vez mais agressivos
à prostituta. Como uma mosca zunindo em volta de alguém, Vado se levanta e se abaixa em
torno de Neusa, com a câmera acompanhando seu movimento ao se afastar e se aproximar.
Neusa, já derrotada, pede uma trégua, mas Vado não pára, ingressando praticamente
num monólogo, indo e vindo pelo quarto. Neusa já não olha mais para o cafetão, foge dele,
refugia-se na cama, mas ele vai atrás. Vado dessa vez combina seus xingamentos com um tom
de sedução, que acentua a sensação de desprezo e humilhação (colocando-se de um lado e do
outro do rosto de Neusa)
Neusa ainda se levanta e tenta encarar a agressão, apontando para o que Vado deixara
escapara com Veludo (“Neusa: Teu negócio é viado. Vi hoje”), mas o cafetão rebate apelando
pro ponto fraco já descoberto (“Vado: Que é isso, coroa? Tá com ciúme do Veludo?). A
prostituta tenta uma trégua, mas Vado vê nesse recuo a oportunidade de pegar pesado.
“Você está velha”, diz Vado, depois se aproximando de Neusa e tentando arrancar a
bolsa de suas mãos para pegar sua identidade. Os objetos da prostituta caem no chão e Vado
pisa em cima da carteira. Neusa está literalmente no chão, aos seus pés. A câmera vê tudo em
plano conjunto. O cafetão deixa ela recolher suas coisas e Neusa, de joelhos, começa a
lamentar sua vida e aquela noite. Câmera vai se aproximando com a tensão do diálogo, até o
ponto máximo no qual a prostituta, em close-up, faz seu famoso questionamento: “Poxa, será
que sou gente?”.
Findo o monólogo de Neusa, Vado, que estava na parede, se aproxima da prostituta
ajoelhada. Câmera se levanta, enquadrando em plongê a cena, e a prostituta fica ainda mais
baixa. Numa composição exemplar, a opressão de Neusa é visualizada pela sombra de Vado
197
que a cobre no chão no momento em que o cafetão apenas confirma com desprezo: “É, é
mesmo. [...] Você está uma velha podre”.
Como no universo pliniano a covardia impera no lugar da compaixão, no momento de
maior fragilidade, Vado começa a agredi- la novamente e ainda mais intensamente. Pegando
Neusa pelos cabelos, a leva para frente do espelho e a obriga a olhar para sua própria imagem.
A câmera treme e Neusa grita, mas Vado não hesita e a carrega para embaixo da luz, para os
espelhos da penteadeira e da porta do armário, e, depois, até a pia, onde joga água no seu
rosto querendo livrá- la da “meleca” que cobre o seu rosto. 296
Se antes Neusa ainda gritava “não”, depois disso ela perde completamente as forças.
Aparentemente não lhe resta mais energia para revidar, nem para reagir ou para implorar.
Com lentidão, apenas um fiapo de voz sai de sua boca, pedindo para Vado pare. Vendo-a
definitivamente derrotada, o vitorioso cafetão prepara-se para sair, pegando outra camisa
limpa e o paletó.
Mas nesse momento Neusa praticamente ressuscita: com um pulo, corre até a porta,
trancando a fechadura, guardando a chave em seus seios e impedindo a saída de Vado. Em
close-up, com o rosto coberto pela pintura borrada, Neusa enumera seus defeitos (“velha, feia,
gasta, bagaço, lixo dos lixos, galinha, coroa”), tira os cílios postiços e assume a face sem
maquiagem, franca e verdadeira enquanto diz que o cafetão vai ter que transar com ela. Vado
ameaça bater em seu rosto, mas Neusa aprendeu a lição com Veludo e responde, desarmando
o machão: “Bate, mas Bate legal”.
Mas o cafetão não deixa por menos e decide se deitar para dormir e esperar a “onda”
passar, ignorando-a completamente. Neusa, tomada de raiva, novamente apela para a navalha
na gaveta. Diante da ameaça, o cafetão se assusta e muda de estratégia. Com outro tom de voz
e assumindo novamente o caráter de cafajeste sedutor, se levanta e toma conta da situação
mais uma vez. Neusa perde o impulso e suas últimas forças, abaixando a navalha. Como ela
mesma diz ao cafetão: “Você me arriou”. Vado toma a navalha e põe em seu bolso. Deita
Neusa na cama e enquanto a acaricia, pega a chave escondida. Sem olhar para trás, Vado abre
a porta e sai.
Neusa ainda se levanta e vai até a porta gritar: “Vado!... Você vai voltar?...”
296
Na peça, Vado esfregava o lençol no rosto de Neusa para tirar a maquiagem. O cenário do filme permite, ao
contrário do palco de um teatro, a presença de uma pia com torneira jorrando água. O efeito resultante é talvez
mais interessante, pela plasticidade da tinta escorrendo dos olhos da atriz.
198
A prostituta fecha a porta e as janelas, escurecendo o quarto já claro pela luz da
manhã, para finalmente poder dormir e, pelo menos momentaneamente, se isolar do mundo.
Sem forças, completamente esgotada, Neusa ainda se senta e começa a comer um sanduíche
embrulhado em papel que pega da bolsa. Nestes planos silenciosos fica a dúvida no que
desejar a prostituta: que Vado volte e recomece seu martírio ou que ela permaneça naquela
desoladora e angustiante solidão.
Enquadrando Neusa no centro da tela, a câmera se aproxima de seu rosto enquanto a
prostituta mastiga o pão e seus olhos vagam sem se fixar em nada. Um sino distante toca
cinco vezes. A imagem do rosto de Neusa ainda permanece congelada por alguns segundos
antes da cartela de “Fim”.
199
3. UM FILME PERDIDO NUMA NOITE ESCURA
Fórmula de sucesso.
Um das estratégias da Magnus Filmes de Jece Valadão ao longo da década de 60 foi
investir seguidamente em adaptações de livros e peças conhecidas que se revelassem bem
sucedidas na bilheteria. A segunda experiência de Valadão como produtor, o filme Boca de
ouro (1962, dir. Nelson Pereira dos Santos), tinha sido a primeira adaptação para o cinema de
uma peça do polêmico Nelson Rodrigues, inaugurando a primeira fase de adaptações
rodriguianas (1962-1966). O grande sucesso do filme e do personagem do bicheiro – que
colaborou para consagrar a persona “cafajeste” do ator, assim como o próprio Os cafajestes,
sua primeira investida como produtor – o levou a produzir em seguida Bonitinha, mas
ordinária (1963, dir. J.P. de Carvalho), também baseado em peça homônima do “anjo
pornográfico”. Ele atuaria ainda como intérprete em outra adaptação de Nelson Rodrigues,
Asfalto selvagem (dir. J.B. Tanko, 1964).
297
Assim como percebera a possibilidade de explorar a obra de Nelson Rodrigues no
cinema, diante da repercussão de A Navalha na carne Valadão decidiu investir no filão,
apostando em outra adaptação de Plínio Marcos. Dessa maneira, Chediak partiu ainda em
1970 para a realização de seu projeto seguinte, a adaptação de Dois perdidos numa noite suja,
que, no auge do entusiasmo, era anunciada como a segunda parte de uma prevista trilogia
pliniana no cinema, que incluiria ainda a peça Homens de Papel, jamais realizada.
298
Da mesma maneira que A navalha na carne, a adaptação de Dois perdidos numa noite
suja também foi toda rodada no Rio de Janeiro, “tendo custado [...] apenas um pouco mais do
que o filme anterior”, segundo seu diretor.
297
299
Nelson Pereira dos Santos, com quem Valadão trabalhou em Rio 40 graus e Rio zona norte, não se
interessava pelo projeto de Boca de ouro e assumiu o filme como diretor contratado. Já Bonitinha, mas ordinária
teria sido co-dirigido por Jece Valadão, que deixou o co-produtor J.P. de Carvalho assinar sozinho (CASTRO,
1992, p.339).
298
Antes do lançamento de Dois perdidos numa noite suja uma reportagem anunciava o filme seguinte de
Chediak, Homens de papel, com Norma Benguel, Sérgio Malta e Emiliano Queiroz no elenco, que “será em
cores, e será também uma denúncia” (ALENCAR, Miriam. Denúncia na noite suja. Jornal do Brasil. Rio de
Janeiro. 21 mar. 1971).
299
“DOIS perdidos” só depende da censura. Correio da Manhã. Rio de Janeiro. 11 mar. 1971
200
Filmado no segundo semestre de 1970, no começo do ano seguinte o filme de Chediak
já estava pronto para ser enviado para a avaliação da censura federal para, também como A
navalha na carne, enfrentar alguns problemas. Avaliado pelo Serviço de Censura de
Diversões Públicas em 10 de março de 1971, Dois perdidos numa noite suja recebeu, cinco
dias depois, uma liberação especial para a exibição no festival de Teresópolis, sendo depois
exigida a recomposição de sua trilha sonora para “eliminação das pornografias”.
300
O certificado de censura definitivo de 6 de abril de 1971 liberava o filme para exibição
comercial somente para maiores de 18 anos, com cortes das expressões “filho da puta” e
“porra” e sem os critérios de “boa qualidade” ou “livre para exportação”.
301
Tentando repetir o êxito da adaptação anterior, a publicidade da Magnus Filmes
explorou o filão do filme sério e artístico, provavelmente mirando no mesmo público que
prestigiara A navalha na carne. Na revista da produtora, a Magnonotícias, Dois perdidos
numa noite suja era anunciado como uma obra diferenciada, inclusive da produção da
empresa: “Esta versão, em Eastmancolor, da peça de PLÍNIO MARCOS, integra a política da
MAGNUS em não se ater somente às produções comerciais ou comédias ligeiras” (grifos do
texto).
302
Diferentemente das demais produções da Magnus Filmes que não costumavam
participar de Festivais de Cinema, Dois perdidos numa noite suja concorreu e foi o grande
vencedor do V Festival de Teresópolis de Cinema, em 1971 – conquista que foi aproveitada
em sua campanha de lançamento.
303
Entretanto, lançado no Rio de Janeiro em 22 de março de 1971, Dois perdidos numa
noite suja não teve a mesma acolhida pela crítica que o filme anterior e nem repetiu o êxito de
bilheteria.
300
No parecer datado de 15 de março de 1971, o censor Wilson de Queiroz Garcia considerava que o filme
apresentava uma mensagem negativa – “indutiva ao crime e aos maus costumes” – e não possuía nenhum valor
educativo. Com linguagem chula, ambiente inapreciável e “diálogos pontilhados de pornografias de tal sorte que
impossibilita qualquer corte”, o censor sugeriu a liberação do filme com impropriedade para menores de 18 anos.
Da mesma maneira, a censora Therezinha de Toledo também não atribuiu ao filme o critério de “boa qualidade”
e de “livre para exportação”. Já o parecer de autoria de Coriolano de Loiola Cabral Fagundes e Raymundo
Eustáquio de Mesquita, não sugeriu cortes, mas optou por liberá-lo apenas para maiores (“a exemplo do que já
foi feito com a peça”), poupando o público em formação, “cujos valores morais por certo [o filme] confunde”.
301
Menos de um ano depois, em 17 de fevereiro de 1972, a Magnus Filmes conseguiu dois pareceres favoráveis
do SCDP para a atribuição dos valores de “livre para exportação” e “boa qualidade” para Dois perdidos numa
noite suja, mas mantendo os cortes anteriores.
302
DOIS Perdidos. Magnotícias, Rio de Janeiro, ano 2, n.10, jun. 1971.
303
Dois perdidos numa noite suja conquistou o Dedo de Deus de melhor filme, diretor (Braz Chediak), ator
(Emiliano Queiroz) e produtor (Jece Valadão). O filme concorreu com Minha Namorada, de Zelito Viana,
estrelando Laura Maia (melhor atriz) e 20 passos para a morte, de Adolpho Chadler, p remiado pela fotografia de
Roberto Pace.
201
Os críticos José Carlos Monteiro e Roberto Bandeira, julgando o filme apenas regular,
o condenaram como teatro filmado, apontando para a falta de criatividade na submissão
desastrosa do diretor ao texto original.
304
A comparação com A navalha na carne foi
recorrente nas críticas de Dois perdidos numa noite suja, sempre destacando a inferioridade
da segunda investida de Chediak. Nelson Hoineff sintetizou os comentários gerais: “Dois
perdidos numa noite suja erra exatamente sobre os acertos anteriores de seu autor”.
305
O santista Rubens Edwald Filho escreveu uma crítica arrasadora sobre o filme. Se para
ele A navalha na carne tinha “certa dignidade artesanal”, no filme seguinte a fórmula teria se
tornado repetida, o final previsível e a naturalidade das falas perdido o valor: “Dois perdidos
numa noite suja ficou completamente perdido no cinema. É até um merecido fracasso de
bilheteria.”. O crítico concluiu o artigo da seguinte maneira: “O filme ganhou também uns
prêmios no Festival de Teresópolis. Estivemos lá e garantimos: os outros dois filmes eram
muito piores. Depois, como não falar mal do cinema brasileiro?”.
306
Diferentemente das críticas ao filme A navalha na carne, nas de Dois perdidos numa
noite suja os aspectos técnicos são constantemente citados, com reclamações sobre a
fotografia (“filme é tão escuro que mal se consegue enxergar alguma coisa”307 ) e,
especialmente, o som ( “não se consegue ouvir nada direito”308 , “dublagem inaudível” 309 ).
Nas bilheterias, Dois perdidos numa noite suja alcançou, segundo os dados oficiais, a
renda de Cr$ 213.516.19, com um público de 133.985 espectadores.
310
Pouco tempo depois
de seu lançamento, Jece Valadão afirmou que a segunda adaptação da obra de Plínio Marcos
“não fez o sucesso esperado. Foi um sucesso relativo”. Mas como o produtor já estava aliado
a Roberto Farias e Jarbas Barbosa, seus sócios na Ipanema Filmes, distribuidora que já tinha
outros quatro filmes na fila de lançamentos daquele ano, ele podia afirmar que “nós não nos
preocupamos mais, a esta altura, com a renda de apenas um filme. Nós jogamos isso na
média”.
304
311
MONTEIRO, José Carlos. Dois Perdidos numa noite suja: A flauta e o sapato. O Globo, Rio de Janeiro, 24
mar. 1971. BANDEIRA, Roberto. Dois Perdidos numa noite suja. A notícia, Rio de Janeiro, 31 mar. 1971.
305
HOINEFF, Nelson. Dois perdidos numa noite suja. O Jornal, Rio de Janeiro, 25 mar. 1971.
306
EDWALD FILHO. Rubens. Dois sujos numa noite perdida. A tribuna, Santos, 18 jun. 1971.
307
Ibid.
308
Ibid.
309
MONTEIRO, José Carlos. Dois Perdidos numa noite suja: A flauta e o sapato. O Globo, Rio de Janeiro, 24
mar. 1971.
310
BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. Instituto Nacional do Cinema. Setor do Ingresso Padronizado.
Informativo SIP, Rio de Janeiro, ano 3, 1973.
311
Correio da manhã, Rio de Janeiro, 8 mai. 1971.
202
Ainda que não representasse necessariamente um grande prejuízo (embora colorido,
não tinha sido uma grande produção), o resultado frustrante do filme, rendendo menos de um
quarto da adaptação anterior, fazia com que o filão cinematográfico das adaptações de Plínio
Marcos parecesse ter cada vez menos futuro na Magnus Filmes. Situação inversa, por
exemplo, das comédias eróticas baseadas nas obras de Marcos Rey.
312
Peça e filme
Realizada imediatamente após A navalha na carne, a segunda adaptação para o
cinema do teatro de Plínio Marcos, Dois perdidos numa noite suja, tinha como objetivo
repetir o êxito do primeiro filme. De acordo com o ditado “não se mexe em time que está
ganhando”, muitas coisas se repetiram no segundo projeto.
Produzido novamente pela Magnus Filmes, Chediak apelou mais uma vez para os
serviços de Hélio Silva como diretor de fotografia e câmera, repetindo a estratégia de longos
planos seqüências com câmera na mão. Entretanto, ao contrário de A navalha na carne,
Chediak afirmou que não tinha visto Dois perdidos numa noite suja nos palcos, mas que
quando dirigiu sua adaptação da peça somente tinha lido o texto de Plínio Marcos.
313
Apesar disso, uma aproximação com a montagem original da peça – embora menos
evidente do que no filme anterior – ocorreu também na segunda adaptação cinematográfica de
Chediak, sobretudo na escalação dos atores. Emiliano Queiroz, o Veludo de Navalha na carne
(peça e filme), foi escalado para o papel de Tonho. Já Nelson Xavier, que tinha interpretado
no teatro o Vado de Navalha na carne na montagem pioneira de 1967, repetiu o personagem
Paco de Dois perdidos numa noite suja que interpretara também no teatro. Nelson Xavier,
aliás, além de estrelar, tinha também, em parceria com seu companheiro de palco, Fauzi Arap,
dirigido a peça que estreara no Rio de Janeiro em 1967.
312
314
Lançado três meses após A navalha na carne, a primeira adaptação de um romance de Marcos Rey, a
comédia Memórias de um gigolô (dir. Alberto Pieralisi, 1970), produzida e estrelada por Valadão, foi o maior
sucesso da Magnus Filmes e um dos maiores do cinema brasileiro naquele ano, com mais de 1 milhão de
espectadores. No ano seguinte, ao contrário de Dois perdidos numa noite suja, a segunda incursão no universo
do escritor, O enterro da cafetina (dir. Alberto Pieralisi,1971), superou os resultados de bilheteria da primeira.
Em 1972, com A filha de Madame Betina (dir. Jece Valadão, 1972), mesmo enfrentando problemas com a
censura, obteve mais um sucesso nesta linha.
313
ALENCAR, Miriam. Denúncia na noite suja. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 21 mar 1971.
314
Nelson Xavier falou sobre a montagem da peça em 1967: “Havia no Rio de Janeiro um lugar que não existe
mais que chamavam Beco da Fome. Era uma galeria que mais parecia um mercado, com várias lojinhas
pequenas, vários lugares que faziam comida. E a gente comia lá de madrugada. Os duros iam comer lá. Eu já
203
Em Dois perdidos numa noite suja, Chediak igualmente contou com a colaboração dos
atores na feitura do roteiro, no caso, de Emiliano Queiroz e Nelson Xavier. Assim como em A
navalha na carne, na sua segunda incursão no universo pliniano, Chediak mais uma vez
respeitou rigorosamente o texto teatral. Por outro lado, novamente “ilustrou” as situações que
na peça eram somente mencionadas pelos atores (a entrevista de emprego, a ameaça constante
do Negrão, o assalto), dando rosto – mas não voz – a personagens que no palco não existiam.
Esses acréscimos, que no filme anterior se resumiam somente à introdução de meia hora,
pontuam toda a adaptação de Dois perdidos numa noite suja, literalmente do início ao fim do
filme.
Ao contrário também do filme anterior, Chediak dessa vez “arejou” o texto teatral,
escapando em diversas seqüências do ambiente claustrofóbico do quarto imundo onde essa
peça também se passava. O diretor levou os personagens e os diálogos para diversos outros
lugares, como um bar, o pátio do cortiço, o mercado de frutas e, principalmente, para as ruas
escuras e desertas da cidade grande.
O resultado em Dois perdidos numa noite suja de estratégias semelhantes às de A
navalha na carne serão ana lisadas neste capítulo, procurando descrever suas implicações. Se
a segunda adaptação dirigida por Chediak não teve o mesmo êxito de bilheteria nem de critica
que o filme anterior, as questões contextuais devem efetivamente ser levadas em conta, tais
como a comparação imediata e desfavorável com o filme recente, um clima menos favorável à
discussão de temas “desagradáveis” do que no período próximo a 1968, certas incongruências
do projeto de uma “produção maior” com uma peça escrita originalmente para ser montada da
forma mais barata possível, além de se situar um momento em que a “qualidade” técnica do
filme começava a ganhar maior importância.
Entretanto, assim como A navalha na carne, Dois Perdidos numa noite Suja não é um
filme isolado no contexto cinematográfico brasileiro. Dramaturgos da chamada geração de
1969 foram adaptados em pelo menos dois filmes nos primeiros anos da década de 70 – Na
boca da noite (dir. Walter Lima Jr., 1970) adaptado de O assalto, de José Vicente, e Cordélia,
Cordélia (dir. Rodolfo Nanni,, 1971) baseado na peça de Antônio Bivar – apontando para
estava palitando os dentes quando numa madrugada qualquer o Fauzi apareceu e disse: ‘é você, Nelson! Ele é
você! Você pode fazer o Paco!’. Eu conhecia o Fauzi, mas não pessoalmente. Eu tinha ficado encantado com o
trabalho dele em Pequenos burgueses. Ele estava com o texto do Plínio, Dois perdidos numa noite suja. Eu me
apaixonei pelo texto e fizemos. [...] Foi um sucesso incrível no Rio de janeiro” (XAVIER, Nelson. Depoimento
de Nelson Xavier, 29 setembro de 2004, São Paulo. In: ARENA CONTA 50 ANOS. São Paulo, Cia. Livre da
Cooperativa Paulista de Teatro. Coordenado por Isabel Teixeira. Disponível em:
<http:www.teatrodearena.com.br>. Acesso em: 19 mar. 2006).
204
relações entre o teatro e o cinema brasileiro diferentes das mantidas nos anos 60. O jogo da
vida (dir. Maurice Capovilla, 1976), adaptação da consagrada novela Malaguetas, perus e
bacanaços, de João Antônio, guarda muitas semelhanças com Dois perdidos numa noite suja
num retrato do universo marginal urbano marcado pelo tom melancólico e desiludido de
crítica social, pela aparência documental da fotografia colorida, pela preferência pela
integridade do plano (com a câmera na mão de Dib Lutfi) no lugar da fragmentação da
montagem e pelo investimento em expressivas atuações do elenco (Lima Duarte,
Gianfrancesco Guarnieri e Maurício do Valle).
315
Por outro lado, sem buscar uma contextualização diluidora ou uma comparação
exaustiva de Dois perdidos numa noite suja com outras produções, principalmente com
Navalha na carne, podemo s evidentemente encontrar qualidades e elementos de grande
interesse na adaptação da peça de Plínio Marcos e que devem ser trazidas à tona.
Mas o primeiro ponto que deve ser discutido por ser responsável pelo menor vigor da
segunda adaptação de Chediak é o equívoco comum (e do qual o diretor não escapou) de
tratar peças diferentes de Plínio Marcos como se fossem iguais. Apesar das muitas
semelhanças (cenário único, poucos atores, linguagem crua e violenta, temas polêmicos, ritmo
acelerado, alternância de posições de acordo com o jogo de poder etc.) a peça Dois perdidos
numa noite suja apresenta efetivamente diferenças fundamentais de Navalha na carne e um
tratamento cinematográfico semelhante funcionou de maneira distinta nas adaptações dos dois
textos.
A peça
Escrita em 1966, Dois perdidos numa noite suja representou a redescoberta do
caminho do sucesso por Plínio após sua fugaz consagração com Barrela, em 1959, ainda em
Santos. O dramaturgo se inspirou num conto de escrito italiano Alberto Moravia, intitulado O
Terror de Roma (Il terrore di Roma) e incluído na coletânea Contos Ro manos (Racconti
Romani). A trama da peça, de um modo geral, foi retirada do conto que tratava de dois
315
Maurice Capovilla, um dos principais interlocutores do Cinema Novo em São Paulo, investiu principalmente
no cinema documentário, defendendo um cinema realista, crítico e popular. Alcançou relativo sucesso com seu
primeiro filme de ficção, Bebel, a garota propaganda (1967). Posteriormente, trabalhou sobretudo como
jornalista, professor e na televisão. O Jogo da Vida representou seu retorno ao cinema de ficção do qual se
afastara em 1971. Entretanto, assim como Dois perdidos numa noite suja, seu filme não alcançou repercussão
nem de crítica, nem de público, parecendo também “perdido” no cinema brasileiro daquela década.
205
vagabundos – o narrador, sem nome, e Lorusso, seu companheiro de quarto – que decidiam
fazer um assalto para conseguir o que precisavam: um par de sapatos para o primeiro e uma
flauta para o outro. Após o crime, se descobre que os calçados roubados eram pequenos para
os pés do personagem e depois de pedir e implorar para que o companheiro trocasse pelos
dele (que eram novos), os dois acabavam se enfrentando. Mesmo aproveitando a história e
muitos detalhes, situações e até diálogos da narrativa de Moravia, a peça de Plínio Marcos é
bastante diferente do conto. 316
Além da óbvia diferença de linguagem, a alteração na época e no local no qual se
passava a história colaborou largamente para essa diferença. Escrito em 1954, o conto
adquiria um tom neo-realista ao se passar na Roma do pós- guerra, com seus personagens
sobrevivendo em meio às agruras da fome e da pobreza. As conseqüências do conflito estão
embutidas em tudo, inclusive na questão dos sapatos: o narrador tem um par dado pelos
americanos, do tipo “baixo e leve”, e inveja os calçados de Lorusso, altos, com solas duplas e
de couro grosso, “do tipo daqueles usados pelos oficiais aliados”.
O final também é outro. Após o assalto e a discussão sobre a troca não-realizada de
sapatos, os dois estão no quarto, já deitados para dormir, e o narrador tenta roubar os sapatos
de Lorusso, que acorda e parte para briga. A polícia é chamada e ambos são presos, logo
sendo associados ao assalto e ao homicídio no parque. Na delegacia, se descobre que Lorusso
já tinha sido preso antes e ele até comemora o novo encarceramento ao saber que o dia
seguinte era sexta-feira: “Oba, bom, amanhã em Regina Coeli tem sopa de feijão”. Por outro
lado, o protagonista também não fica tão triste na prisão: “Depois olhei meus pés, vi que
estava com os sapatos de Lorusso e pensei que, no final das contas, tinha conseguido aquilo
que queria” (MORAVIA, 1985, p.203).
O conto de Moravia se aproxima do tom melancólico das comédias amargas italianas
da década de 50 e 60, especialmente dos filmes de Mário Monicelli – como Risate di gioia
(Itália, 1960) –, no qual a fome era a principal ameaça acima de qualquer outra coisa. A
cadeia como um final não tão ruim, uma vez que há comida, também aparece, por exemplo,
316
Nas críticas da peça Dois perdidos numa noite suja a origem no conto de Moravia não foi considerada
desabonadora, como no artigo de Alberto D’Aversa: “A assimilação do conto de Moravia foi perfeita, total e
absoluta; o conto desapareceu no seu lugar nasceu uma peça nova e original, de uma originalidade
eminentemente teatral ou seja baseada sobre a novidade da linguagem, a precisão dos golpes de cena e dos nós
dramáticos, a temperatura das situações, a eficácia das personagens, a credível possibilidade da fábula”.
206
no filme Onde está a liberdade? (Dov'è la libertà...?, Itália, dir. Roberto Rosselini, 1954) com
o comediante Totò.
317
A partir do pequeno conto de Moravia, Plínio Marcos criou Dois perdidos numa noite
suja, com um nível enorme de despojamento e concisão em seus dois atos, sendo o primeiro
dividido em seis quadros, e com apenas dois personagens (Paco e Tonho) habitando um
cenário único: “um quarto de hospedaria de última categoria, onde se vêem duas camas bem
velhas, caixotes improvisando cadeiras, roupas espalhadas etc. Nas paredes estão colados
recortes, fotografias de time de futebol e de mulheres nuas” (MARCOS, 2002, p.64).
No início do primeiro quadro, já estão em cena os dois personagens, ambos vivendo de
“biscate no mercado” e dividindo um quarto alugado. A desmedida agressão inicial típica de
Plínio Marcos está presente na peça, quando logo após uma breve discussão inicial entre
Tonho, que quer dormir, e Paco, que quer tocar sua gaita, “Tonho pula sobre Paco. Os dois
lutam com violência. Tonho leva vantagem e tira a gaita de Paco”.
Diante de ameaças de ambos os lados, a gaita é devolvida e se estabelece uma “trégua
tensa”. Mas logo em seguida um novo ponto de conflito surge:
Tonho: Então, toma. (Tonho joga a gaita na cama de Paco.) Se tocar, já sabe. Pego outra vez e quebro.
(Paco limpa a gaita e guarda. Olha o sapato, limpa com a manga do paletó.)
Paco: Você arranhou meu sapato. (Molha o dedo na boca e passa no sapato.) Meu pisante é legal para
chuchu. (Examina o sapato.) Você não acha bacana?
A oposição entre o sapato novo de Paco e o sapato velho de Tonho surge nesse exato
momento e se torna o centro da discussão, sendo responsável por alternar a posição de
superioridade dos personagens. Se em seguida Paco fica descontrolado ao ser acusado de
ladrão e de ter roubado o sapato, depois é Tonho quem perde o controle ao ser humilhado e
gozado por Paco pelo seu calçado velho. Muito nervoso, Tonho bate violentamente em Paco
até ele desmaiar, acordando logo depois.
O equilíbrio se instala novamente. Embora a superioridade física de Tonho tenha
ficado evidente, o personagem também demonstra maior carência, falando de sua vida (“fiz
até o ginásio”), das dificuldades que enfrentou vindo do interior (“não conhecia ninguém
nessa terra, foi difícil me virar”), e já colocando a culpa no sapato pelo seu fracasso (ele não
teria passado numa entrevista de emprego por ter ficado nervoso pelo seu sapato ser velho). O
317
O cinema italiano logo adaptou os contos de Moravia, incluindo O terror de Roma, na comédia Racconti
romani (dir. Gianni Franciolini, 1955) que tinha no elenco Totò e Vittorio De Sica. Fazendo uma adaptação
crítica, Jean-Luc Godard levou as telas um romance do escritor italiano em O desprezo (Le Mépris, França,
1963).
207
drama que vai se desenvolver já encontra expressão verbal nos primeiros desabafos de Tonho:
“Sabe, às vezes penso que, se o seu sapato fosse meu, eu já tinha me livrado dessa vida”.
Já Paco, que não fala de sua vida pessoal e não demonstra se sensibilizar com o drama
do companheiro de quarto, também expressa verbalmente sua “filosofia”, que é a que rege
aquele mundo: “Quem tem amigo é puta de zona”.
Simetricamente, o primeiro quadro termina como começou, com ambos deitados na
cama e Paco tocando sua gaita.
No início do segundo quadro, já surge um novo dado que vai novamente movimentar a
peça. Paco afirma para Tonho que tem um recado para ele do “Negrão” do mercado. Segundo
Paco, por ter descarregado um caminhão que era dele, o Negrão “mandou avisar que vai te dar
tanta porrada, que e até capaz de te apagar”.
Acuado pelo temor do Negrão, novamente Tonho lamenta pela sua vida, falando de
sua família e de sua vida. Novamente também o tema do sapato vem à tona, com o
personagem pedindo o calçado de Paco emprestado para mudar sua situação. Negando-se a
emprestar o sapato, Paco ainda utiliza a ameaça do Negrão para se promover, seja para
afirmar ser bem relacionado – “[O Negrão] falou que eu era um cara legal” –, seja para dizer
que agiria de outra forma naquela situação – “Comigo é assim. Pode ser quem for; folgou,
dou pau”.
318
Ao mesmo tempo em que Paco espizinha Tonho, apontando suas difíceis alternativas –
ou briga e mata o Negrão ou volta para casa –, todas recusadas por ele, o personagem também
parece já compreender perfeitamente o caráter do colega, definindo-o de forma cristalina:
“Você é muito escamoso. Tem medo de pedir emprego por causa do sapato. Tem medo de
encarar o Negrão. Desse jeito só pode tubular”.
O segundo quadro termina justamente com um alerta aterrorizante de Paco para
Tonho, que lembra a própria peça Barrela: “Se pensa que vai engrupir o Negrão, está
enganado. O Negrão é vivo paca. Ele vai te enrabar”.
Se o segundo quadro terminava com a previsão sinistra de Paco e o medo de Tonho, o
terceiro começa com Tonho por baixo e Paco chamando-o de “Trouxa” por ter “batido um
papo” com o Negrão e resolvido a situação lhe dando o dinheiro do caminhão da noite
anterior. O episódio fez com que Tonho passasse a ser chamado no mercado de “boneca do
318
Da mesma forma que Veludo, as qualidades que Paco se atribui são quase sempre desmentidas pela própria
narrativa.
208
Negrão” e dava a Paco segurança para se impor sobre Tonho, que mesmo mais forte
fisicamente, agora recua diante dele:
Tonho: Boneca do Negrão é a mãe!
Paco: (Avançando) A mãe de quem?
Tonho: Sei lá! A mãe de quem falou.
Paco: Veja lá, Boneca do Negrão! Não folga comigo, não. Já tenho bronca sua porque inveja meu
sapato. Se me enche o saco, te dou umas porradas. Depois não adianta contar pro teu macho, que eu não
tenho medo de Negrão nenhum.
Novamente, um outro elemento entra em cena para movimentar a his tória. Tonho
mostra para Paco um revólver que o chofer do mercado lhe deu para vender. Novamente se
estabelece uma trégua tensa. Tonho recusa as alternativas que lhe restam (brigar com o
Negrão para recupera a moral ou voltar para casa, onde não há empregos), e confirma que
inveja o sapato de Paco. Um momento de tensão ameaça se instalar quando Tonho sugere a
intenção de roubar o calçado de Paco com o revólver, mas é logo desfeito quando ele diz que
a arma está descarregada. Paco não deixa por menos, e afirma que armado com seu alicate ele
não ia ter facilidade – “sem arma, ninguém bota a mão no meu sapato”.
Trata-se de uma marcante característica dos textos de Plínio Marcos, também presente
em Dois perdidos numa noite suja, as previsões que sempre se confirmam. Em geral, suas
peças não são marcadas por grandes surpresas no desfecho, mas simplesmente pela trágica
confirmação e realização das idéias mais cruéis já sugeridas ao longo delas: a curra em
Barrela, o enfrentamento e o roubo do sapato de Paco por To nho, o abandono de Neusa por
Vado.
Voltando a Dois perdidos numa noite suja, no momento de maior tranqüilidade,
quando Tonho chega a oferecer um cigarro ao colega, Paco, pela primeira vez, fala de quando
tocava flauta nos bares, levando uma “vida legal”, mas que mudou no dia em que ele
“apagou” na calçada e seu instrumento foi roubado. Ao contrário de Tonho, Paco não tem
lamentos e faz planos concretos para o futuro, com sua gaita – “quando aprender [ a tocar],
adeus mercado. Dou pinote. Me largo na vida de novo”.
Os dois personagens identificam um no outro necessidades semelhantes, mas o drama
de Tonho – e Paco lembra isso – é mais premente, com a ameaça do Negrão sempre presente.
O terceiro quadro novamente termina com Paco pintando um futuro negro para Tonho,
embora sinalize uma saída – o revólver:
209
Paco: Você é um trouxa. Não manja nada. Vai morrer sendo a Boneca do Negrão. Tem a faca e o queijo
na mão e não sabe cortar. Poxa, já vi muito cara louco, mas você é o rei. Quero que se dane.
No quarto quadro, Paco encontra Tonho no quarto, de onde ele não saiu o dia todo,
nem para ir ao mercado, nem para comer. Os dois discutem sobre os dramas pessoais de cada
um, tentando ver no outro alguém ainda mais infeliz do que si próprio. Entretanto, diante do
impasse, surge um novo elemento para movimentar a história. Tonho diz ter achado uma
solução para ele conseguir um par de sapatos e Paco uma flauta: assaltarem um casal de
namorados no parque. Paco se empolga com a idéia, mas quando diz “a gente limpa o sujeito,
espanta ele e passa a mulher na cara”, surge um outro “porém”. Tonho não admite agarrar
mulher à força, chamando Paco de “tarado”, enquanto é acusado por ele de ser “bicha”. Se
Tonho afirma que na sua terra sempre apanhou mulher, o jeito encabulado de Paco o leva a
descobrir um ponto fraco no companheiro de quarto: “Você é até cabaço.” O equilíbrio,
mesmo que tenso, mais uma vez se instaura, com dois pontos fracos expostos: Tonho diz que
Paco nunca teve mulher, enquanto Paco o xinga de Boneca do negrão, lembrando sua situação
complicada.
O quarto quadro novamente termina com Tonho acuado em sua situação:
Tonho: Pode deixar que eu cuido de mim.
Paco: Então cuida. Mas no mercado você não pode aparecer. (Ri.).
O quinto quadro começa com Paco recebendo Tonho no quarto, uma vez que ele mais
uma vez não apareceu no mercado. Tonho está ainda mais desesperado com sua situação e
Paco, entusiasmado com a idéia do assalto. Para convencer o parceiro, lembra a toda hora sua
situação afirmando repetidamente: “Sua saída é o assalto”.
Com Paco concordando em não fazer nada à mulher e obedecer todas as ordens de
Tonho, os dois finalmente partem para a ação. Os dois personagens saem juntos de cena pela
primeira vez, encerrando o quadro e o primeiro ato.
O segundo ato, formado apenas por um quadro, começa com os dois retornando ao
quarto após o assalto. Paco está entusiasmado, enquanto Tonho se mostra nervoso e discute
por ele ter dado uma “porrada” numa das vítimas. Paco não demonstra remorso e nem medo
das ameaça de cadeia sugerida por Tonho. Tomado pela empolgação, Paco começa a ter
delírios de grandeza, falando em se tornar um bandido famoso, ter uma gangue e andar com
uma faca, um alicate e um revólver:
210
Paco: [...] Limpo o cara, daí mando ele ficar nu na frente da mulher. Daí, digo pra ele: Que prefere,
miserável? Um tiro, uma facada ou um beliscão? O cara, tremendo de medo, escolhe o beliscão. Daí eu
pego o alicate e aperto o saco do bruto até ele se arrear. Paco Maluco, o Perigoso, fala macio pra
mulher: Agora nós, belezinha.
Os nervos à flor da pele levam ao quase derradeiro enfrentamento dos dois
personagens, num dos trechos maior tensão da peça:
Paco: Que é? Vai engrossar por quê? É bicha mesmo.
Tonho: É melhor você deixar de frescura comigo.
Paco: Quem tem frescura é você, que é bicha.
Tonho: (Avança para Paco.) Canalha!
Paco: (Pega o porrete.). Vem! Vem, viado!
Mas Tonho pára. Diante da loucura de Paco, ele não tem mais a mesma confiança para
enfrentá- lo fisicamente. Plínio Marcos mais uma vez promove uma mudança de ritmo e o
deslocamento de conflito na peça, quando os dois personagens passam, então, a tratar da
divisão dos frutos do roubo.
Neste momento, um novo e mais acentuado conflito vai se estabelecer. Dividindo tudo
meio a meio (metade do dinheiro para cada um, carteira para um, relógio para o outro etc.), na
hora em que Tonho pega o par de sapatos roubado para ele, Paco reclama. Se Tonho for ficar
com o sapato, todo o resto deve ficar com ele. Ou então, um pé do sapato para cada um.
Diante da intransigência de Paco e da vontade de resolver tudo logo, Tonho finalmente
concorda: “Está bem, Paco. Fique com tudo. Você me levou no bico, mas não faz mal”.
Tonho pega seus sapatos e já começa a arrumar sua mala para partir, diante do que
Paco se mostra dissimuladamente desolado (“Dorme aí hoje, já pagou o quarto mesmo”).
Entretanto, quando Tonho vai calçar os sapatos, percebe que ele é pequeno demais para o seu
pé. Paco “estoura de rir” com o drama de Tonho, feliz por ele não poder mais ir embora por
que, dessa maneira, eles terão que fazer outros assaltos juntos.
Tonho implora para Paco trocar de sapato com ele, uma vez que o calçado dele
serviria para seus pés, mas o companheiro se nega, pois se isso acontecesse, ele não teria
nenhuma evidência de ter participado do roubo.
319
319
Esse “álibi” justifica perfeitamente a recusa de Paco, que não precisa explicitar que não deseja se separar de
Tonho e nem passar por tão cruel e egoísta (“Paco: A gente troca o pisante, você se manda. Quando os tiras te
pegam, você sai bem, não tem nada com o assalto”).
211
Diante do desespero e do choro de Tonho, no mesmo sadismo que caracteriza o Vado
de Navalha na carne, Paco humilha ao máximo o colega, rindo e gozando de seu drama.
Depois do auge da humilhação e do desespero, assim como Neusa faz no final, Tonho se
recompõe, pára de chorar e ressurge das cinzas. Carregando o revólver de balas, ele inverte a
situação totalmente. Tonho não só toma tudo de Paco (seu par de sapatos e todo os objetos
roubados), como ainda o humilha, o obrigando a rebolar com os brincos roubados sob a mira
da arma.
A inversão entre os personagens é total, com Tonho assumindo as frases anteriormente
ditas por Paco:
Paco: Mas, poxa, Tonho... Nós sempre fomos amigos.
Tonho: Quem tem amigo é puta de zona.
Tonho não apenas se torna o que Paco era (individualista e egoísta), mas o que ele
também planejava ser (cruel e violento), fazendo a mesma ameaça que ele anunciara
anteriormente:
Tonho (Frio): Vou acabar com você. Mas te dou uma chance. Prefere um tiro nos cornos ou um
beliscão? Só que o beliscão vai ser no saco com o alicate. E enquanto eu aperto, você vai ter que tocar
gaita.
Tonho ainda cospe na cara de Paco antes de finalmente atirar em sua cara. A peça se
encerra com a transformação definitiva – a apropriação do nome, do instrumento, da atitude e
do caráter de um personagem pelo outro:
Tonho: Por que você não ri agora, paspalho? Por que não ri? Eu estou estourando de rir! (Toca a gaita e
dança). Até danço de alegria! Eu sou mau! Eu sou o Tonho Maluco, o Perigoso! Mau pacas!
(pega as bugingangas e sai dançando. Pano Fecha.).
Do quarto e do palco para as ruas escuras
Ao contrário de outras peças de Plínio Marcos, como Barrela, Navalha na carne ou
Oração para um pé-de-chinelo, nos quais a ação corre ininterruptamente numa mesma noite,
Dois perdidos numa noite suja é uma peça formada por quadros sucessivos – representando
noites seguidas – que no teatro tinham suas separações marcadas pelo apagar e acender da luz.
212
Nesta peça, talvez de maneira ainda mais intensa do que em outras do mesmo autor, a
ação é construída a partir de pequenos “entre-atos”. Do seu início ao desfecho, as principais
ações ou eventos que ocorrem com seus personagens (Tonho descarregando o caminhão do
Negrão, o encontro e o acordo entre os dois, o assalto aos namorados no parque), são apenas
mencionados, jamais vistos. Em seus seis quadros – cinco no primeiro ato e um no segundo –,
a peça mostra os dois personagens na véspera ou na ressaca desses fatos, angustiados ou
temerosos com sua futura concretização ou sofrendo suas conseqüências e danos.
Possivelmente, parte do impacto de Dois perdidos numa noite suja se deve por mostrar
justamente na privacidade do quarto, na escuridão dos momentos antes do sono, as angústias
mais íntimas de duas vidas miseráveis e seus dramas ainda mais miseráveis.
Mesmo que por motivos econômicos, o fato da peça ter um cenário único, com apenas
duas camas como objetos cênicos e somente dois personagens em cena, não privou o texto de
sua força, pelo contrário. O crítico Paulo Mendonça, quando assistiu à primeira montagem da
peça em 1966, se surpreendeu com um espetáculo “dos materialmente mais modestos que já
tenho visto e, intelectualmente, guardadas as proporções, dos mais estimulantes”. Dirigido e
co-protagonizado pelo próprio Plínio Marcos (como Paco), essa encenação extraía da pobreza
de recursos – condizente com o universo retratado – um vigor extraordinário que colocava o
texto e os atores em primeiro plano. Além disso, o diretor dessa montagem, Benjamim Cattan,
admitiu que sua direção “procurou ser a mais clara e objetiva possível”.
320
No filme Dois perdidos numa noite suja, Braz Chediak tentou utilizar uma estratégia
semelhante a que colocara em prática na adaptação cinematográfica de Navalha na carne. O
diretor procurou mais uma vez ilustrar “cinematograficamente” (isto é, principalmente através
de imagens e ruídos) o que era apenas sugerido no texto, e filmar de forma fluida (com
planos-seqüências e câmera na mão) os diálogos e as cenas da peça em si, sem muitas
modificações em relação à peça original.
A partir de Dois perdidos numa noite suja, Chediak tinha muito mais possibilidades de
explorar o que era apenas mencionado no texto do que em seu filme anterior. Em Navalha na
carne há referências dos três protagonistas apenas sobre outros seis personagens. Quatro deles
não ganham corpo (Mariazinha e “seu macho”, a “cadela do 102” e Dona Teresa, senhoria da
pensão), mas os outros dois (o “trouxa” do cliente de Neusa e o “rapaz do bar”) não apenas
são vistos, como suas presenças ocupam boa parte da introdução. As ações citadas no texto –
320
DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA, 1968, Teatro de Arena, São Paulo. Programa da peça.
213
o roubo do dinheiro, a compra da maconha, o programa de Neusa – também são plenamente
ilustradas pelo filme em sua primeira parte.
Em Dois perdidos numa noite suja, os personagens do Negrão (Paulo Sacramento),
Carocinho (Fernando José) e o casal de namorados (Vanda Trizkaya e J. Diniz), também
ganham rosto, assim como os acontecimentos relacionados a eles passam a fazer parte da ação
do filme. Além disso, Chediak não apenas acrescenta outras seqüências apenas mencionadas
no filme – como o teste do emprego de Tonho –, como cria outras.
Em Navalha na carne, Chediak conferiu ao texto de Plínio um novo ritmo, uma
cadência lenta que valorizava os tempos mortos. Não à toa, Kátia Carvalho da Silva (2001)
estabeleceu relações entre o filme e a estética decadentista, com seu clima de artificialidade
decadente, como uma estufa no qual o tempo aparentemente não passa.
Essa mesma mudança de ritmo tem outro efeito em Dois perdidos numa noite suja.
Nesta peça, em cada um dos quadros há o surgimento de um novo elemento, geralmente
resultando num ponto de conflito e no gancho para o quadro seguinte: no primeiro quadro, é a
gaita e o sapato de Paco; no segundo, a ameaça do Negrão; no terceiro, as conseqüências do
acordo de Tonho com o Negrão e o revólver; no quarto, a idéia do assalto e a discordância
sobre mulher; no quinto, a decisão de partirem para o crime; no sexto (segundo ato), as
conseqüências do roubo. Mas toda a peça, do primeiro ao último quadro, é atravessada pela
ladainha dos sapatos novos de Paco e dos sapatos velhos de Tonho. A inveja dos calçados e a
idéia de que eles possam significar uma saída surge no primeiro quadro, sendo retomada em
todos os quadros seguintes até o trágico desfecho no qual a troca finalmente se concretiza.
Chediak liga e “lineariza” a peça de Plínio Marcos. As elipses desaparecem e os
intervalos entre os quadros são ocupados pelas seqüências que na peça eram anunciadas
anteriormente e referenciadas posteriormente. Entretanto, esse “recheio” é filmado de forma
óbvia e acaba por tornar o filme redundante e repetitivo. Um texto que era ágil se torna
monótono.
Sendo uma peça menos visual e mais verbal do que Navalha na carne (cujo final é
uma ação silenciosa: o comer do sanduíche), a segunda adaptação cinematográfica de Plínio
Marcos, apesar de ter praticamente a mesma duração da primeira, parece significativamente
214
mais longa. A cadência lenta que se adaptou à Navalha na carne, peça significativamente
mais curta, em Dois perdidos numa noite suja não adquire a mesma coesão.
321
Contraditoriamente, apesar de criar mais seqüê ncias inexistentes no texto e sem
diálogos, o filme Dois perdidos numa noite suja foi criticado ainda mais incisivamente pelo
seu aspecto “teatral”, ao ponto do próprio texto ser criticado em função da adaptação
Sábato Magaldi afirmou que em Dois perdidos numa noite suja, Plínio Marcos se
valeu de sua primitiva experiência no circo, fazendo de Paco e Tonho quase uma dupla de
palhaços que apelam para “a técnica de puxar as falas, impedindo que a tensão caia”. Uma
estratégia semelhante também a dos desafios ou pelejas de repentistas que travam verdadeiras
“brigas poéticas” cuja arma é o verso rápido e vigoroso. Ou seja, o dramaturgo se revelou um
mestre na criação de diálogos ágeis, diretos e contundentes, com personagens sempre prontos
para atacar ou contra-atacar, num verdadeiro sobe e desce, uma constante aceleração e
desaceleração. Foi justamente a mudança de ritmo (do filme e dos diálogos) o principal
pecado de Braz Chediak ao levar a peça de Plínio para o cinema.
Do palco para as ruas
O filme de Chediak começa com cenas externas, filmadas à noite, com a voz de um
garoto que anuncia as manchetes de um jornal popular. Durante os créditos iniciais já se
desenvolve uma montagem paralela entre Tonho (Emiliano Queiroz) e Paco (Nelson Xavier).
Ambos vagam pelas ruas em meio à noite escura, mas em suas atitudes logo se percebe as
diferenças entre eles. Tonho, cabisbaixo, passa em frente a um restaurante iluminado e espia
timidamente pelo vidro, com inveja, os clientes no interior. Paco, mais boêmio e atrevido,
chega a um bar onde dois homens cantam numa mesa e logo se junta a eles, sentando-se à
mesa.
322
Paco trabalha à noite num armazé m onde vários homens descarregam caixotes de
frutas de diversos caminhões. Tonho, de dia e vestindo terno e gravata, está numa sala onde
diversas pessoas batem à máquina sob o olhar de um supervisor no que parece ser um teste de
321
Na edição da coleção Melhor Teatro (2003), a peça Dois perdidos numa noite suja ocupa 73 páginas,
enquanto Navalha na carne, somente 34 páginas. O filme Dois perdidos numa noite suja tem 93 minutos e A
navalha na carne, 90 minutos.
322
Assim como em A navalha na carne, as cenas externas foram filmadas nas imediações da Lapa, no Rio de
Janeiro.
215
emprego. O homem passa ao lado da mesa de Tonho que acha que está sendo observado,
demonstrando nervosismo e insegurança.
323
São então encadeados planos de detalhes dos pés de Tonho andando numa direção,
anúncios de jornal (com ofertas de emprego) e planos dos pés em outra direção. A cada
anúncio, os sapatos de Tonho ficam mais gastos e as ruas surgem mais sujas, enquanto os pés
dos outros pedestres (de chinelo ou sapatos furados) evidenciam a decadência depois de cada
entrevista de trabalho mal sucedida. Chediak encontra uma forma criativa e funcional de
demonstrar, sem música e sem diá logos, apenas visualmente e através de elipses (da mesma
forma que próprio texto de Plínio Marcos) a decadência de Tonho na cidade.
Já de mala na mão e com o sapato grosseiramente furado e remendado, Tonho chega a
uma espécie de vila de sobrados, onde procura uma senhora que aluga uma cama. A cena
ocorre durante um dia ensolarado e no lugar aparentemente tranqüilo, com vasos de plantas
nas varandas, crianças cantam e brincam enquanto senhoras penduram lençóis num varal.
É curioso que o lugar não traz nenhum signo de violência. Enquanto a pensão em que
se passava Navalha na carne era um cortiço lúgubre e tenebroso, perto do centro da cidade e
da zona de prostituição, o quarto de Tonho e Paco, mesmo que miserável, fica num lugar
aparentemente humilde, mas tranqüilo, onde parecem viver famílias pobres, mas sem sinais
mais evidentes de abatimento ou tristeza. Após essa cena ensolarada, o filme vai entrar no
regime noturno. A mesma vila vai mudar de figura, sendo retratado a partir de então como um
lugar escuro, deserto, cujas únicas vozes não são de crianças, mas latidos distantes de
cachorros. Entretanto, o silêncio não é acompanhado do tom decadente que tinha A navalha
na carne, mas sobretudo de um aspecto de solidão.
No tal quarto, no último andar do sobrado, Paco toca sua flauta e abre a porta para
Tonho e a senhoria. Ocorrem então diálogos ausentes da peça, quando Tonho cumprimenta
Paco e vai para sua cama. Se mostrando receptivo à companhia, Paco olha com curiosidade
para o novo inquilino, que observa um pouco assustado o lugar escuro, sujo e cheio de
“tranqueiras”. Após alguns momentos à sós. Paco pergunta: “Você vai ficar um dia ou mais?”,
no que Tonho responde: “Só até eu me arranjar”. Ele pergunta pelo nome do novo
companheiro (“Antônio”) e sem ser perguntado, já responde: “O meu é Paco”.
323
Chediak juntou diferentes informações da peça para criar essa cena. Tonho diz em certo momento “sei
escrever à máquina e tudo” e depois conta o caso da entrevista – “Outro dia, me apresentei para fazer um teste
num banco [...]. O sujeito que parecia ser o chefe bateu os olhos em mim, me mediu de cima a baixo. Quando
viu meu sapato, deu uma risadinha, me invocou. Fiquei nervoso paca. Se não fosse isso, claro que eu seria
aprovado” (MARCOS, 2003, p.74).
216
Paco continua observando o outro que desfaz sua mala e tira de dentro dela uma foto
de sua família. A câmera se aproxima dessa imagem até que o som de ruídos e vozes já
antecipe o corte para o mercado de frutas. Lá, Paco e, agora também Tonho, descarregam um
caminhão em meio a outros tantos trabalhadores andando em todas as direções como
formigas, num alvoroço visual (pessoas indo e vindo) e sonoro (vozes e ruídos misturados).
Esses primeiros nove minutos de Dois perdidos numa noite suja são muito eficientes e
promissores. Através de poucas seqüências, a trajetória decadente de Tonho é sumariamente
mostrada, assim como uma personalidade já notadamente diferenciada da de Paco. São
criações curiosas também a apresentação fria, mas cordial dos dois personagens e a satisfação
demonstrada por Paco em ganhar um colega de quarto, havendo inclusive a sugestão de que
foi ele quem arranjou o serviço de carregador para Tonho, ajudando-o em seu primeiro dia. 324
Desse modo, algumas características dos personagens também já são esboçadas, como
a solidão de Paco, feliz em ter uma companhia, ou a insegurança de Tonho, responsável por
seu fracasso e, provavelmente, por seu mau humor e agressividade.
Depois dessa pequena introdução, cuidadosamente elaborada, têm início o que seria a
“peça”, com os dois personagens no quarto após uma noite de trabalho. Tonho volta do
banho e sequer cumprimenta Paco, que ao ser completamente ignorado, segue tocando sua
gaita. Os dois brigam por causa dela e Paco, com sua voz aguda, revela um tom infantilizado,
quando diz repetidas vezes que não roubou o sapato, balançando a cabeça negativamente
como uma criança contrariada.
Esse aspecto maroto é reforçado na adaptação cinematográfica. Na peça, após levar
uma surra, Paco desmaiava e só era acordado quando Tonho jogava um copo d’água em seu
rosto. Já no filme, Tonho também se preocupa pelo companheiro estar desacordado
(“Desgraçado. Será que morreu?”), mas quando estrategicamente fala em voz alta “Se morreu,
melhor. Jogo a gaita na privada e puxo a descarga!”, Paco se levanta rapidamente, mostrando
que apenas fingia ter desmaiado.
O desmaio não teria muito sentido mesmo no filme, uma vez que os “socos violentos”
de Tonho não são muito “reais” e a briga inicial entre os dois não apresenta muita
verossimilhança. Ao contrário das cenas de violência de A navalha na carne, pontuado por
longos planos que proporcionavam liberdade de improviso aos atores na busca de maior
324
No mercado, é Paco quem avisa Tonho da chegada de um caminhão para ser descarregado.
217
realismo, em Dois perdidos numa noite suja, na seqüência do primeiro enfrentamento entre
Tonho e Paco há inclusive um corte do plano interrompendo a briga.
Do mesmo modo que no filme anterior, Chediak novamente busca uma sintonia da
posição dos atores e da câmera com o texto. Depois de ser esbofeteado por Tonho, Paco
senta-se no chão, encostado na parede. Tonho se abaixa para conversar, como que se
rebaixando a ele depois de ter se mostrado superior fisicamente. Depois, quando começa a se
lamentar, acaba se sentando também, enquanto Paco já se levanta.
O que seria o “primeiro quadro” da peça termina com um close-up do rosto
preocupado de Tonho, com os sons do mercado novamente antecipando o plano seguinte.
Entre o que se constituía na peça como o primeiro e o segundo quadro, há uma curta
seqüência ilustrando o que viria a ser referido depois. No mercado, um motorista chama numa
roda por pessoas para descarregar um caminhão e todos se recusam. Mas Tonho, sozinho ao
lado, aceita o serviço. Um homem que passa por lá – o Carocinho (Fernando José) – vê a cena
e vai relatar a um negro alto e forte, com um touca na cabeça – o Negrão (Paulo Sacramento)
– que jogava cartas ali perto.
Na seqüência seguinte, Paco encontra o companheiro se lavando na pia do pátio do
cortiço e o observa sem falar nada. Tonho, com seu mal- humor, pergunta: “Tá me invocando
por quê?”. Paco fala do recado que o Negrão lhe mandou, enquanto Tonho se veste e o
silêncio só é quebrado pelas vozes dos dois e pelo som ininterrupto de gotas pingando.
325
Logo depois de Paco ter contado da ameaça do Negrão, Tonho, surpreso e preocupado,
vai até o quarto acompanhado do companheiro para ouvir o resto da história. Começa aí a
primeira das inúmeras interrupções desnecessárias de Dois perdidos numa noite suja. A
pausa realmente indicada no texto da peça é alongada, mostrando os dois personagens
subindo a escada e atravessando o corredor em toda sua extensão. A montagem de Raimundo
Higino a partir daí vai ser revelar cada vez mais equivocada e desequilibrada.
326
No quarto, a conversa é retomada e novamente interrompida quando Tonho se coloca
a escrever uma carta para a família da qual se pode ler o cabeçalho: “Rio, junho de 1970.
Querida mamãe”.
325
No início do segundo quadro da peça, Paco parava de tocar gaita quando Tonho entrava no quarto. Chediak,
ao mudar de cenário, efetivamente elimina as primeiras falas desse quadro que se tornava incoerente.
326
Neste momento, por exemplo, é questionável o insistente apelo a longos planos seqüência e é possível pensar
por que Chediak não usou um simples corte para abreviar o deslocamento do personagem como o cinema
clássico já fazia pelo menos desde Griffith. A extensão desse plano, em Dois perdidos numa noite suja, não
provoca nenhum efeito que não o de uma aparentemente indesejada monotonia com a constante quebra de ritmo
no meio de uma seqüência de diálogos.
218
Enquanto Paco volta a apontar a falta de saídas de Tonho frente ao Negrão, Chediak
busca denotar significação aos objetos cênicos. Quando Paco diz “Você nunca vai ser
ninguém” em meio aos lamentos de Tonho, ele pega sua mala e se senta lentamente sobre um
vaso sanitário quebrado largado no canto do quarto. Observado por Paco, Tonho volta a
culpar seus sapatos velhos, responsabilizando-os por sua vida de azar e sem querer admitir seu
fracasso, encontra nele um “bode expiatório”. A câmera se afasta, enquadrando o personagem
de Emiliano Queiroz no canto do quarto e do quadro, sozinho, sentado no vaso.
327
Paco volta para sua cama e começa a engraxar seus sapatos novos e Tonho, em
segundo plano, se aproxima dizendo “Você podia me ajudar”, pedindo novamente para ele
emprestar seus sapatos. Paco mais uma vez recusa, voltando a lembrá- lo do Negrão. Dando
um chutinho sacana na bunda de Tonho, Paco fecha o “segundo quadro” o gozando pela sua
difícil situação no mercado.
Novamente o que seria o segundo quadro da peça termina com um close-up do rosto
preocupado e tenso de Tonho, com os sons do mercado novamente antecipando um novo e
breve “intervalo”. Em meio aos caminhões, Negrão procura por Tonho que está numa roda e
os dois saem para um canto para conversar.
No plano seguinte, Tonho está um bar jantando sopa quando Paco entra e o vê. 328 Com
seu jeito abusado e folgado, Paco já vai se sentando ao lado de Tonho, pegando um pedaço de
seu pão, molhando em sua sopa e começando a falar que o Negrão espalhou para todo mundo
que ele lhe dera o dinheiro do caminhão.
329
A cada revelação de Paco, Tonho muda de lugar levando seu prato, mas o
companheiro vai atrás, acompanhando-o de mesa em mesa até o fundo do bar. Tonho tenta
tola e inutilmente fugir de Paco e da verdade que ele teima em jogar na sua cara.
Mais uma vez as pausas entre as falas são estendidas para que os personagens mudem
de cenário. Nessa cena, os dois saem do bar e voltam a dialogar somente quando já estão
andando na rua. Apesar de esses intervalos prejudicarem o ritmo dos diálogos, os diferentes
cenários são explorados eficientemente. Na rua deserta, as luzes dos postes são utilizadas de
forma dramática, mostrando um grande entrosamento na marcação dos atores, uma vez que
327
Braz Chediak disse numa entrevista que esse era seu plano preferido no filme.
Uma música do rádio toca um forró fundo, e na parede do bar vemos em destaque a bandeira do Brasil.
329
A personalidade despachada e despreocupada de Paco fica clara quando o dono do bar se aproxima da mesa e
pergunta se ele vai querer algo. Diante da negativa, ele resumunga “Não tem grana, né?”, mas Paco ignora
completamente seu desprezo.
328
219
Paco e Tonho param nos focos de luz exatamente nos momentos de aumento de tom
dramático.
Enquanto Paco o espezinha, Tonho diz que tem algo escondido e ele, assim como fez
no restaurante, continua seguindo o companheiro pela rua, mas dessa vez movido pela
curiosidade e repetindo: “O que que é? O que que é?”. Enquanto andam até o pátio do cortiço,
o assunto volta ao Negrão e aos sapatos. Novamente, Chediak ilustra visualmente o
antagonismo entre os dois, quando Paco tira a camisa para se lavar e Paco apenas tira os
sapatos para limpar os pés. Numa cena inexistente na peça, Tonho admite que inveja os
calçados do companheiro e chega a pedir para vê- los – “Bacana, mesmo”, diz. Ele o mede
com seus pés e quando faz menção de prová- los, é interrompido por Paco (“É meu!”), que os
pega de volta. Tonho se ofende com a insinuação (“É, eu sei, né?”) e volta para o quarto,
enquanto Paco o segue logo depois.
Chediak, obedecendo a uma pausa indicada na peça, justifica o tempo de Paco retornar
ao quarto, tomando cuidado para não sujar os pés descalços enquanto leva os sapatos na mão.
Os diálogos são novamente retomados, com Tonho abrindo um embrulho que revela ser um
revólver. Paco se assusta tanto que chega a se esconder atrás do varal improvisado ao lado da
cama e em seguida e pela primeira vez, levanta sua voz, fazendo-a mais grossa. Depois de
estabelecida uma nova “trégua tensa”, Tonho puxa conversa e Paco, enquanto varre o chão
(infantilmente jogando a sujeira para o lado da cama do companheiro), começa a falar de sua
vida e a câmera aos poucos se aproxima dele.
Em seguida, quando a situação parece se apaziguar, o filme de Chediak continua
recusando o plano e contra-plano, preferindo optar por um plano mais aberto, enquadrando os
dois personagens na cama, lado a lado, demonstrando visualmente o equilíbrio que se
estabelece nesse momento.
Quanto Tonho volta a tocar no assunto dos sapatos, Paco se irrita e apaga a lâmpada
para dormir e acende o lampião. Tonho ainda puxa conversa e o plano termina novamente
com a câmera enquadrando o rosto de Tonho, com Paco ao fundo deitado.
330
No que na peça seria o intervalo entre o terceiro e o quarto quadro, quando,
efetivamente não acontece nada – Paco teria ido para o mercado e Tonho ficado o dia inteiro
no quarto – Chediak coloca outras seqüências visuais, com apelos simbólicos mas que
constituem-se como as mais redundantes do filme. Insistindo em ilustrar visualmente o que
330
Nesses planos ficam visíveis as deficiências de iluminação com o apagar da luz durante o plano-seqüência e a
exposição acaba sendo corrigida tardiamente com uma aparente, brusca e “anti-natural” correção do diafragma.
220
antes eram elipses, a adaptação de Dois perdidos numa noite suja em dado momento começa
a se tornar excessivamente repetitiva, ao reforçar visualmente fatos ou aspectos dos
personagens cujos diálogos – já bastante diretos e claros – posteriormente se referem.
Tonho novamente ganha as ruas desertas onde caminha solitário: passa em frente a
uma loja de sapatos, admirando a vitrine iluminada; se aproxima de um velho que coloca
gatos num saco, aparentemente com a intenção de mostrar a arma para vender, mas se afasta
ao ver um casal se aproximar. Enquanto isso, em montagem paralela, Paco vê Carocinho e
Negrão jogando cartas num bar.
O encontro entre os dois personagem no início do quarto quadro novamente é
transferido para as ruas, quando Paco vê Tonho sentado numas escadas, que diz: “não sai de
casa o dia todo, só agora”. Os dois discutem sobre o Negrão e sobre a idéia do assalto, mas
depois de novamente discordarem sobre o que fazer com a mulher que for assaltada, Tonho
desiste de conversar e volta para o quarto.
Depois de mais uma pausa longa – existente no texto, mas estendida no filme –, Paco
chega ao quarto onde Tonho já está deitado. Paco, então, retoma a idéia do assalto, mas
Tonho se recusa por considerá- lo um tarado por querer fazer mal à moça. “Isso é desculpa”,
Paco diz, enquanto pega uma revista masculina com fotos de mulheres nuas, como que
querendo exibir dessa forma sua virilidade. Percebendo isso, Tonho diz: “Você é até cabaço”
e a câmera se aproxima rapidamente do rosto de Paco, bastante nervoso, e o texto de Plínio
Marcos ganha força e impacto através da linguagem cinematográfica. O xingamento de “filho
da mãe” choroso de Paco reforça a impressão de que seu ponto fraco foi atingido. Tonho
ainda goza novamente Paco: “Cabaçinho, fiu, fiu”, num acréscimo bem oportuno do filme aos
diálogos de Plínio Marcos.
Durante uma nova pausa das falas, esta muito bem acentuada por Chediak, os dois
personagens ficam de costas um para o outro: Paco admira e toca as fotos de mulher pelada
coladas na parede em frente a sua cama e Tonho olha e limpa a foto de sua família. Paco
ainda tenta voltar à idéia do assalto, mas como Tonho não quer papo, ele pega uma revista de
mulher pelada e se encaminha para a porta, fechando o quarto quadro. É bastante curioso que
a discreta sugestão que ele está indo para o banheiro se masturbar evidencia novamente uma
tentativa de auto-afimação de Paco em relação a sua sexualidade.
Novamente, entram planos “recheando” o intervalo entre o quarto e o quinto quadro.
Ficando cada vez mais longas, essas seqüências “intermediárias” já se revelam totalmente
prejudiciais ao andamento do filme.
221
Mais uma vez os personagens são retratados em montagens paralelas. Tonho caminha
desanimado e cabisbaixo pela rodoviária, passando em frente ao guichê de passagens. Paco
acorda de madrugada para ir ao mercado e sai do quarto, passando pela cama vazia e pela
mala fechada e pronta do companheiro. Mas Tonho está num local onde várias pessoas rezam
em frente a um altar com centenas de velas. Sem ter mais ninguém a quem recorrer, Tonho
faz o sinal da cruz. No mercado, o Negrão e Carocinho conversam.
Mais uma vez o encontro entre Tonho e Paco ocorre na rua, com o segundo esperando
pelo primeiro na escada do pátio, numa completa inversão da seqüência anterior. Os diálogos
do quinto quadro começam ali mesmo, mas são interrompidos quando os dois voltam para
dentro. No quarto, decidem finalmente partir para o assalto. Paco pega logo um porrete, mas
Tonho ainda hesita ao segurar a foto da família, enquanto o companheiro diz: “Larga essa
família e vamos logo!”. A câmera, sem cortar, depois dos personagens saírem, dá um close-up
na foto, sobretudo na imagem de Tonho, como que simbolizando um passado que vai ficando
definitivamente para trás.
Chediak, obviamente, não perde a oportunidade de registrar o assalto e mostra Paco e
Tonho chegando ao parque e esperando o melhor momento para escolher e atacar as vítimas.
Tonho se aproxima de um casal de namorados num banco de praça e anuncia: “É um assalto”.
A agitação e o nervosismo são expressos por uma trêmula câmera na mão e por um alvoroço
de vozes exaltadas.
O homem passa todos os objetos que Paco pede e Tonho vai guardando em seus
bolsos. Bastante nervoso, Tonho só quer saber dos sapatos e mal se controla ao mandar
repetidas vezes a vítima passar também os sapatos. Conseguindo o que queria, Tonho diz
“vamos embora, Paco, que eu já tenho os meus sapatos”, mas o companheiro decide atacar
também a mulher, tentando arrancar suas jóias, mas aproveitando para abraçá-la e apertar seu
seio. O homem esboça uma reação de defender a moça desesperada, mas Paco imediatamente
o acerta com o porrete em sua cabeça, no que ele cai no chão, trêmulo e depois imóvel e,
aparentemente, morto. Tonho sai correndo, seguido por Paco, enquanto a mulher continua
gritando e a câmera mostrando a vítima deitada no chão.
No plano seguinte, Tonho e Paco atravessam o pátio silencioso em meio aos latidos
dos cachorros que atraem a atenção da senhoria, que olha desconfiada para os inquilinos.
Os dois entram no quarto nervosos, dando início ao segundo ato da peça. Inicialmente,
Paco fica acuado (e visual e literalmente contra a parede) com a ameaça de ser preso que
Tonho, apavorado, joga sobre ele. Mas Paco, mesmo acuado, começa a levantar a voz,
222
respondendo de igual para igual ao afirmar que Tonho era o chefe. Tonho vai se desesperando
e fica chocado quando Paco diz que deseja mesmo que o cara que acertou morra. “Você é um
animal”, diz Tonho. “Vai a merda”, responde Paco, enquanto o colega começa a arrumar suas
malas.
Essa mudança de Paco, filmada num plano-seqüência, sem grandes movimentos, é,
pela força do texto do Plínio (sem interrupções ou acréscimos) e pela interpretação dos atores
dirigidos por Chediak, um dos momentos em que o filme começa a ganhar realmente vigor e
impacto. O próprio Paco anuncia essa sua mudança (“você vai ver, você não me conhece”), se
levantando e mostrando seu novo lado antes desconhecido. Delirando em seus planos, mostrase mais violento, batendo com o porrete na cama. Quando Tonho o chama de Maluco, pula
para cima da cama, gritando com uma voz mais grave do que a normal, como que anunciando
seu batismo: “Boa! Paco Maluco, o Perigoso”. Cada vez mais agressivo, Paco diz que vai
formar um gangue e se tornar um bandido perigoso. Quando Tonho ameaça enfrentá- lo,
chamando-o de canalha e partindo em sua direção, ele, de pé na cama, com a arma em punho
e o braço erguido, o desafia com um berro: “Vem viado, vem!”. Mas Tonho decide acalmar os
nervos e dividir a “muamba”. Paco desce da cama e os dois voltam a estar no mesmo “nível”,
embora Paco já tenha assumido uma nova postura com a voz mais grave, rosto fechado e
atitudes mais desafiadoras.
331
Na cama, ao lado dos objetos roubados (carteira, caneta, sapato, dinheiro, colar,
brinco, cinto), permanece a foto da família de Tonho, como que a lembrar permanentemente
do passado com o qual o personagem está rompendo definitivamente.
Depois das discussões sobre a divisão, Tonho aceita ficar só com o sapato e se prepara
para partir. Paco se mostra verdadeiramente triste e melancólico, enquanto Tonho aproveita
seu momento, limpando cuidadosamente os sapatos novos e lavando os pés enquanto se
despede. Entretanto, quando vai finalmente calçá-los, vê que eles são muito pequenos para
seus pés. Tonho tenta de todas as maneiras enfiar os sapatos, mas seus pés não entram e o
filme mostra alongadamente seus esforços enquanto rola pelo chão, tentando inutilmente
calçar um pé e depois o outro.
Observando a cena, Paco estoura de rir quando Tonho diz que não vai mais embora.
No filme, as risadas parecem menos para humilhar Tonho e mais por felicidade por ele não
331
O impacto desse momento no filme também se deve ao fato de que em nenhuma outra cena anterior, Paco, na
interpretação de Nelson Xavier, tinha manifestado qualquer expressão de força ou violência, mesmo em diálogos
que sugeririam isso no primeiro ato.
223
mais partir. To nho chega a implorar choramingando para Paco trocar de sapatos, mas ele não
aceita. No plano-seqüência a câmera se posiciona do alto, em plongê, para mostrar o nível
mais baixo a que o personagem chega, de joelhos, em frente a Paco, de pé.
Tonho chora desesperadamente abaixado no chão, implorando para Paco parar de
humilhá- lo. Ainda assim, ele encara a desgraça do amigo com muito menos agressividade do
que o texto apontava. Na verdade, Paco demonstra até com certa doçura e ternura na fala
“Pára de chorar” e “não adianta chorar”, ou mesmo apreensão e preocupação quando diz:
“Você vai se matar?”.
Mas Tonho finalmente pára de chorar e se recompõe com aguda seriedade. Põe balas
no revólver e aponta a arma para um agora assustado Paco. Tonho, então, repete a humilhação
a que fora submetido, obrigando o companheiro a dançar e rebolar usando os brincos
roubados. Paco chora compulsivamente, mas Tonho grita exaltado: “Ri, Bicha Louca! Ri!”. O
momento de maior crueldade e de agressividade mais intensa e explícita do filme acaba
prejudicado por uma decupagem equivocada e pela interpretação dos atores, especialmente
Nelson Xavier, que, nesse momento, não alcança a seriedade exigida pela cena, beirando
inadvertidamente o caricatural no close-up de seu rosto. O crítico Nelson Hoineff, por
exemplo, reprovou uma caracterização excessivamente estereotipada de ambos os atores,
“que, diante da câmera como na boca da cena, nada podem fazer”.
332
A crítica Ida Laura,
questionando uma opção de Nelson Xavier por uma “chave cômica inexplicável”, afirmou
que “quando Paco é baleado, o filme chega a ficar ridículo”.
333
Entretanto, mesmo se aproximando do ridículo (ou do grotesco), pelo menos a banda
sonora do filme consegue provocar uma incrível sensação de incômodo e desespero através
dos gritos enlouquecidos de Tonho e do choro desesperado de Paco, que só é interrompido
com um tiro certeiro em sua testa, que o faz desabar fulminado e se esvaindo em sangue.
Tonho pega todos os objetos roubados e ajoelha-se imóvel ao lado do corpo para dizer suas
últimas linhas, com uma tristeza muito diferente do delírio na dança final da peça. A fala “Por
que você não ri agora?” é dita chorosamente como um verdadeiro lamento.
O último plano, no meio de uma rua movimentada, ao som de carros e iluminado por
faróis, mostra To nho, que de um caminhar lento passa a correr na direção da câmera.
332
HOINEFF, Nelson. Dois perdidos numa noite suja. O Jornal, Rio de Janeiro, 25 mar. 1971.
LAURA, Ida. O Estado de São Paulo, São Paulo, 20 mai. 1971. In: Guia de filmes. Rio de Janeiro: Instituto
Nacional do Cinema, n. 32, mar-abr. 1971.
333
224
Entretanto, a câmera (e nós) cada vez no afastamos mais dele, que insiste em sua inútil
perseguição.
***
Como foi dito, o grande problema de Dois perdidos numa noite suja é a opção
equivocada por um ritmo lento, com uma estrutura em que os quadros da peça são permeados
de seqüências visuais redundantes, resultando num ritmo claudicante. A segunda adaptação de
Plínio Marcos dirigida por Chediak não alcançou uma cadência lenta e adequada ao texto
como em A navalha na carne, e nem encontrou uma narrativa cinematográfica equivalente
aos ciclos de ação, às acelerações e desacelerações da peça adaptada.
Por outro lado, é perceptível uma tentativa de maior invenção do diretor neste filme,
caracterizado por uma elaborada marcação dos atores em relação à câmera, pela tentativa de
um uso expressivo do som, além de uma busca da sintonia da movimentação e do
enquadramento da câmera com o texto. Nas “tréguas” entre Tonho e Paco (os momentos em
que se planta a amizade), a câmera permanece mais estática, buscando um quadro mais
simétrico. Quando os dois personagens entram em conflito, a câmera se movimenta mais,
enquadrando os atores em planos próximos, ou minimizando-os em relação ao cenário. Esse
aspecto foi reconhecido e elogiado pelo pesquisador Reinaldo Cardenuto, para quem os
protagonistas “parecem pólos de uma balança na qual o peso tende ora para um lado e ora
para outro. O diálogo expressivo e áspero é quem comanda o desequilíbrio. Tal construção
fílmica fica evidente logo na primeira discussão entre Tonho e Paco, quando ambos estão em
suas camas, com os espaços da direita e da esquerda preenchidos e do centro esvaziado”.
334
Além dessa decupagem mais sofisticada nas cenas dentro do quarto miserável, o filme
explora novos ambientes inexistentes no texto original em busca também da sintonia entre o
estado de espírito dos personagens e as ruas desertas, vazias e escuras.
Sendo o tema principal dessa e de muitas outras peças de Plínio Marcos a solidão,
existe, obviamente, um subtexto homossexual em Dois perdidos numa noite suja. Como diz
Reinaldo Cardenuto, "o órfão mantém-se próximo do imigrante” e sendo ambos solitários, um
buscando uma socialização (pois não tem amigos) e o outro tentando preservar possíveis laços
simbólicos de parentesco (pois está distante da família), surge aí uma relação que é criada e
334
CARDENUTO FILHO, Reinaldo. Duas noites diferentes e iguais: Contextos e conflitos em diferentes
adaptações cinematográficas de “Dois perdidos numa noite suja”. Sombras elétricas, n.2, 2002. Disponível em:
<http://geocities.yahoo.com.br/sombraseletricas/2olhivre5.htm>. Acesso em: 20 mar. 2005.
225
destruída mútua e simultaneamente. Entretanto, é interessante como o filme de Chediak de
certa maneira reforça o sentimento escondido por baixo da dureza de Paco e Tonho,
principalmente na oposição que se estabelece entre os dois personagens.
Ainda que a interpretação de Nelson Xavier com seu jeito de andar próximo do de um
palhaço, sempre com as mãos no bolso, balançando de um lado para o outro e com os pés
grandes (pelos sapatos folgados), se aproxime do tom circense do personagem (que foi
interpretado pela primeira vez por um Plínio Marcos que aproveitava sua gagueira natural), há
outros elementos em sua composição. Mesmo bon-vivant, despachado e com pretensões
artísticas, Paco sofre com a solidão, mostrando-se extremamente carente e necessitado de
companhia. Por outro lado, Tonho é o macho frustrado por não vencer na vida, por não
conseguir prover o sustento almejado (no mercado só consegue dinheiro para pagar cama e
comer). Ao mesmo tempo é o personagem mais viril, fisicamente mais forte e corpulento, que
volta e meia se exibe sem camisa enquanto se lava. Mas se Tonho se afirma mais forte e
esperto, ele acaba realmente “tubulando” como já previa Paco.
335
Com Tonho sendo retratado como o “macho”, Paco ganha uma conotação mais
“feminina”, seja pela voz aguda e estridente, pela personalidade “marota” e “manhosa” ou por
sua comprovada pureza (é realmente “cabaço”). Nesse sentido também, no momento em que
Tonho descobre a virgindade do companheiro, este olha para as fotos de mulher nua com um
olhar mais de fragilidade do que de desejo. E no assalto, quando Paco ataca a mulher no
parque, sua violência tem menos um aspecto de desejo físico do que de auto-afirmação de
força e poder quando aperta o seio da vítima ou tenta tirar sua blusa sem a menor
sensualidade, mas em meios a risadas e gozações.
336
Os conflitos entre os dois personagens ao longo da peça se sustentam em grande parte
na tentativa de um se impor sobre outro através da afirmação da virilidade pessoal e no
descrédito na do próximo. Embora Tonho seja mais forte do que Paco (e se vanglorie disso),
ele é mais fraco que o Negrão, se tornando a “boneca do negrão” no mercado. Esse fato faz
com que a todo o momento Paco o chame de “bicha” por não querer enfrentar o Negrão, o que
ele diz que faria em seu lugar. A tentativa de um apontar a feminilidade do outro como um
335
É interessante como Tonho se lava o tempo todo ao longo do filme (diferentemente de Paco que num único
momento lava justamente os pés), como que querendo se manter limpo na noite suja. Essa mesma tentativa inútil
de escapar do próprio destino é explicitada por suas constantes “fugas”, se afastando de Paco no restaurante ou
nas ruas ou o ignorando no quarto. Entretanto, como a peça revela no final, por mais que ele tente, ele não
consegue escapar ou ficar imune à sujeira que envolve a todos naquele universo.
336
Enquanto Tonho possui um revólver – objeto fálico –, Paco arma -se com um alicate. Posteriormente, quando
assume uma postura mais agressiva, se armar de um igualmente fálico porrete.
226
ponto fraco fica clara, por exemplo, na divisão da “muamba” do assalto, quando um tenta
empurrar para o outro os objetos femininos. Paco chega a dividir todos os objetos exatamente
dessa forma: relógio, isqueiro e carteira para ele, pulseira, broche, anel e cinto para Tonho.
Mas antes disso ainda, quando chegavam ao parque em busca de vítimas
desprevenidas para o assalto, os dois marginais eram obrigados a disfarçar suas intenções
quando um outro casal se aproximava. Tonho e Paco fingem conversar, ficando um de frente
para o outro, com os corpos próximos um do outro. Nessa seqüência Chediak apela
discretamente para um velho artifício das comédias românticas, em que, por injunções da
trama, duas pessoas são obrigadas a fingirem ser um casal (às vezes sendo forçadas a se
beijarem ou se abraçarem), fazendo o que, na verdade, desejavam fazer, mas não o faziam.
337
Na seqüência final, essa relação afetuosa entre os dois é reforçada ainda mais
explicitamente. O tom que Nelson Xavier empresta às falas em que Paco observa Tonho
desesperado com seus sapatos roubados inutilmente retira muito da crueldade do texto
pliniano, acentuando um fiapo de compaixão que a peça apresentava de forma mais reduzida.
Essa mudança é ainda mais notável no personagem Tonho, interpretado por Emiliano
Queiroz. A “macheza” com que tratava Paco – próximo ao jeito de Vado com Neusa Sueli –
já ia se esfacelando ao longo do filme, com o personagem surgindo gradativamente com um
tom mais feminino e frágil, por exemplo, quando se surpreendia por Paco ter dito aos outros
carregadores do mercado não ter certeza que ele não era bicha. “Como você teve coragem de
falar uma coisa dessas?”, dizia um Tonho meio afetado. A própria escalação do ator Emiliano
Queiroz é sintomática, uma vez que ele tinha interpretado o Veludo em Navalha na carne (no
teatro e no cinema), justamente o personagem homossexual da peça de Plínio Marcos, além
de ter feito uma ponta como uma “bicha assumida” em As confissões de frei Abóbora e seus
amores, dirigido pelo mesmo diretor e lançado também em 1971.
Voltando ao desfecho de Dois perdidos numa noite suja, após Tonho finalmente atirar
e matar Paco encontramos a maior mudança de tom de todo o filme. Ao invés de gritos
delirantes e uma dança enlouquecida, Chediak coloca o personagem balbuciando palavras em
meio ao choro, ajoelhado ao lado do corpo de Paco, com um pesar e tristeza enorme por ter
matado o companheiro. Depois do tiro, a própria arma perde sua importância e a morte de
337
Há uma longa tradição de filmes que se sustentam sobre esse artifício, desde o jornalista ambicioso (Clark
Gable) e a herdeira fugitiva (Claudette Colbert) que são obrigados a passar por recém-casados em Aconteceu
naquela noite (It happened one night, EUA, dir. Frank Capra, 1932), até a prostituta (Julia Roberts) que é
contratada para fingir ser uma acompanhante de um executivo milionário (Richard Gere) em Uma linda mulher
(Pretty Woman, EUA, dir. Gary Marshal, 1990).
227
Paco é o único foco de atenção. A carreira desabalada de Tonho no final também sugere não
uma inversão total do personagem com a incorporação de uma personalidade cruel e
criminosa, mas talvez um desespero com o que acabara de fazer e do qual tenta inutilmente
escapar. Ou seja, o ponto talvez mais interessante do filme de Chediak é a substituição da
dança e das risadas delirantes de Tonho no desfecho da peça pela corrida e pelos gritos de dor
e desespero.
Atirando para os dois lados
É muito significativo desse quadro de transição e de incertezas na passagem dos anos
60 para os 70 que Braz Chediak tenha dirigido dois filmes exibidos em 1971, no ano seguinte
ao sucesso de A navalha na carne. Seis meses depois do lançamento de Dois perdidos numa
noite suja, chegou aos cinemas do Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1971, As confissões de
frei Abóbora e seus amores, produzido por Herbert Richers. 338
Roteirista e diretor do filme, Braz Chediak diferenciava claramente os dois projetos:
_Tanto Navalha quanto Dois perdidos são filmes de baixo custo. Apesar disso, alcançam excelente
desenvolvimento, em termos de conjunto. Acho que o público deve ser respeitado, quando se planeja
um filme.
_Frei Abóbora, ao contrário, é filme eminentemente comercial. Já custou, até agora, 500 mil. Até o
lançamento [...] deverá gastar mais 200 mil. 339
Grande produção a cores, com locações no Rio de Janeiro, São Paulo e em plena
Amazônia, no alto Xingu, As confissões de frei Abóbora e seus amores tinha no elenco o astro
Tarcísio Meira (protagonista de duas então recentes e bem-sucedidas novelas de Janete Clair,
Irmãos Coragem e O Homem Que Deve Morrer), além da estrela internacional Norma
338
O filme era inspirado no livro de José Mauro Vasconcelos, mesmo autor de Meu pé de laranja lima (1970),
cuja sensível adaptação para o cinema roteirizada por Chediak tinha sido um dos maiores sucessos do produtor
Herbert Richers. A história de tons autobiográficos do menino Zezé tinha conquistado tanto leitores quanto
espectadores de todo o Brasil. No mesmo ano Meu pé de laranja lima virou também novela, escrita por Ivani
Ribeiro e exibida na TV Tupi de 1970 a 1971 (novas versões seriam feitas em 1980-1981 e em 1998-1999,
ambas pela TV Bandeirantes). Herbert Richers – que tinha produzido também Rua descalça (1971, dir. J.B.
Tanko), outra adaptação de José Mauro Vasconcelos, mas destinada principalmente ao público infantil –
possivelmente pretendia tentar repetir parte do sucesso de Meu pé de laranja lima com As confissões de frei
Abóbora e seus amores adaptando novamente outra obra do mesmo escritor e com direção do roteirista e
assistente do filme anterior, embora mirando num público mais adulto.
339
“DOIS perdidos” só depende da censura. Correio da Manhã. Rio de Janeiro. 11 mar. 1971.
228
Bengell. Em depoimento aos jornais, Chediak salientava a diferença entre os dois filmes que
assinava:
Esta foi uma experiência inteiramente diferente. Mudei todo o livro. Ainda assim o trabalho resultou
num filme apenas comercial. Com o Plínio é diferente: eu acho que ele é o teatrólogo mais sério que nós
temos. 340
Tendo seu final picotado pela censura (tornando a história ainda mais confusa), antes
do lançamento do filme foi acrescentado ao título original (do romance e da adaptação) As
confissões de frei Abóbora, o complemento e seus amores, provavelmente como forma de
atrair o público – o que não funcionou tão bem.
341
Sem alcançar um resultado de bilheteria plenamente satisfatório para uma grande
produção (renda de Cr$ 817.407.69 e público de 398.715 espectadores)
342
, a crítica, de
maneira geral, considerou As confissões de frei Abóbora e seus amores um filme equivocado,
medíocre, enfadonho e descaracterizado. Luiz Alípio de Barros, por exemplo, o comparou
com outros filmes de Chediak:
É curioso. Frei Abóbora, cinematograficamente, tem maior ‘campo de ação’ do que poderia oferecer A
navalha na carne e Dois perdidos numa noite suja; no entanto, o moço Chediak, apesar das limitações,
sob o ponto de vista do cinema, dos dois textos teatrais de Marcos, saiu-se muito mais satisfatoriamente
nas películas anteriores. 343
Entretanto, nas bilheterias Dois perdidos numa noite suja tinha tido um resultado
ainda menos satisfatório do que As confissões de frei Abóbora e seus amores. Ou seja, após o
insucesso tanto do filme autoral sério e de baixo custo (produzido por Jece Valadão), quanto
da grande produção comercial sério-dramática (produzida por Herbert Richers), a carreira de
Chediak tomaria um novo rumo, menos “sério” e mais bem sucedido comercialmente. Se o
filme barato e sério lucrou menos do que o filme caro, sério e com elementos eróticos, por que
não investir num filme barato, nada sério e com um tom erótico ainda maior? Chediak não
completou a pretendida trilogia pliniana e a adaptação cinematográfica da peça Homens de
Papel jamais saiu do papel. Continuando disposto a investir num cinema de grande
340
Ibid.
Podemos resumir a história de As confissões de frei Abóbora e seus amores da seguinte maneira: Contagiado
por malária, Frei Abóbora (Tarcísio Meira) é encontrado à beira da morte junto aos índios do alto Xingu.
Enquanto se recupera da doença, ele rememora a própria vida: a relação conflituosa com uma mulher mais velha
e rica (Norma Bengell) que sustentava sua arte, entremeada por sua paixão pelos índios da Amazônia. Já
restabelecido, volta para a cidade para enfrentar seu passado.
342
BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. Instituto Nacional do Cinema. Setor do Ingresso Padronizado.
Informativo SIP, Rio de Janeiro, ano 3, 1973.
343
BARROS, Luiz Alípio. As confissões de Frei Abóbora. Última Hora, Rio de Janeiro, 8 out. 1971.
341
229
comunicação, ao longo da década de 70 o diretor mudou radicalmente o rumo de sua carreira.
Seu filme seguinte, Os mansos (1973), seria produzido pela Sincrofilmes de Pedro Carlos
Rovai, que se consagraria como um dos principais produtores de pornochanchadas.
Se a partir de 1971 Chediak seguiria um caminho que o afastaria da temática e da
linguagem de A navalha na carne ou Dois perdidos numa noite suja, naquele mesmo ano um
outro diretor seria obrigado a mudar de direção após adaptar uma obra de Plínio Marcos. O
motivo também seria de força maior, mas não exatamente por pressões de bilheteria ou do
mercado. Nenê Bandalho, dirigido por Emílio Fontana e baseado num conto de Plínio
Marcos, seria lançado comercialmente em 1971 e brutalmente interditado pela Censura
Federal no final desse mesmo ano. Assim como Plínio Marcos era cruelmente cerceado
profissionalmente, os filmes baseados em suas obras sofriam as mesmas limitações.
Nenê Bandalho é um filme marginalizado, surgido num momento em que a própria
produção que se tornou conhecida como Cinema Marginal saía de cena. Seus principais
expoentes, Rogério Sganzerla e Julio Bressane, já tinham deixado o país em 1970, “avisados”
pelo pai do segundo, um general do exército. A maior parte dos cineastas ditos marginais
acabou partindo para o exílio por volta de 1971, retornando em torno de 1972 e 1973.
“Exílio” não exatamente por uma expulsão oficial do país, mas como uma emigração forçada
devido à falta de condições para o desenvolvimento de um trabalho criativo no país (RAMOS,
F., 1987a, p.98). Entretanto, também não foi por falta de condições que Chediak não pôde
completar sua trilogia pliniana? Enquadrando o filme Nenê Bandalho dentro da trajetória das
adaptações da obra de Plínio Marcos no cinema brasileiro, tornam- se questionáveis as
classificações rígidas da historiografia clássica do cinema brasileiro que distanciariam a
adaptação de Emílio Fontana tanto dos filmes de Chediak, quanto também do filme seguinte a
se basear numa história de Plínio Marcos, A rainha diaba, filmado em 1974.
230
4. O MALDITO, O MARGINAL E O BANDIDO.
Cinema Marginal?
Cinema Marginal foi o termo consagrado para nomear um conjunto específico de
filmes brasileiros realizados no final dos anos 60 e início dos 70. Segundo Fernão Ramos
(1987a, passim), apesar da heterogeneidade das obras, das particularidades de cada cineasta,
da constante recusa de rótulos por muitos deles e da ausência de grupos autodefinidos,
manifestos ou coesão ao nível das idéias, estes filmes apresentariam uma coesão ao nível
estético que permitiria agrupá-los como “marginais”.
344
Nenê Bandalho (dir. Emílio Fontana, 1971), costuma ser freqüentemente alinhado
sem maiores discussões ao Cinema Marginal. Realizado no período mais fértil desse
“movimento” (1968-1971), algumas de suas características o filiariam realmente a uma
“estética marginal”, além da própria estrutura de produção similar a de outros filmes desse
grupo. Além disso, em reportagens e artigos de jornais ou mostras e festivais dedicadas ao
Cinema Marginal ao longo das décadas, Nenê Bandalho foi constantemente citado como um
“filme marginal”.
345
A discussão se Nenê Bandalho é ou não um filme marginal, além de improdutiva, é
uma questão repetitiva, pois Sérgio Villela já se fez essa mesma pergunta (e a respondeu) em
1977 – “Afinal de contas, Nenê Bandalho é ou não um filme marginal? Não. Não é marginal,
não é cinema novo, não é policial americano, não é etc. É um filme. Um filme de cinéfilo”.
Para Villela a questão se encerrava com uma citação do cineasta (considerado marginal) Luís
Rosemberg Filho: “o cinema marginal não existe, o que existe são alguns autores brasileiros
que procuram fazer um cinema político”.
344
346
Esses filmes também receberam ao longo dos anos diversas outras denominações, mais ou menos
apropriadas, como ciclo experimental do cinema brasileiro, cinema marginalizado, cinema independente, cinema
bandido, udigrúdi (Glauber Rocha) ou cinema de invenção (Jairo Ferreira).
345
Nenê Bandalho constou, por exemplo, do último grande evento retrospectivo dedicado a essa produção: a já
histórica mostra Cinema Marginal e suas fronteiras, nas filiais carioca e paulista do Centro Cultural Banco do
Brasil, em 2001.
346
VILELLA, Sérgio. Nenê Bandalho: realismo fantástico. Movimento, Rio de Janeiro, 21 mar. 1977.
231
O próprio diretor Emílio Fontana também refletiu em entrevista sobre o rótulo de
marginal que pairava sobre seu filme:
Talvez não me considere enquadrado dentro do cinema marginal como se costuma falar, no cinema
boca-de-lixo, não por uma questão de preconceito, mas por uma questão de realmente eu não ter
relacionamento nenhum com esse tipo de cinema que é feito ali. Ou que foi feito numa época, de uma
certa maneira. O meu filme pode ter a posição de marginal por ter assumido uma posição de rejeição às
características clássicas do cinema comercial. Então, naturalmente ele é marginalizado (FONTANA,
[1977], p.44).
Na entrevista realizada com o diretor na pesquisa deste trabalho, Emílio Fontana
contou que na época em que dirigiu Nenê Bandalho, seu “mundo era o teatro”. Apesar de ter
freqüentado a Boca do Lixo em São Paulo (em busca de informações, equipe técnica e apoio)
e visto na época os “clássicos marginais”, ele não manteve de fato relações com aquele grupo.
Mesmo o crítico Jairo Ferreira em seu livro Cinema de Invenção (1986), relato íntimo e
pessoal do cinema underground paulista de fins dos anos 60 e início dos 70, não faz
praticamente nenhuma referência ao filme Nenê Bandalho ou ao seu diretor.
347
Direcionando um olhar despido de concepções pré-determinadas sobre a adaptação de
Emílio Fontana do conto homônimo de Plínio Marcos, o filme pode revelar características
peculiares que desafiam tentativas de encaixá-lo em divisões ou categorias estanques. Assim
como A navalha na carne e Dois perdidos numa noite suja, Nenê Bandalho determina uma
reflexão sobre o cinema brasileiro do final dos anos 60 e início dos anos 70 mais sutil e
ponderada do que a historiografia clássica freqüentemente sugere.
348
Quem não é marginal?
347
Os cineastas paulistas que Fontana disse conhecer na época, como Luiz Sérgio Person, João Batista de
Andrade e Denoy de Oliveira (que àquela altura ainda não tinha dirigido nenhum longa-metragem) dificilmente
são rotulados também como “autênticos marginais”.
348
Além disso, igualmente importante é relativizar a rígida barreira entre o auto-intitulado cinema de autor e o
denominado cinema comercial brasileiro. Como lembra Bernardet (2001, p.12), a oposição Cinema Novo e
Cinema Marginal, segundo a qual tem sido escrita a maior parte da história do cinema brasileiros dos anos 60 e
70, está relacionada primordialmente ao cinema culto, alijando boa parte da produção cinematográfica brasileira
desse período que não se enquadra em nenhum dos dois “movimentos” e com a qual, muito freqüentemente,
mantiveram algum tipo de relação.
232
O Cinema Marginal emergiu entre 1967 e 1969, mesma época em que o teatro de
Plínio Marcos foi consagrado pela crítica e público. Aquele momento de efervescência
cultural no Brasil e no mundo, já descrito anteriormente, foi também o ambiente no qual
surgiu uma nova geração de jovens cineastas marcados pelos mais diferentes elementos, como
a contracultura e o existencialismo, o movimento hippie, as drogas e a psicodelia, a pop art e
uma nova fase do rock and roll, o feminismo e a revolução sexual. Todas essas influências
devidamente absorvidas no conturbado contexto social, político e cultural brasileiro da época,
além de devidamente misturadas e embaralhadas como apontava o tropicalismo.
Entretanto, especificamente no meio cinematográfico brasileiro, aquele era também
um momento delicado para o Cinema Novo e seus principais representantes. O “movimento”
que tinha ganhado ampla expressividade no panorama cultural brasileiro ao longo dos anos 60
se via naquele momento diante de um impasse com a aparente ruptura de uma nova geração
de cineastas. Fernão Ramos (ibid, p.27), por exemplo, relatou dramaticamente aquele
momento, quando “jovens que faziam parte do que alguns jornalistas chamavam de ‘cinemanovíssimo’ (1966-1967), acabam, na evolução dos fatos, por matar os pais que antes
idolatravam assumindo os seus mais ultrajosos farrapos”.
Entretanto, é difícil apontar mortes e assassinatos, ou ainda, movimentos
marcadamente separados e rupturas definitivas (mesmo que declaradas publicamente pelos
próprios cineastas) quando a história e os filmes não são tão facilmente definidos por
conceitos rígidos ou grupos coesos. Antes mesmo da explosão do Cinema Novo em 1963 /
1964, o ator e roteirista Miguel Torres já considerava o movimento um farsa, denunciando
aspectos que seriam justamente as principais acusações dos marginais cerca de seis anos
depois:
Cinema novo virou indústria. Se mercantilizou. Devemos nos negar a vender a miséria alheia por um
bom preço. Não é possível a co-existência entre o cinema-idéia e o cinema-comércio. Não é possível
um cinema realmente novo enquanto não estiver totalmente purificado de todas as suas origens e
impurezas comerciais [...]Ainda não foi feito um só filme no Brasil absolutamente livre de injunções
comerciais ou de diretrizes políticas preestabelecidas, portanto, ainda não foi feito no Brasil um só filme
do cinema realmente novo (grifos meus).
Miguel Torres, antevendo elementos posteriormente presentes em filmes como Câncer
(dir. Glauber Rocha, 1968-1971) ou na produção de Sganzerla e Bressane, afirmava: “Cinema
de autor já existe em Nova York, no Japão, em vários países do mundo. Não existe aqui. São
233
filmes feitos com câmera na mão, em 16 mm, sem iluminadores, sem atores e sem um
argumento previamente elaborado”.
349
Anos mais tarde, num artigo publicado em 1970 – no auge do que se passou a ser
conhecido como Cinema Marginal –, Flávio Moreira da Costa afirmava que os filmes de
Sganzerla, Bressane, André Luis de Oliveira, Rosemberg Filho e outros, surgidos então
recentemente, não chegavam a constituir um cinema marginal, sendo apenas uma fase
transitória:
Não existe ainda entre nós um cinema marginal. O que existe, na realidade, são filmes marginais por
situação, e não (pelo menos parte dele) como programa político ou estético. [...] não se pode considerar
marginal um conjunto de filmes que são lançados comercialmente, e que concorrem a festivais (O
bandido da luz vermelha, Meteorango Kid,herói intergalático), além de receber prêmios e adicionais. A
própria marginalidade dos cineastas é, quase sempre, transitória: hoje fazem filmes em 16 mm, e
amanhã filmam em cinemascope (grifos meus).
Apesar de afirmar que a realidade plástica de Matou a família e foi ao cinema era a
única opção possível naquele momento, o autor ainda via em 1970 o underground como uma
possibilidade futura.
350
Ainda assim, mesmo questionando a existência concreta de uma produção marginal, é
perfeitamente possível apontar para características gerais comuns a filmes e cineastas de
determinado contexto ou época, assim como distinções óbvias e fundamentais entre dois
momentos específicos. A própria diferença geracional, por exemplo, é inquestionável. Mas
também não é nem um pouco incomum que jovens cineastas reformulem as idéias sobre o que
é um cinema verdadeiramente experimental e revolucionário ou realmente novo e
independente, passando a questionar os conceitos da geração anterior. Conforme o cineasta
Carlos Reichenbach contou em entrevista:
349
NEVES, David. Cinema Novo uma farsa. Revista de Cultura Cinematográfica, ano 6, n.33, set-dez. 1962,
p.34-35. Este depoimento de Miguel Torres foi dado a David Neves poucos meses antes de sua morte, em 31 de
dezembro de 1962, num acidente de carro no interior da Paraíba quando procurava locações para o filme Os
Fuzis.
350
COSTA, Flávio Moreira da. Notas para um cinema underground Filme Cultura, Rio de Janeiro, ano 3, n.16,
set-out 1970, p.28-31. Segundo a tese defendida pelo autor, o underground americano não pôde encontrar um
equivalente no Brasil no final dos anos 50 e início dos anos 60, de modo que o Cinema de Autor foi uma opção
mais atraente. Entretanto, a partir de 1970, com o crescimento do cinema industrial, o underground voltava a ser
uma saída viável, como anticorpos do organismo do cinema industrial que se estruturava.
234
O Cinema Marginal que nasceu foi feito por um certo número de pessoas que se filiavam,
absolutamente, nem ao cinema oficial, nem ao Cinema Novo, que num dado momento se tornou cinema
oficial, nem ao cinema comercial, um grupo de pessoas que resolveu fazer fitas independentemente, não
filiadas a grupo nenhum (REICHENBACH; CANDEIAS, [1977], p.28).
Em 1968, os rebeldes expoentes do nascente Cinema Marginal, no alto dos seus vinte
e poucos anos não pretendiam seguir os passos dos integrantes do núcleo inicial do Cinema
Novo, cineastas “balzaquianos”, premiados (inclusive no exterior) e com carreiras
consolidadas.
351
Entretanto, outras questões contextuais devem ser levadas em conta na oposição feita
entre a produção do Cinema Novo e o Cinema Marginal. Enquanto o Cinema Novo foi um
movimento basicamente carioca, a partir da forte influência dos documentários paraibanos
(especialmente Aruanda, de Linduarte Noronha) e dos filmes de ficção baianos (com os de
Trigueirinho Neto, Roberto Pires e Glauber Rocha), a origem básica do cinema marginal está
em São Paulo – terra de José Mojica Marins e Ozualdo Candeias e onde se desenvolveria a
célebre Boca do Lixo.
Da mesma maneira, enquanto diversos integrantes do Cinema Novo concretizaram
suas formações em escolas estrangeiras, sobretudo européias (como o Centro Sperimentale di
Cinematografia, em Roma, e o Institut des Hautes Études Cinématographiques – IDHEC, de
Paris), ou em cursos ministrados por estrangeiros (como o do sueco Arne Sucksdorff, em
1962), a novíssima geração do cinema marginal foi formada, em grande parte, no Brasil, e,
muitas vezes, tendo como professores os ainda jovens, mas já experientes cinema- novistas.
Futuros cineastas como Carlos Reichenbach e João Callegaro estudaram na então recém
criada Escola Superior de Cinema São Luiz, em São Paulo, tendo como professores Roberto
Santos e Luiz Sérgio Person. Na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, diversos cursos
foram dados por quase todos os integrantes do Cinema Novo, como Ruy Guerra, Gustavo
Dahl, Eduardo Escorel, Glauber Rocha, Luiz Carlos Barreto e outros. 352
351
Em 1968, cineastas como Andrea Tonacci, Julio Bressane, Rogério Sganzerla e Carlos Reichenbach tinham
todos entre 22 e 24 anos. Já Glauber Rocha, Cacá Diegues e Leon Hirszman beiravam ou tinham chegado aos
trinta anos, enquanto Joaquim Pedro, Ruy Guerra, Paulo César Saraceni e Nelson Pereira dos Santos já passavam
dos 35 anos.
352
No campo do ensino de cinema, vale lembrar ainda da tentativa frustrada pela ditadura de criação do primeiro
curso superior de cinema na Universidade de Brasília (UnB) em 1965. A crise na UnB devido ao golpe militar de
1964, marcada pelo afastamento de professores e expulsão de alunos, chegou ao ponto máximo no dia 18 de
outubro de 1965, com a demissão de 15 professores considerados subversivos, seguido do pedido de demissão
coletiva de 209 professores e instrutores. Dentre eles estavam alguns dos idealizares do curso de cinema, como
Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude e Lucilla Bernardet, que criariam o curso de cinema da Universidade
235
Podemos afirmar, então, que a formação de boa parte dos cineastas marginais ocorreu
no Brasil, alinhando a experiência teórica (muitos eram críticos de jornais e estudantes de
cinema), a cinefilia (vivia-se a fase de ouro do movimento cineclubista e, no Rio de Janeiro,
da chamada Geração Paissandu), além, sobretudo, da intensa atividade prática, mesmo que
amadora. Nesse sentido, um dos principais pontos de ebulição foi o Festival JB/Mesbla de
Cinema Amador, sobretudo a partir da segunda edição, em 1966. Neville D’Almeida, Andrea
Tonacci, André Luis Oliveira e Rogério Sganzerla foram alguns dos premiados nesse
evento. 353
Entretanto, esses mesmos aspectos – cinefilia, cineclubismo, experimentações em
curtas- metragens – que caracterizaram o surgimento do cinema marginal, também marcaram,
de forma semelhante, o nascimento do cinema novo, conforme foi dito no capítulo 2. Mas da
mesma maneira que cineastas como Glauber Rocha, Paulo Cezar Saraceni, Joaquim Pedro de
Andrade e Leon Hirszman tinham desejado uma ruptura com o cinema brasileiro da época (a
Vera Cruz e a Chanchada), anos mais tarde eles se tornaram os “pais” contra os quais a nova
geração passou a se opor. O novo virava a tradição.
Entretanto, se idéias novas (ou reformuladas) substituíam outras antigas (ou esquecidas),
os mesmos cineastas também se renovaram e Glauber, afinal, chegou a chamar o Cinema
Marginal de uma “velha novidade”. Afinal, como pensar filmes como Câncer, dirigido pelo
maior representante do Cinema Novo, ou Fome de amor (dir. Nelson Pereira dos Santos,
1968), do principal nome do cinema independente dos anos 50, e tantos outros que se
aproximam de diversas formas dos filmes do jovens cineastas marginais?
Por outro lado, esses filmes “marginais” de Glauber Rocha e de Nelson Pereira dos
Santos acompanhavam produções mais caras realizadas simultaneamente (O dragão da
maldade contra o santo guerreiro, 1969) ou logo em seguida (Como era gostoso o meu
francês, 1971) e que alcançaram bons resultados de bilheteria, buscando e estabelecendo um
diálogo mais intenso com o grande público. Dessa forma, talvez a constatação objetiva das
dificuldades reais e práticas de fazer cinema no Brasil – na mesma época em que o Cinema
Novo se distanciava em direção ao cinema industrial – tenha sido um dos motivos para o
de São Paulo (USP) em 1967, além de Nelson Pereira dos Santos, que seria um dos responsáveis pelo curso de
cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1968.
353
Esses festivais também seriam o berço para uma outra geração (Bruno Barreto, Murilo Salles, Oswaldo
Caldeira, Djalma Limongi Batista, Suzana Amaral, entre outros) que estrearia no longa-metragem na década de
70, já num contexto do cinema brasileiro bastante diferente.
236
fascínio e a aproximação (até mesmo pragmática) desses jovens novatos por figuras como
Mojica, Candeias e os produtores, técnicos e artistas da Boca do Lixo, que faziam cinema “a
qualquer custo” (geralmente a custo zero).
354
Embora o longa- metragem A margem (dir. Ozualdo Candeias, 1967) seja uma
inspiração assumida para os cineastas marginais (não à toa, o título do filme é um argumento
de defesa para o rótulo) – assim como a obra de José Mojica Marins e seu personagem Zé do
Caixão (numa série iniciada em 1964 com À meia-noite levarei sua alma) –, trata-se de O
bandido da luz vermelha (dir. Rogério Sganzerla, 1968) o filme considerado como
deflagrador do movimento e o ponto de partida do que seria mais tarde o cinema marginal.
O bandido da luz vermelha, que hoje desfruta do status de clássico incontestável do
cinema brasileiro, é talvez o maior emblema da produção marginal – esse “cinema de
orçamento mínimo, sem concessões, autoral, agressivo, apto a chocar pela textura da imagem,
pela violência dos gestos e pelo grotesco das feições que por aí desfilavam” (XAVIER, 2001,
p.20).
Além do impacto que O bandido da luz vermelha causou, sobretudo em sua
consagração no IV Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1968, deve-se destacar o
papel chave que seu diretor assumiu como intermediador entre a produção paulista da Boca
do Lixo e os cineastas marginais no Rio de Janeiro, além de principal pivô da polêmica com
os cinema- novistas. No lançamento de seu longa- metragem de estréia, Sganzerla declarou
publicamente sua ruptura com os “deslumbrados do cinema novo rico” e com o movimento
que ele denunciava como sendo “de elite, aristocrático, paternalizante e acadêmico”.
355
Embora o diálogo de Nenê Bandalho com O bandido da luz vermelha seja claro e
evidente, as diferenças entre os dois filmes são grandes e podem talvez ser avaliadas não tanto
sob o prisma de serem simplesmente dois “filmes marginais”, mas por espelharem temas e
idéias afins que marcaram não só o Cinema Marginal, mas grande parte da produção cultural
brasileira naquele momento.
354
Nesse aspecto pode ser apontada uma identificação com a associação de Braz Chediak com o diretor Aurélio
Teixeira e o produtor Jece Valadão.
355
SGANZERLA, Rogério. Aos senhores críticos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 mai. 1969, Caderno B.
237
A idéia
A história de Nenê Bandalho começou a se desenhar quando o jornalista e artista
plástico Douglas Marques de Sá foi agraciado no XV Salão Nacional de Arte Moderna do Rio
de Janeiro, em dezembro de 1966, com o prêmio de viagem para o exterior e uma bolsa de
500 dólares por dois anos. Após poucos meses na Europa, parou de receber o dinheiro devido
à política de contenção de gastos implantada pelo Congresso Nacional:
Claro, tive que me virar. Dei aulas de português, fiz desenhos, fui garçom. De repente, recebi tudo que
me deviam, tudo de uma vez, mais de 5 mil dólares. Como já estava acostumado a viver sem o dinheiro
‘deles’, economizei. Foi com esse dinheiro que Nenê Bandalho foi produzido.
Douglas, que já tinha produzido o filme Morte em três tempos (dir. Fernando Cony
Campos, 1964), um dos raros exemplares de um policial em tons cinema-novista, usou parte
do dinheiro para comprar uma câmera Reflex 16 mm com a qual viria a ser filmado Nenê
Bandalho. Ao voltar para São Paulo em 1968, encontrou Emílio Fontana, que fora seu colega
no Ginásio do Estado de São Paulo. Segundo o produtor:
[Fontana] tinha uma escolinha de atores muito suburbana, as alunas eram empregadinhas, pequenas
comerciárias. Cheguei com a idéia, ele topou na hora e começamos a programar o filme. Fomos
procurar o Plínio Marcos, ele estava preso. Era 68, havia uma farta distribuição de cana na época, como
todo mundo sabe. Não deu para conversar com o Plínio, mas a esposa dele tinha uma sinopse que ele
havia submetido para a televisão e que tinha sido recusada porque era muito ‘violenta’. Imagine uma
novela, um seriado, onde no primeiro ato, na primeira cena, um rapaz estrangula uma inocente
comerciária. Não existia patrocinador que agüentasse, né?. 356
Conforme Douglas Marques de Sá, alguns dias depois deste primeiro contato, Plínio
saiu da cadeia dizendo não ter uma história para cinema, mas mostrou o tal projeto de um
seriado recusado pela TV Record e perguntou se eles queriam aproveitá- lo: eram duas folhas
com a história de Nenê Bandalho.
Emílio Fontana contou uma versão ligeiramente diferente. Douglas Marques de Sá
teria lhe procurado com a idéia de filmar uma peça de teatro para lançar nos cinemas, mas ele
356
HENRIQUES, Manuel. Na tela Nenê Bandalho, o pai que embalou Pixote. Jornal de Brasília, Brasília, 10
fev. 1984.
238
o convenceu a mudar de idéia e sugeriu que procurassem Plínio Marcos em busca de uma
história original para filmarem.
Paulistano do bairro de Bela Vista, “nascido e criado no asfalto de São Paulo”,
Fontana já conhecia intimamente o dramaturgo santista. Emílio Fontana era formado em
direito e em interpretação e direção teatral, tendo cursado simultaneamente a Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco e a Escola de Artes Dramáticas. Antes mesmo de terminar
a EAD, Fontana gravou seu nome na história do teatro brasileiro ao ser um dos fundadores da
Cia. de Teatro de Arena de São Paulo, em 1953. Entretanto, como tinha pretensões de dirigir,
desligou-se do grupo pouco tempo depois, uma vez que José Renato, já formado, seria o
diretor das peças da companhia.
357
Mais tarde, inspirado pelo Théâtre National Populaire de Jean Villar, Fontana criou
com amigos o Pequeno Teatro Popular, com o objetivo de levar teatro para a grande massa
trabalhadora. Segundo seu depoimento:
Voltei-me para um teatro dirigido exclusivamente para a classe operária. Eu e meu grupo visitamos
principalmente, os Sindicatos e distribuíamos convites em enorme quantidade. Meio que se
denominaria, mais tarde, “filipeta”. [...] Entre 55 e 56 chegamos a atingir um milhão de pessoas com a
campanha. Colocamos no Teatro São Paulo, 10 mil pessoas em 10 dias. O crítico Hilton Viana,
estampou no Diário da Noite, onde mantinha uma coluna, foto de milhares de pessoas em frente ao
teatro. 358
Entretanto, devido a problemas de saúde de seu pai, Fontana abandonou o projeto e
passou a Osman Rodrigues Cruz o know-how do Pequeno Teatro Popular (os contatos nos
Sindicatos e o sistema de divulgação alternativo, baseado principalmente em filipetas, que ele
teria inventado 359 ), dando origem, por volta de 1962, ao Teatro Popular do SESI.
Com o propósito de manter uma atividade contínua que garantisse seu sustento e não
ser obrigado a arranjar um trabalho paralelo ou um emprego fora da área teatral, Fontana
357
Em um de seus contos, o dramaturgo santista escreveu sobre o amigo “meio maluco”, “gente boa” e
“inovador”. Segundo Plínio, Fontana era filho de um mambembeiro que “tinha uma barraca de espetáculos cheia
de mágicas num mafuá em São Vicente, o Pavilhão do Doutor Fritz”. Fontana, com sete anos, ajudava seus pais
recolhendo os ingressos do público. “O velho Fontana montou uma fábrica de material fotográfico e refletores
para teatro – os primeiros no Brasil. Antes era panelão, gambiarra, luzes de ribalta. Os primeiros refletores-spots
chamavam ‘fontaninha’. Muita gente conta histórias da arte cênica no Brasil. Mas pulam o pedaço dos
‘fontaninhas’. Por quê? Sei lá.” (MARCOS, 1996, p.117-118). Esses refletores, na época os únicos existentes e
também chamados de Fontamac, foi o capital que Emílio Fontana usou para entrar como sócio do Teatro de
Arena em 1953.
358
EMILIO Fontana uma participação na história do teatro. In: EMÍLIO FONTANA, TEATRO, CINEMA E
TELEVISÃO: O MESTRE DA ARTE DE REPRESENTAR. São Paulo. Disponível em:
<http://www.emiliofontana.com.br/emiliofontana.html>. Acesso em: 16 de abril de 2005.
359
Plínio contou que Fontana, nessa época, teria sido o inventor da filipeta – “um bônus que dá desconto nas
entradas. Essa coisa salvou muitas e muitas companhias” (MARCOS, 1996, p.118).
239
passou a ministrar cursos para atores. Em 1958, ainda no começo de sua carreira de professor,
Fontana fo i dar aulas de interpretação no Clube de Artes de Santos e entre seus alunos estava
o jovem e então desconhecido Plínio Marcos. Ele conta, inclusive, que na época Plínio lhe
deu um manuscrito da ainda inédita Barrela. 360
Na década de 60 os dois voltaram a se encontrar em São Paulo e mantiveram a
amizade. Em 1965, Emílio Fontana dirigiu a peça Zoo Story, de Edward Albee, com Raul
Cortez, no bar Ponto de Encontro, na Galeria Metrópole, centro de São Paulo. Graças a ele,
no ano seguinte, Plínio Marcos pôde encenar pela primeira vez, no mesmo palco da Galeria
Metrópole, Dois perdidos numa noite suja.
Antes de Nenê Bandalho, Fontana era ligado eminentemente ao meio teatral e não
tinha tido qualquer experiência em cinema além da atividade cineclubista e de um antigo
interesse. Durante o lançamento do filme afirmo u que entendia um pouco de fotografia, mas
que antes da montagem do seu filme, nunca tinha visto uma moviola na vida.
361
O próprio Plínio Marcos (1996, p.118) também contou sua versão do encontro entre os
dois que teria ocorrido em 1968, no Teatro de Arena, no intervalo de uma apresentação da
peça Dois perdidos numa noite suja:
_Que é que manda, Fontana?
_Eu tenho um amigo. Meio maluco. O Douglas Marques de Sá. Artista. Professor da Universidade de
Brasília. Que quando vem em São Paulo vai tomar café comigo. Ele é cheio de idéias. Tem um
dinheirinho. Acha que a gente pode fazer um filme em 16 milímetros e depois ampliar. Pode ser um
caminho alternativo para o cinema brasileiro.
_E daí?
_Daí é que precisamos de um bom roteiro.
_Roteiro é coisa de diretor. Até posso arrumar um argumento. Um conto para você adaptar. Tem grana
nessa jogada?
O bruto se encabulou. Enroscou antes de responder:
_Vai ter. Claro que vai ter. Quando o filme estrear.
Eu ri, fingindo que acreditava. Tantas vezes não ganhei nada. Por que não dar uma mão praquele cara
de tanto valor?
_Olha, tem um conto aí. Escrevi para ver se me bandeando para literatura escapo da praga da censura.
Chama Nenê Bandalho. Vê lá com seu amigo maluco. Se servir, vão em frente. 362
360
Seu trabalho como professor resultou no Curso Emílio Fontana de interpretação, um dos mais antigos do país
e continua funcionando até hoje (conferir o sítio eletrônico: http://www.emiliofontana.com.br ).
361
Junto com um grupo de amigos, por volta dos 17 anos, Fontana começou a freqüentar o Centro de Estudos
Cinematográficos organizado pelo Museu de Arte de São Paulo um ano após sua inauguração, em 1947.
Segundo Fontana, era um cineclube ministrado por um cinéfilo – “um italiano que tinha uma loja de cordas na
região do mercado”, e freqüentado por críticos como Rubens Biáfora. A partir de 1949, o clube de cinema
tornou-se um Seminário de Cinema, dirigido por Marcos Marguliès, sob o formato de um curso noturno.
362
Segundo o relato de Emílio Fontana, a história de Nenê Bandalho era realmente um conto que Plínio Marcos
tinha escrito para o jornal Última Hora e não um projeto de seriado para a TV. Embora este texto não faça parte
da sua coletânea de contos Nas quebradas do Mundaréu (1973), Fontana afirmou que Nenê Bandalho já tinha
sido publicado numa edição anterior feita pelo próprio Plínio. Sabendo como o dramaturgo reciclava e
reaproveitava seus textos, é possível que o conto de jornal e o projeto de seriado fossem, de fato, a mesma coisa.
240
Produção, exibição e censura.
Nenê Bandalho foi filmado em exatos 45 dias entre março e maio de 1969, totalmente
em locações (quase todas no centro de São Paulo) e num modesto esquema de produção, mas
no qual tomaram parte cerca de quinhentas pessoas, incluindo mais de setenta alunos do
Curso de Teatro Emílio Fontana. Segundo Douglas Marques de Sá, a equipe permanente era
composta basicamente de quatro pessoas: ele próprio (produtor), Miro Reis (assistente),
Emílio Fontana (diretor) e Pio Zamuner (fotógrafo).
363
Sendo o filme bancado com as economias de Douglas Marques de Sá e Emílio
Fontana, somente três profissio nais foram pagos enquanto todos os demais trabalharam de
graça, inclusive Jô Soares, convidado para uma participação especial. A única exceção no
elenco foi Rodrigo Santiago, que já tinha trabalhado na novela Beto Rockfeller (assim como
Plínio Marcos) e ga nhou “uma ninharia” para interpretar o marginal.
O ator vinha de uma experiência traumática como protagonista da peça Roda viva, de
Chico Buarque, suspensa quando um grupo composto de “vinte elementos bem vestidos,
alguns deles com terno e gravata”, armados de cassetetes, revólveres e soco- inglês, invadiu o
teatro Galpão, em São Paulo, pouco antes da meia- noite do dia 17 de julho de 1968,
“espancando quem encontravam”. Segundo relatos da imprensa, após o fim do espetáculo, o
bando começou um tumulto, agredindo os técnicos, funcionários e atores. Depois ainda
“depredaram as poltronas, quebraram os ‘spots’, instrumentos musicais, e subiram aos
camarins onde as atrizes estavam mudando de roupa. Espancaram- nas, tirando- lhes a roupa, e
praticaram atos brutais de sevicia”. Os protagonistas da peça, Rodrigo Santiago e Marília
Pêra, foram obrigados a, despidos, irem para a rua. Após a agressão à equipe de Roda viva, a
classe teatral organizou uma assembléia que teria sido presidida exatamente por Emílio
Fontana.
363
364
Carlos Ebert, câmera de O bandido da luz vermelha, foi o responsável pela fotografia adicional de Nenê
Bandalho.
364
A primeira montagem de Roda viva, no Rio de Janeiro, no início de 1968, com direção de José Celso
Martinez Corrêa e Marieta Severo, Heleno Pests e Antônio Pedro nos papéis principais, foi um grande sucesso.
Os incidentes ocorreram na temporada da montagem paulista, com direção do mesmo Zé Celso, mas com
Marília Pêra, Rodrigo Santiago e, novamente, Antônio Pedro no elenco principal. No momento do tumulto, após
o susto inicial, os atores tentaram revidar e conseguiram deter dois dos agressores e os levaram para a delegacia.
Apenas um deles, que portava documento de identidade do exército, permaneceu preso, enquanto o segundo,
oficial da aeronáutica, foi liberado pelos policiais. Plínio Marcos, no dia seguinte ao episódio, foi provavelmente
241
O clima só esquentou ao longo daquele ano (pouco mais de três meses depois o elenco
de Roda viva sofreu agressões ainda mais graves em Porto Alegre) chegando ao ponto
máximo em dezembro de 1968, quando a ditadura militar no Brasil se tornou “escancarada”.
Nenê Bandalho foi realizado nos primeiros meses após a decretação do AI-5, sendo filmado
em 16 mm e tendo seu copião ampliado para 35 mm. Foi um dos primeiros longas- metragens
brasileiros a ser feito nesta bitola e o primeiro filme de ficção paulista a utilizar esse processo.
365
Antes dele, pelo menos Julio Bressane já tinha usado o mesmo expediente com seus filmes
realizados simultaneamente no Rio de Janeiro, em 1968 / 1969, O anjo nasceu e Matou a
família e foi ao cinema (cf. BRESSANE, 2003).
366
O processo de finalização foi longo e complicado, não somente por questões técnicas,
como também financeiras, prolongando-se por cerca de um ano e meio. O filme foi montado
por Luiz Elias numa moviola emprestada por uma produtora de comerciais nos horários
vagos. Além disso, Nenê Bandalho teve vários efeitos sonoros e fotográficos feito no
laboratório e na edição de som ao longo do processo de pós produção. Foi justamente neste
período, entre 1969 e 1970, que foram lançados algumas das primeiras produções marginais.
A repercussão e até mesmo o sucesso popular de alguns desses filmes pode ter ajudado no
processo de finalização do longa- metragem de Emílio Fontana.
Nenê Bandalho recebeu seu Certificado de Censura em 16 de dezembro de 1970 (sem
nenhuma exigência de corte) e foi exibido no Rio de Janeiro em pré-estréia na mostra Novos
Rumos do Cinema Brasileiro na Cinemateca do MAM, em janeiro de 1971, junto com outros
filmes então inéditos que viriam a se considerados também marginais como Bangue bangue
(dir. Andrea Tonacci), Perdidos e Malditos (dir. Geraldo Veloso), A Família do Barulho (dir.
Julio Bressane) e Orgia ou o homem que deu cria (dir. José Silvério Trevisan), além de A
um dos primeiros a acusar publicamente os agressores de pertencerem ao grupo Comando de Caça aos
Comunistas – conhecido como CCC (PLÍNIO diz quem invadiu. Última Hora, São Paulo, [19 jul. 1968]). Em
outro jornal, Plínio também comentou sobre o ocorrido: “Esta terrível agressão é absurda, é ridícula. A cultura e
a inteligência brasileira foram massacradas em seu templo. Temos que recear a formação de entidade do tipo de
Ku Klux Kan. A classe teatral suspeita de que esses elementos são os mesmos que soltam bombas e matam
soldados. São pessoas interessadas em tumultuar a nação. [...] todo o patriota teme e nós tememos pelos destinos
de nossa Pátria. Sentimos que há realmente um grupo organizado, forçando a barra, para levar a Nação a um
regime de terror e violência” (INVADIDO e depredado o teatro galpão. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 jul.
1968).
365
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1977.
366
Até então, o 16 mm era utilizado sobretudo na publicidade e no cinema documentário. As pioneiras tentativas
de ampliação (blow up) da bitola e seu uso com som direto ocorreram com os filmes produzidos por Thomas
Farkas, embora existissem dificuldades como a sincronização do gravador Nagra com as câmeras 16 mm e o uso
de moviolas 16 mm sincrônicas. Ao traçar um “breve histórico do cinema -direto no Brasil” (In. COSTA, 1966),
David Neves apontou para os problemas do uso desta bitola em 1966: “os laboratórios comerciais existentes na
praça não revelam, não trabalham com película de 16mm reversível; no trabalho com material negativo é
evidente que dão preferência ao 35 mm, desprezando consequentemente o 16 mm”.
242
guerra dos pelados (dir. Silvio Back), Um homem sem importância (dir. Alberto Salvá) e A
possuída dos mil demônios (dir. Carlos Frederico).
367
O lançamento comercial do filme de Fontana, “beneficiado por uma reação favorável
de público e crítica”, ocorreu dia 29 de março daquele ano no cinema Marabá, em São Paulo,
e da mesma forma que as adaptações produzidas por Valadão, o prestígio do nome de Plínio
Marcos nos créditos foi aproveitado na divulgação de Nenê Bandalho.
368
O filme parecia
seguir uma trajetória favorável ao ser selecionado para a competição do VII Festival de
Brasília do Cinema Brasileiro, além de ter sido indicado para o Festival de Berlim 1971.
369
Naquele ano o Festival de Brasília despertou muita polêmica e discussão antes mesmo
de seu início devido à substituição, a poucos dias da abertura do evento, dos filmes O país de
São Saruê (longa), de Vladimir Carvalho, e sexta-feira da Paixão (curta), de Livu Spengler,
por, respectivamente, Brasil bom de bola, de Carlos Niemeyer, e Museu de Arte de São
Paulo, de Hector Babenco. A troca foi efetuada pelo Conselho Deliberativo da Fundação
Cultural do Distrito Federal a partir da lista feita pelo Comitê de Seleção, embora este tenha
se manifestado na imprensa isento de responsabilidade e contrários à substituição.
Era o prenúncio de um festival conturbado. Enquanto O país de São Saruê era
excluído da competição (para permanecer, a partir dali, oito anos proibido), entrava em seu
lugar Brasil bom de bola, “que tem no final o presidente Médici recebendo e abraçando Pelé
na tribuna de honra, em frente ao Palácio do Planalto, na volta do México” (SIMÕES, 1999,
p.140).
Mas o caso de censura mais brutal e surpreendente ocorreu após o início do Festival,
para ser mais exato, no dia 8 de dezembro de 1971, véspera da premiação. Às 21hs estava
367
Depois de realizar duas mostras das novas tendências do cinema brasileiro, a Cinemateca do MAM organizou
a partir de agosto de 1971 a mostra Revisão do Cinema Novo, com a projeção de mais de uma dezena de filmes
acompanhados de debates com os realizadores. O próprio fato de se fazer um ciclo sobre o movimento já
conferia uma possibilidade de que naquele momento essas obras fossem vistas com um certo distanciamento, ou,
pelo menos, como um momento bem definido – e dessa maneira, totalmente sujeito a contestações e rupturas.
368
Nenê Bandalho foi anunciado como um filme feito a partir do primeiro argumento de Plínio Marcos escrito
diretamente para o cinema e seu nome foi aproveitado tanto no trailer que começava com três significativas
cartelas – “A estória mais explosiva do cinema brasileiro” / “Uma estória inédita de...” / “Plínio Marcos”
(ocupando toda a tela), quanto em notícias da imprensa que anunciavam “um filme de Plínio Marcos”. Há
indicações em jornais da época de que o filme também foi exibido em outras sete salas do interior paulista e duas
de Curitiba no primeiro semestre de 1971, mas Fontana não soube confirmar.
369
Independentemente de ter sido indicado, não encontramos nenhuma evidência de que Nenê Bandalho tenha
sido efetivamente exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Na edição de 1971, o único filme
brasileiro em competição foi Como era gostoso o meu francês (dir. Nelson Pereira dos Santos, 1971), enquanto
Na boca da noite (dir. Walter Lima Júnior, 1970) foi exibido no Fórum Internacional de Novos Cinemas.
Segundo Emílio Fontana, o filme foi selecionado pelo crítico Alberto Shatowski para uma mostra paralela de
cinema brasileiro. Essa hipótese é mais provável, dado o grande interesse da crítica e do público alemão pelo
cinema brasileiro naquela época, embora não tenha sido possível confirmá -la.
243
programada a sessão aberta ao público de Nenê Bandalho, último longa em competição a ser
exibido. Cerca de trinta minutos antes de sua projeção, os organizadores do festival e a platéia
foram surpreendidos pela ocupação da sala de cinema lotada pela polícia para a apreensão da
cópia. Nenê Bandalho, conforme noticiado pela imprensa, foi interditado pela censura sem
que os organizadores do festival tivessem tomado conhecimento disso com antecedência. Em
seu lugar foi exibido pela segunda vez, sob vaias, justamente, o ufanista Brasil Bom de bola.
“O Festival entrou em parafuso, público e participantes irritados com a interferência
[...] a saída encontrada fo i suspender o evento – o mais importante do calendário cultural da
cidade – por três anos” (ibid.). A edição seguinte (a oitava) do Festival de Brasília do Cinema
Brasileiro só seria realizada em 1975.
Fernando Adolfo, membro da organização do Festival de Brasília do Cinema
Brasileiro desde a primeira edição, falou sobre o caso em entrevista no qual afirmou ter sido
este um dos fatos mais marcantes da história do Festival:
Na hora de exibição de filmes, tinha duas cadeiras para o juizado de menores, duas para a censura e
duas para a SBAT [Sociedade Brasileira de Autores], com placa de identificação. Os lanterninhas
tomavam conta dessas cadeiras como cães de guarda. Eles iam observar os cortes determinados. Se não
tivesse o corte, eles subiam na cabine e mandavam parar a exibição. O País de São Saruê, do Vladimir,
já estava proibido. Foi o que ocorreu com Nenê Bandalho. A seleção foi feita no Cine Atlântida, e um
dos selecionadores levantou problemas, e disse que o filme fazia a propaganda das drogas. Foi
determinada a apreensão do filme no último dia do festival. E no lugar dele, todo mundo sabe, foi
exibido o Brasil Bom de Bola. Foi uma vaia só no Cine Atlântida, onde acontecia o festival. Quando vi
que a coisa ia engrossar, fui na cabine, peguei a lata, pus debaixo do braço e levei pra Fundação.
Quando veio a ordem pra recolher, não acharam o filme, e foi uma confusão, tive que inventar uma
desculpa. O filme foi despachado pro Rio de Janeiro e se salvou sem os cortes. Nesse mesmo ano,
proibiram o festival. O público reagiu violentamente, quebrando cadeiras e gritando, no Cine
Atlântida.370
O próprio Plínio Marcos (1996, p.19) também falou sobre o caso, sugerindo que o
motivo da censura poderia ser uma perseguição pessoal da cens ura, que, caso confirmada,
revelar-se- ia ainda mais brutal:
Logo de saída o crítico Luís Eugênio de Almeida Salles veio avisar o Fontana.
_Nós fomos proibidos de indicar seu filme para o prêmio.
_Por quê?
_Por causa do nome do Plínio Marcos.
_Não pode ser.
Podia. Podia tudo naquela porca censura. O ministro Buzaid mandou a polícia invadir o cinema e
prender os rolos do filme. Fontana ainda tentou resistir:
_Cadê o alvará de apreensão?
370
GOVERNO DO DISTRITO OFICIAL. Portal oficial do Governo do Distrito Oficial. Festival de Cinema.
Entrevista com o coordenador do Festival de Cinema, Fernando Adolfo. Disponível em:
<http://www.sc.df.gov.br/paginas/festival_de_cinema/festival_de_cinema_04.htm>. Acesso em: 12 abr. 2005.
244
_Sem alvará. Alvará é o caralho. O Buzaid mandou e fim.
O que ficou realmente comprovado é que a interdição de Nenê Bandalho ocorreu
devido à denúncia feita diretamente para o Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, por um
membro do júri da premiação, Hugo Adler, desembargador e crítico de arte do Correio
Braziliense, que era do conselho da Fundação. Segundo entrevista com Fontana:
Ele chegou a pedir que o júri solicitasse a interdição do filme. Como não foi atendido, correu aos
escalões superiores para derrubar a validade do certificado de Censura, impedir a exibição e conseguir a
apreensão da cópia. [...] Tudo sem que fosse passado um documento. Nenhuma ordem por escrito.
Passei a andar pelos corredores da Censura, para saber com quem falar, o que fazer. O filme tinha toda a
documentação em ordem, mas a situação era indefinida. O que se sabia oficiosamente é que ele não
poderia ser exibido enquanto perdurasse essa situação. Não consegui jamais ser recebido pelo chefe da
Censura. Os assessores diziam que iam ver e meus amigos me aconselhavam a esquecer o filme e partir
para outra. 371
Segundo relato de Plínio (1996, p.119), sempre generoso com os amigos, Nenê
Bandalho foi apreendido “porque um cagüeta avisou para a polícia que os intelectuais do júri
eram bons moços e obedientes; os críticos estavam controlados e não fariam graça. Porém (e
sempre tem um porém), haveria um júri popular. E com certeza o Nenê Bandalho ganharia”.
Conforme Fontana, durante o festival ele tinha sido avisado que a comissão julgadora
queria premiar Nenê Bandalho:
Era pra gente ganhar melhor filme e melhor ator [Rodrigo Santiago]. Isso já estava decidido. O prêmio
era nosso. E quando o [Ministro Alfredo] Buzaid soube disso ele mandou uma ordem para se alterar a
decisão dos jurados... Isso já estava resolvido. O Almeida Salles, que era o presidente do júri, disse que
isso estava resolvido, mas veio a ordem e eles iam ver o que fazer. 372
Segundo o diretor, Nenê Bandalho era o principal favorito para o prêmio de melhor
filme do júri popular. A programação do Festival tinha deixado a sua exibição por último para
ser o ponto culminante. Aquela frustrada exibição deveria ter sido o coroamento do filme.
Refletindo sobre a afirmação enfática de Fontana de que “quem ganhou o Festival de
Brasília de 1971 foi o Nenê Bandalho”, é necessário avaliar o histórico do festival e daquela
edição. O Festival de Brasília era realmente conhecido por premiar filmes de caráter
experimental, distantes do esquema industrial, além de valorizar obras de estreantes. Como
Fontana era um desconhecido no meio cinematográfico, a seleção de seu filme provocou
371
ALENCAR, Miriam. Nenê Bandalho: o anti-herói que passou cinco anos nos corredores da censura consegue
chegar às telas. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1977.
372
Entrevista concedida ao autor, São Paulo, 4 out. 2005.
245
muita projeção e é realmente possível que Nenê Bandalho – encarado como uma novidade de
um novato – fosse um dos favoritos ao prêmio.
373
Em relação à censura brutal ao filme, trata-se de uma tarefa difícil apontar sua razão
exata, até porque a censura muitas vezes parecia agir sem razão alguma. Segundo Fontana,
houve vários motivos:
Em primeiro lugar, o nome incomodava. É meio absurdo, mas um filme chamado Nenê Bandalho...
Onde já se viu? Segundo, tem a cena da maconha. Terceiro, é evidentemente uma crítica ao regime
estabelecido. A agressividade do policial, a maneira ridícula como eles são vistos... E a figura do Plínio
que era um contestador na época. 374
É verdade que Plínio Marcos sofria uma perseguição implacável naqueles anos – em
1971, simplesmente todas as suas peças estavam proibidas – inclusive devido às inimizades
que ele tinha cultivado nos quadros da censura. Entretanto, as adaptações de Chediak já
tinham sido exibidas em circuito comercial no ano anterior e naquele mesmo ano. Mas o
produtor Jece Valadão tinha muito mais influência, circulação e até afinidade com as esferas
do poder público que os realizadores de Nenê Bandalho, e isso influenciava muito na solução
dos problemas com a censura federal.
A questão da presença explícita do uso de drogas no filme – o personagem é visto
repetidamente e em detalhes fumando um cigarro de maconha – talvez seja um dos principais
motivos da interdição de Nenê Bandalho. Anteriormente outros filmes também mostraram
com liberdade o uso de maconha, como Os cafajestes (1962) – no qual “pela primeira vez o
cinema mostrou como se enrola um baseado” (VALADÃO, 1996, p.86) – ou, ainda,
Meteorango Kid, o herói intergalático (dir. André Luiz Oliveira, 1969).
373
375
Entretanto, além
Os principais premiados do Festival de Brasília de 1971 foram A casa assassinada, de Paulo Cezar Saraceni
(melhor filme, diretor, ator, música e montagem) e Como era gostoso o meu francês (melhor filme júri popular).
Até aquela edição, o Festival de Brasília tinha premiado como melhor filme A hora e a vez de Augusto Matraga
(1965, dir. Roberto Santos), Todas as mulheres do mundo (1966, dir. Domingos de Oliveira), Proezas de
Satanás na vila do Leva-e-Traz (1967, dir. Paulo Gil Soares), O bandido da luz vermelha (1968, dir. Rogério
Sganzerla), Memórias de Helena (1969, dir. David Neves) e Os deuses e os mortos (1970, dir. Ruy Guerra).
Dessas seis premiações, apenas Roberto Santos e Ruy Guerra não eram estreantes. Além disso, em diversas
ocasiões filmes de diretores mais “famosos” foram preteridos em favor de novatos, como aconteceu com
Macunaíma, em 1969. De certo modo, esse perfil sobrevive até hoje, sobretudo em comparação com outros
festivais nacionais, como o de Gramado, bastando notar as premiações recentes de filmes de estreantes como
Baile perfumado (em 1996), Anahy de las missiones (em 1997), Bicho de sete cabeças (em 2000), Lavoura
arcaica e Samba Riachão (em 2001) e Amarelo manga (em 2002), ou de eternos rebeldes como Julio Bressane
(Miramar em 1997 e Filme de amor em 2003).
374
Entrevista concedida ao autor, São Paulo, 4 out. 2005.
375
Meteorango Kid foi exibido e premiado pelo júri popular no 5º Festival de Brasília, em 1969, mas,
posteriormente teve muitas dificuldades de ser exibido comercialmente em diversas cidades do país. No Rio de
246
das restrições terem se tornado mais rígidas após o AI-5, alcançando seu máximo justamente
em 1970-1971, a promulgação da repressiva lei anti-tóxico poucos meses antes do Festival de
Brasília provavelmente favoreceu o clima de perseguição.
376
Além disso, a presença dos policias e a pioneira denúncia do esquadrão da morte
também eram questões que chamavam a atenção da censura. Por último, ainda havia a
suspeita de que o membro do júri Hugo Adler queria simplesmente “aparecer bem” para o
Ministro da Justiça. Comprovando a conhecida frase do político mineiro Pedro Aleixo, vicepresidente do General Costa e Silva, a maior ameaça numa ditadura não era o ditador, mas o
guarda da esquina.
O filme .
A cartela de abertura e a música já indicam a ligação do filme com o cinema de
gênero, especialmente o western e o policial. O nome do filme (e do bandido) – Nenê
Bandalho – surge ocupando toda a tela, com as letras como que escritas à tinta, semelhante a
um típico cartaz de “procurado” do velho oeste, incluindo as bordas rasgadas, ao som de um
“canto de queda de um índio Cheyenne”.
No longo plano inicial, fixo e sem cortes, uma mulher caminha sozinha (na direção da
câmera) numa rua deserta de um aparentemente tranqüilo bairro residencial. De repente,
quando ela já está mais próxima, surge um homem (Rodrigo Santiago) que a ataca e
estrangula. Um vigia noturno dobra a esquina correndo e soando o apito em socorro da vítima,
Janeiro, além de uma exibição na Cinemateca do MAM em 1971, o filme só entraria em cartaz em 1972 e numa
única sala, a do Cinema 1.
376
Na Lei nº 5.726, de 29 de outubro de 1971, que dispunha sobre “medidas preventivas e repressivas ao tráfico
e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica”, o artigo 4º apresentava
como uma das medidas preventivas “a execução de planos e programas nacionais e regionais de esclarecimento
popular, especialmente junto à juventude, a respeito dos malefícios ocasionados pelo uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, bem como da eliminação de suas causas”.
Durante a ditadura militar, a questão das drogas continuou sendo um dos principais alvos da censura federal. No
filme Uma nega chamada Teresa (dir. Fernando Cony Campos, 1973), por exemplo, a censura ordenou o corte
da “cena onde aparece um hippie fumando, possivelmente entorpecente, embora de forma dissimulada”. Quase
dez anos depois, O Sonho não acabou (dir. Sérgio Rezende, 1982) foi proibido para menores de 18 anos e
recebeu diversos cortes, principalmente das “cenas de consumo de substâncias intorpecentes” (sic), no caso,
maconha e cocaína. Diante da severa classificação etária para um filme que se pretendia direcionado aos jovens,
os produtores insistiram numa reavaliação e conseguiram com que a classificação baixasse para 16 anos, embora
ainda com os cortes.
247
mas o assassino saca um revólver e atira no rosto do guarda, que cai cobrindo a face coberta
de sangue abundante. A iluminação de contrastes lembra tanto o filme noir, quanto os filmes
B, especialmente pela precariedade debochada, caracterizada pelo close up do rosto da vítima
de olhos esbugalhados, assim como pelo tropeço desastrado do bandido quando tentava fugir.
Os policiais examinam as vítimas e entrando na viatura falam com o rádio.
Imediatamente começa a narração de uma comunicação da polícia para as viaturas, assim
como a música de orquestração grandiloqüente. A primeira descrição do bandido – tanto seu
nome (“o perigoso bandido Nenê Bandalho”) e histórico (“autor de vários homicídios e
assaltos à mão armada”), quanto sua aparência em detalhes (“indivíduo de cor branca, estatura
mediana, magro, cabelos compridos, óculos escuros, jaqueta de nylon de cor cinza, camisa
listrada”) – é feita, justamente, pelo alerta radiofônico do plantão para as patrulhas que
acompanha as diversas imagens da perseguição policial, emolduradas pela música.
Numa delegacia de polícia, dois rapazes estão sentados, algemados e com a cabeça
baixa. Eles são brancos, jovens, com cabelos pretos e um deles usa justamente uma camisa
listrada, ajustando-se descrição do bandido feito pela polícia. O delegado, numa mesa ao lado,
vira-se para a câmera e começa a falar diretamente para o espectador como num telejornal.
Inicialmente ouve-se somente o som ininterrupto de sirenes, depois entrando na banda sonora
um comunicado aparentemente jornalístico em inglês. O estranhamento dura alguns instantes
até que a trilha sobrepõe à voz em inglês, uma dublagem em português com um pronunciado
de tom oficial anunciando que “a polícia está atrás do bandido” e outros clichês.
Diversas imagens da caçada dos policias são articuladas com o som das sirenes e dos
automóveis.
377
Em seguida, um silêncio súbito acompanha planos detalhes da orelha e dos
óculos escuros do bandido (seus sentidos estão atentos?). Nenê rouba um carro estacionado na
rua. Através da montagem fragmentada, temos a impressão de uma perseguição por diversas
viaturas.
O marginal abandona o carro na beira de uma estrada e embrenha-se na mata fechada,
com os policiais em seu rastro, enquanto na trilha sonora começa uma música de filme de
aventura de tom épico. Na montagem paralela do perseguido e seus perseguidores são
377
Apenas um plano de somente uma viatura saindo da delegacia foi filmado, mas que copiado várias vezes e
montado em looping, em seqüência, dão a impressão de uma verdadeira frota de carros sendo acionada.
248
alternados planos cada vez menores, numa radicalidade que chega próximo ao limite do
fotograma, dando efeito quase estroboscópico.
378
O clima de perseguição e a seriedade são quebrados (e a música interrompida) quando
o bandido, chegando num descampado e aparentemente livre dos policiais, vai sentar-se no
chão para descansar e se levanta assustado com os cacarejos de uma galinha que estava no
lugar.
Nenê relaxa e abre a camisa, revelando um par de revólveres e dois cintos de balas
presos em sua cintura, como um verdadeiro cowboy. Um longo plano mostra, em close-up, o
bandido limpando e recarregado cuidadosamente as armas. Terminada a tarefa, Nenê fecha
novamente os botões da camisa, como que pronto para o confronto. Mas o plano prossegue
mostrando Nenê, mais relaxado, pegando uma caixa de fósforos e acendendo e fumando um
“baseado”. A analogia arma e maconha, que sugere uma ligação entre marginalidade e
contracultura (ambas figuras de revolta contra o sistema estabelecido), fica clara pela
descrição das duas ações, ligadas pela quase ausência de cortes e enquadradas com o mesmo
fascínio e detalhamento aparentemente pedagógico e fetichista.
Enquanto sente o barato do baseado, sons oníricos e vozes (“Mãe? Mãe?”) já
antecipam as lembranças que a maconha traz para Nenê, posteriormente visualizadas quando
o bandido deita e fecha os olhos: um garoto (Nenê quando criança) está sentado no chão de
um barraco que a câmera percorre descritivamente. A mãe responde ao chamado do garoto:
“Não enche o saco!”.
Este e os demais flashbacks do filme se distinguem imediatamente das demais
seqüências pela diferença de textura da imagem, hiper contrastada e praticamente sem
tonalidades entre o preto e o branco.
379
Em uma favela, três vagabundos sentados na calçada
de um bairro pobre. Quase que animalizados, em meio a risos, arrotos e grunhidos, um,
aparentemente, tenta bolinar o outro, que se defende, embora rindo. Como “três patetas do
mal”, segundo crítica recente de Sergio Alpendre, “suas risadas antecipam, curiosamente, as
378
Embora hoje essa edição “hiper picotada” seja comum, sobretudo nos filmes de ação hollywoodianos, para a
época, aquilo era uma grande (e trabalhosa) ousadia – ainda mais lembrando que os filmes eram montados
manualmente em moviolas.
379
Esse alto contraste foi alcançado através da feitura de cópias sucessivas da película. Tendo como diretor de
fotografia um “fotógrafo clássico” como o italiano Pio Zamuner, encarregado da fotografia e, posteriormente, da
direção de diversos filmes de Mazzaropi, os efeitos fotográficos de Nenê Bandalho foram conseguidos quase
todos em laboratório, na finalização do filme.
249
de Beavis and Butthead”.
380
Uma “negra gostosa”, de mini-saia, passa sensualmente em
frente aos três que, em silêncio absoluto, acompanham- na, com o olhar, dobrar a esquina.
Os vagabundos se levantam para segui- la e entram no barraco de Nenê por engano.
Sua mãe (Maria do Carmo Bauer) – uma senhora sóbria, vestida de preto – os recebe
rispidamente: “O que é seus vagabundos? Saí, saí! O que vocês querem aqui?”.
Um deles responde: “Onde está a menina, coroa escamosa?”, e os três se aproximam
ameaçadoramente. O garoto se abraça à mãe, mas é jogado longe quando os vagabundos
atacam a dona de casa, derrubando móveis, novamente rindo e arrotando. A montagem
fragmentada destaca grotescamente detalhes do rosto dos algozes: o olho de vidro de um, os
dentes tortos do outro. Os sons guturais acentuam o clima de filme de terror que se instala. A
agressão é direcionada também para o espectador, que assume o ponto de vista da vítima. Em
determinado momento a câmera se aproxima da boca aberta de um deles que praticamente nos
“engole”.
Após a deixa de um deles – “só tem tu, vai tu mesmo”
381
– os três partem para o
estupro da mãe de Nenê. O som incômodo e ininterrupto que acompanhava as imagens
fragmentadas, de repente some. Planos de detalhes do rosto da mãe e, principalmente, de
Nenê-criança gritando, sentado num canto do barraco, surgem silenciosas. Quando o grito de
“Não!” da mãe é ouvido subitamente, finalmente em sincronia com a imagem, Nenê Bandalho
acorda, de volta ao presente, refeito das lembranças e assustado.
Logo em seguida o bandido fica tenso e em expectativa, prestando atenção aos
barulhos a sua volta que se limitam ao som de pássaros. De repente escuta a voz de um
policial que se aproxima e reage com um tiro, dando início a um intenso tiroteio. O bandido
parece se multiplicar, atirando para todas as direções com um número ilimitado de balas (sem
recarregar a arma nenhuma vez). Os policiais atingidos voam e rodopiam antes de cair no
chão com num western spaghetti. Ao perceber que está cercado, o bandido foge e pula o muro
de uma casa. No quintal, esconde-se dentro de um latão de lixo, colocando uma caixa de
papelão na cabeça.
380
ALPENDRE, Sérgio. Nenê Bandalho e Deseperato. Contracampo, Rio de Janeiro: Associação Cultural
Contracampo, n.30, 2001. Disponível em: <http://www.contracampo.he.com.br/30/bandalhodesesperato.htm>.
Acesso em: 12 abr. 2005.
381
Em diálogos como este, percebemos claramente o toque de Plínio Marcos no uso constante e reiterado de
provérbios nas situações menos prováveis. Se não tem tu, vai tu mesmo é, inclusive, o título de um divertido
conto seu sobre um ladrão de galinhas que passa a pintar as aves roubadas de preto devido ao aumento no
volume de encomendas com a chegada de um novo pai-de-santo à região (MARCOS, 2004, p.30)
250
A ironia está presente aqui, seja no pastiche ao cinema de gênero, tanto o policial
quanto o faroeste (o bandido não é atingido por nenhum tiro, as balas não acabam), mas
também, assim como O bandido da luz vermelha, no retrato dos policiais como idiotas. No
filme de Sganzerla, se o bandido é um boçal, mesmo assim a polícia não o captura – e quando
o faz, após seu suicídio, o delegado ainda morre eletrocutado estupidamente. Na seqüência em
que, pela primeira vez, a casa que Luz assaltava é cercada por viaturas, ele escapa facilmente
pela janela da frente enquanto os tiras dão a volta pelo quintal para prendê- lo. A semelhança
com Nenê Bandalho fica patente na cena em que seus perseguidores pulam o muro com
dificuldade (um gordo precisa ser ajudado pelos colegas) e não encontram Nenê escondido
dentro da lixeira na frente deles. Assim que os policiais vão embora procurá- lo em outro
lugar, o bandido escapa subindo no alto de uma casa.
Nenê caminha solitário pelas telhas das casas enquanto embaixo, a rua já está cercada
de policias e curiosos. A ausência de vozes (apesar da multidão conversando) e o barulho
insistente do vento, depois substituído pela música de faroeste, proporcionam aos vastos
telhados nos quais o bandido anda, corre e escala incansavelmente, uma aparência de
Monument Valley ou das pradarias do oeste americano, sobretudo nos planos gerais em que o
personagem surge no horizonte. Quando pisa por engano na janela de um banheiro e quase
escorrega, sendo visto por uma mulher que grita assustada, uma saraivada de tiros vem de
baixo e os curiosos comentam: “a polícia está tentando pegar o bandido no telhado!”.
Cabe aqui reafirmar as relações entre o bandido da luz vermelha e nenê bandalho – o
bandido do telhado, que passam, sobretudo, pela ligação com a imprensa sensacionalista, ou
melhor, uma mídia sensacionalista, que incluía ainda as emissoras de rádio e televisão. No seu
longa-metragem de estréia, Sganzerla inspirou-se no bandido João Acácio Pereira da Costa, o
Bandido da Luz Vermelha, preso em agosto de 1967 e condenado a 351 anos, 9 meses e 3
dias. Por sua vez, Acácio era uma “cópia” de Caryl Chesmann, um bandido americano
surgido nos anos cinqüenta, também jovem, bonito, loiro e charmoso, que sempre usava uma
lanterna vermelha em seus assaltos Após publicar livros no corredor da morte e adiar durante
anos sua execução, Chesmann foi eletrocutado na cadeira elétrica em 1961.
382
382
Um de seus livros autobiográficos inspirou o filme Cell 2455 Death Row (dir. Fred F. Sears, 1955). No Brasil
o longa-metragem recebeu o título de O corredor da morte e chegou a ser proibido pela censura na época.
251
Já para criar Nenê Bandalho, Plínio Marcos se inspirou num “personagem que
freqüentou 15 linhas de uma página policial paulista no final da década de 60”.
383
Plínio
contou que não aproveitou a história do bandido de verdade – que nem tinha matado
mulheres, seu negócio era roubar carteiras – mas somente seu no me: “Nenê Bandalho! Já
nasceu todo coberto de vícios”. 384
Como era típico da obra pliniana, em diversos textos seus sobre sambistas anônimos,
jogadores de futebol de várzea ou velhos palhaços de circo, todos marginais em algum
sentido, a inspiração veio de uma figura folclórica das ruas e desconhecida do grande público.
Ou seja, se Nenê era, acima de tudo, um bandido “pé de chinelo”, Sganzerla baseou-se num
personagem bem mais famoso, uma autêntica versão terceiro- mundista de um produto do lixo
americano. Era a verdadeira estética do lixo e nada poderia também ser mais tropicalista.
Provavelmente, além do inegável talento do diretor, esse foi também uma das razões para o
sucesso de público de O bandido da luz vermelha.
Em Nenê Bandalho, o bandido refugia-se num canto para descansar e volta a acender
um baseado. Já “chapado”, ele olha para o lado e vê, como numa alucinação, uma mulher (sua
ex-namorada). No plano seguinte, os dois estão de pé, de mãos dadas, rindo e atirando na
direção da câmera, numa imagem semelhante à consagrada na representação do casal de
bandidos americanos Bonnie e Clyde no filme então recente e bem-sucedido Bonnie e Clyde:
uma rajada de balas (Bonnie and Clyde, EUA, dir. Arthur Penn, 1967). Novamente através
do recurso convencional da perda gradual de foco da imagem, é introduzido em seguida o
segundo flashback, com um plano de uma roda gigante.
Num parque de diversões, Nenê se diverte com sua namorada, Ana (Leda Villela), e
amigos numa barraca de tiro a alvo, onde ele ganha o prêmio máximo ao demonstrar sua boa
mira. Os dois afastam-se dos demais para conversarem a sós. Nenê diz que eles têm que
resolver alguma coisa sobre o relacionamento. Ele afirma que é “gamado” nela e que quer
casar, mas ela recua, afirmando que “gama não enche barriga”. Revelando claramente o estilo
de Plínio Marcos, os personagens chegam a conclusão que casamento precisa de grana. Ana
tenta se justificar: “eu queria tanta coisa que nunca tive. Eu quero escapar dessa vida. Não me
383
HENRIQUES, Manuel. Na tela Nenê Bandalho, o pai que embalou Pixote. Jornal de Brasília, Brasília, 10
fev. 1984.
384
Plínio contou ainda que o diretor e o produtor não tinham gostado do título do conto: “Levou dois anos para
reconhecerem que Nenê Bandalho é um bom nome”. Douglas Marques e Emílio Fontana tinham pensado em
trocar o título e até fizeram enquetes entre os amigos, mas Plínio lutou pelo nome e acabou convencendo os dois.
(FONTANA, Emílio; MARCOS, Plínio. [s.t.]. Revista Bondinho, São Paulo, 2 a 19 abr. 1971, p.28. Mesa
redonda conduzida por Roberto Freire e Humberto Pereira.)
252
leve à mal, Nenê, mas eu cansei dessa miséria”. Magoado, o namorado pergunta diretamente:
“Se eu tivesse (grana), tu casava comigo?”, mas Ana tenta se esquivar de responder. Diante
do desconsolo de Nenê, a moça afirma seu amor e faz uma proposta: “Eu sou gamada em
você. Se você quiser uma prova que eu gosto de você, eu me entrego a você, mas casar
não...”.
Todos esses diálogos ocorrem em meio a beijos, abraços e lágrimas, retratados em
planos com enquadramentos diversos, sem sincronia entre as imagens e as falas (dubladas,
como em todo o filme), alternando constantemente silenciosos close-ups dos rostos imóveis
do casal e planos detalhes dos olhos e bocas, com os diversos diálogos entre eles. Após a
proposta de Ana, Nenê dá um tapa em sua cara e sai correndo pela rua, sozinho, em desespero
e gritando seu nome.
385
O flashback termina novamente com uma imagem de uma roda gigante.
Mais uma vez é o grito de uma lembrança traumática que acorda Nenê de seu transe
no presente, momentos antes de iniciar um tiroteio com os policiais em seu encalço. São
inseridas imagens de outros filmes, com planos de bombas e explosões. O cerco aumenta e ao
som de uma música épica, chegam dois camburões com um grupo de policias armados de
metralhadoras, além de um caminhão com a tropa de choque que cerca e isola a área dos
curiosos. De forma próxima a um western, o reforço policial parece chegar como a célebre
“sétima cavalaria” americana, embora a semelhança seja com um famoso “esquadrão”
tupiniquim.
Ao mesmo tempo, o circo em torno do bandido só aumenta. Curiosos observam a
perseguição com rádios de pilha, binóculos e comendo pipoca. O deboche surge novamente
com cenas de inocentes sendo alvejados por balas perdidas (um homem é atingido na bunda e
outro é baleado enquanto sua esposa continua falando sem perceber) ou com um policial se
escondendo num banheiro já ocupado. Um vendedor já oferece fotografias do bandido no
meio da multidão e um repórter (Jô Soares) entrevista um grupo de curiosos satirizando os
programas sensacionalistas. Em seguida entra em cena uma banda no estilo jovem guarda
chamada The Gonk´s, que apresenta “a música que compusemos para Nenê Bandalho, o
385
No Certificado de Censura de Nenê Bandalho estão anotados as seguintes determinações de cortes: cortar no
fim da segunda parte na trilha sonora, os diálogos: “se você quiser, eu dou para você”; “puta...puta”. Da mesma
forma que Chediak disse ter feito em A navalha na carne, as palavras que substituíram as cortadas (“eu me
entrego a você” no lugar de “eu dou para você”) foram redubladas com um volume diferente, sendo claramente
perceptível para o espectador esse “remendo”.
253
bandido no telhado: Sangue, coração e balas”. Indiferentes ao tiroteio, vários jovens dançam
ié-ié- ié freneticamente.
386
Um policial à paisana passa pelo meio do “show” e entra num camburão, onde já estão
três de seus colegas. Ele comenta com os outros: “Vamos acabar com essa palhaçada. Um
simples pé de chinelo dando um trabalho danado. Estão gozando com as nossas fuças.
Precisamos dar uma lição no bandido e no povo”. “Mas como?”, pergunta outro. Um terceiro,
com o rosto impassível e voz monocórdica, anuncia: “Tive uma idéia sensaciona l! Vamos
jogar uma bomba no desgraçado” O primeiro concorda entusiasmado, enquanto outro pondera
em relação às casas da vizinhança. Apesar de um policial discordar da preocupação (“Que se
danem!”), a proposta é colocada em votação e acaba sendo aprovada por unanimidade.
Enquanto a debochada, interminável e estúpida discussão prossegue (em seguida, sobre quem
irá colocar a bomba), os tiros permanecem sendo ouvidos o tempo todo, às vezes tão alto que
se sobrepõem aos diálogos. Ao mesmo tempo em que os quatro discutem, o tiroteio segue
vitimando policias e inocentes.
Em contraste com o incômodo e quase ensurdecedor barulho de tiros, a cena seguinte,
numa festa da alta sociedade, é embalada por uma contínua e suave música ambiente. A
câmera mostra em planos longos, com movimentos lentos e sem cortes bruscos, diversos
casais e situações do evento social. Um homem aos beijos e risos com uma bela mulher
(Isabela Giorgetti) começa a passar mal e vomita no chão, atrás do sofá (com riqueza de
sons), quase que olhando para a câmera. Enquanto isso, um outro casal se beija, mas não
vemos seus rostos, apenas a mão dele subindo da cintura ao seio da moça. Um casal mais
velho boceja, come e bebe sem parar. Um homem careca (Sandro Polônio) está flertando com
uma jovem e pergunta a ela de seu marido – “Ele está ali”, ela responde – enquanto ele diz:
386
A jovem guarda foi um movimento musical de grande sucesso popular cujo auge coincidiu com o programa
Jovem Guarda, apresentado na TV Record a partir de 1965. Apesar de criticado como alienado e colonizado, as
estrelas e as canções da jovem guarda estiveram presentes em diversos filmes brasileiros ao longo de toda a
década de 60, inclusive em Garota de Ipanema, que não deixou de “apelar” para a fama de Ronnie Von. O
mega-sucesso Roberto Carlos em ritmo de aventura (dir. Roberto Faria, 1968) marcou época no cinema
brasileiro num momento em que o “Rei Roberto” já direcionava sua carreira para a canção romântica. Em Nenê
Bandalho a jovem guarda ainda carregava o estigma pré-tropicalista da alienação americanizada em sua
vinculação à indústria cultural, aparecendo como um dos elementos do circo criado pela mídia para explorar o
drama do bandido. A ligação da jovem guarda com grupos estrangeiros foi marcante e assim como muitos de
seus hits eram versões nacionais de músicas americanas, na banda do filme, como em muitas outras da jovem
guarda – como The Cleans, The Pops, The Clevers, The Sunshines, The Youngsters – a influência era notada até
em seus nomes. The Gonks nos remete claramente ao famoso grupo americano The Monkeys, por exemplo. Esse
aspecto é ainda mais presente numa cena seguinte do filme em que se ouve uma música de um dos conjuntos
mais bem sucedidos da jovem guarda, The Fevers.
254
“minha mulher está ali”. O casal sai discretamente até o jardim onde começam a se abraçar e
ele a beijar demoradamente o pescoço e o braço da mulher como um verdadeiro Nosferatu.
Na sala, uma outra jovem puxa conversa com um homem mais velho (Nagib
Elchmer). Não ouvimos as frases, somente as risadas estridentes da moça e música ambiente.
Ele, aparentemente o anfitrião da festa, é interrompido por um empregado (Ugo Giorgetti)
quando toca o telefone. Após atender, anuncia aos presentes que terá que sair, pois “o dever o
chama”. Num tom de discurso oficialesco, olhando diretamente para a câmera, afirma que
deve responder ao chamado da sociedade para acabar com Nenê Bandalho – “esse assassino,
estripador, vagabundo, ladrão, crápula” – e “defender nossas mais sagradas tradições” (frase
muito em voga na época por defensores do regime e organizações conservadoras). Sua fala
eloqüente é saudada por palmas e música operística.
No jardim, os convidados se reúnem para falar da novidade com tremenda futilidade.
“Quanta emoção!”, “Adoro aventuras!”, “vamos todos ajudar a prender Nenê Bandalho”
dizem as mulheres. A preocupação de um dos convidados – “Isso é uma temeridade! Esse
Nenê Bandalho atira para matar” – não tira o entusiasmo de outra: “Oba! Vai ser super
bacana!”. A madame entediada dá a deixa para todos irem embora – “Vamos logo que a festa
está monótona”. Os convidados não esquecem de pegar os pratos de canapés, os copos e
garrafas antes de saírem numa caravana de limusines aos gritos e urros, bêbados já à luz do
sol.
As redondezas do telhado onde o bandido se escondeu virou um circo. Como num
alegre e descontraído vídeo-clipe ao som de Yellow River (música de J. Christ e grande
sucesso do grupo da jovem guarda The Fevers), vemos diversas pessoas saltarem de dentro de
um ônibus para se juntarem à multidão de jovens, velhos e crianças, em meio a vendedores de
balão, pipoqueiros, sorveteiros, barracas de churrasquinho e curiosos trepados na s árvores. A
banda The Gonk´s continua tocando no próprio local onde o bandido está cercado pela polícia.
O anfitrião da festa – uma espécie de secretário de segurança – chega ao local e é
recebido com continência pelos policiais militares. Um cordão de isolamento é formado por
soldados da tropa de choque, afastando todos de perto, com exceção dos ricaços que, sentados
em cima da limusine, podem observar de lugar privilegiado o espetáculo que virou o cerco ao
bandido.
De repente, um dos grã- finos vê, no alto da casa, Nenê Bandalho, que atira em sua
direção. Mas as balas do bandido, inexplicavelmente, caem no chão, inofensivas. Satisfeito
por não ser atingido, o figurão diz “Não falei que não tinha perigo”. Esse tom absurdo e quase
255
surrealista remonta claramente à assumida influência de Luis Buñuel, incluindo suas críticas
agudas à burguesia decadente em filmes como O anjo exterminador (El àngel exterminador,
México, 1962). Se Plínio Marcos afirmou que seu conto era uma história em que pegou “todo
o
absurdo
da
realidade
do
submundo
brasileiro”,
Fontana
cinematograficamente este absurdo, mesmo que fugindo do realismo.
procurou
traduzir
387
No telhado, o bandido tenta acender um outro baseado, mas acabaram seus fósforos. O
som da caixa vazia sendo insistentemente amassada e seu rosto sofrendo anunciam a
passagem para outro flashback. Nenê Bandalho, observa, como uma câmera oculta, Ana, sua
ex-namorada, saindo de uma loja numa rua movimentada e entrando num carro, com um
homem mais velho (aparentemente seu patrão), abrindo a porta para ela. “Até segunda,
Senhor Martins”, Ana agradece. Como num passe de mágica, o homem, agora vestido de
smoking, entra junto no carro com se estivesse casando. Um plano de uma torcida de futebol
explodindo em berros após um gol e Nenê correndo e gritando pelo nome da ex-namorada é,
de novo, a deixa para o bandido acordar no presente, novamente em perigo.
Nenê está no telhado e um policial espreita atrás dele. Embaixo, curiosos apostam
quem irá morrer. O suspense é reforçado pela música orquestral até que Nenê acerta o policial
e mais uma vez é seguido por um plano de torcida de futebol aos berros. Na rua, o vencedor
da aposta recolhe o dinheiro dos outros.
Seguem-se planos retirados de filmes B ou cine-jornais – aviões de guerra, tanques,
cavalaria, helicópteros – num processo típico do “cinema do lixo”, aproveitando, literalmente,
restos de outros filmes. Em seguida, o tal “secretário de segurança” fala para dezenas de
microfones repetindo seu discurso: “não serão poupados esforços...”. Toda a cidade se
mobiliza na caçada.
Enquanto isso, Nenê, ainda no telhado, vê uma mulher na janela do prédio em frente
trocando de roupas e tenta, inutilmente, atirar em sua direção. Sem balas, ocorre a passagem
para o último e derradeiro flashback.
Com uma aparência mais bem cuidada e barba feita, Nenê entra no apartamento de
uma mulher. Aos beijos, começam a se abraçar e tirar a roupa com sofreguidão e quase
desespero, mas param subitamente. Ele senta-se na cama, desanimado. Ela o abraça por trás
tentando animá- lo: “Vamos tentar de novo. Esquece, vai?” Inserts dos estupradores de sua
mãe atormentam Nenê que, frustrado pela impotência, repentinamente se vira e desfere
387
FONTANA, Emílio; MARCOS, Plínio. [s.t.]. Revista Bondinho, São Paulo, 2 a 19 abr. 1971, p.30. Mesa
redonda conduzida por Roberto Freire e Humberto Pereira.
256
violentamente várias pancadas na cabeça da mulher. Enquanto escutamos repetidamente as
frases da primeira vítima – “Esquece. Vamos tentar de novo? Aconteceu a mesma coisa. Ele
estava nervoso e depois passou” –, ela assume novo significado acompanhando as cenas
seguintes, em que Nenê mata diferentes mulheres, sempre revoltado por não conseguir
consumar o ato sexual após seduzi- las. Seja com um porrete, estrangulando ou apunhalando, o
rapaz transforma-se num atormentado serial killer. 388
Sons de tiros interrompem novamente as lembranças. Nenê joga os revólveres fora e
se entrega. De volta à rua, o bandido encara uma linha de policiais com armas dos mais
diferentes calibres sendo engatilhadas. Nenê está indefeso, como diante de um pelotão (ou o
“esquadrão’) de fuzilamento.
Num plano em câmera lenta (com rápidas reversões para imagem negativa), ao som de
incontáveis tiros e sirenes, Nenê é fuzilado, caindo ensangüentado no chão e envolto em
fumaça. Na imagem seguinte, seu corpo no chão é cercado pelos seus algozes, de quem só
enxergamos os braços e as mãos segurando as armas. Um deles ainda chuta o bandido para
conferir se está realmente morto antes de entrar no camburão.
Num longo plano geral, vemos o corpo de Nenê cercado pela multidão que começa,
lentamente, a se dispersar com o crescente barulho de carros e buzinas. O bandido morto vai
tornando-se apenas um detalhe, parecendo simplesmente que “morreu na contramão
atrapalhando o tráfego”. Os curiosos vão embora, a banda recolhe os instrumentos, o lixo e os
papéis voam e o som do vento substitui o barulho dos automóveis, até, finalmente, o corpo de
Nenê, solitário e silencioso, estar sozinho na rua (e na tela). Um plano aéreo a partir do
cadáver do bandido ganha altura e amplia a visão da cidade que ocupa, agora, todo o
horizonte. A música orquestral volta a ocupar a trilha, com o tema do clássico western com
Steve McQueen, Nevada Smith (EUA, dir. Henry Hathaway, 1966), de autoria do maestro
Alfred Newman.
Teatro pliniano e Cinema Marginal, Plínio e Candeias.
388
Filmado em contra-plongê, os gestos e posição corporal de Nenê quando ele desfere pancadas nas vítimas
inocentes se assemelham muito aos macacos da primeira parte de 2001, uma odisséia no espaço (2001, a space
odyssey, dir. Stanley Kubrick, 1968), quando eles descobrem o uso de um osso como arma.
257
Como já foi apontado anteriormente, o teatro de Plínio Marcos consagrado entre 19661968 apresentava diversas características que podem ser aproximadas do Cinema marginal,
que viveu seu auge no Brasil entre 1968 e 1971, especialmente em relação ao retrato da
realidade marginal urbana e à extrema agressividade dessas obras. O mesmo sentimento de
impotência e de crise aguda expressa na clássica frase de O bandido da luz vermelha –
“Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba” –
encontra eco nos personagens plinianos, que por também não poderem fazer nada,
simplesmente se agridem e se violentam.
Pensando na relação de Plínio Marcos com o cinema marginal, diversas semelhanças
podem ser apontadas entre a trajetória inicial de sua carreira com a do cineasta Ozualdo
Candeias, que estreou no longa-metragem com o polêmico e inovador A margem (1967), do
mesmo ano da peça Navalha na carne. Em sintonia com o dramaturgo santista, voltado para
os personagens e cenários marginais, Candeias mirava sua câmera para a população
desprezada e ignorada que habitava as favelas nas margens do rio-esgoto do Tietê. Além de
origens social e econômica distintas dos intelectuais de classe média e de obras que traçavam
o retrato de um ambiente e de uma população excluídas das representações usuais das
camadas populares, tanto Plínio quanto Candeias apresentavam semelhanças também numa
visão do popular que enxergava por debaixo do lixo, a pureza, a moral ou o sublime.
Tanto Plínio Marcos, um ex-palhaço de circo, quanto Ozualdo Candeias, um excaminhoneiro, foram considerados “analfabetos” ou “primitivos” que surpreenderam a crítica
pela sofisticação e elaboração de suas obras, cuja realização teriam sido verdadeiros
“milagres”. Na recepção tanto das peças de um quanto do filme do outro eram ressaltados o
“conhecimento íntimo” que tinham daquele universo marginal pela “vivência” pessoal,
resultando numa representação extremamente “autêntica”. Ao mesmo tempo, ambos se
distinguiam da arte de esquerda politicamente engajada – especialmente o Teatro de Arena, de
um lado, o Cinema Novo, de outro – em suas obras nos quais eram apontadas características
universais. Em A margem os críticos identificaram influências, por exemplo, da vanguarda
francesa dos anos 20 e de Pasolini, enquanto Dois perdidos numa noite suja e Navalha na
carne foram comparadas com peças de Albee, Sartre ou Beckett. Estrategicamente, ambos, o
cineasta e o dramaturgo, assumiram e incorporaram o papel de “ignorantes”, confirmando o
desconhecimento dessas referências, o que pode ser plenamente questionado.
389
389
Daniela Pinto Senador apontou como a consagração de A margem em 1967 também representou uma
instrumentalização política do filme de Candeias pela crítica conservadora, que o exaltou para diminuir o
258
Entretanto, a grande diferença que percebemos na obra dos dois artistas é em relação à
linguagem. Ozualdo Candeias surpreendeu o meio cinematográfico brasileiro pela liberdade e
ousadia de sua câmera, enquanto Plínio Marcos, por outro lado, apesar de características
marcantes de sua obra, não foi exatamente um grande inovador em termos formais, se
destacando em meio ao movimento de vanguarda do teatro brasileiro sobretudo pela
radicalidade de seu realismo.
Essas semelhanças foram apontadas numa crítica de A margem, publicada no jornal
Correio Braziliense, no qual Reynaldo Ferreira chamava a atenção para a revelação de um
novo diretor, Ozualdo Candeias:
Cuja importância para o cinema nacional pode vir a ser semelhante à que representa hoje Plínio Marcos
para o nosso teatro. Tanto um quanto o outro tratam de temas sociais, focalizando a vida de prostitutas,
bandidos e marginais, a gente colocada à margem da civilização, num grande centro industrial, como é
São Paulo. Ozualdo Candeias, como o autor de ‘Navalha na carne’, usa de uma linguagem direta,
vigorosa e realista para fazer chegar ao público sua mensagem que, nem por ser social e política, deixa
de ser também profundamente poética. 390
Mas se A margem pode ser considerado um filme precursor do Cinema Marginal, a
obra do então quarentão Candeias – o “marginal entre marginais” (FERREIRA, 1996) – se
diferencia em muitos aspectos dos filmes da geração de Sganzerla, Bressane e outros. Da
mesma maneira, Plínio Marcos e Emílio Fontana, que apresentavam afinidades de visões,
também guardavam distancia desses jovens. Dessa maneira, é igualmente possível perceber
como Nenê Bandalho se aproxima de A margem, especialmente por seu retrato do povo,
representado pelo protagonista. Emílio Fontana contou que o filme de Candeias serviu de
referência para ele quando dirigiu seu longa- metragem, inclusive pela mistura de
documentário e ficção e afirmou que “Alberto Shatowski e outros críticos consideraram que
Nenê Bandalho, O bandido da luz vermelha e A margem eram uma trilogia. Apresentavam em
forma de trilogia o cinema underground”.
391
Por outro lado, além de um interesse comum pela marginalidade urbana, tanto Plínio
Marcos quanto Emílio Fontana (que pertenciam a mesma geração, tendo pequena diferença de
idade) se preocupavam com um teatro voltado para o povo, que falasse de igual para igual e
explicitamente engajado Terra em Transe, lançado no mesmo ano (SENADOR, Daniela Pinto. A margem versus
Terra em transe: estudo sobre a ascensão de Ozualdo Candeias no universo cinematográfico. Caligrama, v. 1,
n.3, set-dez. 2005. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/caligrama/>. Acesso em: 4 jun. 2006).
390
FERREIRA, Reynaldo Domingos. Cinema: A margem. Correio Braziliense, Brasília, 1 dez. 1967.
391
Entrevista com o autor.
259
numa linguagem acessível ao homem comum – preocupação idêntica a de Braz Chediak, por
exemplo.
392
Ou seja, se o filme de Fontana se alinhava temática e ideologicamente ao conto de
Plínio Marcos (e também aos filmes de Chediak), ele também se aproximava esteticamente
dos filmes marginais, resultando assim num equilíbrio precário. Em Nenê Bandalho esse
conflito é resultado de um desejo de consonância com as experimentações estéticas no cinema
brasileiro e internacional daquela época – ou mais, na cultura como um todo –, mas ainda
apresentando resquícios de um pensamento, então questionado, que tendia ao desejo de
realismo e a uma visão moralista, romântica e maniqueísta. O filme de Emílio Fontana,
estreante como os demais cineastas marginais, mas também já quarentão em meio aos jovens
saídos de seus vinte anos, chegou a ser criticado exatamente por ser considerado uma obra
“no meio do caminho”. Na verdade, Nenê Bandalho apresenta uma mistura muitas vezes
pouco harmoniosa ou coerente de inúmeras influências, mas que são um claro reflexo um
momento conturbado e de transição na história política e cultural do país.
Plínio e Fontana: choque de estilos
O próprio Plínio Marcos comentou no Material de divulgação de Nenê Bandalho,
reproduzido na imprensa, as relações entre seu conto e o filme:
Escrevi a história do filme como se estivesse escrito um conto. Nessa história não há gente boa ou má.
Todos somos produtos das circunstâncias sociais e meus personagens são apenas isso. Para mim a
experiência é um tanto distante, porque apenas escrevi a história e nenhuma interferência tenho no
filme. Está, porém, dentro do meu estilo e dos problemas do submundo que conheço bem, um
mundo que vivi e sobre qual tenho escrito minhas peças (grifo meu). 393
O conto original de Plínio era sobre “as últimas 36 horas de vida de um bandido,
cercado pela polícia e por uma multidão de espectadores anônimos”. Segundo Fontana, o
conto terminava com o povo assistindo à caçada a Nenê Bandalho, que morria fuzilado pela
392
A afinidades de visão entre o diretor Emílio Fontana e Plínio Marcos foi admitido pelos dois em debate:
“Emílio Fontana: (...) eu e o Plínio temos afinidades. Plínio Marcos: Fui seu aluno. Emílio Fontana: Ah, é
verdade. Mas aprendi muito com você depois. Plínio Marcos: Deixa de confete! Emílio Fontana: Não é confete,
cara! Existem afinidades de estilos e maneiras de pensar, de ver as coisas, inclusive de vivência”. FONTANA,
Emílio; MARCOS, Plínio. [s.t.]. Revista Bondinho, São Paulo, 2 a 19 abr. 1971, p.30. Mesa redonda conduzida
por Roberto Freire e Humberto Pereira.
393
AS DUAS histórias de Nenê Bandalho, [1971]. Material de divulgação. Mimeografado.
260
polícia. Como num estádio de futebol, após o final de um jogo, a torcida abandonava o local e
o corpo do bandido ficava ali, inerte. Nisso, rolos de fenos começam a passar por cima de seu
cadáver, como num um conto de faroeste.
O processo de adaptação dessa história para o cinema também foi comentada na época
por seu diretor: “transformei a reportagem realista numa imagem muito bonita e pessoal,
havendo um choque de estilo do conto do Plínio com o meu roteiro. Porém, no fundo, como
ele mesmo confirma, ambos identificados” (grifo meu). 394
Comparando Nenê Bandalho com A navalha na carne (filmado exatamente no mesmo
ano, 1969) e Dois perdidos numa noite suja (lançado também em 1971), adaptações nas quais
se buscou um determinado realismo cinematográfico (filmagens em locações reais, aspecto
documental da fotografia, liberdade de improvisação dos atores) que estivesse em sintonia
com o realismo da peça, nota-se realmente no filme de Fontana um choque de estilo.
Nenê Bandalho é um filme com características que podem ser aproximadas do cinema
marginal, mas também é uma adaptação que segue o desenvolvimento linear e a narrativa de
causalidade do conto de Plínio Marcos, diferentemente dos filmes “marginalizados”, nos
quais, segundo Fernão Ramos (1987a, p.126-127), haveria um abandono completo do filme
documentário e o distanciamento “de qualquer parâmetro realista”.
Um ponto importante a ser levado em conta é o fato de Nenê Bandalho ser um dos
raros filmes considerados marginais assumidos abertamente como uma adaptação de obra
literária. Podemos lembrar da visão pessoal de Fernando Cony Campos a partir de Memórias
póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em Viagem ao fim do mundo (1967), ou da
curiosa adaptação de Hamlet por Ozualdo Candeias em A herança (1971) que abdicava
justamente dos célebres versos de Shakespeare. Essa origem literária pode ser encarada como
um dos motivos para Nenê Bandalho manter um (constantemente criticado) “forte vínculo
realista” (RAMOS, G.; ARAÚJO, L., 2001, p.62), característica talvez inescapável ao se
tratar de um filme baseado numa obra de Plínio Marcos.
Ou seja, Nenê Bandalho é um filme no fio da nava lha entre a demanda realista (na
intenção de retratar e criticar a realidade social), a linearidade e a causalidade (do argumento
no qual se baseou e da inspiração no cinema de gênero), e as características de ruptura da
narrativa clássica do cinema marginal, cujo experimentalismo no caso do filme de Emílio
Fontana é mais acentuado no tratamento sonoro e na montagem de Luiz Elias. Nesse
394
Ibid.
261
equilíbrio precário de várias influências, o conto de Plínio Marcos é uma peça chave para
melhor compreensão do filme.
O diretor falou sobre esse aspecto em entrevista:
Enquanto Plínio Marcos escreveu uma história realista, lançando mão dos flashbacks, eu optei por
acentuar o sonho e a realidade. Jogo com os dois e o espectador não sabe o que é real ou fantasia,
passado ou presente. Mas é claro que isso não prejudica o entendimento do filme. O público tira suas
conclusões. 395
O aspecto onírico, de tons surrealistas, fica mais acentuado nos dois últimos
flashbacks (de Ana com outro homem e dos assassinatos das mulheres), quando a maconha, o
trauma do passado e o desespero da perseguição começam a embaralhar memória e realidade,
as lembranças se sobrepõem umas às outras e as alucinações parecem se tornar reais.
Entretanto, ao longo da história o almejado “entendimento do filme” é também plenamente
garantido por uma narrativa linear e causal.
Essa duplicidade de Nenê Bandalho viria a ser muito atacada nas análises posteriores
do filme, mas teve um julgamento menos severo nas duas críticas escritas na época do
lançamento do filme em 1971, que elogiaram tanto a inventividade de linguagem, quanto o
retrato “objetivo” da realidade social. Na Folha de São Paulo, Orlando Fassoni afirmou que
Fontana fez um filme que “tem o cheiro das coisas experimentais, mas que sabe como romper
com os limites da concepção primária”, elogiando as habilidades do diretor em dar ao filme
um aspecto despojado, cru e seco, e que mesmo sem “o charme que o espectador deseja, une
espetáculo e crítica social”. Por fim, elogiou também a neutralidade e a ausência de
paternalismo de Nenê Bandalho ao limitar-se a situar o personagem “dentro de uma realidade
social, narrar as situações que geram o marginal e deixar as conclusões a cargo do
espectador”.
396
Da mesma forma, Ida Laura, no jornal Estado de São Paulo, afirmou que Nenê
Bandalho é um filme que admite três planos: o primeiro com o enredo policial; o segundo
com críticas sociais (o mais discutível, pois sujeito a modismos);
e o terceiro, o mais
importante, em que impõe recursos técnicos variados. Neste plano “traz a biografia, que é a de
um criminoso qualquer, através de uma concepção de enquadramento, corte e montagem que
despreza os moldes tradicionais, a um quadro dinâmico que pode ser encarada
395
ALENCAR, Miriam. Nenê Bandalho: o anti-herói que passou cinco anos nos corredores da censura consegue
chegar às telas. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1977.
396
FASSONI, Orlando L. Folha de São Paulo, 6 abr. 1971. In: Guia de filmes. Rio de Janeiro: Instituto Nacional
do Cinema, n. 32, mar-abr. 1971.
262
simultaneamente como sátira e como tomada humanística da situação”. Dessa maneira, o
diretor conseguiu criar “um filme em nível aceitável” (grifo meu).
397
Além do experimentalismo de linguagem, o outro elemento apontado pela crítica que
aproxima Nenê Bandalho dos filmes marginais e o distancia radicalmente de A navalha na
carne ou Dois perdidos numa noite suja, é o seu indiscutível deboche.
Deboche e avacalhação
Apesar de Nenê Bandalho não deixar de apresentar um teor realista-dramático,
expressando como vários filmes marginais o horror diante da violência e do absurdo da
situação social e política do país, o nível de deboche do filme de Fontana não encontra
paralelo em nenhuma outra adaptação anterior da obra de Plínio Marcos.
Como apontou Rubens Machado Jr. (2001, p.16), o cinema marginal revalorizou a
chanchada, desprestigiada intelectualmente pelo Cinema Novo, e, diferentemente desse
movimento, demonstrou um interesse pelo humor. Os filmes marginais, marcados pelo
deboche e pela curtição, não apresentavam a seriedade dos cinema-novistas, embora fossem
igualmente engajados, pelo menos estética e poeticamente. Por outro lado, João Luiz Vieira
(2001, p.98) lembrou que tanto nos filme marginais quanto, por exemplo, em Macunaíma –
através do qual o Cinema Novo assumiu explicitamente o diálogo com a chanchada – estava
presente o “humor corrosivo, às vezes anárquico, expondo um gosto pela crítica social
encontrado com freqüência no próprio discurso paródico”.
Em Nenê Bandalho, além da já citada cena em que o bandido se esconde dos policiais
numa lata de lixo com uma caixa de papelão na cabeça, a própria idéia de um bandido
resistindo ao cerco policial de cima do telhado das casas já tem um aspecto ridículo, irônico e
non-sense. Na verdade, como já foi dito, trata-se de um retrato do absurdo geral (e muitas
vezes real), ao qual, conforme dizia o bandido mais famoso, só restava avacalhar.
Definitivamente, uma das características mais significativas de Nenê Bandalho é o
humor corrosivo e amargo, expresso especialmente por uma ferina crítica à alta burguesia
(fútil, adúltera, devassa e alienada), aos órgãos de repressão policial (violentos, desumanos,
burocráticos, demagogos e incompetentes), além dos próprios meios de comunicação de
397
LAURA, Ida. O Estado de São Paulo, 2 abr. 1971. In: Guia de filmes. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do
Cinema, n. 32, mar-abr. 1971.
263
massa, que transformam num circo (e num produto, a ser consumido pelo povo passivo) um
drama pessoal e, essencialmente, social.
Em relação à crítica à burguesia, esse é provavelmente o aspecto mais polêmico de
Nenê Bandalho. Em mesa redonda com o diretor e o dramaturgo, os entrevistadores
apontaram como sendo o tratamento das classes sociais mais elevadas o principal ponto fraco
do filme. Fontana replicou que não teve intenção de ridicularizar uma situação, mas de
mostrar aquilo da forma que ele via. Mesmo assim, parece ter sido a questão mais
controversa, como exemplificada pelo suposto acontecido na exibição do filme na Cinemateca
do MAM, em 1971, relatado pelo próprio diretor:
A briga que houve – depois da projeção no Rio – entre o Alex Viany e o Gustavo Dahl. O Gustavo Dahl
achou ridícula a idéia de a fita inclusive querer acusar a burguesia decadente. Então o Alex Viany disse
que era. Então o Gustavo Dahl disse que não era, porque a burguesia está assumindo um papel
importante, inclusive nos Estados Unidos, não só no poder como na oposição. Eu não estava presente.
Me contaram que aí os dois começaram a brigar justamente por causa da cena da festa. No fim, eu sei
que o Alex Viany começou a ficar nervoso, o Gustavo Dahl falou: ‘você cala a boca senão eu lhe
quebro a cara’. E o Alex Viany falou: ‘pois quebra!’ Então o Gustavo Dahl não teve dúvida, deu-lhe
uma porrada na cara, voou óculos, voou tudo. E o Glauber Rocha, também viu e eu não sei... ele gostou
muito, achou que a festa era o episódio mais importante.398
Na entrevista oferecida para este trabalho, Fontana disse ter estado realmente presente
no debate na Cinemateca, mas que não se lembrava mais da razão da briga: “Eu sei que eles
brigaram. Eu falei um pouco do colonialismo [cultural]... acho que alguém não concordou
comigo”.
399
Essa oposição maniqueísta entre as classes populares e a burguesia, implicitamente
presente na obra de Plínio Marcos desde pelo menos Os Fantoches e exacerbada na década de
70, também remontava aos filmes da primeira fase do Cinema Novo. Entretanto, a briga entre
Alex Viany e Gustavo Dahl é uma mostra exemplar (e melancolicamente literal) do racha
que o Cinema Novo – e a arte de esquerda de uma maneira geral – viveu no final dos anos 60
e início dos 70, momento esse marcado pelo furacão tropicalista.
O tropicalismo apontava para uma mistura entre o velho e o novo, o estrangeiro e o
nacional, a baixa e a alta cultura. Da mesma forma que os músicos da linhagem jobiniana398
FONTANA, Emílio; MARCOS, Plínio. [s.t.]. Revista Bondinho, São Paulo, 2 a 19 abr. 1971, p.33. Mesa
redonda conduzida por Roberto Freire e Humberto Pereira.
399
Independente das contradições, o fato é que a sessão de Nenê Bandalho na Cinemateca do MAM, em 18 de
janeiro de 1971, dentro da mostra Novos Rumos do Cinema Brasileiro, teve como complemento o curta Museu
Nacional de Belas Artes, dirigido por Gustavo Dahl. Além disso, existe ainda um outro relato de que o eterno
comunista Alex Viany já tinha levado um soco do cada vez menos comunista (e com fama de violento) Gustavo
Dahl na mesma Cinemateca do MAM, por ocasião da estréia do filme O bravo guerreiro (1968, dir. Gustavo
Dahl).
264
gilbertiana e da chamada MPB engajada se chocaram com a “geléia geral” de Caetano, Gil,
Gal, Betania, Mutantes e outros (seguidos depois por Jorge Ben, Raul Seixas ou Secos e
Molhados), os diretores do Cinema Novo, que bebiam na literatura de Guimarães Rosa,
Euclides da Cunha, Drummond, Mário de Andrade, Lúcio Cardoso e outros, viram surgir
jovens cineastas que dialogavam sem pudor com letras muito menos refinadas, como, por
exemplo, a das manchetes dos jornais populares.
Tropicalismo e imprensa popular
Enquanto a principal referência para o Cinema Novo foi a literatura, em especial a dos
regionalistas dos anos 30, os cineastas marginais, sob o espectro de influência do
tropicalismo, dialogaram de maneira intensa com os “dejetos” da indústria cultural. Como
apontou Xavier (2001, p.21), “se no horizonte maior o modelo é Oswald de Andrade, o
‘marginal’ muda os termos da antropofagia; sai de cena o que se extraía do cânone do
modernismo e da melhor tradição literária, e entram as formas do imaginário urbano menos
prestigiadas”. Ao invés de Graciliano Ramos ou José Lins do Rego, encontram-se em
diversos filmes marginais a estética dos quadrinhos e a influência dos gibis, assim como das
pulps de R.F. Lucchetti, ambos considerados espécies de subliteratura.
Ou seja, podemos localizar no cinema marginal, segundo preceitos tropicalistas (e sua
contrapartida antropofágica), um diálogo crítico, mas também incorporador com o mundo
industrial e os modernos meios de comunicação. Nesse sentido, elementos estéticos –
essencialmente urbanos – desvalorizados pelo cinema de influência nacional-popular como as
histórias em quadrinhos, a publicidade, o romance policial, o rádio, a televisão e o jornalismo
sensacionalista, adquirem renovada importância. É significativo, entretanto, que mesmo essa
cultura massificada mantém nos termos de Jésus Martin-Barbero (1997, passim), alguma
forma de relação com uma “autêntica” cultura popular, através de reflexos do que o autor
chama de matriz cultural.
De acordo com a reavaliação feita por Barbero (ibid, p.246 et seq.) de diversos
elementos da cultura de massa, como, por exemplo, da imprensa sensacionalista, de forte
presença na América Latina, é possível perceber que “por trás da noção de sensacionalismo,
como exploração comercial da reportagem policial, da pornografia e da linguagem grosseira
se esconde uma visão purista do popular”, sem falar de uma conexão com a estética
265
melodramática. Essa reflexão revela-se bastante útil numa análise de um filme como Nenê
Bandalho,
Acredito que o rico diálogo do cinema marginal com a reportagem policial – apesar da
busca constante do rompimento do vínculo catártico próprio à narrativa clássica nesses
mesmos filmes – é um dos principais responsáveis pelo sucesso popular de algumas
produções, além, lo gicamente, do elemento erótico, presente sobretudo na produção paulista
ligada à Boca do Lixo. Podemos lembrar que dois dos mais bem sucedidos filmes desse
“grupo”, O bandido da luz vermelha e Matou a família e foi ao cinema, buscaram sua
principal inspiração na imprensa sensacionalista. O primeiro tomando como protagonista um
famoso personagem desse noticiário popular, e o segundo elaborando seus aparentemente
independentes núcleos narrativos a partir de manchetes sangrentas retiradas de jornais
populares. Além disso, o texto- manifesto Nasce o cinema cafajeste: “Ana”, escrito por João
Callegaro e publicado no folheto promocional do filme As libertinas (dir. Carlos
Reichenbach, Antonio Lima e João Callegaro, 1968), já propunha, entre outras coisas, a
incorporação da “linguagem dos ‘Notícias Populares’ e do ‘Combate Democrático”,
principais jornais da chamada “imprensa marrom”.
400
Dessa forma, Nenê Bandalho também evidencia uma ligação com uma matriz cultural
através de um diálogo com a imprensa (inspiração para o próprio argumento original)
mediado, justamente, por um autor identificado como “repórter de um tempo mau”, e que foi
constantemente valorizado precisamente por sua origem genuinamente popular e por dar voz
ao “povão”. Grosso modo, o que Sganzerla e Bressane encontraram nas bancas de jornal,
Fontana tentou buscar através de Plínio Marcos.
Para os cineastas marginais, assim como para os tropicalistas, a imprensa
sensacionalista era um das facetas grotescas e arcaicas que formavam o multifacetado retrato
do país. Na letra da canção Parque Industrial, de Tom Zé, do disco manifesto Tropicália, esse
aspecto surge de forma cristalina:
E tem jornal popular,
que nunca se espreme
porque pode derramar.
É um banco de sangue
encadernado,
já vem pronto e tabelado,
é somente folhear e usar,
400
Esse texto, constantemente citado como Manifesto do Cinema Cafajeste, é confundido também com texto
semelhante, mas posterior, do folheto promocional de O pornógrafo (dir. João Callegaro, 1970), intitulado
Considerações sobre “O PORNÓGRAFO”.
266
é somente folhear e usar,
porque é made, made, made,
made in brazil
Por outro lado, uma questão primordial para uma análise de Nenê Bandalho e que para
Barbero é um aspecto essencial da cultura de massa – especialmente do cinema – por tornar
visível a matriz cultural que alimenta o reconhecimento popular, são justamente os gêneros.
Filme policial: o cowboy na selva de pedra
Dentre os detritos da indústria cultural, os cineastas marginais apresentaram especial
interesse pelo lixo cultural do primeiro mundo. Nesse momento, o cinema brasileiro culto
modificou novamente seu eixo de influência, voltando a incorporar o filme americano,
especialmente o cinema de gênero hollywoodiano. O cineasta João Callegaro, (apud RAMOS,
F., 1987a, p.68) chegou a afirmar na época que “o público não entende o Cinema Novo
porque ele é filiado ao (cinema) europeu.”. Essa mudança refletia também a oposição entre
cinema- novistas e marginais. Os primeiros dialogavam explicitamente com o construtivismo
russo, o neo-realismo e os novos cinemas, enquanto os marginais, como é claro no já citado
texto que ficou conhecido como Manifesto do Cinema Cafajeste, anunciavam, sobretudo em
seus primeiros filmes, um “cinema que aproveita a tradição de 50 anos de exibição de ‘mau’
cinema americano, devidamente absorvido pelo espectador e não se perde em elucubrações
intelectualizantes, típicas de uma analfabeta classe média” (CALLEGARO, [1968]).
No processo de deglutição curtidora do cinema marginal, a tradição norte-americana
do cinema de gênero era, sem dúvida, privilegiada, embora numa referência essencialmente
atravessado, por exemplo, pela iconoclastia de Jean-Luc Godard em seu diálogo crítico e
criativo com Hollywood. Cineastas como Samuel Fuller, Orson Welles, Howard Hawks e
Alfred Hitchcock eram anárquica e debochadamente louvados e plagiados, embora o filme B
também exercesse especial atração, principalmente pela sua estética e esquema de produção.
A aproximação do cinema marginal em sua primeira fase com pequenos produtores da
Boca do Lixo, ligados a circuitos populares de exibição, também deve ser encarada como um
dos responsáveis pela presença de elementos do filme de gênero, como o policial, além,
obviamente, do erotismo. Em Nenê Bandalho, por exemplo, há um significativo “desfile” de
seios na parte final do filme.
267
Emílio Fontana contou em entrevista que quando leu o conto de Plínio e preparou-se
para escrever o primeiro roteiro de sua vida, lembrou-se de Orson Welles (como ele, um
diretor teatral estreando no cinema ), “que antes de fazer seu primeiro filme se sentou na
cinemateca e viu muitas vezes muitos filmes, e fiz o mesmo”.
401
Da mesma maneira, Fontana
afirmou que além de ter assistido a diversos filmes, também leu roteiros e procurou se
informar de questões técnicas. A cinefilia e a profusão de influências e citações também
marcam a produção marginal e estão presentes em Nenê Bandalho, a ponto de Sérgio Villela
ter julgado que o longa-metragem era, acima de qualquer rótulo, “Um filme de cinéfilo”. Esse
aspecto pode ser percebido pelas palavras do próprio diretor, em depoimento à época de
lançamento de Nenê Bandalho:
É um filme tremendamente irregular. Todos os gêneros existentes caem em cima da fita e a influenciam;
ela não tem estilo e esse não ter estilo vem a ser a tentativa de fazer do filme um retrato de nossa
realidade cultural, também enquanto massa. Daí sobrevir um tipo de linguagem e um tipo de melodrama
que fará do espectador comum a testemunha de tudo quanto a gente quer apontar. 402
Esse desejo de abarcar o máximo possível de influências e referências também está
presente no filme de Sganzerla, assim como em Terra em Transe, influência assumida para os
tropicalistas. Já O bandido da luz vermelha, por outro lado, foi definido por seu diretor como
um faroeste do terceiro mundo ou um filme-soma: faroeste, mas também musical,
documentário, policial, comédia ou chanchada e ficção científica.
Assim como sugerimos anteriormente o “equilíbrio precário” e o “choque de estilos”
na proposta de Nenê Bandalho, a mesma complexidade pode ser sugerida pela diversidade de
influências assumidas, de Ingmar Bergman a Os intocáveis, passando por Psicose (Psycho,
EUA, dir. Alfred Hitchcock, 1960) e A conquista do Oeste (How the West was won, EUA, dir.
John Ford, Henry Hathaway e George Marshall, 1962). Se esse aspecto era recorrente no final
dos anos 60 e início de 60, diversas análises posteriores criticaram essa característica,
apontando tanto para “tumultuadas influências de Godard, Buñuel e outros”
considerando o filme “um apanhado irregular de idéias”.
401
403
quanto
404
PEREIRA, Miguel. “Nenê Bandalho”, cinco anos de censura: a fantástica vida de uma marginal com muita
raiva. O Globo, Rio de Janeiro, 27 fev. 1977.
402
CINEMATECA DO MUSEU DE ARTE MODERNA, Rio de Janeiro, [1971]. Programa. Mimeografado.
403
AZEREDO, Ely. Memórias do “andergraundi”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 mar. 1977. Serviço: seu
lazer no fim de semana, n.54, p.2.
404
ALPENDRE, Sérgio. Nenê Bandalho e Deseperato. Contracampo, Rio de Janeiro: Associação Cultural
Contracampo, n.30, 2001. Disponível em: <http://www.contracampo.he.com.br/30/bandalhodesesperato.htm>.
Acesso em: 12 abr. 2005.
268
Sobre a influência do cinema de gênero nos filmes marginais, para Fernão Ramos
(1987a, p.129) ocorrem duas formas de apropriação. Uma através da citação, “a inserção
dentro da tessitura do filme de trechos inteiros característicos de outras obras” e outra através
da reprodução de forma estilizada de traços marcantes do universo do gênero – a fotografia, a
trilha musical, cenários, personagens – que passam a existir enquanto elementos estéticos de
comunicação intertextual.
Como Sganzerla fizera com bastante propriedade em seu primeiro longa- metragem,
em Nenê Bandalho igualmente encontramos a inserção recorrente de breves imagens de cine
jornais ou filmes de arquivo que se associam a gêneros conhecidos (policial, filme de guerra,
faroeste, ficção científica), além de elementos estéticos de imediato reconhecimento, como a
trilha musical de western, o personagem clássico do marginal acuado pelo sistema ou a
fotografia preto e branca contrastada que remete à influência expressionista no filme noir.
Entretanto, ao contrário do que afirma Fernão Ramos (ibid.), quando diz que esta reprodução
é “raramente paródica”, o humor e o deboche, como vimos, são elementos fundamentalmente
presentes em Nenê Bandalho e em muitos outros filmes marginais.
Essa irreverente mistura tropicalista do cinema de gênero com a imprensa popular e
sensacionalista resulta num caleidoscópico retrato de uma realidade caótica muito distante da
seriedade ou da gravidade do Cinema Novo. Entretanto, influenciado tanto pelo policial
americano quanto pelo cinema de Godard e operando uma síntese do fait-divers com o
universo pliniano, o horizonte de um filme como Nenê Bandalho continua sendo o retrato
crítico da realidade social do país.
A vida imita a arte e vice-versa
Os dois depoimentos a seguir são significativos de como os filmes marginais, mesmo
possivelmente distantes do realismo, não necessariamente se afastam da realidade.
Rogério Sganzerla afirmou que o primeiro rascunho de O bandido da luz vermelha
surgiu quando viajava pela Europa:
Tive a idéia de fazer um filme policial narrado por um comentarista esportivo. Achei que seria uma boa
opção para fazer uma análise crítica da nossa realidade . Fui escrevendo o roteiro na viagem de volta,
a bordo do navio Eugênio C, mas eu mesmo não acreditava muito na possibilidade de um bandido
mascarado assaltando casas, como uma espécie de Zorro subdesenvolvido. Achava muito ficcional. Até
269
que, na volta, deparei com um jornal que mencionava o João Acácio Pereira da Costa, o ‘Bandido da
Luz Vermelha’. Aí eu vi que a realidade suplantava a ficção. Tudo o que eu tinha escrito, até alguns
diálogos, estava no jornal (grifos meus). 405
O produtor de Nenê Bandalho, Douglas Marques de Sá, também relatou aos jornais
como o filme foi moldado ao sabor dos acontecimentos:
O final que havíamos planejado para ‘Bandalho’ incluía sua morte, mas de uma maneira mais ‘realista’
em nosso modo de ver, num tiroteio comum com a polícia. Um dia antes de filmarmos a seqüência final
abri o jornal e li que um marginal idêntico ao nosso personagem, fugido da polícia, se refugiara num
bueiro de esgoto, sem saída e lá ficou durante dois dias, sendo bombardeado e submetido a um
verdadeiro dilúvio de balas. Dois dias depois rendeu-se. Ao sair, com mãos para cima, com febre, fome,
esquálido e praticamente desmaiado, recebeu nada menos que 80 balaços. Imediatamente dispensei o
nosso final e adotei a realidade. Ela era mais forte que tudo que havia pensado (grifo meu). 406
Sobre essa mudança, Plínio Marcos, numa mesa redonda com o próprio Fontana,
contou que o final do seu conto era justamente daquela maneira e que o diretor e o produtor é
que queriam mudar: “Eles achavam que era muita polícia matando um bandido só”. Segundo
o dramaturgo, Fontana “ficou quatro dias discutindo o fim da história. E aconteceu naquela
época que a polícia do Rio encurralou aquele bandido Roncador dentro de um bueiro. Vim até
te mostrar um recorte de jornal sobre o caso. Daí você achou muita graça e nunca mais
discutiu o fim do filme”.
407
Independente da autoria da idéia, o que esse fato evidencia é que em Nenê Bandalho a
preferência por certa teatralização não implica em artificialismo, e o experimentalismo não
reflete uma recusa do aspecto realista que o coloca em perfeita sintonia, por exemplo, com as
adaptações de Chediak. A busca de um retrato “verdadeiro” do (sub)mundo é marcada no
filme de Fontana pela veracidade das filmagens totalmente em locações, pelos diálogos crus
de Plínio Marcos, pela participação de não-atores ou amadores e na autenticidade das armas,
viaturas e no texto ouvido pelas viaturas policiais, genuinamente redigido por um delegado.
Mesmo usando o improviso e a falta de recursos como recurso, o cuidado com a
veracidade da representação da marginalidade levou Fontana a realizar, por exemplo, um
405
SGANZERLA, Rogério. Meu primeiro filme. Folha de São Paulo, 3 out. 2003. Caderno Mais!. Entrevista.
FARIAS, Marcílio. Nenê Bandalho: quinze anos depois de produzido e estigmatizado pela censura, chega no
cinema o filme maldito do brasiliense Douglas Marques de Sá. Última Hora, Brasília, 10 fev. 1984.
407
FONTANA, Emílio; MARCOS, Plínio. [s.t.]. Revista Bondinho, São Paulo, 2 a 19 abr. 1971, p.28. Mesa
redonda conduzida por Roberto Freire e Humberto Pereira.
406
270
laboratório com o ator Rodrigo Santiago, que visitou penitenciárias para conversar com
bandidos e chegou a dormir com um revólver para se acostumar com a arma.
408
Esses fatos geraram, inclusive, diversos casos insólitos, pois o polêmico Nenê
Bandalho tinha contado com a presteza da policia paulista e até mesmo com a assessoria do
policial Astorige Correia, o “Correinha”, na época acusado de pertencer ao Esquadrão da
Morte. Como a imprensa noticiou,
Um dos incidentes mais curiosos de ‘Bandalho’ e que aumentou ainda mais o rosário de lendas em
torno de sua realização foi o fato de entre os figurantes estarem todos os membros do ‘Esquadrão da
Morte’ paulista dos anos 60. Douglas precisava de uma seqüência de tiroteio e, como não tinha
dinheiro, procurou o ‘stand’ de tiro da polícia paulista que prontamente cedeu viaturas, homens e armas.
Justamente os homens que aparecem como policiais são policiais de fato. E todos do ‘Esquadrão’.
Como um detalhe: todos fizeram questão de aparecer. 409
Na elogiada cena final de Nenê Bandalho, sem dinheiro para pagar os figurantes, os
produtores conseguiram reunir dezenas de pessoas com o anúncio do sorteio de um gravador
(comprado a prestações), além da oportunidade de participação nas filmagens. O toque
especial ficou por conta das senhas distribuídas junto com um jornal para serem picados
quando as pessoas fossem embora. O lixo acumulado no chão, levado pelo ventou que soprou
na hora da filmagem, conferiu o toque fantástico desejado. Curiosamente, a cena foi filmada
no antigo Largo do Matadouro, onde hoje é localizada a Cinemateca Brasileira, em São Paulo.
O bandido
A sinopse de Nenê Bandalho fala de “um homem sem saída, massacrado pelo mundo
desde criança, que só encontra caminho no crime e na violência”. Emílio Fontana comentou,
depois de encerradas as filmagens, que “desde criança, Nenê já é uma vítima da situação na
qual vive e que o gerou. Todas as portas se fecham, inclusive aquelas que talvez pudessem
salvá- lo, que é o amo r”.
410
Esses comentários lembram muito diversas obras de Plínio
Marcos, mas especialmente Oração para um pé-de-chinelo, peça escrita e censurada em 1969,
408
Segundo Fontana, como Rodrigo Santiago tinha medo de arma de fogo, o cineasta lhe emprestou um revólver
calibre 38 que ele tinha e o ator chegou até a usá-la para aprender a atirar. Ainda como laboratório, ambos
visitaram o detento “Nelsinho da 45”, que lhe disse que a arma tinha que ficar por baixo da calça, com a camisa
solta por cima. “O cano da arma tem que estar junto do pau. Tem que estar próxima, pois as duas coisas se
querem bem”, ele teria dito e o ator incorporou isso ao personagem.
409
FARIAS, Marcílio. Nenê Bandalho: quinze anos depois de produzido e estigmatizado pela censura, chega no
cinema o filme maldito do brasiliense Douglas Marques de Sá. Última Hora, Brasília, 10 fev. 1984.
410
NENÊ Bandalho, um filme de Plínio Marcos já pronto. O Globo, Rio de Janeiro, p.7, 10 jun. 1969.
271
e o conto Nas quebradas da vida, escrito em 1971, transformado no romance Uma
reportagem maldita (Querô), mas antes adaptado no filme Barra pesada (dir. Reginaldo
Faria, 1977), que será discutido no capítulo 7.
Se o jovem ator de olhos verdes Stepan Nercessian viveu o garoto Querô no filme
Barra pesada, para interpretar o contraditório papel-título de Nenê Bandalho (o marginal com
cara de bebê), Emílio Fontana convidou Rodrigo Santiago, por possuir “fisionomia de neném
e ao mesmo tempo conotar um lado facínora, violento, isto é, cara de garoto e bandido por
pressão social”. 411
É talvez em relação à trajetória do personagem principal – condutor da narrativa do
filme – que Nenê Bandalho mais se distancie de outros filmes marginais. Ramos (1987a,
p.35) procurou definir a produção marginal, dentre outras características, pela ausência de
teleologia quanto à ação dos personagens: “Errando sem destino, sem causa e sem objetivos
pelo mundo, suas ações são, geralmente direcionadas pelo experimentar, pelo curtir de
determinadas experiências que lhe são colocadas por um destino diegeticamente gratuito e
inexplicável”. Ao contrário do descrito, no filme de Fontana o protagonista é um personagem
sem escapatória, cujas ações são justificadas plenamente pela “pressão social”: a pobreza
causou o rompimento da namorada, levando à impotência sexual, e daí aos assassinatos de
mulheres e por fim à execução pelos policiais. Na lógica do filme, o destino do bandido é
mais do que previsível e seu final, praticamente inevitável.
Sobre esse aspecto, um crítico apontou, oportunamente, que numa oposição simplista
marginal versus sociedade, Nenê Bandalho redimiria um e condenaria o outro moralmente. O
bandido tentaria se integrar à sociedade, mas, não conseguindo, passaria a combatê-la. 412
O aspecto moralista do filme – característica às vezes conferida também à obra de
Plínio Marcos – pode ser percebido na condenação simplista da alta sociedade, aproximandose de filmes populistas da década de 50 e do início dos anos 60. A alienação surge ligada ao
sexo e ao prazer e os grã- finos são concebidos como devassos imorais, revelando, em
oposição, um retrato romantizado do popular. Na cena da festa, um plano isolado mostrando
um homem levando a mão ao seio de uma mulher adquire um caráter negativo no contexto da
seqüência. Por outro lado, o personagem principal, antes de se tornar bandido, desejava seguir
um expediente convencional (o casamento), e segundo uma moral até “careta” – talvez
411
PEREIRA, Miguel. “Nenê Bandalho”, cinco anos de censura: a fantástica vida de uma marginal com muita
raiva. O Globo, Rio de Janeiro, 27 fev. 1977.
412
LOPES, Oscar Guilherme. Nenê Bandalho: “Um filme debochado?”. Opinião, Rio de Janeiro, p.21-22, 11
mar. 1977.
272
mesmo para a época –, se revoltava pela namorada topar “dar para ele”, mas não casar. Por
trás disso encontra-se, conforme apontou Barbero em relação a aspectos da cultura de massa,
uma visão purista do povo. 413
Aliado a isso está também a visão romântica do marginal, que foi assumido como uma
figura de revolta na situação de completo horror do país, em sintonia com o Cinema Marginal
e à frase-símbolo de Hélio Oiticica: “Seja Marginal, seja Herói.”
Entretanto, se a trajetória de Nenê Bandalho pode ser considerada moralista, o bandido
da Luz vermelha apresenta uma perspectiva muito mais complexa, devido, principalmente, ao
teor altamente irônico, anárquico e debochado do filme. Conforme um crítico,
Se o filme de Sganzerla consegue realizar-se nos termos em que se propõe, desarticulando a linguagem
e a narrativa fílmica tradicionais, levando às últimas conseqüências as suas atitudes -opções estéticas e
políticas – ‘quem não pode fazer nada, avacalha’ –, Fontana, no seu equivocado Nenê Bandalho, fica no
meio do caminho”. 414
Ismail Xavier (1993, p.98), analisando Terra em transe e O bandido da luz vermelha,
apontou para uma constante temática nas duas obras, ligada ao diagnóstico geral da nação
marcado pelo subdesenvolvimento, e à representação de totalidade. No filme de Sganzerla, o
bandido recusa um caminho cuja origem ou destino esteja no campo (como no Cinema Novo
da primeira fase, de 1962 a 1964), optando por uma trajetória que se encerra na urbanidade,
com início e fim na favela. A morte do bandido, aparentemente encarada como cumprimento
de desígnio, “sacrifício apto a conferir um sentido a seu trajeto”, seria, assim como os
destinos dos personagens plinianos Querô e Nenê, um fim praticamente inevitável. Mas
Xavier aponta também para uma sabotagem constante do próprio Sganzerla, num duplo
movimento para “tornar o suicido do bandido algo periférico (um dado entre outros numa
coleção) e algo fundamental (epicentro do colapso geral da ordem)”.
Nesse último aspecto, Nenê Bandalho, em sua cena final, novamente se aproxima de O
bandido da luz vermelha quando concebe a morte de Nenê, produto indissociável do universo
urbano, como um dado periférico, que se perde, se torna minúsculo até desaparecer quando a
413
Essa aproximação deve-se, provavelmente, ao fato de tanto Plínio Marcos quanto Emílio Fontana terem
vivenciado no teatro o clima “altruísta” e “revolucionário” de teor nacional-popular que marcou também o início
do movimento cinema -novista. Ambos atuaram em linhas semelhantes a do CPC da UNE, de onde saíram alguns
membros do Cinema Novo e um dos filmes seminais do Cinema Novo – Cinco Vezes Favela – no qual se
encontra também essa oposição maniqueísta e moralista entre povo e burguesia.
414
LOPES, Oscar Guilherme. Nenê Bandalho: “Um filme debochado?”. Opinião, Rio de Janeiro, p.21-22, 11
mar. 1977.
273
câmera levanta vôo e enquadra a grande cidade (anônima) num plano geral. Trata-se de uma
“paráfrase de A conquista do Oeste”, segundo o próprio Fontana.
Mas uma outra importante questão na relação entre boa parte da produção margina l e o
longa-metragem de Emílio Fontana está na causalidade das ações do seu personagem
principal. Bernardet (apud. RAMOS, F., 1987a, p.137), referindo-se a Gamal, o delírio do
sexo (dir. João Batista de Andrade, 1968), mas numa análise que pode ser estendida a outras
produções marginais, afirmava que “as relações interpersonagens que constroem o arcabouço
tendem a se manifestar diretamente, sem passar por situações que as traduzam”. Ramos (ibid,
p.137) compreende essa “manifestação direta” de situações dramáticas como decorrente da
falta de motivações articuladas através de uma história e aponta para a ausência de evolução
dos personagens na intriga. Essa característica chegaria nos exemplos mais radicais realizadas
a partir de 1970 na própria ausência de fa la nos filmes. “A partir do momento em que a intriga
se estilhaça – e a narrativa sente uma inegável atração pela expressão dramática acentuada,
feita através de berros –, a fala acaba por perder sua função e em alguns filmes marginais é
praticamente abolida” (ibid. p.138).
Mas esse é um passo adiante dos primeiros filmes marginais. Dificilmente a fala seria
abolida em O bandido da luz vermelha, pontuado por curiosa narração radiofônica, ou em
Nenê Bandalho, que se vangloria, justamente, dos diálogos escritos por Plínio Marcos ou dos
comunicados policiais redigidos por um policial de verdade, o delegado Sérgio Paranhos
Fleury.
Assim mesmo, podemos notar como o personagem principal do filme de Fontana é
silencioso, tratando-se, provavelmente, da adaptação cinematográfica de Plínio Marcos com
menos diálogos. O dramaturgo comentou que os bandidos mais duros que ele conheceu
geralmente são fechados em si próprios, não gostam de conversar ou falar. As únicas falas de
Nenê Bandalho em todo o filme são nas cenas com a namorada, no passado inocente e
nostálgico. Depois de enveredar pelo crime, o bandido tornou-se praticamente mudo. O que
não quer dizer que o filme seja silencioso, pelo contrário. Como o filme de Sganzerla, em
Nenê Bandalho há uma abundância e profusão de músicas, ruídos e sons ao longo de toda a
narrativa. Se os personagens não são tagarelas, os “narradores- mundos” das duas obras
apontam para a exuberante polifonia de vozes do universo que retratam.
Mas além desse aspecto, não é possível deixar de apontar como também estão
presentes em Nenê Bandalho, como é característico da produção, não só marginal, da época, o
desespero e o horror expresso através de berros e gritos (como em A navalha na carne) e
274
corridas desabaladas (como na cena final de Dois perdidos numa noite suja). Entretanto, nesse
filme, ao contrário de outras obras marginais, a representação do horror é plenamente
justificada, com suas motivações facilmente localizadas na própria intriga.
***
Quando Plínio Marcos escreveu o conto Nenê Bandalho em 1968, o dramaturgo
investia na literatura para tentar escapar da perseguição da censura ao seu teatro e pretendia
ainda chegar à televisão. Com a adaptação do texto para o cinema, Plínio passou a ver, em
1971, um novo caminho que se abria para sua obra: “Depois do Nenê Bandalho é que vou
escrever para cinema. Escrevi para o Roberto Faria uma história que se chama Nas quebradas
da vida, escrevi uma para o Fontoura [...] que se chama A rainha diaba”. 415
Por diversos fatores, a carreira de Plínio como argumentista de cinema não teve
continuidade naquele momento e depois dos três longas- metragens filmados entre 1968 e
1970, o nome de Plínio Marcos desapareceu das telas durante três anos, talvez como reflexo
da própria dificuldade profissional do dramaturgo naquele momento em que sua carreira
como ator também declinava e quando quase todas as suas peças estavam proibidas. Roberto
Farias engavetou Nas quebradas da vida, pois como contou depois, não seria possível filmála naqueles anos em que a censura chegou ao máximo de voracidade. Já A rainha diaba seria
filmado em 1973 e embora trazendo inegáveis resquícios do Cinema Marginal, já seria um
filme de transição e tropicalisticamente ambíguo.
415
FONTANA, Emílio; MARCOS, Plínio. [s.t.]. Revista Bondinho, São Paulo, 2 a 19 abr. 1971, p.30. Mesa
redonda conduzida por Roberto Freire e Humberto Pereira.
275
O cinema brasileiro parou em 1970 [...].
Em 1968, havia um bom nível de produção. Em 1970 acabou tudo, só filmando um ou outro mais bem
endossado. Então, deu-se o festival esbaldante da mediocridade dominante [...] em que o navio da
cultura brasileira foi pro fundo e os ratos – como sempre – subiram à tona, satisfeitíssimos.
Rogério Sganzerla.
416
Estou convencido de que forças superiores ao movimento udigrúdi, à censura e a grupos intelectuais
agiram para destruir o Movimento, inclusive porque a Revolução de 1964 não fechou o diálogo, antes o
abriu, daí o Ministro da Educação e da Cultura de Médici, Jarbas Passarinho, ter iniciado contatos com
o Cinema Novo que resultaram não só nas grandes medidas legislativas de proteção do mercado, quanto
na constituição da Embrafilme.
Glauber Rocha.
417
Bruno Barreto reconciliou o cinema brasileiro com o seu público, reconciliou a nação cinematográfica.
[...] Ele ensinou, a um cinema acostumado a celebrar fracassos, a gostar das vitórias. [...]
Assim como não existe democracia sem povo, não pode existir cinema democrático sem público.
Cacá Diegues. 418
Anos 70: ditadura e indústria.
No início da década de 1970 já eram visíveis os novos rumos do cinema brasileiro,
fossem temáticos, estéticos ou econô micos, sobretudo numa relação industrial intermediada
pelo Estado em seu processo de “modernização conservadora”. Em 1969 a ditadura criou a
Embrafilme que já em seu segundo ano de existência concedeu seus primeiros
financiamentos. No mesmo período, o questionamento político se tornava cada vez mais
difícil com o acirramento da censura e da repressão no governo Médici (1969-1974),
enquanto a pesquisa e a sofisticação de linguagem emergiam como empecilhos para o
desenvolvimento do cinema brasileiro em bases industriais e para a ampliação da
comunicação com o grande público.
O Cinema Marginal, preocupado com a problematização mais radical do sentido e
cada vez menos comprometido com o mercado, se radicalizaria até se afastar totalmente do
circuito exibidor comercial, resultando em filmes censurados, diretores exilados e carreiras
interrompidas. O Cinema Novo, por outro lado, ao tentar alcançar maior comunicação popular
no final da década de 60, vinha se deparando com resultados irregulares. No início dos anos
416
SGANZERLA, Rogério. Joaçaba, Novembro de 1976. ROGÉRIO SGANZERLA, CINEMA DO CAOS,
2005, Rio de Janeiro. Catálogo... Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, out-nov. 2005.
417
ROCHA, Glauber. Embrafilme em ritmo de aventura. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 fev. 1978.
418
AMOR BANDID0, de Bruno Barreto, Rio de Janeiro, 1976. Material de divulgação. Mimeografado.
276
70, a coesão do grupo se esfacelaria, sendo notada uma desorientação geral com filmes que
apontavam para os caminhos diversos de seus principais expoentes (RAMOS, J., 1983, p.).
419
Ao mesmo tempo, a partir do grande sucesso de um filme como Os paqueras em
sintonia com a re-atualização da comédia carioca urbana, da influência das comédias
“apimentadas” francesas e italianas e de filmes de tons eróticos realizados por pequenos
produtores paulistas da chamada Boca do Lixo (como o marginal As libertinas), começaria a
se esboçar uma produção crescente que viria a ser chamada genericamente de
pornochanchada.
A questão da industria lização do cinema brasileiro e a conquista do mercado estavam
na pauta do dia, sobretudo com o aumento dos custos de produção, entre outros motivos, pela
consolidação do filme colorido. As contradições se acirrariam, por exemplo, na Difilm,
distribuidora criada em 1965 congregando, principalmente, os realizadores do Cinema Novo,
que se cindiria no final da década.
Em 1971, após a proibição de Nenê Bandalho e o fracasso de público de Dois perdidos
numa noite suja, duas formas de pressão – da censura da ditadura militar e a econômica e
estética da ditadura de mercado e dos novos rumos dos produtos audiovisuais brasileiros –
sinalizavam que a trajetória das adaptações plinianas seguiria outro rumo, assim como
tomariam dois caminhos diferentes os elementos que alavancaram a realização destes filmes.
De Valadão e Chediak a Fontana e o Cinema Marginal, não sobrava muito espaço para Plínio
Marcos.
O Caso Valadão
Na época de lançamento de A navalha na carne, Jece Valadão, junto com os
produtores Roberto Farias e Jarbas Barbosa, criou a Ipanema Filmes, que segundo o último,
“deve ter sido a distribuidora que melhor faturou de 1970 a 1974”.
419
Após experiências com estratégias alegóricas no sentido de totalização e aproximações momentâneas com
uma “estética marginal” no final da década de 60, alguns diretores seguiram para a Europa (Glauber Rocha e
Ruy Guerra), enquanto outros fizeram filmes de passagem (Quando o carnaval chegar, 1972, e Joana Francesa,
1975, ambos de Cacá Diegues) ou herméticos (Pindorama, dir. Arnaldo Jabor, 1970, O Capitão Bandeira
Contra o Doutor Moura Brazil, dir. Antônio Calmon, 1971). Por outro lado, driblando adversidades no auge da
repressão da ditadura e no seio da produção estatal, alguns realizadores conseguiram ainda embutir acentuado
teor crítico, político e poético em certas obras, sobretudo a partir de metáforas da situação atual do país nas
adaptações de clássicos da literatura São Bernardo (dir. Leon Hirszman, 1971) e Os Inconfidentes (dir. Joaquim
Pedro de Andrade), 1972.
277
Como contou Jarbas Barbosa:
Foi uma coincidência que juntou o Roberto e o Jece Valadão, que nesse momento estava desenvolvendo
um projeto muito importante para produzir obras de Plínio Marcos. Eles me propuseram montar uma
distribuidora. Essa eu fiz. Foi a Ipanema Filmes [...]. O segundo filme de Roberto Carlos foi lançado
pela Ipanema Filmes. Foi uma distribuição maravilhosa. Tínhamos feito um acordo de não aceitar
filmes de ninguém a não ser que nós quatro concordássemos em distribuí-lo. Tínhamos Roberto Carlos,
Os Trapalhões, e Jece com A navalha na carne e O enterro da cafetina, que foram grandes sucessos.
[...] A distribuidora funcionou até que Roberto foi diretor da Embrafilme e decidimos fechá-la e vendêla, para se transformar na rede de distribuição da Embrafilme (OROZ, 1993, p.66).
No início dos anos 70 Jece Valadão já era um dos principais nomes da nova geração
de produtores cariocas, ao lado, principalmente, de seu sócio Roberto Farias. Na década de 60
alguns dos principais produtores do cinema brasileiro, profissionais com carreiras iniciadas
nas décadas anteriores, apresentavam como característica certa alternância entre produções
explicitamente comerciais e filmes com maiores pretensões artísticas e prestígio internacional
e que abarcavam, por outro lado, uma parcela diferenciada do mercado. Jarbas Barbosa, por
exemplo, produziu, entre outros, Deus e o diabo na terra do sol e Os fuzis, Herbert Richers,
Vidas secas e Fome de amor, e Oswaldo Massaini, O pagador de promessas. O próprio
Valadão tinha se iniciado na carreira de produtor com Os cafajestes, claramente influenciado
pela Nouvelle Vague e considerado um filme importante do Cinema Novo, enquanto Roberto
Farias, como realizador, dirigiu pelo menos um filme mais claramente alinhado ao
movimento, Selva trágica, de 1963.
Valadão seguiria uma carreira fértil nessa década, produzindo mais de uma dezena de
filmes nos anos 60, passando por gêneros diversos, como o filme de aventuras, o infantil, o
policial e o musical jovem. A maneira como ele contou a origem da sua produtora, a Magnus
Filmes, criada para a produção de Os cafajestes, insinuava que ele fora o único a manter-se no
caminho originalmente pretendido:
Em 1962 nos reunimos para fazer nosso cinema. Eu, [José] Oliosi, Daniel Filho, Ruy Guerra e Miguel
Torres. Daniel descambou para a televisão, Ruy Guerra para o cinema novo e Miguel Torres faleceu,
para a tristeza de todos nós. Sobramos eu e o Oliosi que fizemos a Magnus. 420
Nos primeiros anos da década de 70, os produtores brasileiros estavam diante de uma
nova configuração do país, do cinema brasileiro e da relação do meio cinematográfico com o
Estado. Se antes a concessão dos prêmios de qualidade e de percentual sobre a renda ficava
dividida entre os grupos “universalistas” e “nacionalistas”, a partir de 1972 eles passaram a
simplesmente “privilegiar os filmes de grande penetração no público” (RAMOS, J. 1983, p.
420
Magnus filmes em revista, Rio de Janeiro, s.n., [1972].
278
74). Nesse mesmo período, a Embrafilme concedia financiamentos obedecendo a critérios
artísticos menos rígidos, sendo o valor econômico a principal medida para dimensionar os
solicitantes. Surgida inicialmente como uma reivindicação dos produtores ligados ao cinema
comercial (inclusive Valadão), apenas numa segunda fase, a partir de 1974, a empresa passou
a privilegiar os realizadores, sobretudo o grupo político ligado ao cinema novo (AMÂNCIO,
2000). 421
Ou seja, nos primeiros anos da Embrafilme a empresa financiava qualquer filme, até
pornochanchada, uma vez que no começo da década de 70 a pauta era conquistar o “nosso
mercado” e o discurso de Valadão era um dos que mais evidenciava essa meta.
Durante o lançamento de A navalha na carne, Jece Valadão declarou aos jornais sua
concepção do cinema: “Cinema é indústria muito rendosa. Se não der muito dinheiro, alguma
coisa está errada”. Com muita clareza, o produtor definia sua estratégia, visando o mercado
interno e pretendendo adotar fórmulas e modelos consagrados:
O nosso negócio é formar indústria sólida de cinema. É conquistar o público natural – o brasileiro. Para
depois partir para o cinema de arte, para uns poucos. Veja os Estados Unidos. Lá eles fazem mil
westerns por ano, mil comédias etc., para poder fazer um Midnight Cowboy, arrriscando-se a um grande
fracasso. Porque filme de arte, e que ao mesmo tempo dê dinheiro, é como loteria (grifo meu). 422
Curiosamente, A navalha na carne parece ter sido um bilhete premiado, legitimandose como “filme de arte” e ao mesmo tempo gerando lucro. Entretanto, com o fracasso
financeiro de Dois Perdidos numa noite suja, o filme anterior acabou assumindo o caráter de
exceção e o cinema de arte foi ficando cada vez mais “para depois” na estratégia da Magnus
Filmes. Passados os conturbados anos finais da década de 60, os crápulas e cafajestes foram
cedendo seus lugares aos paqueras e donzelas, ao mesmo tempo em que os produtores se
confrontavam com um novo padrão do cinema brasileiro.
A marginalização no mercado.
421
O capital social da Embrafilme em sua fundação era dividido entre a União e o INC, sendo que uma parcela
de 0,6% pertencia a sete produtores, entre eles Jece Valadão (RAMOS, J., 1983, p.90). Coerentemente, Valadão
também estava incluído dentre os produtores que eram os principais favorecidos pelas verbas da estatal na
primeira fase da empresa, até 1973 (AMÂNCIO, 2000).
422
FCF. Jece: a navalha. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 4 mar. 1970
279
Na época de lançamento de Dois perdidos numa noite suja, Chediak afirmava que
quando fez A navalha na carne não tinha nem certeza se o filme seria realmente exibido:
“Isso prova que não fiz concessão nenhuma”, disse seu diretor em 1971.
423
Por outro lado,
grande parte dos primeiros filmes marginais – todos eles produções de baixíssimo orçamento
– foram financiados por pequenos produtores da Boca do Lixo que de maneira alguma
ignoravam a necessidade de comunicação com o grande público e de retorno financeiro. Os
próprios cineastas pretendiam inicialmente realizar filmes populares, mas sem abrir mão da
sofisticação e do experimentalismo. Rogério Sganzerla, por exemplo, afirmou que seu longametragem de estréia foi lançado em 42 salas de cinema em São Paulo, tendo se pago em uma
semana.
424
Tanto O bandido da luz vermelha quanto seu filme seguinte, A mulher de todos,
foram realizado “com produção final e distribuição garantida pelos produtores da Boca”
(RAMOS, F., op. cit., p.38).
Gradativamente, outros filmes marginais passaram a ser realizados através de
esquemas alternativos que permitiam total liberdade: parcos recursos, filmagens em poucos
dias, equipe e atores amigos. A criação da produtora Belair, entre janeiro e março de 1970,
ponto de inflexão da radicalização marginal, foi descrita da seguinte maneira por Julio
Bressane: “Ele [Sganzerla] tinha algum dinheiro, eu também tinha, o Severiano Ribeiro abriu
um crédito para fazermos quatro filmes, dois em preto e branco e dois em cor. Deu negativo,
laboratório, finalização, tudo. [...] e nós então realizamos seis filmes... sete filmes”. O crédito
do Severiano Ribeiro teria sido possibilitado, principalmente, pelo lucro dos onze dias em que
Matou a família e foi ao cinema foi exibido com sucesso “espetacular” antes de ser retirado
de cartaz pela censura (BRESSANE, 2003, p.13).
Ou seja, diante do recrudescimento do regime militar e do desejo de radicalização
estética é como se os primeiros filmes dos cineastas marginais tivessem possibilitado (e
financiado) a posterior e total liberdade. Desse modo, a produção marginal foi se afastando
progressivamente do mercado exibidor enquanto optava por uma radicalização estética
indissociavelmente ligada, entre outros fatores, “às determinações que a ausência da
perspectiva e da necessidade de exibição exerce sobre a narrativa do filme” (RAMOS, F., op.
cit. p.38-39). Os diversos filmes realizados pelos cineastas marginais em exílio no exterior
entre 1970 e 1973 – quase todos inéditos comercialmente, inconclusos ou perdidos –, foram
423
424
“DOIS perdidos” só depende da censura. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1 mar. 1971.
FRANCISCO, Severino. A luz do bandido. Jornal de Brasília, Brasília, 1 ago. 1990.
280
justamente o suspiro final e mais radical do cinema marginal enquanto grupo com alguma
coesão.
Assim como a ousadia de Chediak na dita despretensão comercial de A navalha na
carne, o filme Nenê Bandalho – produzido com um dinheiro que o produtor Douglas Marques
de Sá “não contava mais” – também foi um exemplo da liberdade estética proporcionada pela
ausência de determinações comerciais. Emílio Fontana afirmou que “como o filme foi muito
barato [...] eu me dei ao luxo, por assim dizer, de fazer com a linguagem que me deu na telha
fazer” (FONTANA, [1977], p.48).
A excepcionalidade das oportunidades que permitiram a realização dos diversos
longas- metragens por jovens cineastas na passagem dos anos 60 para os anos 70, sem dúvida,
situações especiais localizadas em um contexto particular, garantiu a uma nova geração de
diretores uma ânsia pela experimentação e pela ousadia. Esse aspecto é evidente numa
situação relatada por Fontana, na qual um amigo lhe dizia: “você tinha que fazer um troço
comercial, depois você vai fazer teu filme; eu falei: ó cara, eu não sei se vou ter outra chance.
Quem me garante?” (ibid, p.48).
Ao mesmo tempo, o pequeno porte das produções comportava também uma maior
pesquisa por uma sofisticação da linguagem. Em Nenê Bandalho, por exemplo, o baixo custo
do negativo 16 mm permitiu que a cena da morte do personagem principal fosse filmada onze
vezes (ibid, p.49). De maneira semelhante, foi também a película preto e branca que
possibilitou em A navalha na carne a realização dos longos planos seqüências do filme.
Entretanto, em relação ao contexto de liberdade e ousadia crescentes, Fernão Ramos
(op. cit., p.39) comentou apropriadamente:
Para alguns cineastas (e não são poucos) este progressivo aprofundamento num modo de produção
marcado pela marginalidade dificulta, após o esgotamento de seu período mais fecundo, a continuidade
da carreira desviando-os para atividades paralelas à criação cinematográfica (propaganda, crítica) e
criando, dentro do Cinema Marginal, um enorme número de cineastas de um filme só. Quando por volta
de 1972-1973 o auge do boom marginal começa a declinar e estas condições específicas de produção
deixam de existir, poucos são os que conseguem manter uma atividade cinematográfica voltada para a
narrativa ficcional.
As conseqüências dessa radicalização encontram na carreira de Emílio Fontana um
claro exemplo. Se o diretor justificou sua ousadia e liberdade, entre outros motivos, pela
possibilidade que aquele pudesse ser “o único filme de sua vida”, seu temor quase foi
concretizado.
281
E Fontana?
Depois do episódio da proibição de Nenê Bandalho, Emílio Fontana voltou às aulas de
interpretação e ao teatro, trab. Dirigiu peças, documentários promocionais, teleteatro na TV
Cultura, além de mais de vinte curtas- metragens abordando temas da cultura popular como o
circo e o samba. Filmes como Lasar Segall: uma memória viva [1978], Plante que o futuro é
verde [1978], Vai, Vai (1979), Memórias de um Povo (1979), Bumba meu boi (1979), Os
criadores da alegria (1979) e Picadeiro Eterno (1979), aproveitaram a demanda decorrente
da exibição obrigatória dos complementos exigida pela chamada Lei do Curta.
Por volta de 1975, Fontana decidiu tentar no vamente solucionar a questão do seu filme
proibido e entregou o caso a uma firma especializada – “como num passe de mágica, tudo foi
resolvido”.
425
De fato, Nenê Bandalho recebeu um novo Certificado de Censura, emitido em
31 de outubro de 1974 e válido até 1979. O filme foi liberado com a classificação de proibido
para menores de 18 anos e com alguns cortes.
426
Nenê Bandalho passou a ser exibido em mostras, cineclubes e faculdades. Em março
de 1977 foi relançado comercialmente com oito cópias, podendo finalmente ser visto
livremente pelo público e pela imprensa. As críticas escritas nessa ocasião, um olhar sobre um
passado então recente, evidenciam claramente o novo contexto no qual elas foram produzidas.
No auge da “grife Embrafilme” e do cinemão que produzira, então, seu maior sucesso (Dona
flor e seus dois maridos, dir. Bruno Barreto, 1976), o crítico Sérvulo Siqueira escrevia que o
Cinema Marginal, ao qual Nenê Bandalho teria sido alinhado, foi um “ciclo de filmes
constituído de filmes baratos rodados em preto-e-branco [que] não sobreviveu à precariedade
de suas próprias condições de produção”.
427
Nenê Bandalho era chamado de um “frustrado
acossado tupiniquim”, referindo-se ao longa- metragem de estréia de Godard (Acossado / À
bout de souffle, 1960) e o seu deboche representaria “gratuidade e falta de seriedade”. Nesse
sentido, o filme, como as demais produções marginais “rústicas e mal acabadas”, devia ser
425
ALENCAR, Miriam. Nenê Bandalho: o anti-herói que passou cinco anos nos corredores da censura consegue
chegar às telas. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1977.
426
Em 1972, uma nota da imprensa afirmava que o filme tinha sido liberado pela censura, mas com cortes,
proibido para exibição na televisão e sem a chancela de boa qualidade. Embora não tenhamos encontrado
nenhuma outra evidência dessa liberação (como cartelas de censura, por exemplo), a ausência da chancela de boa
qualidade ao qual estava vinculada a exibição obrigatória pela lei de reserva de mercado para filmes brasileiros,
de qualquer maneira, praticamente inviabilizaria seu lançamento comercial, ainda mais passado o auge do
chamado Cinema Marginal.
427
SIQUEIRA, Sérvulo. Nenê Bandalho. O Globo, Rio de Janeiro, 9 mar. 1977.
282
visto para que “quem sabe olhando para o passado não cometeremos os mesmo erros no
presente”.
O crítico Ely Azeredo também se mostrava extremamente severo ao considerar Nenê
Bandalho “uma chanchada de erros que seus perseguidores empreenderam com total
gratuidade” que fica no meio do caminho entre “experimentalismo pessoal e pot-pourri de
clichês do cinema de vanguarda dos anos 60”.
428
Ou seja, no contexto da segunda metade da década de 70, Nenê Bandalho chamava a
atenção para o crítico Paulo Perdigão, pela “inépcia e borrões”, pelo resultado canhestro que
lembrava “o amadorismo dos mais denodados curtas- metragens dos festivais do Jornal do
Brasil” ou, ainda, os clichês dos filmes em super 8.
429
Mas essa reavaliação do passado também seria feita pelo próprio cineasta. Fontana
retornou ao longa- metragem de ficção somente em 1982, com o policial O último vôo do
condor, produzido através de um prêmio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. No
press-book do filme o próprio diretor afirmava que Nenê Bandalho lhe deu grandes
satisfações, mas, por sua “linguagem metafórica”, não foi “bem entendido pelo homem do
povo”. Já O último vôo do condor teria “temática semelhante, mas tratado de maneira mais
acessível, menos pretensiosa”
430
– no caso, uma narrativa clássica mal articulada e que não
alcançou repercussão de crítica ou sucesso de público.
431
E Chediak?
Após Dois perdidos numa noite suja e As confissões de frei Abóbora e seus amores, a
carreira de Chediak tomou um novo rumo a partir de 1971, menos “sério” e mais bem
sucedido comercialmente. Em seguida ao relativo fracasso dos filmes produzidos por Jece
Valadão e Herbert Richers, Braz Chediak começou a trabalhar para a Sincrofilmes de Pedro
Carlos Rovai, dirigindo o último dos três episódios da comédia Os mansos, intitulado O
homem dos quatro chifres, em 1973. Mesmo com as inúmeras exigências de cortes feitas pela
428
AZEREDO, Ely. Memórias do “andergraundi”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 mar. 1977.
PERDIGÃO, Paulo. Inépcia e borrões. Veja, Rio de Janeiro: Abril, p.70, 16 mar. 1977.
430
O ÚLTIMO vôo do Condor, [1982]. Mimeografado.
431
O último vôo do condor alcançou um público de apenas 24.244 espectadores entre dezembro de 1983 e
dezembro de 1986 (MEWES, 1992).
429
283
censura, o filme tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema
brasileiro, com mais de dois milhões de espectadores.
No ano seguinte Chediak dirigiu Banana mecânica (ou Como abater uma lebre),
também produzido pela Sincrofilmes, além da Cipal, do protagonista Carlos Imperial, que
conquistara as platéias como o Coronel Alexandrão no mega-sucesso A viúva virgem (dir.
Pedro Carlos Rovai, 1972). Também com Banana mecânica, o sucesso de bilheteria só não
foi maior que o desprezo da crítica.
432
Uma situação curiosa ocorreu em 1974, quando A navalha na carne foi exibido no
circuito de cinemas de arte de Nova Iorque, sendo bem recebido pela imprensa norteamericana. Causou repercussão no Brasil os elogios dedicados ao filme pelo crítico Vincent
Canby, editor chefe do The New York Times, “quando em geral até Macunaíma foi comentado
por um imbecil de segundo time”.
433
Canby classificou a obra como um filme respeitável,
elogiando a fotografia e chegando a comparar Glauce Rocha a Jeanne Moreau e Jece Valadão
a Richard Burton (cf. Anexo). Naquele momento a situação era curiosa, como apontou um
jornalista:
“Quando exibido aqui, o filme brasileiro Navalha na carne (filmagem quase integral da peça de Plínio
Marcos) não demonstrou maiores atenções da crítica especializada [...] Agora exibido em Nova York
com o título Razor in the flesh, despertou o interesse de respeitáveis críticos norte-americanos,
principalmente os do The New York Times, do New York Post e do Daily News. [...] E agora, como é
que fica? Braz Chediak, o diretor do filme, vai continuar sendo chamado para fazer chanchadas?” 434
Aparentemente foi o que aconteceu, pois em 1975, Chediak dirigiu o episódio que deu
título ao filme O roubo das calcinhas, mais uma produção da Sincrofilmes. No mesmo ano
criou a Braz Chediak Produções Cinematográfica, com a qual co-produziu e dirigiu Eu dou o
que ela gosta (Seduzida pelo amor), em 1976.
432
435
Banana mecânica aproveitava em seu título a polêmica em torno de Laranja mecânica (A clockwork orange,
Inglaterra, 1971), embora sem apresentar qualquer semelhança com o filme de Stanley Kubrick.
433
FRANCIS, Paulo. Guilhotina na carne. Tribuna da imprensa, Rio de Janeiro, 29 jan. 1974.
434
SANTO de Casa já faz milagre. Última Hora, Rio de Janeiro, 19 fev. 1970.
435
Em 1978, Chediak dirigiu um filme mais pessoal, distinto da produção da pornochanchada: O grande
desbun..., uma adaptação da peça de Martins Pena, As desgraças de uma criança, que foi um retumbante
fracasso. No contexto do enorme sucesso de A dama da lotação (1978, dir. Neville D’Almeida), baseado em
crônica de Nelson Rodrigues, Chediak dirigiu Bonitinha, mas ordinária (1980), também produzido pela
Sincrocine. Em seqüência, Chediak dirigiu outras duas versões cinematográficas de peças de Nelson Rodrigues,
Álbum de família (1981) e Perdoa-me por me traíres (1983). Depois dessa trilogia de rodriguiana, Chediak não
voltou a dirigir outro longa-metragem de ficção, mas seguiu realizando documentários, filmes institucionais e
programas de televisão, além de colaborar como roteiristas em outras produções. A partir do final da década de
80 suas atividades se voltaram, sobretudo, para o teatro, como diretor e professor, e para a música, afastando-se
do cinema.
284
Ou seja, ao longo dos anos 70, tanto Emílio Fontana quanto Chediak e Valadão se
afastaram de qualquer rumo que os aproximasse novamente da possibilidade de novamente
adaptar uma obra de Plínio Marcos para o cinema. É necessário, entretanto, comentarmos
brevemente alguns aspectos do cinema brasileiro desse mesmo período responsáveis pela
nova conjuntura.
285
Parênteses sobre o mercado interno e qualidade.
Em 1972, em meio ao sucesso da Ipanema Filmes e das produções de seus sócios,
Jarbas Barbosa, Roberto Farias e Jece Valadão, a distribuidora publicou a revista Ipanema:
cinema em revista. Em seu segundo número, o diretor responsável pela publicação – o próprio
Valadão – assinou um artigo intitulado “Deus está comigo. Quem está contra nós?”. No
primeiro parágrafo, o produtor traçava um panorama otimista da situação do cinema brasileiro
naquele momento – marcado pelo milagre econômico promovido pela ditadura – apontando
para uma “evolução”:
Em dois anos, o cinema brasileiro deu um salto formidável. Do empirismo e improvisação de ‘cinema
novo’ – que lhe valeu um lugar de destaque ao lado dos cinemas jovens de todo o mundo – passou a
lançar as bases de uma indústria estável e de sucesso, que se propõe a conquistar, a prazo curto, o que os
Gláubers, Diegues, Guerras e Jabors não puderam ou não quiseram: o mercado nacional.
O mesmo tema – a conquista do mercado interno para o filme brasileiro – encerrava o
mesmo artigo com um tom patriótico, ufanista e heróico, além de irreal na avaliação do
próprio mercado nacional:
Apesar de tudo a fé dos homens que fazem cinema neste País é inabalável. Eles sabem, e tem sofrido
por isto, que nada se conquista sem luta, mas acima de tudo acreditam no seu cinema, no nosso cinema,
no Cinema Brasileiro, e não vão desistir agora que se aproxima, cada vez mais, a hora da conquista
definitiva do segundo mercado cinematográfico do mundo: o Brasil.
Um fato interessante é que no mesmo número da revista se encontra também um artigo
do cinema-novista Carlos Diegues, intitulado “Para onde caminha o cinema brasileiro?”.
Diante do difícil momento que o cinema brasileiro enfrentava com a ameaça da volta da
hegemonia americana frente à re-estruturação de Hollywood, o cineasta refletia criticamente
sobre a posição do Cinema Novo no passado, mesmo reconhecendo seus méritos pela
conquista de destaque no exterior: “Acontece que a revolução cinematográfica dos anos 60,
não sensibilizou o público. Aqueles que acreditavam estar inventando um novo cinema,
estavam apenas trabalhando num laboratório experimental, longe do público e da indústria”.
Frente às dificuldades imediatas – a nova explosão de Hollywood e a rápida mudança
nos gostos do público – Carlos Diegues encerrava seu artigo curiosamente se unindo ao
pensamento de Valadão no ideal de conquista do mercado interno para os filmes brasileiros:
Por isso creio que o mercado externo não deve contar como um elemento importante na produção de um
filme brasileiro. Aliás, nunca contou. Os confetes da imprensa internacional não nos devem iludir; com
286
pouca experiência e tradição, só fortalecendo o nosso próprio mercado, conquistando definitivamente o
nosso público interno, é que poderemos ser uma cinematografia sólida. Neste momento, então, o
mercado externo virá como uma conseqüência natural.
Segundo José Mario Ortiz Ramos (op. cit.), entre 1970 e 1972 começaram a confluir
os interesses propagados pelo Cinema Novo e a ação cultural do governo militar em sua
postura aparentemente neutra. Com os órgãos estatais cinematográficos colocando o caráter
industrial do cinema acima das aversões ideológicas, deu-se lugar à contraditória união entre
um governo conservador e cineastas ditos de esquerda. O antigo projeto unificador nacional e
a proposta “nacionalista cultural” passaram a ser embarcados pela ditadura, possibilitando a
identificação e a convergência política entre os interesses do Estado e dos produtores, ambos
colocando em primeiro lugar a “luta contra a penetração econômica americana” e a “conquista
do mercado nacional”.
Como esclareceu Artur Autran Sá Neto (2004), a questão do mercado interno não foi
ponto pacífico no pensamento industrial cinematográfico brasileiro, sendo contestada em
diversos momentos, sobretudo em relação ao mal-definido critério de “qualidade” que deveria
balizar a produção cinematográfica nacional.
436
Nos anos 70, tanto a questão do “mercado
interno” (na defesa de uma legislação protecionista) quanto da “qualidade” (com o fenômeno
das pornochanchadas) vão balizar as discussões no meio cinematográfico brasileiro.
Nos filmes dos grandes produtores cinematográficos brasileiros do início dos anos 70,
a questão da qualidade é de fato salientada. No mesmo número de Ipanema: cinema em
revista, o slogan no anúncio da Magnus Filmes ressalta esse aspecto, novamente não definido
com clareza: “Magnus Filmes – símbolo de qualidade em cinema”. Já no anúncio da R.F.
Farias, a noção do que significava essa qualidade talvez seja mais claro: “a melhor técnica do
cinema brasileiro”.
A idéia de Valadão do que seria a qualidade de seus filmes pode ser indicada pela
exaltação (provavelmente exagerada) dos valores de produção e condições industriais das
novas produtoras, além do conhecimento do público que inclusive determinaria o conteúdo
das produções:
436
Segundo Autran (2004, p.190), “a crise aguda e a falência da Vera Cruz acarretaram o refluxo da idéia do
mercado externo como saída econômica para a indústria, mas ela continuou a pairar sobre o cinema brasileiro de
forma fantasmagórica”. O cinema independente dos anos 50, se contrapondo à Vera Cruz, defendeu a
importância do mercado interno para a consolidação da indústria. Já o Cinema Novo, com a boa acolhida nos
festivais internacionais e a problemática recepção do público nacional, novamente voltou-se para o exterior.
Entretanto, continuou persistindo a crença na “qualidade” como instrumento para resolver os problemas do
cinema brasileiro, embora os critérios (artísticos, técnicos ou morais) para defini-la nunca tenham sido muito
claros, encaminhando-se para uma imposição de valores.
287
As grandes produtoras nacionais têm condição de oferecer mercado de trabalho o ano inteiro para seus
artistas e técnicos. Há um fluxo contínuo de produções, com uma ampla margem de previsibilidade para
sua colocação. Um cronograma determina quando serão lançadas tais e tais filmes, visando atingir este
ou aquele público. O filme é todo produzido em relação à realidade do consumidor nacional e as
437
características locais, religiosas, morais etc.
O produtor valorizava ainda o sistema de produção industrial dos grandes estúdios, na
linha de Hollywood, reafirmando a necessidade de obediência a formulas e esquemas
consagrados, contrários à liberdade do cinema de autor que marcara o cinema brasileiro na
década anterior:
O ‘script’ é submetido a várias fases de consultas entre os diversos departamentos – e que pode ser
modificado até o último instante, para obedecer a exigências ou sugestões para o consumo. Desenhistas,
redatores, técnicos de som, circulam sob o olhar atento do relógio de ponto. [...] Como é que pode
esperar uma reação favorável do público um diretor que, sistematicamente, rejeita se submeter a um
código comum com este público? Para o cinema brasileiro atual, não tem a menor significação que 20,
30 ou 50 mil pessoas se decidem a filmar alucinadamente e que depois se vejam impedidas de
comercializar as loucuras que cometeram.
Entretanto, essa tentativa de industrialização de um cinema popular de massa foi
permeada de contradições, convivendo com “um processo cultural que se sofisticava
tecnicamente, a televisão se modernizando, a publicidade se complexificando”. (RAMOS, J,
2004, p. 25). Um cinema popular de massa – que ao longo dos anos 70 foi representado mais
claramente pelos produtores da Boca do Lixo ou pelos filmes de Mazzaropi e dos Trapalhões
– procurou se adequar a um processo de modernização, sofrendo com a concorrência da
“qualidade” televisiva. Por outro lado, um novo padrão de produção também surgiu em
setores que não se inseriam na moldura de um cinema assumidamente comercial e popular e
que em sua maioria tiveram que se articular com o Estado, através da Embrafilme, ou através
de produtores de companhias mais estruturadas.
Se a Magnus Filmes de Valadão flertou com diversas tendências ao longo dos anos 70,
sem conseguir grandes sucessos em nenhuma delas
437
438
, foi através realmente de uma
Nesse sentido, pelo menos na intenção senão em resultados práticos, a idéia da necessidade de conhecimento
do gosto do público se aproximava do que a própria TV Globo começava a fazer a partir da criação de seu
Departamento de Pesquisas em 1971.
438
Depois de Dois perdidos numa noite suja, Valadão ainda produziu outro “filme artístico”, Mãos vazias (dir.
Luiz Carlos Lacerda, 1971), produção cercada de brigas. Lacerda disse jamais ter conhecido “sujeito mais sujo e
desonesto” que Valadão, o acusando de utilizar parte do financiamento da Embrafilme para Mãos vazias em
outra produção sua (O enterro da Cafetina). Já o produtor, afirmou que “Lacerda se enchia de maconha e ficava
todo mundo nu para dar mais clima ao filme”, tendo sido obrigado a resgatar a equipe em Paraty para não serem
presos. Depois de investir em bem-sucedidos filmes que ele chamava de “pornocafajestadas”, o produtor
288
“companhia mais estruturada”, a Produções Cinematográficas R. F. Farias, de Roberto Farias,
que o nome de Plínio Marcos voltou ao cinema brasileiro após as adaptações de Chediak e de
Fontana, em filmes marcados pela qualidade técnica e pela modernização tecnológica.
afirmava que “seus seguidores” engrossaram muito na comédia erótica e preferiu seguir a trilha de filmes
policiais, ainda assim com alto teor erótico. Nessas produções buscou construir uma serialização em torno de sua
figura, um “Clint Eastwood nacional”, se voltando para o público masculino e popular. Depois do oportunista e
bem-sucedido Eu matei Lúcio Flávio (dir. Antonio Calmon, 1979), o fracasso de O torturador (dir. Antonio
Calmon, 1980) praticamente encerrou o projeto. Mesmo sem ter se aproximado assumidamente da
pornochanchada na década de 70, em 1981 chegou a produzir um pornô explícito (Viagem ao céu da boca, dir.
Roberto Mauro), embora seus nomes não tenham aparecido nos créditos. Um de seus últimos trabalhos como
produtor foi a adaptação da peça de Nelson Rodrigues A serpente (1980), dirigida por seu filho, Alberto Magno,
filme que permaneceu inédito comercialmente até 1990. Se chegou a ser vice-presidente do Sindicato dos
Produtores e do Sindicato da Indústria Cinematográfica, sendo até mesmo cogitado como candidato à direção da
Embrafilme e da Concine em 1979, ao longo da década de 80 se afastou do cinema, fazendo somente
participações como ator em novelas e programas de televisão, até se converter ao protestantismo em 1995.
Recentemente têm sido “redescoberto” pelas gerações mais novas.
289
4. PLÍNIO-POP-GAY-BLACK
Fontoura: do teatro ao cinema, da cultura popular à cultura pop.
439
Antônio Carlos Fontoura (hoje assinando Antônio Carlos da Fontoura), nasceu em São
Paulo em 1939, mas foi criado no Rio de Janeiro, para onde se mudou aos 9 anos de idade.
Formou-se em geologia, mas logo largou a profissão para se envolver, como grande parte de
sua geração, com arte, política e cultura popular. Por volta de 1961 ingressou no CPC da
UNE, e até meados daquela década, apesar de algumas experiências com cinema, esteve mais
envolvido com a atividade teatral.
440
Em 1965, já disposta a se dedicar principalmente ao cinema, Fontoura foi técnico de
som do curta- metragem O Circo de Arnaldo Jabor e partiu para a produção de seu primeiro
filme. O amigo David Neves o apresentou ao diplomata Arnaldo Carrilho, chefe da missão
cultural do Itamaraty, que lhe apoiou com oito latas de negativo. Três delas foram usadas e
cinco vendidas para custear a produção do primeiro curta-metragem de Fontoura, Heitor dos
Prazeres (1966), sobre o pintor e sambista carioca. Em seguida, dirigiu Ver Ouvir (1967),
inspirado na obra de três artistas plásticos, Roberto Magalhães, Antônio Dias e Rubens
Gerchman. Com fotografia do americano David Drew Zingg, o filme foi realizado com sobras
de negativo das produções estrangeiras Tarzan e o grande rio (Tarzan and the great river,
439
As citações de Fontoura, quando não assinaladas em notas, foram retiradas de seus comentários no dvd de A
rainha diaba e de um de seus extras, o documentário Uma rainha chamada Diaba (direção de Ana Moreira,
2004, produção CTAv / SAV), assim como de entrevista realizada para esta dissertação, em abril de 2006.
440
Nas palavras do próprio Fontoura: “Descobri a cultura no CPC, como autor e ator, sob a égide do Vianinha”.
A primeira peça na qual atuou foi A estória do Formiguinho ou Deus ajuda os bão, de Arnaldo Jabor, tendo
posteriormente escrito textos como Pátria o muerte, em parceria com Oduvaldo Vianna Filho e Armando Costa.
Em 1962, depois de trabalhar alguns meses como geólogo no interior da Bahia e antes de retornar ao CPC,
participou do histórico Seminário de Cinema com o documentarista sueco Arne Sucksdorf, realizado no Rio de
Janeiro. Se pelo envolvimento com o teatro, Fontoura não participou da primeira produção cinematográfica do
CPC da UNE, o filme em episódios Cinco vezes favela (1962), no ano seguinte fez parte da equipe de Cabra
marcado para morrer, filmado na cidade de Galiléia, no interior de Pernambuco. Fontoura fazia a claquete e foi
assistente do diretor Eduardo Coutinho, aproveitando sua experiência no trabalho do CPC com operários para
ajudar a dirigir os camponeses e a redigir os diálogos adicionais. Este teria sido o segundo filme realizado com o
patrocínio da UNE se as filmagens não tivessem sido interrompidas pelo golpe de 1º de abril de 1964, que
significou também o fim dos Centros Populares de Cultura. Entretanto, antes mesmo do golpe, Fontoura já
pensara em se afastar do CPC, planejando continuar em Recife para fazer um filme sobre a implantação do
salário mínimo entre os camponeses.
290
EUA, dir. Robert Day, 1967) e Tarzan e o menino da selva (Tarzan and the jungle boy, EUA,
dir. Robert Gordon, 1968), ambos filmados no Brasil em 1965.
Em meio a diversas outras atividades
442
441
, depois dos seus dois primeiros curtas-
metragens terem sido elogiados pela crítica, ganho diversos prêmios e rendido algum
dinheiro, Fontoura decidiu partir para seu primeiro longa-metragem. Em 1968, com uma
produção caseira, filmou “no quarteirão da sua casa” Copacabana me engana. 443
O filme contava “sem pretensões intelectuais nem clichês sociológicos as aventuras e
desventuras de um garotão de Copacabana”, o superbacana Marquinhos (Carlo Mossy). Ele
sai com os amigos, entre eles Macalé (Joel Barcelos), mantêm um caso com uma vizinha mais
velha, Irene (Odete Lara) – que possui um ex-amante rico, Alfeu (Paulo Gracindo) – e atura a
família, especialmente o irmão mais velho, Hugo (Claudio Marzo).
Fontoura quis fazer um filme “sobre o pessoal do outro lado”, a classe média de
Copacabana, pois se grande parte dos filmes daquela época era sobre intelectuais de esquerda,
Copacabana me engana falava de um “burro de direita”. O longa- metragem era reflexo de um
processo mais amplo que outros filmes também exemplificam. Conforme o diretor: “Já ‘táva
meio de saco cheio daquele negócio de cultura popular, já tava achando que aquilo não ia
chegar a nada [...]. Depois de 64, acabou. Falei: deixa eu cuidar da minha vida, porque mudar
o Brasil já tentei e não vai ser assim”. Significativamente, o filme inicialmente se chamava
Corpo fora e os evidentes traços autobiográficos são talvez responsáveis pela grande empatia
que o filme provocou.
444
Além disso, o primeiro longa- metragem de Fontoura também era claramente marcado
pela influência do tropicalismo e pelo espírito pop. A trilha sonora de Copacabana me engana
441
Os bastidores dessa filmagem são retratados de forma irônica no documentário Rio, Capital Mundial do
Cinema (dir. Arnaldo Jabor) sobre o Festival Internacional do Filme, realizado no Rio de Janeiro em 1966.
442
Depois do fim do CPC da UNE, Fontoura participou do histórico espetáculo Opinião, em dezembro de 1964,
fazendo a seleção musical de canções estrangeiras; fez roteiros para programas de TV com Oduvaldo Vianna
Filho e Armando Costa; também em parceria com Vianinha assinou um roteiro – jamais filmado – para Ruy
Guerra intitulado O adultério; e foi um dos organizadores do primeiro show de Chico Buarque no Rio de
Janeiro, em 1966. Para o Grupo Opinião, Fontoura também escreveu com Ferreira Gullar e Armando Costa a
peça A Saída? Onde Fica a Saída?, uma revisão do Estado militarista sob a ameaça nuclear. Estreando em 21 de
março de 1967, foi “talvez o mais complexo espetáculo montado pelo grupo” (MORAES, 2000, p.238), com
direção de João das Neves que nele empregou o sistema coringa de Augusto Boal.
443
O filme foi bancado por recursos do próprio Fontoura, pela conhecida bailarina Dalal Achcar (pela primeira
vez investindo em cinema) e por verba proveniente do CAIC (Comissão de Auxílio à Indústria
Cinematográfica). A equipe comia sanduíche na lanchonete da esquina, sendo composta por “9 ou 10 pessoas”.
A atriz principal (Odete Lara) era mulher do diretor e o fotógrafo (Afonso Beato), o mesmo de Heitor dos
Prazeres, era seu vizinho. O filme não contava com maquiador, cenógrafo ou figurinista e Fontoura falava para
os atores: “Como é que seu personagem se veste? Arruma tuas roupas e veste”.
444
ALENCAR, Miriam. Copacabana e o mundo de Antonio Carlos Fontoura. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5
out. 1968. O filme recebeu os prêmios INC de melhor roteiro, ator, atriz e ator coadjuvante de 1968.
291
era atravessada de grandes sucessos tropicalistas: os personagens ouvem na vitrola músicas
dos Mutantes (Batmacumba e Minha menina), enquanto Baby, cantada por Gal Costa e
Caetano Veloso, é quase uma canção-tema, abrindo e fechando o filme. Na banda sonora
passam ainda “Nora Ney, Beatles, canções bregas, diálogos de novela, Chacrinha, musical
americano, locutores de rádio e a sonoridade das ruas, numa primorosa edição guiada pela
colagem, com cortes bruscos e combinação de contrários”.
445
O próprio título definitivo do
filme foi retirado da letra de Superbacana, uma das canções mais pop de Caetano Veloso:
[...] O mundo explode longe muito longe
O sol responde o tempo esconde
E o vento espalha e as migalhas
Caem todas sobre
Copacabana me engana,
Esconde o superamendoim
E o espinafre biotônico
No comando do avião supersônico
Do parque eletrônico, do poder atômico
Do avanço econômico [...]. 446
Sintonizado com uma mudança de rumos no cinema brasileiro, que já a partir de
meados dos anos 60 se voltava para o personagem urbano, de classe média e suas
problemáticas individualistas, o filme de Fontoura também aliava diversas influências, de
Godard a Nelson Rodrigues, sinais da cinefilia da época, e se revelava marcado pela
emergência da cultura jovem em escala mundial. No Brasil, tanto o Tropicalismo e a Jovem
Guarda na música, assim como Copacabana me engana ou Roberto Carlos em ritmo de
aventura no cinema, expunham uma nova sintonia com a situação internacionalizada e
modernizada das camadas mais jovens (RAMOS, J., op. cit., p. 197). 447
Com argumento de Leopoldo Serran, Armando Costa e do próprio diretor,
Copacabana me engana foi um enorme sucesso de crítica e público, fazendo, segundo
445
ARAÚJO, Luciana Corrêa de. Copacabana me engana. In: NELSON RODRIGUES E O CINEMA, 2004, Rio
de janeiro. Catálogo... Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2001.
446
Caetano estreara em disco em 1967 com Domingo, dele e de Gal Costa, ainda marcado pela filiação do artista
à bossa nova. No texto na contracapa, porém, ele avisava: “Minha inspiração agora está tendendo para caminhos
muito diferentes dos que segui até aqui”. Naquele mesmo ano, junto com Gilberto Gil, ele provocaria a explosão
do tropicalismo, lançando canções como Alegria, alegria e Tropicália, incluídas no disco Caetano Veloso, seu
primeiro LP individual, gravado em janeiro de 1968 e do qual também fazia parte Superbacana.
447
Numa elogiosa crítica da época é possível perceber essa tendência, numa referência a outros filmes de
1968/1969, como A noite do meu bem (dir. Jece Valadão), Como vai, vai bem? (dir. Grupo Câmara) e As
amorosas (dir. Walter Hugo Khoury): “o processo de Antonio Carlos Fontoura é o que marca, nos últimos anos,
o jovem cinema brasileiro: para contar uma história urbana brasileira não é necessário descer aos cafajetismos do
meu bem, à caricatura popularesca do vai não vai, aos incêndios existenciais das amorosas vazias” (LEITE,
Maurício Gomes. O tônico Fontoura. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 mar. 1969).
292
Fontoura, cerca de um milhão de espectadores e rendendo aos produtores quatro vezes o que
eles tinham investido. Foi uma virada em sua carreira: “comprei apartamento, fui para
Europa, Estados Unidos, à África e passei dois anos sem saber o que fazer da minha vida”.
Esse êxito foi auxiliado por um “lançamento esperto”
448
no Art-Palácio Copacabana e
elogios de personalidades convidadas à estréia por Odete Lara e pelo casal Baby Bocayuva
Cunha e Dalal Achcar, e cujos comentários foram usados na divulgação do filme.
449
Depois de Copacabana me engana, o projeto seguinte de Fontoura chamava-se A
cangaceira eletrônica, um ousado e radicalmente tropicalista “musical pop, misturando
cangaço e ficção cie ntífica, com música de Macalé e cenografia de Hélio Oiticica.”.
450
Como
foi dito no capítulo anterior em relação ao Cinema Marginal, o sucesso do primeiro longametragem de Fontoura iria viabilizar uma maior ousadia e experimentação em seguida.
451
A cangaceira eletrônica seria bancado pelo empresário César Thedim, marido da atriz
Tônia Carrero, que começava a investir em cinema num filme de sucesso garantido. Era só
aguardar o êxito certo de É Simonal, dirigido pelo cineasta revelação Domingos de Oliveira,
cuja produção já estava em andamento, para realizarem o segundo longa de Fontoura. O
roteiro já tinha sido em escrito, Hélio Oiticica fora pago pelos seus desenhos e Fontoura
procurava ol cações em Brasília quando ocorreu algo imprevisto: Wilson Simonal, a maior
estrela da música brasileira, era acusado de ser informante do DOPS (Departamento de
Ordem Política e Social). Conforme Nelson Mota (2000, p.211-213), além do fato de que no
clima de paranóia geral, a delação era o pior crime, Simonal tinha adversários poderosos nos
negócios, a antipatia de boa parte da imprensa e da esquerda, e inúmeros desafetos movidos
pela inveja, pelo racismo ou pela inimizade decorrente de sua arrogância. Sem trabalho,
condenado como dedo-duro sem julgamento e processado por seqüestro, Simonal foi
liquidado. O mesmo aconteceu como o filme É Simonal, um estrondoso fracasso, e com a
super-produção A Cangaceira Eletrônica, que ficou sem produtor.
448
SIMÕES, Eduardo. O talentoso Mr. Fontoura. O Globo, Rio de Janeiro, 3 fev. 2005
Nelson Rodrigues: “Uma excepcional fatia da vida de Copacabana”. Clarice Lispector: “Mas a mim também
Copacabana enganava. Ver o filme e andar por Copacabana depois foi uma experiência inesquecível”. Glauber
Rocha: “Um filme corajoso, porque desnuda um bairro, suas famílias e seus jovens de maneira real, sem
apresentar desculpas ‘cômodas’ para o comportamento de cada um”.
450
NEPOMUCENO. Rosa. Uma rainha muito endiabrada. Diário de notícias, Rio de Janeiro, 30 mar. 1974.
451
A cangaceira eletrônica aparentemente se aproximava, por exemplo, de Brasil ano 2000 (dir. Walter Lima
Jr.), também um ficção científica passada no Brasil. Sobre os projetos seguintes após Copacabana me engana,
Fontoura contou na época: “Quanto a próximos trabalhos, tenho quatro ou cinco roteiros. Um deles se chama O
Cavaleiro do Apocalipse, a história de um bancário (que poderá ser Marquinhos daqui a alguns anos) que mata
operários, porque, frustrado, não gosta de gente pobre. Porém o roteiro mais adiantado é de um musical cujo
título provisório é Retrato Falado, e lembra o retrato falado dos noticiários policiais. É sobre crime”
(ALENCAR, Míriam. Copacabana me engana. A nudez de um bairro. Jornal do Brasil. 9 e 10 mar. 1969).
449
293
Como seu segundo longa- metragem não saiu do papel, Fontoura dirigiu nos anos
seguintes diversos curtas com temas variados, todos eles imbuídos do espírito pop. The last
and first man (O último homem) (1969), co-dirigido por Antônio Calmon, era falado em
inglês e legendado em português, tendo como tema os escritores de ficção-científica Arthur
Clarke, Alfred Bester e Robert Sheckley, presentes no 1º Simpósio de Ficção Científica
realizado no Rio de Janeiro.
452
Ouro Preto e Scliar (1970) abordava a obra do pintor Carlos
Scliar inspirada na cidade mineira e Wanda Pimentel (1972) tratava do relacionamento do
trabalho da artista plástica com o seu meio ambiente, ambos dando seqüência ao diálogo de
Fontoura com as artes plásticas iniciado nos dois primeiros curtas. A bolsa (1971) foi um
filme de encomenda para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, enquanto Gal (1970) e
Mutantes (1970) faziam parte de um projeto desenvolvido por André Midani da gravadora
Philips e pela produtora fundada por Fontoura e David Neves chamada justamente Pop
Filmes.
453
É curioso que com o aborto do projeto de A cangaceira eletrônica, após o sucesso de
Copacabana me engana Fontoura não tenha dirigido outro longa- metragem até 1973, sendo
este intervalo justamente o período em que emergiu o Cinema Marginal.
454
Embora fosse
vizinho e amigo de Neville D’Almeida, por exemplo, Fontoura disse nunca ter tido vontade
“de fazer filmes como os do Julinho [Bressane]: juntar as pessoas muito loucas e filmar”.
Entretanto, naquela época o diretor comprou uma câmera Super 8 mm de David Neves e
passou três anos registrando em película sua vida.
452
455
O filme não tinha música e a banda sonora era composta apenas de ruídos: “No Rio de Janeiro o filme foi
classificado por Gustavo Dahl como um jornal de autoridades psicodélicas” (O ÚLTIMO HOMEM, material de
divulgação, [1971]. Mimeografado)
453
Os curtas Gal e Mutantes eram colagens de imagens dos artistas com suas músicas seguindo o estilo “prévideoclipe” e o humor visual e pop de Richard Lester – diretor de Os reis do ié-ié-ié (A Hard Day´s Night, 1964)
e Socorro! (Help!, 1965), ambos com os Beatles –, mesma influência para um filme como Roberto Carlos em
ritmo de aventura e suas seqüências. Mas se José Mário Ortiz Ramos (op.cit.,p.203) afirma que “o ritmo lento da
primeira produção de Farias com Roberto Carlos está longe da agilidade dos filmes de Lester”, os curtas de
Fontoura, misturando bitolas 35 mm e Super 8, sem créditos ou letreiros ou uma linha narrativa propriamente
dita, revelam mais semelhanças com o dinamismo dos filmes estrelados pelo fab four, além da ousadia do filmes
experimentais brasileiros daquela mesma época. Segundo Fontoura, através do mesmo projeto também foi
produzido um curta-metragem sobre o cantor Jorge Ben, dirigido por Paulo Veríssimo.
454
Copacabana me engana foi premiado com o Candango de melhor argumento no IV Festival de Brasília de
1968, justamente a edição em que o grande vencedor foi o seminal O bandido da luz vermelha, que recebeu os
prêmios de melhor filme, diretor, diálogos, figurino e montagem.
455
O surgimento do Super 8 mm que começou a ser comercializado a partir de 1965, chegando ao Brasil em
1970 e se popularizando nos anos seguintes, também foi uma marca significativa do desejo de alguns cineastas
por possibilidades de experiências radicais a baixíssimos custos. O cinema marginal chegou a realizar
experiências nessa bitola – como o longa-metragem A miss e o dinossauro (1970), produção da Belair, além dos
primeiros filmes de Ivan Cardoso – e sua influência é latente no ativo movimento superoitista dos anos 70. Nesse
294
Ou seja, na passagem da década de 60 para 70, Fontoura realizou curtas-metragens,
viajou pelo mundo, filmou em Super 8 mm e mergulhou na contracultura, no universo pop e
tropicalista e nas drogas. Foi desse turbilhão que surgiu A rainha diaba.
“Vai pintar breve nas telas um filme muito louco”
456
No início dos anos 70, artistas e intelectuais descobriram a maconha e o Rio de Janeiro
viveu o auge das “dunas do barato” em Ipanema, o local de encontro da chamada “geração
desbunde”. Naquela mesma época, Fontoura teve outra idéia para um longa- metragem. Nas
palavras do cineasta, como ele e seus amigos fumavam muita maconha e a droga estava
bastante presente na vida dos jovens da época, sobretudo no meio artístico, o cineasta
começou a refletir sobre como a droga chegava até ele, o consumidor. Pensando no “sangue
que está por trás do meu barato”, decidiu faze r um filme sobre o tráfico da erva e batizou o
projeto de A guerra da maconha.
457
Como pertencia ao mundo pequeno-burguês da zona sul carioca – justamente o
universo que ele retratara em Copacabana me engana – e não conhecia o “outro lado do Rio”,
o diretor pensou no nome de Plínio Marcos – “um cara que entendia de marginal” – para
ajudá-lo no argumento. Plínio ainda gozava da fama decorrente de suas peças A navalha na
carne e Dois perdidos numa noite suja, então proibidas, mas que Fontoura tinha assistido no
Rio de Janeiro alguns anos antes. A atriz Odete Lara, então ex- mulher de Fontoura e amiga de
Plínio, o apresentou ao dramaturgo e o cineasta lhe pediu que desenvolvesse a idéia de um
filme “de barra” de uma “uma batalha nas bocas”.
458
O dramaturgo teria lhe perguntado
“Você tem um dinheirinho aí?”. Com a resposta afirmativa de Fontoura, Plínio emendou:
“Você pode esperar quatro dias?”. Quatro dias mais tarde, Fontoura recebeu um conto
chamado A rainha diaba.
Disposto a tirar A guerra da maconha (já baseada em A rainha diaba) do papel,
Fontoura procurou imediatamente o produtor Roberto Farias. Assim que Copacabana me
engana se tornara um grande sucesso, ele teria dito a Fontoura que quando ele quisesse fazer
sentido, Fontoura esteve em sintonia com as realizações marginais, embora sua produção em Super 8 mm jamais
tenha sido exibida comercialmente ou em mostras e festivais.
456
“Vai pintar breve nas telas um filme muito louco. Trata-se de A rainha diaba, produção nacional meio na
base do underground” (O Globo, Rio de Janeiro, 27 abr. 1974).
457
Entrevista emUma Rainha Chamada Diaba (dir. Ana Moreira, 2004).
458
FONTOURA e as emoções que se liberam e voam. O Globo, Rio de Janeiro, 29 mai. 1974.
295
“outro filme de jovens na Zona Sul” ele produziria. Nada mais natural para o diretor e
produtor que vinha investindo com enorme êxito nessa linha desde a segunda metade dos anos
60.
Se na época Fontoura não se interessou em repetir o universo que já tinha abordado
em seu primeiro filme, em 1972 Fontoura procurou a R. F. Farias para produzir A guerra da
maconha em busca da “sólida estrutura técnico-administrativa que o filme precisava”. Como
naquele momento a trilogia de filmes com Roberto Carlos já tinha superado em renda e em
número de espectadores tanto os filmes do Mazzaropi quanto comédias eróticas como Os
paqueras, parecia um bom investimento para Roberto Farias dar crédito a um diretor que já
tinha se mostrado muito eficiente num outro “filme jovem”.
Enquanto Fontoura fazia o tratamento do roteiro e a pesquisa para o filme – incluindo
uma visita ao amigo Hélio Oiticica em Nova Iorque – Roberto Farias viabilizava a produção.
Do mesmo modo que em Toda nudez será castigada (dir. Arnaldo Jabor, 1973), a R. F. Farias
se associou a Ventania Filmes, do produtor e ator Paulo Porto. Outra metade dos recursos
veio do próprio Fontoura e de seu amigo Ricardo de Souza (da Filmes de Lírio) cujo “pai
deixou ele vender uma Mercedes das várias que ele tinha para botar no filme”.
Embora não fosse uma das maiores produções de Roberto Farias, o segundo longametragem de Fontoura teve uma equipe bem maior do que a de Copacabana me engana e o
diretor chegou a comentar o receio que teve ao chegar ao set do já renomeado A rainha diaba
e encontrar cerca de quarenta pessoas, diversos refletores e inúmeros equipamentos.
459
Todo esse esquema de produção foi alardeado no material de divulgação do filme:
Organizando-se em torno da estrutura técnico-administrativa da Produções Cinematográficas
R.F.Farias, os quatro produtores mobilizaram os recursos necessários que levaram A rainha diaba ao
seu término no início de 1974, depois de 8 semanas de preparação, 9 semanas de filmagem e 12
semanas de acabamento, período em que cerca de 500 pessoas prestaram serviços técnicos e artísticos
460
para a produção do filme.
A rainha diaba foi filmado entre maio e junho de 1973, em estúdio e locações. As
cenas externas foram rodadas na Lapa, Estácio, Praça Mauá, Morro de São Carlos e no
459
Conforme José Mario Ortiz Ramos (2004, p.196-205), se é perceptível uma indisfarçável precariedade nos
problemas de produção de Roberto Carlos em ritmo de aventuras, a procura pela modernização em consonância
com o desejo de contemporaneidade na busca do espectador juvenil se desdobraria nos filmes seguintes de
Roberto Farias. Em Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa (1970) já há, por exemplo, uma
“internacionalização de cenários”, com filmagens no Japão e Israel, enquanto o terceiro filme da série, A 300 km
por hora (1971) é recheado de cenas de corridas de automóveis, universo que também seria explorado em O
Fabuloso Fittipaldi (1973).
460
QUEM PRODUZIU A RAINHA DIABA? Mimeografado, [1974].
296
Catumbi, enquanto que alguns cenários foram construídos no próprio estúdio da R.F. Farias.
O prostíbulo, o quarto da Diaba e o de Isa foram filmados num velho hotel em Laranjeiras,
perto da produtora. Finalizado em março de 1974, o filme estreou no Rio de Janeiro dia 29 de
maio daquele ano, com distribuição da Ipanema Filmes do próprio Roberto Farias, “em
circuito lançador, reduzido na segunda semana e prosseguindo em salas de bairro”.
Recebendo muitos elogios da crítica e diversos prêmios
462
461
, o filme também se saiu
bem nas bilheterias, mesmo com a censura estabelecendo a proibição para menores de 18
anos. Levando em consideração o orçamento divulgado na imprensa (de 800 mil cruzeiros), A
rainha diaba aparentemente teve bons resultados já nos primeiros meses de exibição nos
cinemas. Segundo dados oficiais, até dezembro de 1974, ainda em começo de carreira, o filme
já tinha alcançado a renda de Cr$ 970.890,80 e público de 236.805 espectadores, se
estabelecendo como a 17º maior bilheteria dos 74 filmes nacionais lançados naquele ano.
Outro documento da Embrafilme assinala que, até junho de 1979, A rainha diaba já chegara a
um público de 441.237 espectadores e renda de Cr$ 1.816.212, sucesso semelhante ao de A
navalha na carne, sendo um resultado bastante significativo para um filme com uma temática
e estética bastante arrojadas.
463
Fontoura afirmou em entrevista que achava que o filme tinha
tido público “de uns 700 mil espectadores, pouco menos que Copacabana me engana”.
Em relação à recepção internacional do filme, A rainha diaba foi exibido na Quinzena
dos Realizadores do Festival de Cannes de 1974, onde, segundo a imprensa brasileira, recebeu
elogios significativos.
464
Foi comentado em jornais da época que o filme só não participou da
mostra competitiva por causa de falhas na alfândega (ou de uma retenção proposital do
Itamaraty) que não permitiram que a cópia fosse enviada a tempo para a seleção.
461
465
O filme
GUIA DE FILMES. Rio de Janeiro: Embrafilme, n.49-51, jan-jun. 1974. Em sua primeira semana em cartaz
no Rio de Janeiro A rainha diaba foi exibido nos cinemas São Luís, Palácio, Pirajá, Copacabana, Veneza,
Carioca, Imperator e Madureira 1.
462
No VIII Festival de Brasília, em julho de 1975, A rainha diaba era o favorito do público para o Candango de
melhor filme, que acabou sendo dado para Guerra conjugal (dir. Joaquim Pedro de Andrade). Esta foi a primeira
edição do Festival após a interrupção em 1971, quando Nenê Bandalho tinha sido censurado, e não foi oferecido
prêmio do público, apenas do júri oficial.
463
INFORMAÇÕES até junho de 1979, Embrafilme, [1979]. Mimeografado.
464
Reportagem da época destacou trecho dos despachos telegráficos enviados de Cannes para o Brasil com
comentários da crítica internacional: “A rainha diaba é um filme angustiante, em cores brilhantes – as mesmas,
com as quais gostam de vestir-se os travestis do Rio de Janeiro, onde transcorre a ação.” (CAVALCANTI, José
Armando. Cannes aplaudiu A rainha diaba. Diário da Noite, São Paulo, 23 mai. 1978).
465
BRASIL Fora de Cannes. O Globo, Rio de Janeiro, 9 mai. 1974. BRASIL proibido em Cannes. Última Hora,
Rio de Janeiro, 9 mai. 1974.
297
foi exibido também no festival de San Sebastiá n, na Espanha, em 1975, onde teria agradado
parcela do público e crítica, mas também provocado protestos pela sua violência.
466
É importante ainda analisar a recepção de A rainha diaba pela crítica cinematográfica
brasileira e tentar perceber como o filme foi compreendido no contexto do cinema nacional na
época. De um modo geral, todos os críticos consideraram o segundo longa- metragem de
Fontoura um “bom filme”. Salvyano Cavalcanti Paiva colocou o bonequinho sentado batendo
palmas para o longa- metragem 467 , enquanto Ely Azeredo, que já apostava que A rainha diaba
seria “um dos lançamentos mais importantes do ano”
468
, em sua crítica após a estréia,
afirmou: “em poucas palavras: A rainha diaba é um bom filme”
469
. Luiz Alípio de Barros,
lembrando que o filme vinha recebendo elogios incondicionais ou a negação total e absoluta,
ponderou: “Se não é uma obra-prima, possui inegáveis qualidades e está, sem dúvida alguma,
entre as mais bem cuidadas e mais curiosas produções do cinema nacional, nos últimos
tempos”.
470
Já José Álvaro considerou A rainha diaba o “melhor filme brasileiro do ano”. 471
Além dos aspectos técnicos (a fotografia, o figurino, a trilha sonora), sempre
ressaltados, as interpretações do elenco foram talvez os pontos mais lembrados. Salvyano
Cavalcanti Paiva elogiou as atuações de Nelson Xavier (“excelente!”), Milton Gonçalves
(“grande, fantástico desempenho”), Odete Lara e Stepan Nercessian. Ely Azeredo ressaltou o
“trabalho impecável” de Odete Lara e o Bereco “seguro” de Stepan Nercessian, enquanto
Wilson Grey entre os coadjuvantes, seria o equilíbrio em pessoa. O crítico da Última Hora
teceu elogios sobretudo para os desempenhos de Odete Lara, Stepan Nercessian e Yara
Cortes. Não só o elenco principal, como também os coadjuvantes receberam elogios de José
Álvaro: “[ A rainha diaba alcança] uma proeza rara no cinema caboclo: um homogêneo
rendimento interpretativo dos coadjuvantes mesmo os de rápida aparição”.
Através da crítica, podemos perceber também as características do novo contexto do
cinema brasileiro apontado anteriormente. A “qualidade técnica” de A rainha diaba é sempre
elogiada, tendo “um acabamento, um cuidado nos detalhes técnicos, um alto nível profissional
que só encontra paralelo em Vai trabalhar, vagabundo! [dir. Hugo Carvana, 1973]”. 472 Mas o
filme de Fontoura era ressaltado também por aliar essa técnica com uma “linguagem popular
466
ESPANHÓIS repelem A rainha diaba. A Notícia, Rio de Janeiro, 22 set. 1975.
PAIVA, Salvyano Cavalcanti. A rainha diaba: Sangue e Lantejoulas. O Globo, Rio de Janeiro., 29 mai. 1974.
468
AZEREDO, Ely. Rainha diaba. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 mai. 1974.
469
AZEREDO, Ely. As artes da “Diaba”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 30 mai. 1974.
470
BARROS, Luiz Alípio de. A rainha diaba e dois extremos. Última Hora, Rio de Janeiro, 4 jun. 1974.
471
ÁLVARO, José. A RAINHA Diaba. A Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 1 jul. 1974.
472
A RAINHA Diaba. A Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 1 jul. 1974.
467
298
utilizada com talento e sem concessões”.
473
Anos mais tarde, uma reportagem chegou a
afirmar que A rainha diaba abriu o caminho do cinema popular junto com o paradigmático O
amuleto de Ogum (1974. dir. Nelson Pereira dos Santos), considerado pela historiografia
como o marco de uma virada dos cineastas cinema-novistas.
474
Outra reportagem citou uma
crítica que dizia que o longa- metragem de Fontoura era o filme “mais barroco, ousado e
delirante realizado no cinema brasileiro depois de Macunaíma”475 , tecendo comparações,
dessa vez, com o filme que representou a mais bem sucedida experiência de comunicação
com o grande público do Cinema Novo.
Ou seja, diversos críticos elogiavam em A rainha diaba o diálogo mais direto com o
grande público, em contraponto ao hermetismo que caracterizaria outros filmes nacionais.
Esses mesmos artigos revelam a visão de que filmes como A rainha diaba estariam apontando
certo caminho para o cinema brasileiro. O primeiro parágrafo da crítica de Salvyano
Cavalcanti de Paiva de A rainha diaba é uma amo stra exemplar dessa tendência, expressando
essa opinião quase como um manifesto e resumindo, segundo esse ponto de vista, as últimas
décadas do cinema brasileiro:
Desfeito o reino da chanchada; sepultado o cinemanovismo delirante; punido por sua indigência o
cinema-da-boca-do-lixo, eis o cinema autônomo, sem rótulos, a atingir um plano de forma e conteúdo
de comunicação universal e a explorar temas, costumes e caracteres nitidamente nacionais. E agora
com o apuro técnico que já se buscava nos tempo da Vera Cruz, mas dentro de proposições
realistas, lúcidas (grifo meu).
O filme de Fontoura seria, então, esse produto inominável, universal, resultado de uma
evolução e fruto dos erros e acertos das últimas décadas do cinema brasileiro.
Ely Azeredo, em sua crítica, também se refere a esse aspecto de mudança, utilizando
metáforas geológicas:
A superação do cinemanovismo não se realizará sem um esfriamento: depois do movimento sísmico, a
acomodação das camadas do solo, o endurecimento da lava. A sabedoria de A rainha diaba e de outros
filmes da fase atual (como Vai Trabalhar, Vagabundo!, para citar exemplo novo) está em compreender
a mutação, em pesquisar soluções de comportamento mais produtivas para a consistência do terreno.
Os dois críticos expressam certo otimismo que marcou um período de filmes que se
diferenciavam da crescente produção da pornochanchada, mas ainda assim se mostravam bem
473
A RAINHA Diaba ou A outra margem do Rio. Correio Braziliense, Brasília, 13/ nov. 1982.
A RAINHA diaba volta a Brasília com sua polêmica. Correio Braziliense, Brasília, 10 nov. 1982.
475
AMARAL, Hélio F. Experiência de sociologia urbana: A Rainha diaba. O Popular, Brasília, [1982].
474
299
sucedidos em sua relação com o público, como Vai Trabalhar, Vagabundo!, Toda Nudez Será
Castigada, O amuleto de Ogum e o próprio A rainha diaba.
300
Do quarto dos fundos de um prostíbulo, o sanguinário bandido conhecido como Rainha diaba controla,
com mão de ferro, o tráfico de drogas na cidade. Para evitar a prisão de um de seus comparsas, ela
decide criar um “bode expiatório”, forjar um perigoso bandido para depois entregá-lo para a polícia.
Mas nem tudo sai como planejado...476
Uma guerra das bocas.
A rainha diaba (Milton Gonçalves) é um marginal homossexual que domina o
submundo do crime, principalmente o tráfico de maconha. Acompanhada pelos seus capangas
– chamados de “trunfos” –, cada um responsável por uma parte do mercado da droga, a Diaba
descobre que um deles, pode ser preso. Trata-se justamente de Robertinho (Arnaldo Moniz
Freire), jovem, branco, bonito e de cabelos compridos, responsável pela venda junto aos
“estudantes”. Ele tinha sido denunciado e conforme um informante, estava na mira da polícia,
pressionada pela repercussão do caso.
Com receio de que ele possa entregar os outros, além de atraída pela beleza do rapaz, a
Diaba manda seu homem de confiança, Catitu (Nelson Xavier), encontrar um “bucha” para
levar a culpa e atrair a atenção da imprensa e da polícia. O escolhido acaba sendo Bereco
(Stepan Nercessian), “garotão” sustentado pela amante mais velha, a cantora de cabaré Isa
(Odete Lara). Ele é seduzido pela lábia de Catitu a tomar parte em assaltos e no tráfico para
ser incriminado mais tarde.
Após ser armado o plano, Bereco, consegue escapar da polícia na emboscada
planejada por Catitu. O malandro decide aproveitar essa oportunidade para, em complô com
os demais trunfos, tomar o poder da Diaba. Apoiado por Catitu e os outros, Bereco começa a
“arrochar as bocas” de venda de drogas da Diaba, substituindo os antigos “passadores de
fumo” por Isa e suas colegas.
Suspeitando da traição de seus capangas e percebendo o enfraquecimento do seu
poder, a Diaba, com a ajuda de seus amigos homossexuais e travestis – as “diabetes” –, tenta
descobrir o que está acontecendo. Após seqüestrarem e torturarem Isa, chegam ao nome de
Bereco. Quando são finalmente confrontados, Bereco, seguindo as ordens do grupo liderado
por Catitu e aproveitando a distração da Diaba, corta sua garganta com uma navalha. Mas ao
sair do quarto, ele é imediatamente metralhado pelos capangas.
O grupo comemora a tomada do tráfico com a morte da Diaba e de Bereco, mas
Violeta (Yara Cortes), aproveitando a festa, envenena os demais para assumir sozinha o
476
A RAINHA DIABA. Material de divulgação, [1975]. Mimeografado.
301
poder. Quando todos já estão mortos, a Diaba surge do quarto se esvaindo em sangue e atira
em Violeta. Ambos caem finalmente sobre a montanha de corpos amontoados no chão do
bordel.
Sangue e Lantejoulas
No começo do filme, os letreiros dos créditos iniciais, de autoria de Angelo de Aquino
e Renato Landim, já anunciam o visual de A rainha diaba: cartelas de colorido berrante, com
postais antigos de retratos de mulheres em preto e branco, letras desenhadas com purpurina,
fundo de veludo e ornamentadas com desenhos infantis de flores, frutas, corações e bichinhos.
Esses diversos elementos evidenciam, desde o primeiro momento, a fusão tropicalista entre o
kitsch e o pop que está presente em todos os aspectos do filme. Segundo o diretor, as cartelas
são “como se a própria Diaba as tivesse feito”, revelando que essa ambigüidade também é
uma característica essencial tanto do próprio protagonista quanto do filme que leva seu nome.
Anunciado como um filme de “sangue e lantejoulas” e um thriller-pop-gay-black, tudo
em A rainha diaba aponta para a mistura de elementos díspares, revelando uma obra marcada
profundamente pelos conceitos do Tropicalismo. De forma evidente e consistente, a
fotografia, a cenografia, o figurino e a trilha sonora do longa-metragem de Fontoura ressaltam
a fusão de contrastes, quase de opostos, que é a própria essência da história e de seus
personagens. Em sintonia com as intenções tropicalistas, através do exagero e de uma visão
delirante, o filme de Fontoura, segundo o crítico Luiz Carlos Merten, procurou “captar, em
termos de arte dramática, a extravagância que somos” e “aproximar sua linguagem das
verdadeiras contradições e do verdadeiro quadro político-social-brasileiro”.
477
Fontoura revelou que sua primeira opção para assumir direção de arte do filme era seu
amigo, o artista plástico Hélio Oiticica, cujas obras neoconcretistas e suas posteriores
manifestações ambientais tiveram grande influência para o cinema brasileiro na década de 60
e 70. A própria música Tropicália, que batizou o disco homônimo e o movimento, foi
477
MERTEN, Luiz Carlos. Na tela, o submundo está em transe. Antonio Carlos Fontoura em busca do
inconsciente brasileiro. Folha da manhã, Porto Alegre, nov. 1974 (In: MERTEN, 2004, p.272).
302
sugerida por Luiz Carlos Barreto a Caetano Veloso, num almoço em São Paulo, em 1967,
aproveitando o nome de uma obra de Oiticica.
478
Mas como Oiticica estava morando em Nova Iorque na época, o convite para a direção
de arte de A rainha diaba foi feito ao também artista plástico Angelo de Aquino.
479
Recém-
chegado de Milão, Aquino não tinha experiência alguma em cinema, com exceção de uma
participação como fotógrafo de cena no filme Vai trabalhar, vagabundo! 480
Em seu trabalho de direção de arte de A rainha diaba, Aquino usou essencialmente
cores berrantes, vibrantes e cruas, buscando o tempo todo o contraste das roupas e dos objetos
de cena (em primeiro plano) com o cenário (no fundo). O figurino, também de Aquino e
igualmente colorido, utilizou abundantemente tecidos brilhantes ou reluzentes, como lycra,
lantejoulas e seda. A maquiagem de Carlos Prieto, seguindo a mesma orientação, também
procurou ressaltar as cores (batons e sombras de tons fortes) e o brilho (bastante purpurina),
sobretudo nas personagens das prostitutas e travestis. A maquiagem é especialmente
importante para a personagem da Diaba, uma vez que assume função dramática ao acentuar a
interpretação de Milton Gonçalves, marcada por mudanças intensas e súbitas de expressão.
481
Figuras e desenhos geométricos (toalha de mesa quadriculada, roupa xadrez, lençol
imitando pele de onça, calças listradas, camisas de bolinha) também são largamente utilizados
no filme, surgindo sempre em contraste com outras superfícies lisas e coloridas. Na seqüência
em que Isa canta o samba Molambo, no cabaré O leite da mulher amada 482 , a parede xadrez
478
Nas palavras de Caetano: “o disco já estava praticamente pronto, e a música já estava gravada, mas não tinha
título. Luiz Carlos pediu pra cantar as músicas novas - naquela época se cantava muito com violão em reuniões
assim. Quando eu cantei essa, ficou maravilhado. Achou parecida com o filme Terra em transe e com a obra de
um artista do Rio, Hélio Oiticica, chamada Tropicália. Dizia que eu devia dar esse título à música. Respondi que
não conhecia nem a pessoa nem a obra, e que não ia botar o título de uma coisa de outra pessoa na minha
música. A pessoa podia não gostar. Manoel Barenbein, produtor do disco, adorou e escreveu na lata: Tropicália.
Era provisório, mas ficou lá” (VELOSO, Caetano. Entrevista concedida a Ana de Oliveira, Rio de Janeiro, 27
out. 1999. In: TROPICÁLIA. São Paulo, Itaú Cultural. Desenvolvido por Ana de Oliveira. Disponível em:
<http://www.tropicalia.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2006).
479
Aquino tinha tido uma importante atuação no cenário das artes plásticas brasileiras, participando das
exposições coletivas Propostas 65, na FAAP, em São Paulo, e das históricas Opinião 65 e Opinião 66, no
MAM, do Rio de Janeiro. A exposição Opinião 65, uma das primeiras grandes exposições coletivas pós-64 e
inspirada no espetáculo musical Opinião, reuniu jovens artistas estrangeiros e brasileiros (centre eles os próprios
Oiticica e Aquino) e propunha uma ruptura com a arte do passado. Tendo como exemplos a pop art americana e
o novo realismo europeu, exaltava a postura crítica dos artistas e renegava o abstracionismo, constituindo-se
como um dos momentos precursores da nova figuração brasileira.
480
O interesse de Fontoura pelas artes plásticas, assim como por artistas da geração de Oiticica e Aquino, pode
ser verificado pelos seus próprios curtas anteriores.
481
A androgenia do personagem maquiado se assemelha a dos integrantes da banca Secos & Molhados,
especialmente o vocalista Ney Matogrosso, cujo primeiro disco, lançado em 1973, bateu recordes de venda.
482
Nos comentários do dvd do filme, Fontoura diz que o nome do cabaré foi sua invenção, tratando-se da
tradução para português do nome do conhecido vinho Liebfraumilch. Entretanto esse nome já está no argumento
de A rainha diaba escrito por Plínio Marcos, tendo sido, inclusive, reaproveitado pelo dramaturgo justamente na
303
preta e branca (numa das poucas cenas em que o cenário não é de uma cor berrante) é o fundo
para a personagem que usa roupa azul de lantejoulas, peruca verde, unhas e batom vermelho,
e é iluminada por luzes coloridas de show.
Em todo o filme notamos esse colorido intenso, seja no prostíbulo e quartel-general da
Diaba, onde as paredes são azuis e as janelas e as portas laranjas, ou no sobrado de Isa, com
paredes amarelas e porta verde. Freqüentemente as cenas são completamente tomadas por
esse arco- íris, como na primeira seqüência do filme quando a câmera entra pela porta do
bordel atravessando uma cortina de fitas coloridas. Os objetos cênicos também abusam das
cores fortes e vivas, como os carros (azuis e roxos), as flores de plástico, as fotos e pôsteres
nas paredes e as estantes cobertas de garrafas no boteco.
Em conjunto com a direção de arte, a iluminação de José Medeiros, responsável
também pela câmera, buscou acentuar a textura, o brilho e o colorido das imagens. Essa
profusão de cores e elementos, responsável por um dinamismo dos cenários e do próprio
filme, está de acordo com a mise-en-scène desejada por Fontoura e alcançada também através
da eficiente montagem de Rafael Valverde.
483
Até mesmo por insegurança, antes de rodar o diretor coreografava com os atores todas
as cenas com uma câmera Super 8 mm na mão, com a qual já estava muito acostumado,
buscando sempre uma movimentação intensa. Em seguida, mostrava no visor as marcações
para o assistente de câmera, que ensaiava os movimentos com a câmera 35 mm, antes de
passar as instruções para o diretor de fotografia José Medeiros. Segundo Fontana, A rainha
diaba “é um Super 8 ampliado na hora da filmagem”. Essa dinâmica era conseguida também
através do uso de um Crap Dolly pertencente à R.F. Farias. Usando esse carrinho sem trilhos
com rodas de borracha e dispondo de interiores bastante espaçosos, foi conseguida uma
liberdade de movimento próxima à da câmera na mão. Além disso, como Fontoura ressaltou,
José Medeiros trabalhava com a câmera destravada, ou seja, sem estar fixa no tripé,
permitindo que ela “respirasse”, podendo fazer pequenas correções de quadro e resultando
numa “linguagem mais solta”.
versão teatral de Querô, cuja primeira cena se passa exatamente em “um cabaré de baixa categoria, O leite da
mulher amada”.
483
Rafael Justo Valverde (1924 – 1986) começou sua carreira nas chanchadas dos anos 40. Nas décadas
seguintes montou clássicos do Cinema Novo, como Vidas secas e Deus e o diabo na terra do sol, assim como
trabalhou com produtores como Herbert Richers e Jece Valadão (foi o montador de A navalha na carne, por
exemplo). Estabeleceu grande parceria com Roberto Farias, montando diversos filmes produzidos ou dirigidos
por ele. Transitando por diversos gêneros e estilos, foi um dos mais requisitados montadores do cinema
brasileiro nos anos 60 e 70.
304
Ou seja, a fotografia de A rainha diaba proporciona ao filme uma intensa dinâmica
visual através tanto da movimentação do plano (com travellings, carrinhos, panorâmicas e
câmera na mão) quanto dentro do plano (com intenso movimento dos atores e figurantes,
além do zoom e repetidas mudanças de foco). Segundo Fontoura, a escolha de Medeiros para
a fotografia foi indicação do produtor Roberto Farias, a única que ele teria feito ao longo do
filme, mas que foi aceita de bom grado pelo diretor. O fotógrafo priorizava as luzes naturais e
utilizava poucos refletores. Nas críticas do filme, a fotografia de José Medeiros, premiada no
VIII Festival de Brasília, foi bastante elogiada, sendo ressaltada como “equilibrada”, “seca”,
“sensível” e “sem sofisticação”. 484
Da mesma forma, o dinamismo da fotografia e da cenografia do filme se encontra
também no plano sonoro. Diferentemente de A navalha na carne e Dois perdidos numa noite
suja, que privilegiavam o silêncio, mas assim como Nenê Bandalho, em A rainha diaba
canções, diálogos e ruídos perpassam quase ininterruptamente o filme. Servindo inclusive
como fundo sonoro para os diálogos das personagens, se escuta a todo o momento uma
música tocando (geralmente em vitrolas ou rádios localizados diegeticamente), o som da
televisão ligada ou alguém cantando. 485
O contraste e o excesso desse universo marginal de bordéis e cabarés da Lapa que a
fotografia, a edição de som e a direção de arte buscaram ressaltar, também estão presentes nos
personagens e na interpretação dos atores. O jogo de opostos é a principal característica da
personalidade do próprio protagonista. A rainha diaba de Milton Gonçalves alterna momentos
de doçura e ira, meiguice e dureza, fragilidade e grandeza. Além disso, ainda havia o impacto
do personagem ser negro e homossexual o homem mais poderoso, forte e violento daquele
universo. Algumas cartelas dos créditos iniciais que ficaram de fora da montagem final do
484
O fotógrafo de Copacabana me engana, Affonso Beato,também se mudara para Nova Iorque, dando início a
bem sucedida carreira internacional. José Medeiros (1921 – 1990), que foi durante 16 anos fotógrafo da revista O
cruzeiro, começou sua carreira no cinema em A falecida, trabalhando posteriormente em filmes de diretores
ligados, de maneira geral, ao Cinema Novo. No final da década de 60 iniciou longa parceria com o produtor
Roberto Farias, para quem fotografou, entre outros, a trilogia de Roberto Carlos. A partir justamente do primeiro
filme da série, Roberto Carlos em ritmo de aventura, Medeiros passou a trabalhar exclusivamente com fotografia
colorida.
485
Em momentos dramáticos do filme, como no seqüestro de Isa pelos travestis ou quando Bereco vê a navalha
esquecida no criado mudo da Diaba, um som agudo como uma sirene ou uma campainha provoca um
desconforto e um sentimento de perigo próximo. O músico Guilherme Vaz, autor da trilha sonora, explicou que
esse efeito era conseguido ao se puxar os dedos na guitarra em um movimento chamado “glissar” o instrumento.
305
filme também já procuravam antecipar o caráter dúbio da personagem, através de adjetivos
contrastantes como “delicado”, “violento”, “chocante” e “boneca”.
486
Ora com uma voz grossa e impositiva, ora com voz de falsete e olhos baixos, seja
assumindo um tom de machão ou exibindo trejeitos efeminados, Milton construiu uma
personalidade rica e complexa para a personagem, que lhe rendeu os quatro mais importantes
prêmios de interpretação do cinema brasileiro: o VIII Prêmio Air France de Cinema, a Coruja
de Ouro do Instituto Nacional de Cinema, o Prêmio Governador do Estado de São Paulo e o
Candango de Ouro do VIII Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.
No documentário Uma rainha chamada Diaba, Fontoura lembra que Milton
Gonçalves não foi sua primeira opção para o papel. Pensando em rostos menos conhecidos no
cinema, ele convidou antes o cantor Agnaldo Timóteo e o ator Procópio Mariano, que acabou
interpretando o policial aliado da Diaba. Ambos recusaram a personagem por receio de
ficarem estigmatizados pela figura marcante do homossexual e bandido. O próprio Milton
contou que primeiro consultou sua família antes de aceitar o papel.
Não apenas a ousadia, mas também a ambigüidade, a contradição e o deboche do filme
estão refletidos na interpretação de Milton Gonçalves, e também na de Nelson Xavier. Apesar
de vários elogios a suas atuações, certo exagero (em sintonia com o espírito do filme), gerou
algumas restrições. Para Luiz Alípio de Barros, apesar de bons, os dois atores ser mais
contidos.
487
Ely Azeredo criticou um “semi-tom de gaiatice (presente também em excesso, na
galeria de bonecas) que nega ao filme a efervescência trágica desejável”, além do “excesso”
de Nelson Xavier, como se “tivesse necessidade de garantir o aplauso”. Na opinião do crítico,
“na margem carioca de sangue e lantejoulas de A rainha diaba as últimas, às vezes, levam a
melhor. E esta não era a melhor opção”.
O próprio ator Nelson Xavier se mostrou um pouco crítico em relação a sua
interpretação de Catitu, onde teria adotado um tom “meio exibicionista”.
488
Entretanto, é a
exagerada malícia nos seus gestos lentos e na sua voz macia que garantem uma atuação mais
saborosa e mais adequada do que no realista Dois perdidos numa noite suja, por exemplo, e
486
Essas cartelas estão depositadas no setor de documentação da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro.
487
BARROS, Luis Alípio de. A rainha diaba e dois extremos. Última Hora, Rio de Janeiro, 4 jun. 1974.
488
Uma rainha chamada diaba.
306
próxima a do malandro arrependido Babalu do filme Vai trabalhar, vagabundo!, filmado na
mesma época que A rainha diaba.
489
A Rainha é pop
A rainha diaba foi anunciado como um thriller-pop e assumia diversas influências de
uma “cultura pop” e de uma “cultura jovem” que o cinema brasileiro já incorporava com
vigor desde o final da década de 60.
Conforme já apontamos, o primeiro longa- metragem de Fontoura, Copacabana me
engana era um claro exemplo da influência de uma “cultura jovem” em um cinema feito por
jovem e para jovens que surgiu na segunda metade dos anos 60 e permeou, por exemplo, tanto
os primeiros filmes de Domingos de Oliveira ou as comédias musicais com astros da Jovem
Guarda, quanto também o Cinema Marginal. Podemos localizar em muitos filmes marginais,
segundo preceitos tropicalistas (e sua contrapartida antropofágica), um diálogo crítico, mas
também incorporador do mundo industrial e dos modernos meios de comunicação que
marcavam o universo dessa cultura pop. Nesse sentido, elementos estéticos – essencialmente
urbanos – desvalorizados pelo cinema de influência nacional-popular, como as história s em
quadrinhos, a publicidade, o romance policial, o rádio, a televisão e o jornalismo
sensacionalista, adquiriram renovada importância, como muito bem exemplifica O bandido
da luz vermelha. Além disso, os cineastas marginais também dialogavam critica e
irreverentemente com elementos estrangeiros inseridos numa cultura internacional, como o
filme de gênero americano ou o rock e a música pop.
Entretanto, é notável uma surpreendente ousadia no visual pop do filme para o
panorama cinematográfico brasileiro de 1974. Um dos motivos talvez seja o fato de que
durante a feitura do roteiro de A rainha diaba, Fontoura tenha viajado para Nova Iorque para
visitar seu amigo Hélio Oiticica, que vivia lá com uma bolsa de estudos, passando um mês em
seu loft. O apartamento do artista plástico era localizado na “2º avenida com a rua 4”, um dos
locais mais “barra pesada” da cidade, ponto de encontro dos travestis porto-riquenhos.
489
Fontoura afirmou que inicialmente Wilson Grey interpretaria o Catitu, mas após os primeiros ensaios,
insatisfeito com o resultado, conversou com Grey que, como foi regra ao longo de sua extensa carreira, acabou
brilhando em papel coadjuvante. Nelson Xavier foi convidado para o papel dias antes do início das filmagens e
um dos motivos para o diretor ter pensado em seu nome foi por seu histórico no Teatro de Arena e pelo
entrosamento que já tinha com Milton Gonçalves, com que contracenaria.
307
Durante esse período, Fontoura contou ter recebido uma verdadeira “aula de travestis” e ter
respirado a intensa atmosfera pop do local, freqüentando shows e discotecas: “Colhi muito
material que era muito mais rico do que eu podia fazer. Fiz uma versão mais pop do roteiro e
incorporei muitos elementos de coisas que eu tinha visto lá”. Desse modo, o cineasta conferiu
ao filme traços de uma “vanguarda” da marginalidade pop da cidade mais cosmopolita do
mundo, berço das mais radicais experiências artísticas americanas.
Nesse sentido, é importante pensar a relação que A rainha diaba estabelece, por
exemplo, com a pop art. Vindo a ser considerada um dos mais importantes movimentos
artísticos da segunda metade do século XX, a pop art surgiu na Inglaterra como uma
contestação ao expressionismo abstrato, mas adquiriu seus contornos nos EUA,
principalmente em Nova Iorque, alcançando mais popularidade do que qualquer outro
“movimento” da arte moderna.
A pop art ajudou a tornar ainda mais tênue a linha que separava obra de arte e
mercadoria ou alta e baixa cultura, incorporando o mundo do consumo no circuito de arte de
galerias. Conforme Roy Lichtenstein, o que marcou a arte pop foi antes de tudo o uso que ela
fez do que antes era desprezado.
490
Desse modo, foi exacerbada uma tendência que marca
toda uma expansão da arte moderna conquistada graças à incorporação de elementos da dita
cultura de massa, como a imprensa, o graffiti, a caricatura, os quadrinhos e a publicidade (cf.
VARNEDOE; GOPNIK, 1990).
Além disso, segundo Cacilda Teixeira da Costa, a pop art também marcou um retorno
à figuração, tendência dominante na história da arte, mas que ressurgia naquele momento
como inédita, já que as imagens não eram mais criadas a partir da realidade e sim recriadas a
partir de ícones pré-codificados pelos meios de comunicação. É questionável apontar a
existência de uma pop art no Brasil, embora a chamada Nova Figuração Brasileira, lançada
pela mostra Opinião 65 (da qual o diretor de arte de A rainha diaba fez parte), tenha
correspondido à retomada geral do figurativismo no país. Sobre os reflexos desse movimento
no Brasil, Cacilda Teixeira da Costa refletiu:
A questão é que a Pop, em sua origem novaiorquina, enfocava o imaginário popular no cotidiano da
vida da classe média norte-americana, tomando seus temas das imagens produzidas nesse contexto
sendo natural que não tenha existido entre nós um movimento igual ao de lá já que se tratava da
revelação crítica daquela sociedade. Mas, por ser uma idéia, um espírito adaptável a diferentes
490
OSORIO, Luiz Camillo. Rigor e despretensão com o que é desprezado. O Globo, 20 abr. 2006.
308
situações, é perfeitamente compreensível que os artistas tenham se tornado ‘antropofágicos’ e
aproveitado criativamente a experiência pop, sem perder a identidade ou autonomia . 491
É justamente esse “espírito pop” que marca profundamente A rainha diaba, por
exemplo, em seu diálogo com a publicidade. A presença constante de anúncios e marcas no
filme não era merchandising, mas se constituía num elemento estético. Depois de Andy
Warhol ter transformado em arte imagens como as latas de sopa Campbell ou garrafas de
Coca-Cola, mostrar com destaque os logotipos da Esso (no posto de gasolina assaltado), Pepsi
(no caminhão roubado), Carlton (em pôster no boteco) ou Minister (num outdoor) era mais
um ingrediente do visual pop do filme de Fontoura.
Da mesma maneira, um diálogo semelhante também se estabelece com o universo das
histórias em quadrinhos. O personage m Bereco em determinado momento de A rainha diaba
aparece lendo histórias em quadrinhos, enquanto em outra cena, o mesmo personagem está
vestido com uma camiseta dos Freak Brothers, personagens de Gilbert Shelton. Embora isso
possa ser encarado como associado ao caráter adolescente da personagem, as histórias em
quadrinhos são outro elemento significativo desse universo jovem. A estética dos quadrinhos
vai estar ainda mais presente no filme seguinte de Fontoura, o fracassado Cordão de ouro
(1977), justamente uma adaptação de uma história em quadrinhos que era uma tentativa de
criar um herói popular brasileiro, negro e lutador de capoeira.
492
Nesse sentido, A rainha diaba se alinha ao Cinema Marginal na superação do
nacionalismo organicista e ao igualmente enveredar pelo jogo de contaminação tropicalista,
do nacional e estrangeiro, alto e baixo, vanguarda e kitsch, arcaico e moderno (XAVIER,
1993, p.19). Como em vários filmes marginais, mas talvez de forma até mais acentuada, A
rainha diaba mistura num liqüidificador tropicalista elementos de uma cultura jovem, pop e
moderna com características estilizadas do universo do kistch, popular e arcaico.
491
COSTA, Cacilda Teixeira da. Aproximações do espírito pop. In: APROXIMAÇÕES DO ESPÍRITO POP:
1963-1968. Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2003, p. 20.
492
Depois da idade do ouro das histórias em quadrinhos americanas na década de 20, do comercialismo dos
heróis nos anos 30 e 40, do moralismo e da crise na década de 50 – marcada pelo livro The seduction of
innocent, de Fredric Werthman, publicado em 1954 – e do surgimento da “tira intelectual” de um Charles
Schulz ou Jules Feiffer, os quadrinhos passaram por uma revolução criativa. A ironia ácida da revista Mad, os
comics alternativos de um Robert Crumb, o surgimento de heróis críticos nas grandes editoras – como O
demolidor e O homem-aranha, de Stan Lee – e os novos artistas europeus faziam parte de um universo que
interessou, por exemplo, aos cineastas marginais. Sinal mais evidente disso é o fato de Rogério Sganzerla, junto
com Álvaro de Moya, ter dirigido em 1969 os curtas-metragens Histórias em quadrinhos (comics) e Quadrinhos
no Brasil.
309
Esse apelo ao brega já apontado nos cenários e figurinos493 , encontra sua principal
expressão provavelmente na seleção musical de A rainha diaba. De autoria de Guilherme Vaz
e premiada no VIII Festival de Brasília, a trilha sonora do filme reflete de forma cristalina a
mistura tropicalista de elementos populares e modernos. O músico que já tinha composto
trilhas semelhantes em filmes como Fome de Amor (dir. Nelson Pereira dos Santos, 1969), fez
para o longa- metragem de Fontoura um acompanhamento musical com elementos
dissonantes, que em alguns momentos lembra uma jam session pop, próximo ao virtuosismo
do rock progressivo ou às tentativas daquela época de unir o jazz ao pop. Segundo Vaz, as
partituras da trilha não tinham notas, mas gráficos e pulsões, além de contar com muito
improviso, para compor um “fundo de música pop nervoso, vibrante”.
494
Por outro lado, junto a black music então moderníssima Get Up (I Feel Like Being a)
Sex Machine, de James Brown, uma parte brega ou popular da trilha sonora – da qual
Guilherme Vaz chegou a reclamar na época – está presente em todo o filme, da canção de
abertura às músicas diegéticas do rádio da Diaba, com marchinhas de carnaval ou “uma
música americana de quinta”. Os créditos iniciais surgem ao som da guarânia Índia, na versão
brasileira cantada por Paulo Sérgio, verdadeiro ícone do “estilo brega” e um dos maiores
ídolos da música romântica nacional. A mesma música tinha sido regravada com sucesso em
1973 por Gal Costa, na releitura tropicalista do disco homônimo. Assim como em outros
momentos do filme, a música de abertura se revela localizada na diegese, quando na primeira
cena, no prostíbulo, Vitória tira a agulha de um disco da vitrola e a canção é interrompida. Ou
seja, a canção popular caracteriza o próprio ambiente da Rainha.
O mesmo ocorre nos números musicais da personagem Isa, interpretada pela atriz e
também cantora Odete Lara, como o do bolero La Mujer que no se Asoma, próximo do
excesso melodramático tratado com ironia em O bandido da luz vermelha quando o bandido
canta Mi corazón te llama, ou da inserção de Nelson Rodrigues numa chave melodramática
no então recente Toda nudez será castigada, atravessado pela marcante trilha de Astor
Piazzola.
493
495
A cena da festa que a Diaba é representada como uma “festinha de aniversário suburbana”, com decoração
infantil, bolas na parede, bebidas coloridas e outros elementos aparentemente “populares”.
494
A trilha sonora do filme foi executada por bateria (Robertinho Silva), percussão (Paulinho e Chico Batera),
baixo amplificado (Bruce Henry), guitarra (Jaime Shields), piano elétrico (Fender Thodhes) e um sintetizador
(Guilherme Vaz) (A RAINHA Diaba: sangue lantejoulas na outra margem do Rio. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 21 mai. 1974).
495
Da mesma forma que a Isa de A rainha diaba, a prostituta Geni (Darlene Glória) também interpreta um bolero
num número musical do filme de Arnaldo Jabor. No conto de Plínio Marcos, a amante de Bereco era uma
garçonete de cabaré, e não uma cantora. Essa modificação, além de diminuir o teor decadente da personagem,
310
A música também serve como elemento de contraste e crítica, num expediente muito
próximo também ao ut ilizado em filmes marginais, especificamente em Matou a família e foi
ao cinema.
496
Quando Bereco invade o barraco de Bigode para matá-lo por acreditar
equivocadamente que foi ele quem o “dedurou” para os policiais, a música que embala a
violenta cena é a alegre Estrada do sol, composta por Dolores Duran e Tom Jobim, na versão
da banda de Jovem Guarda Os incríveis. Por terem composto no momento de maior repressão
da ditadura a ufanista Eu te amo, meu Brasil, o grupo ficou identificada com o regime militar,
e o fato de ser exatamente a voz de Os Incríveis a acompanhar planos do rosto do personagem
coberto de sangue, de olhos esbugalhados para câmera e com a cabeça caída no próprio prato
de comida, prova as possibilidades críticas desse tipo de colagem tropicalista.
497
A mistura estilizada de narrativa de filme policial americano, traficante de maconha
brasileiro e canções românticas latinas, faz de A rainha diaba quase uma versão
cinematográfica de letras de músicas tropicalistas. É interessante compará- lo com a canção El
justiceiro – mesmo nome do filme de Nelson Pereira dos Santos – incluída no disco Jardim
elétrico (1971) dos Mutantes Rita Lee, Sérgio Dias e Arnaldo Baptista, que embaralhava
anarquicamente melodia de western spaghetti e a letra de extrema e debochada violência em
inglês, italiano, castelhano e português:
Once upon a time when the hot sun faded behind the mountains
The shadow of a strong man, with a gun in his hand, raised to protect the poor people of the haciendas
They called him: "El Justiciero"!
[…]
El Justiciero, yo tengo treinta hijos con hombre
La guerra, la guerra me ay strupatto tanto bene
Socuerro, El Justiciero, ajuda-me por favor!
Mas um dos elementos principais utilizados na geléia geral de A rainha diaba foi
justamente o conto homônimo de Plínio Marcos.
provavelmente se adequava mais à atriz Odete Lara, que também desenvolveu uma carreira paralela como
cantora, tendo gravado dois discos nos anos 60.
496
Uma referência imediata é a cena do filme de Julio Bressane em que a personagem de Márcia Rodrigues
espanca violentamente a própria mãe, com a amiga (Renata Sorrah) lixando as unhas ao seu lado, enquanto
câmera permanece imóvel até começar de repente uma alegre marchinha de carnaval.
497
O grupo foi formado em 1962 como The clevers, mudando de nome dois anos depois para Os incríveis e
iniciando a fase de maior sucesso da banda, que chegou a estrelar o filme Os Incríveis neste mundo louco (1966),
dirigido por seu empresário Paulino Brancato Jr. Após se separarem no início dos anos 70, seus integrantes se
reuniram novamente pela primeira vez para gravar o disco Os incríveis Mingo, Nené e Risonho (1973), do qual
faz parte a música Estrada do sol.
311
Rainha e Plínio
Na pesquisa para esse trabalho, foi possível o acesso ao argumento original de Plínio
Marcos vendido para Fontoura. Trata-se de um conto jamais publicado com 55 páginas
datilografadas e corrigidas à mão pelo próprio dramaturgo. Esse conto já se chamava A rainha
diaba e apresentava toda a estrutura dramática e narrativa que o filme viria a ter. Os diálogos
e os personagens (incluindo seus nomes) foram mantidos praticamente sem mudanças na
adaptação para o cinema.
498
Numa página em anexo, datilografada pelo próprio Fontoura com a ordem das
seqüências do filme – cujo título, como aparece no alto da folha, era ainda A guerra da
maconha – percebemos algumas das poucas mudanças feita pelo diretor e roteirista.
A primeira seqüência (e primeira página) do conto de Plínio, resumida por Fontoura
como “Bereco na leve: acorda e vai para o Leite”, foi cortada do roteiro. O início do texto em
que Plínio descrevia o personagem começava da seguinte maneira:
“Bereco era um garotão sacudido, mas ainda só pesava na balança dos pivetes. Entre a turma da pesada
não tinha vez. Não era considerado. Mas, tinha jeito para todo tipo de trambique. E muita gente levava
fé nele. O próprio se acreditava bem. Nos quás -quás -quás compridos que os pixotes esticavam, todas as
tardinhas, nas quebradas do mundaréu, era ele quem cortava e jogava de mão. No papo, fazia e
acontecia. E, se alguém mais folgado duvidava, o pivete bom se jurava:
– Quando tocar para mim, podem crer. Me garanto. Só tou na boca de espera. Não vão me estranhar
quando eu piar nas cabeceiras, que é na ponta o meu destino”.
A segunda seqüê ncia do conto (“Catitu enrola Bereco”) permaneceu nessa ordem e o
que era a terceira seqüência (“Trunfos se reúnem com Diaba e tira”) virou o início do filme.
Essa nova ordem assinalada nessa lista de seqüências, reformulada em relação ao conto
original, corresponde efetivamente ao encadeamento das cenas que A rainha diaba recebeu
em sua versão final.
499
Como Fontoura contou, ele pediu a Plínio Marcos uma história “com muito sangue”
que envolvesse uma guerra das bocas no tráfico de drogas. Diante dessa proposta, o
dramaturgo lhe entregou um conto no qual ousou colocar livremente traços característicos de
sua obra (personagens cruéis e egoístas, abuso de poder, gírias, palavrões e xingamentos,
brigas violentas), mas numa história com traços de tragédia shakespeariana, com traições
498
MARCOS, Plínio. A rainha diaba, [1971]. Depositado no setor de documentação do CTAv Rio de Janeiro.
Alguns trechos do conto foram suprimidos. O desfile da diaba e suas diabetes pelas ruas da cidade chegou a
ser filmado, mas foi descartado durante a montagem. Algumas dessas imagens filmadas por Fontoura em Super
8 estão no dvd do filme como “cenas inéditas”.
499
312
covardes, paixões não correspondidas e desfechos trágicos. O próprio fato de ser uma história
passada numa espécie de “reino distante e desconhecido” (o submundo marginal), envolvendo
uma rainha tirânica, seu traiçoeiro braço-direito, súditos fiéis e um jovem “plebeu” bravo e
tolo, também conferia esse tom ao filme.
500
A força de A rainha diaba talvez se dê por caminhar numa linha tênue entre uma
denúncia realista, cruel e violenta de problemas sociais (o crime organizado, o tráfico de
drogas, a corrupção policial) e uma moldura irônica, debochada e irreverente de filiação
tropicalista. O conto de Plínio se articula dos dois modos, conferindo a autenticidade e o
realismo almejado através principalmente dos diálogos e da crueza das situações, mas também
colaborando com o deboche e a ironia igualmente característicos de sua obra, da mesma
forma que em Nenê Bandalho.
Segundo Fontoura, as muitas gírias do conto original não apenas foram mantidas,
como algumas (poucas) até reescritas por um amigo de Hélio Oiticica que freqüentava as
bocas de fumo do morro do Estácio, com o intuito de conferir um tom menos paulista e mais
carioca ao filme. A busca de uma linguagem “autêntica” do submundo foi bastante elogiada
pela crítica na época. O crítico Ely Azeredo, embora afirmasse que o filme não tinha a força
trágica ou a explosão das peças do dramaturgo (e da primeira adaptação de Chediak) ressaltou
a contribuição de Plínio na “dialogação extremamente veraz, rica de um conhecimento que
não se aprende na escola, e no embasamento das caracterizações dos personagens. Jamais se
enfatizará em demasia como esse tipo de trabalho é importante para nosso cinema. A fala dos
personagens de A rainha diaba reforçam a variada gama de sua galeria humana”.
501
Entretanto, mesmo essa autenticidade dos diálogos era alvo da ambigüidade do filme.
O apelo às gírias foi tão exacerbado, inclusive na interpretação num certo overacting dos
atores, principalmente Nelson Xavier, que adquirem um tom reflexivo que o filme exibe em
diversos momentos.
502
Fontoura revelou que inspirado em Accattone (1961, dir. Pier Paolo Pasolini), queria
que o público não entendesse 50% do que os personagens falavam. Segundo José Carlos
Avellar, em sua análise crítica do filme, as gírias em A rainha diaba funcionam como uma
500
Catitu, por exemplo, é uma espécie de Iago, o “falso amigo” do rei negro Othelo. Plínio já tinha feito duas
adaptações de peças de Shakespeare antes, transformando Macbeth em Macabô e Romeu e Julieta em Balbina de
Iansã.
501
AZEREDO, Ely. As artes da “Diaba”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 30 mai. 1974.
502
Reflexividade também ligados ao mundo marginal de Plínio Marcos. Em uma seqüência do filme de
Fontoura, a personagem de Nelson Xavier, Catitu, passa em frente a um pôster de Roberto Carlos (onde se pode
ler “super pop”, ao lado do nome do cantor) e, em seguida, pára em frente a um espelho, ajeitando seu cabelo
que tem o mesmo penteado que o ídolo na foto.
313
espécie de código entre os personagens, servindo para expressar o tipo de pessoa, sua postura
e intenções. Para o espectador, não é preciso necessariamente entender tudo para compreender
o que é dito.
Mas essa dubiedade já tinha sido apontada em reportagem da época: “[Se Fontoura e
Plínio são] sócios no argumento final, os diálogos são basicamente de Plínio e sua riqueza
quase excessiva no uso da gíria serve afinal a dois objetivos: entranha os personagens em seu
meio marginal e delirante, de um lado, e se casa perfeitamente com o tratamento paródico
pretendido pelo cineasta”.
503
Por outro lado, Salvyano Cavalcanti de Paiva criticou essa mesma característica,
aparentemente insatisfeito com o tratamento debochado do filme: “O único reparo ao filme de
Fontoura, o exagero, o derramamento no emprego do jargão criminal, a parecer, até, que
Plínio Marcos começa a cunhar palavras, a inventar termos de gíria e a transferir de São Paulo
para o Rio, o calão das bocas: é uma saída, mas caricatura ao invés de retratar o ambiente”.
504
Entretanto, a ironia também é uma característica da obra de Plínio Marcos e no conto
A rainha diaba isso pode ser claramente percebido, por exemplo, nos apelidos dos
personagens. Em seus nomes há um deboche ao mesmo tempo engraçado e cruel, geralmente
apontando para defeitos e fraquezas das personagens, como o Anão (o baixinho) ou Manco
(aleijado pela própria Diaba). Essa característica seria ainda mais evidente no personagem
Querô, cujo apelido é um diminutivo relacionado ao suicídio de sua própria mãe ao beber
querosene (no romance de Plínio) ou atear fogo às próprias vestes encharcadas desse líquido
(na adaptação de Reginaldo Farias).
505
Além da humilhação e a violência pela linguagem, um outro traço dos mais
característicos da obra pliniana, presente em certo nível também em A rainha diaba, é o
personagem homossexual.
Rainhas, viados e bichas.
503
A RAINHA Diaba: sangue lantejoulas na outra margem do Rio. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 mai.
1974.
504
PAIVA, Salvyano Cavalcanti de. Sangue e Lantejoulas. O Globo, Rio de Janeiro, 29 mai. 1974.
505
Já os apelidos de alguns dos travestis do filme de Fontoura (como Decidida e Duvidosa) têm mais a ver com
suas posturas e comportamento. Em relação a protagonista, se pela frente a chamam de “Rainha” – e as diabetes,
mais intimamente, de “Diaba” – por trás, seus asseclas, incentivados por Catitu, só a tratam por “boneca” ou
“perobo”.
314
No livro de Antônio Moreno A personagem homossexual no cinema brasileiro (2001),
publicado a partir de sua dissertação de mestrado (1995), o autor inaugurou no Brasil os
“estudos queer”, investindo numa análise da representação dessa personagem na história do
cinema nacional. Moreno elaborou uma listagem de filmes brasileiros na qual apontou a
presença do personagem homossexual e a partir de um “modelo de análise fílmica estrutural /
significativa”, buscando apoio na semiótica, redigiu pareceres sob o teor do discurso dos
filmes acerca dessa personagem, os enquadrando em três categorias: pejorativo, nãopejorativo e dúbio.
Como apontou com perspicácia Robert Stam (2004, p.303), os estudos que propõem a
abordagem de estereótipos no cinema comportam uma séria de armadilhas do ponto de vista
teórico- metodológico, como o de enveredar pelo essencialismo, com simplificações
reducionistas que correm o risco de reproduzir o próprio racismo que tentavam combater:
Esse essencialismo termina por gerar um a-historicismo; a análise tende a ser estática, a não permitir
mutações, metamorfoses, mudanças de valência, funções alteradas; ignora a instabilidade histórica do
estereótipo e mesmo da linguagem. As análises de estereótipos são, também, dissimuladamente
fundadas no individualismo, pois a personagem individual, mais do que categorias sociais mais amplas
(raça, classe, gênero, nação, orientação sexual), permanece sendo o ponto de referência.
Moreno (2001, p.29) não escapa dessa armadilha, como seu próprio texto revela ao
justificar a opção por um modelo padrão e rígido de análise, “necessário para que se
pudesse aplicar igualmente, a todos os filmes estudados, o mesmo tipo de
questionamento dirigido a determinados aspectos comportamentais concernentes ao ser em
sociedade, tendo em foco principal os atribuídos às personagens homossexuais” (grifo meu).
Esse debate é justificado pela inclusão por Moreno dos filmes A navalha na carne e
Dois perdidos numa noite suja na categoria dos que apresentam gestualidade estereotipadas.
Se não se aprofunda sobre o segundo filme, em relação à primeira adaptação dirigida por
Chediak, o autor afirma que Veludo, a personagem gay, “é faxineiro, pobre, submisso ao
cafetão de quem apanha, é medroso e ardiloso” (Ibid, p.92). Em relação ao que já foi
discutido no capítulo 3 sobre o filme e a peça de Plínio Marcos, é evidente como a análise de
Moreno se revela rasteira e superficial.
Já na análise sobre o personagem homossexual em A rainha diaba, Moreno (op.cit.,
p.256-257) fez um julgamento ainda mais severo, afirmando que “o filme não faz concessão a
nenhuma personagem homossexual. Estas convive m com uma realidade extremamente
315
violenta, são obsessivas, estereotipadas e sádicas”. O autor conclui de forma enfática: “A
rainha diaba é uma alegoria das mais violentas e sádicas do homossexualismo”.
Ignorando todas as especificidades do filme, os problemas da crítica de Moreno ficam
ainda mais evidentes quando relacionamos o filme ao universo de Plínio Marcos. Na época de
lançamento de A rainha diaba, um jornalista já apontava para uma ligação da
homossexualidade no longa- metragem de Fontoura com a obra do dramaturgo: “A visão dura
do mundo marginal, com sua macheza ostensiva na verdade escondendo tendências
femininas, já tinham aparecido em algumas peças fundamentais de Plínio: Dois perdidos
numa noite suja, Navalha na carne (ambas adaptadas ao cinema sem nenhuma grandeza) e
Barrela”.
506
Ainda apelando para reportagens de época, podemos chamar a atenção para o
contexto de extremo e radical preconceito exemplificado pelo comentário de um outro crítico
que reclamava do “travestinismo de determinadas seqüências, excessivamente realistas como
aquelas que se desenvolvem no antro dos travestis”.
507
Assim como a prostituta ou o cafetão, também é recorrente na obra de Plínio Marcos a
presença do personagem homossexual, geralmente exercendo sub-empregos como faxineiros
de pensões baratas ou garçons de prostíbulos. No universo marginal de Plínio Marcos, onde
os personagens vivem segundo o lema “cada um, cada um” – fala do garoto Querô de Uma
reportagem maldita – e estão sempre na balança entre a auto-afirmação perante o outro ou a
humilhação pelo outro, a homossexualidade é clara, óbvia, berrante. Os personagens plinianos
procuram (e encontram) nos outros, fatos ou características que sirvam para se impor
cruelmente sobre eles – como a idade de Neusa Sueli em Navalha na carne –, mas
dificilmente a homossexualidade serve como ponto fraco a ser explorado, como mostra o
personagem Veludo na mesma peça.
Por trás do excesso, do exagero ou até do aparentemente estereotipado, está uma
atitude afirmativa, marcada, por exemplo, pelo uso do gênero feminino quando os
personagens se referem a si próprios.
508
A homossexualidade dos personagens plinianos
dificilmente é questionada ou discutida – porquê, como ou quando assumiram esse condição –
se revelando, nesse sentido, muito “bem resolvidos”. Ou seja, não se abatendo ou se
acabrunhando ao serem chamados de “viados” ou “bonecas”, eles expressam uma clara
506
A RAINHA Diaba: sangue lantejoulas na outra margem do Rio. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 mai.
1974.
507
F.A.S. A rainha diaba, um filme sério. Voz do Paraná, Curitiba, 22 set. 1974.
508
No conto A rainha diaba há também uma personagem feminina homossexual, com se nota por seu nome,
Dilma Grelo. No filme de Fontoura, a personagem aparece brevemente no cabaré Leite da Mulher Amada
abraçada com outra mulher.
316
convicção em suas opções sexuais – que a roupa e os trejeitos reafirmam, mesmo que
grotescamente. Além do mais, a homossexualidade deve ser encarada dentro do grupo social
bastante particular do universo em que Plínio Marcos transitou, regido por regras e normas
diferentes das que ditam o comportamento da classe média brasileira, por exemplo.
Se em outras obras de Plínio Marcos os personagens homossexuais, em geral, só são
subjugados quando se apela para a força física (e às vezes, mesmo assim conseguem se impor,
como, mais uma vez, o Veludo), em A rainha diaba o protagonista, mesmo homossexual,
também tem a violência física a seu favor e, não à toa, comanda o (sub)mundo. O mesmo
pode-se dizer dos personagens coadjuvantes, “as diabetes”. Segundo Fontoura, alguns deles
nem eram atores profissionais, mas cabeleireiros, costureiros e maquiadores convidados.
Por outro lado, podemos perceber na personagem da Rainha diaba que sua fraqueza
talvez seja justamente o seu lado feminino, seus sentimentos e sua vaidade. Entre outros
motivos, é pela beleza de Robertinho que Diaba decide criar um bode expiatório para ser
preso no lugar do assecla – mote inicial do filme que será justamente o começo de sua ruína.
É também pelo charme de Catitu que a Diaba não percebe seu complô, assim como é pelo
encanto por Bereco que ela comete a distração que vai resultar em sua morte. Ou seja, o amor
e o desejo é que são justamente o ponto fraco do marginal, o mesmo que de muitos outros
personagens plinianos, mulheres ou gays.
509
Na primeira cena de A rainha diaba os capangas chegam ao prostíbulo aonde vão se
encontrar com a Diaba para uma reunião. Um a um, entram o Anão (Lutero Luiz), Manco
(Wilson Grey), Peludo (Paulo Sacramento / Banzo Negro), Gravata (Perfeito Fortuna),
“trunfo” (Quim Negro) e Robertinho (Arnaldo Moniz Freire), além de Violeta (Yara Cortes),
dona do bordel. Cada um deles é responsável por uma boca de fumo diferente (no cais do
porto, no jockey, junto aos estudantes etc.), numa distinção evidenciada pela aparência, tipo
físico e roupas. Quando entra em cena o policial Coisa Ruim (Procópio Mariano), vestido
com terno preto e ostentando além de uma enorme barriga, um revólver bem à vista, todos os
trunfos também revelam estarem armados. Cria-se assim uma expectativa pela visão da
protagonista, o chefe de todos eles e que vai se revelar uma mistura heterogênea de todas as
509
Por outro lado, numa diferente interpretação do filme, podemos enxergar a tentativa de sedução de Bereco
pela Diaba não motivada por simples vaidade, mas por pura necessidade da Rainha manter seu reinado do
tráfico. Traída pelos seus antigos aliados, a Rainha diaba só poderia sobreviver se atraísse o garoto para o seu
lado. Caso ela conseguisse a aliança de Bereco – que já despontava como um novo líder (possível substituto do
próprio Catitu) – a Diaba poderia perfeitamente dispensar (e, provavelmente, eliminar) os trunfos traidores.
Possivelmente, esse outro aspecto, mais frio e calculista da personagem, também pode ser identificado na rica
personalidade do protagonista.
317
características de seus capangas. Aquino (2002, p. 150) chama atenção para a fala de Violeta
“A Rainha já vai recebê- los”, que teria “a intenção protocolar de estabelecer um ritual que
distancia liderança e liderado, fundando uma hierarquia rígida que guia o bando. Diaba os
recebe em seu quarto, deitado em sua cama/trono como uma verdadeira rainha do submundo”.
Nessa sua primeira aparição no filme, a protagonista surge depilando as pernas com
uma navalha, utilizando a lâmina com fins meramente estéticos, marca de sua vaidade
“feminina”. O mesmo objeto é também o símbolo de seu poder e com o qual ameaça os
outros, chegando mesmo a cortar o rosto de Robertinho e Isa, os personagens mais bonitos
como ela própria, invejosa, admite. Esquecida sobre o criado-mudo, será justamente com essa
mesma navalha – e, talvez, por essa mesma vaidade, ao acreditar ter seduzido Bereco – que a
Diaba será morta.
510
O protagonista de A rainha diaba, assim como outros personagens homossexuais de
Plínio Marcos, na verdade, não se diferenciam muito das fortes, sofridas e trágicas mulheres
plinianas, sejam as prostitutas e seus cafetões, as mulheres de malandros ou as amantes
traídas. Não à toa, a ruína tanto da Diaba quanto de Isa tem origem no mesmo garotão,
Bereco. Ambas, assim como os demais personagens das obras plinianas, são movidas por
emoções fortes e pulsões, em vidas de brilhos intensos e curtos.
O amor incondicional de Isa por Bereco pode ser imediatamente relacionado à
prostituta Neusa Sueli, de Navalha na carne, também envolvida com um homem mais novo
que a maltrata e explora. A atriz Odete Lara, assim como Tônia Carreiro, conquistou
entusiasmados elogios ao interpretar uma personagem feminina de Plínio Marcos que sofre
com a insegurança da velhice a lhe apagar a beleza. Mas o elemento trágico também está
presente nesta personagem, sendo ela a própria responsável por condenar Bereco à morte ao
dar seu nome à Diaba, após ser torturada cruelmente, na encruzilhada típica da dramaturgia
pliniana. No momento em que parecia ter finalmente alcançado a felicidade, através de um
relacionamento estável com Bereco, e da auto-estima elevada pelo respeito das demais
mulheres por ser a responsável pela boca de fumo, Isa vai perder de uma vez só tudo que tem
de mais importante: seu amor, com o assassinato de Bereco; sua posição de destaque no
510
A navalha, objeto invariavelmente associado a tipos como o malandro ou à prostituta de rua, é imagem
recorrente e quase simbólica da obra de Plínio Marcos, presente inclusive no título de uma de suas peças mais
famosas. A navalha é também usada constantemente como substantivo adjetivado em caracterizações da própria
linguagem do autor – de diálogos e falas “afiadas” e “cortantes” com uma lâmina. A expressão “levar a vida no
fio da navalha” serve também para retratar exemplarmente o universo trágico dos personagens da dramaturgia
pliniana.
318
tráfico, com o desmantelamento da gangue; e sua própria beleza (e instrumento de trabalho)
com as navalhadas no rosto dadas pela Diaba.
Discutindo as características do protagonista de A rainha diaba é imprescindível
apontar suas relações com um personagem real, o famoso marginal homossexual da Lapa
João Francisco dos Santos, ou melhor, Madame Satã.
Diaba e Satã
Conforme Fontoura, para criar a personagem principal de A rainha diaba, Plínio
Marcos teria se inspirado numa “boneca” que comandava o tráfico em Santos – chamada
“Barrão”, mas apelidada de Rainha diaba. É comum, entretanto, ser sugerida uma ligação da
personagem fictícia com o famoso Madame Satã, figura quase mítica da Lapa e que foi
retratado pelo cinema brasileiro contemporâneo em Madame Satã (dir. Karim Ainouz, 2002).
Aquino (2002, p.133-134) apontou alguns traços em comum entre a personagem e
lendário bandido: “o fato de ambos serem negros, homossexuais e terem nomes que enunciam
campos semânticos idênticos”. Entretanto, essa relação aparentemente óbvia e imediata se
tornou um clichê repetido ad nauseam, desde o lançamento do filme até os dias de hoje.
511
Milton Gonçalves, em entrevista à época do lançamento do filme, disse acreditar ser
possível fazer um paralelo entre os dois personage ns, embora admita que por Plínio Marcos
ser paulista, teria sido mais provável ele ter se inspirado em marginais que conheceu em São
Paulo. Mas o ator afirmou ainda: “Particularmente eu me interessei muito pela história de
Madame Satã. Inclusive conversei com pessoas que participaram da vida na Lapa, na época
em que ele fazia suas proezas. Ou seja, pensei bastante nas coincidências entre ele e a Diaba.
Só que não tenho consciência em que medida a figura de Madame Satã influiu sobre o meu
personagem.”
512
Por outro lado, o mesmo Milton Gonçalves dizia em outra entrevista que teria se
fixado numa certa “Dedeca” que o ator teria conhecido em sua mocidade em Ponte Grande,
511
Em recente matéria de jornal comentando o lançamento do dvd de A rainha diaba, o jornalista Jaime Biaggio
afirmava que o título do filme “já entrega totalmente a conexão entre o personagem da vida real e o da ficção”
(BAGGIO, Jaime. Madame Satã da ficção na Cinelândia. O Globo. Rio de Janeiro, 9 set. 2004).
512
A HISTÓRIA de um ator. Opinião, Rio de Janeiro, 10 jun.1974.
319
interior de São Paulo, para compor a personagem. Essa “versão inversa da Diaba”, não era
homem, mas mulher, e controlava as bocas de fumo em sua cidade.
513
Ou seja, uma influência de uma figura real no filme (seja Madame Satã ou Dedeca)
pode ser sugerida numa outra chave, mesmo que ela não tenha partido necessariamente do
argumentista Plínio ou do diretor e roteirista Fontoura, que afirmou inúmeras vezes: “Meu
filme nada tem a ver com Madame Satã”.
514
A constante e equivocada visão de A rainha diaba como uma biografia disfarçada de
Madame Satã nos chama atenção para uma questão importante do filme, que é certa
atemporalidade, ou uma temporalidade confusa. Podemos notar essa característica pelas
palavras de Odete Lara, em reportagem antes do lançamento do filme: “Não há pretensão de
retratar uma realidade, pois é impossível se falar da Lapa de hoje, por exemplo. As boates só
tocam música pop e a meninada de lá ostenta com orgulho a camiseta ‘Alice Cooper’”.
515
De
fato, no filme se misturam elementos de um Rio de Janeiro das décadas de 30 e 40, auge da
Lapa de Satã, como vitrolas, navalhas, cabarés ou ternos de linho, com outros da mais
moderna década de 70, como televisão, metralhadora, postos de gasolina ou roupas de lycra.
A rainha diaba se aproxima de uma história da malandragem do passado, com sua valentia e
seus códigos de honra, com a criminalidade então contemporânea, com armamentos pesados e
o narcotráfico estabelecido num grande esquema de transporte, distribuição e venda em toda a
cidade, incluindo zona sul, escolas e portas de boates.
Como grande parte da obra pliniana, construída com referências ao universo marginal
que ele conheceu em sua juventude em Santos, o argumento de A rainha diaba, embora
escrito por volta de 1971 e não exatamente localizado no espaço e no tempo, também remonta
a esse universo de valentes e otários. Entretanto, ao ser adaptado para o Rio de Janeiro, o
conto escrito por Plínio se transformou num filme que, em sintonia com a articulação
tropicalista entre o velho e o novo, misturava a figura do malandro, da navalha e da astúcia
(idealizações da marginalidade do passado), com o universo do marginal, das metralhadoras e
da violência (impressões da criminalidade do presente).
Do malandro ao marginal
513
BARROS, Luiz Alípio de. Brasil proibido em Cannes. Última Hora, Rio de Janeiro, 9 mai. 1974.
NO CINEMA, Rainha diaba nada tem com Madame Satã. Ultima hora, Rio de Janeiro, 1 jul. 1974.
515
RAINHA Diaba: Odete Lara é cantora de boate num policial cheio de violência. O Globo, Rio de Janeiro, 10
mar. 1974.
514
320
O malandro é um tipo existente desde, pelo menos, o início do século XX, associado
ao desocupado, vagabundo ou vadio, de certa forma herdeiro dos capoeiras e próximo aos
valentes.
516
Posteriormente, um “sub tipo do malandro”, se fundindo com o boêmio, passou a
ser folclorizado e adquiriu prestígio: o malandro do morro. Este podia ser associado ao jogo
do bicho, à contravenção e à desordem, mas dificilmente era estigmatizado como bandido.
Conforme o antropólogo Michel Misse (1999, p.260), entre os anos 30 e 50 ocorreu,
especialmente no Rio de Janeiro, uma lenta passagem “do gatuno para o assaltante armado, do
malandro e do valente tradicionais para o marginal, da arma branca para a arma de fogo, a
ação em grupo substituindo a ação individual, o nervosismo e o revólver substituindo a
astúcia e a navalha”. Nessa época, começou a se estabelecer uma clara oposição entre o
marginal, ligado à violência, e o malandro, associado à astúcia e ao ardil. Entretanto, a
representação da violência urbana ainda permanecia restrita a determinadas regiões da cidade
e as classes médias e as elites apenas “ouviam falar”, mas não se viam ainda envolvidas
diretamente pela violência nos morros.
Na década de 50, com a fixação do tipo do marginal ligado ao crime e à violência, a
representação do malandro, uma figura em vias de desaparecimento, passou a ser
crescentemente idealizada e, em oposição ao marginal, romanticamente se despiu de qualquer
traço ou representação de violência. Nesse antagonismo que se estabeleceu, o malando era
inteligente, astucioso e controlado, enquanto o marginal era ignorante, agressivo, antipático e
descontrolado. O malandro era individualista e evitava o enfrentamento direto, já o marginal,
desprezado pela comunidade e quadrilheiro, buscava sempre o enfrentamento com arma de
fogo.
Numa época marcada pelo nacionalismo e pelo crescente interesse e valorização da
cultura popular, deve ainda ser ressaltada a aceitação do malandro como um importante
símbolo e manifestação cultural do povo. Foi justamente nos anos 60 que a separação entre a
representação do malandro e do marginal se completou, quanto praticamente desapareceu da
516
Como um dos herdeiros dos capoeiras, o malandro assumiu um caráter de desordeiro, mas também de valente,
embora este se diferencie pelo uso da força – “o malandro não é sempre valente, vale-se principalmente de
ardis; o valente não é necessariamente malandro, depende de produzir o ‘medo’ no outro, mas respeita os iguais
e as mulheres e crianças”. Os malandros e os valentes eram enquadrados pela polícia principalmente através do
artigo legal “vadiagem” ou acusados de “desordem pública”. Todos esses tipos – tanto o capoeira quanto os
valentes e os primeiros malandros – são anteriores ao desenvolvimento das favelas nos anos 30-40, e estão
ligados ao universo dos cortiços, cabarés e cabeças de porco do Rio de Janeiro das primeiras décadas do século
XX (Misse, 1999, p.256).
321
imprensa a denominação malandro para designar bandidos, como fora comum nas décadas
anteriores.
Nesse sentido, é importante lembrar que Madame Satã teria entrado para a
obscuridade histórica se não tivesse sido ressuscitado pelos intelectuais boêmios cariocas,
sobretudo por sua célebre entrevista para o jornal alternativo Pasquim, em 1971, que o
transformou em símbolo da contracultura. Na década de 70, foi comum o tom nostálgico com
que a figura romantizada do malandro era tratada, fosse em filmes como Vai trabalhar,
vagabundo! ou O último malandro (dir. Miguel Borges, 1974) ou na peça de Chico Buarque
A ópera do malandro (1978).
A nostalgia é um traço forte inclusive da pop art, que debruçava um olhar nostálgico
para o passado. Quando Andy Warhol utilizou na década de 60 imagens de embalagens ou
personagens de histórias em quadrinhos (Dick Tracy, Popeye, Superman), ele escolheu
imagens de quadrinhos e de propagandas de sua juventude (VARNEDOE; GOPNIK, op. cit.,
p.193). De forma semelhante, essa inspiração no passado também está presente na reapropriação de clichês do cinema clássico americano por A rainha diaba que, como Fontoura
admitiu, teve origem em todos os filems que o diretor viu quando menino: “nos ‘poeiras’ de
Ipanema, nos policiais, nas aventuras, nos piratas e nos musicais, nesse cinema que ficou em
mim”. 517
Mas essa característica também pode ser encontrada tanto nos jovens cineastas
brasileiros surgidos no final da década de 60 – dialogando também com a chanchada, por
exemplo – como na nova geração de diretores americanos do começo dos anos 70. 518
Nesse contexto, A rainha diaba também traça um retrato com traços de nostalgia e
romantismo do malandro astucioso e armado de navalha, embora, por outro lado, também
insinue a figura cada vez mais presente do marginal quadrilheiro e de metralhadora em punho.
No universo de Plínio Marcos no qual o filme se inspira, a violência e crueldade envolvem
517
FONTOURA e as emoções que se liberam e voam. O Globo, Rio de Janeiro, 29 mai. 1974.
O filme Loucuras de verão (American Graffiti, EUA, dir. George Lucas, 1973), por exemplo, é considerado
um dos marcos desse boom da nostalgia, ao lado de Houve uma vez um verão (Summer of 42, EUA, dir. Robert
Mulligan, 1971) ou A última sessão de cinema (The last picture show, EUA, dir. Peter Bogdanovich, 1971).
Loucuras de verão foi o segundo longa-metragem de George Lucas – uma produção muito barata e que se tornou
um grande sucesso – e abordava jovens recém saídos da high school e que se deparavam com a dúvida de
entrarem na faculdade ou permanecerem em sua cidadezinha. O filme se passava dez anos antes, em 1962 (a
“chamada” do trailer era Where were you in ’62?), e seus jovens personagens falam com saudade do “ano
passado” ou como “há cinco anos atrás era tudo diferente”. O filme de George Lucas aborda o “fim de uma era”,
marcada pelo desfile de carros pelas ruas das cidadezinhas e pelo rock and roll americano dos anos 50, e que era
confrontada com um presente melancólico (o destino dos personagens anos depois teria sido a morte na Guerra
do Vietnã, como aparece nos letreiros finais).
518
322
todos os personagens, não deixando espaço para idealizações. O Vado de Navalha na carne já
era uma espécie de malandro nada romântico, pois é covarde, violento e cruel.
Simultaneamente à idealização do universo da marginalidade dos anos 20 e 30, Plínio
mostrava o mesmo universo do cais do porto, de prostitutas e cafetões sem o menor traço de
romantismo.
Em A rainha diaba, Catitu e a própria Diaba são os personagens com traços mais
fortes do malandro e que, talvez por isso, causem maior empatia. A Rainha incorpora
sobretudo características do valente, que se impõe pelo medo e é respeitado e temido pelo
grupo, enquanto Catitu, seu braço-direito, é justamente o elemento mais astucioso, que
consegue o que quer sem sujar as mãos. Entretanto, o filme de Fontoura, como o conto de
Plínio, traz também a sensação de violência crescente que marcou os anos 70 e a emergência
da figura do marginal. A rainha diaba termina com uma sentença cruel: os malandros estão
acabando, assim como os otários. Num universo de extrema violência onde existem apenas os
marginais, todos estão condenados a serem vítimas.
Além disso, Fontoura percebeu com certo pioneirismo no meio cinematográfico
brasileiro as conseqüências do aumento do tráfico de maconha no final dos anos 60, ao
elaborar o projeto do filme A guerra da maconha. Conforme Michel Miss (op. cit., p.338),
desde o final da década de cinqüenta já eram publicadas manchetes nos jornais populares
cariocas anunciando “a batalha da maconha”, em referência ao tráfico e uso de drogas no Rio
de Janeiro. Entretanto, naquele momento o “movimento” ainda se restringia à venda e
consumo de maconha e, em menor quantidade, de cocaína, nas favelas, presídios e em alguns
pontos principais. Em meados dos anos sessenta, esse movimento se espraiou crescentemente,
baseado principalmente no comércio da maconha, com a chegada da clientela da classe média,
na sua maioria jovem, e o alargamento local pelo incremento do consumo da erva.
519
519
Conforme Misse, em 1966 uma reportagem do jornal O dia revelava que a maconha e a cocaína já estavam
sendo consumidas (e vendidas) por adolescentes da classe média da Zona Sul. Em 1970 o mesmo jornal
noticiava a apreensão de “setenta e um cigarros de maconha destinados à venda a estudantes”. É importante
lembrar que para parte da juventude da década de 60, especialmente a parcela politizada e ligada ao movimento
estudantil de esquerda, o uso da maconha era considerado um hábito “burguês”, sendo seu uso muito mais
comum dentre os jovens ditos “alienados”. A partir de meados dos anos 60, diante de uma nova conjuntura – a
desilusão de uma geração com o fim das utopias, a influência do movimento hippie, a popularização da
contracultura – e no contexto do que ficou conhecido como o “desbunde”, o uso da drogas se tornou cada vez
mais freqüente dentre os jovens, especialmente junto ao meio artístico e intelectual. Mesmo em meio à ainda
existente “intolerância de esquerda” em relação à experimentação de drogas, o cineasta Luiz Carlos Lacerda,
perseguido por ser usuário de maconha desde meados da década, afirmou ter sido o introdutor da maconha para
diversos amigos por volta de 1968. Glauber Rocha, por exemplo, teria fumado seu primeiro baseado oferecido
por Antonio Calmon no início daquele ano (VENTURA, 1988, p.38-42). Já o centrado e politizado Vianinha
323
Desse modo, desde o final da década de 50 já se configurava uma escalada da
violência na cidade, não apenas pelo crescimento do tráfico de maconha, mas também com o
incremento dos roubos e assaltos com violência. Na passagem dos anos 60 para os 70, já era
cada vez mais comum os jornais estamparem manche tes como “guerra pelo domínio do
trafico” ou “guerra entre traficantes de maconha”.
520
A percepção desse fato e sua
representação expressiva sob forma de ficção talvez seja um dos motivos do impacto de A
rainha diaba na época e a relativa “surpresa” com que o filme costuma ser encarado
contemporaneamente por retratar, já em 1974, uma situação considerada ainda extremamente
“atual” nos dias de hoje.
Isso provavelment e se deve também ao fato de que para a percepção social e para a
maioria das análises o divisor de águas na “história” da violência no Rio de Janeiro ter sido a
entrada da cocaína nas antigas bocas de fumo cariocas na segunda metade dos anos 70. Foi
justamente nesse período que o cinema brasileiro se envolveu ainda mais com o tema,
geralmente através de um filão que já vinha se desenvolvendo com vigor desde os anos 60 e
que cresceu ainda mais: o do filme policial. Depois de A rainha diaba, a adaptação seguinte
de uma obra de Plínio Marcos para o cinema combinava uma mais evidente estrutura de filme
policial com uma abordagem contundente do tráfico de drogas e da corrupção policial no Rio
de Janeiro. O título do filme de Reginaldo Farias de 1977 espelhava a impressão de um
aumento incontrolável da violência: a barra estava realmente ficando pesada.
experimentou maconha pela primeira vez em fins de 1969, durante as filmagens de um filme do então hippie
Domingos de Oliveira, para nunca mais voltar a usar (MORAES, op.cit., p.187-188).
520
Manchetes publicadas pelo jornal O dia, no ano de 1969 (citado por MISSE, op. cit., p.340).
324
7. A BARRA PESOU PARA VALER
O filme policial brasileiro.
Em seu livro Crime Film (2002), Thomas Leitch questiona se o termo “filmes
criminais” definiria um gê nero ou serviria apenas de “guarda-chuva” para diversos outros
gêneros, como o filme de gangster, o suspense, o filme de detetive ou o filme noir. Vendo
como objeto principal do filme criminal uma “cultura do crime” – cujo paradoxo fundamental
seria as contínuas rupturas e restabelecimentos das fronteiras entre os criminosos, as vítimas e
aqueles que solucionam os crimes –, Leitch aponta que a questão mais importante não é
definir se determinado filme pertence ou não a um gênero em particular, mas o quão
recompensador pode ser discuti- lo como se fosse.
Nesta pequena introdução à análise do filme Barra pesada, optei por substituir o termo
“filme criminal”, utilizado por Leitch, por “filme policial”, expressão de uso mais corrente no
Brasil, para designar o conjunto de filmes ao qual me refiro, mas ainda compartilhando da
premissa do autor. Apesar das dificuldades em apontar a existência de um cinema de gêneros
no Brasil, pode ser muito recompensador tentar identificar uma tradição do filme policial na
história do cinema brasileiro.
521
José Mário Ortiz Ramos já apontou as dificuldades de se pensar a questão do cinema
de gêneros no Brasil, buscando retomar a discussão e tendo como um dos pontos de partida a
reavaliação da cultura de massa empreendida por autores como Jesus Martín-Barbero.
Segundo o autor, seria necessário superar preconceitos como o expresso na contraposição
usual entre o “filme de gênero” e o “filme de autor”:
Ocorre, então, a depreciação do primeiro, acusado de ser o reino do ‘sempre -igual’ – para seguir uma
formulação frankfurtiana – da repetição do estereótipo, produtos da avidez comercial. Já a ‘obra’ de
521
No livro Cinema Brasileiro: propostas para uma história, Bernardet (1979, p.91) afirmava que excetuando-se
os primórdios, no cinema brasileiro somente a comédia teria tido uma produção regular e receptividade por parte
do grande público. “Nenhum outro gênero, dramático, de aventura, seja lá o que for, com exceção do
relativamente escasso surto de filmes de cangaço, conheceram uma produção sistemática. [...] Quer dizer que o
relacionamento do público com os gêneros dramáticos e ‘nobres’ continuou a se fazer através do cinema
estrangeiro”.
325
qualquer cineasta-autor é sempre valorada como um conquistado espaço mágico da criatividade, da
522
expressão individual.
Como o autor apontou, “um gênero de forte apelo como o policial, [...] gerou o
desinteresse analítico ou, ao lado da produção, o artifício de aparecer embalado com o manto
protetor de alguma ‘mensagem social’ para conseguir algum reconhecimento”. O próprio José
Mário já tinha contornado esse desinteresse em sua tese de doutorado, publicada em forma de
livro em 1995, no qual abordou, entre outros gêneros, os filmes policiais brasileiros
produzidos principalmente na segunda metade da década de 70. Trata-se de um trabalho
pioneiro e louvável, mas como seria de se esperar, sujeito a lacunas e omissões. Um filme
como Barra pesada, por exemplo, não é sequer mencionado em Cinema, televisão e
publicidade: cultura popular de massa no Brasil nos anos 1970-1980.
Anteriormente, entretanto, outras tentativas de enquadrar o cinema brasileiro sob a
perspectiva do gênero também já tinham sido feitas. Em 1980, Alex Viany classificou a
produção cinematográfica brasileira desde 1960 em diferentes gêneros, enfrentando alguns
dos diversos problemas da análise genérica, como o de categorias excessivamente amplas ou
demasiadamente restritas e de filmes que não se enquadram em somente um gênero. Além
disso, como classificar filmes que se opunham justamente contra o cinema clássico narrativo
hollywoodiano que consagrou o próprio cinema de gêneros?
523
Se Viany demonstrou o já apontado preconceito ao classificar a maior parte das “obras
autorais” cinema- novistas somente no indefinido e mais prestigiado gênero “social”, no artigo
Apontamentos para uma história do thriller tropical Sérgio Augusto adotou um outro
extremo. Ao traçar um breve histórico do filme policial brasileiro, o jornalista não hesitou em
enquadrar como filmes policiais A grande cidade, O bandido da luz vermelha, O amuleto de
522
RAMOS, José Mário Ortiz. A questão do gênero no cinema brasileiro. Revista USP, São Paulo, n.19, set-nov
1993, p. 110-113.
523
Viany fez essa listagem – encontrada no acervo Alex Viany, depositado na Cinemateca do MAM –
justamente com o objetivo de oferecer filmes brasileiros para compradores estrangeiros, através da
Superintendência de Comercialização Externa (Sucex) da Embrafilme, durante a I Cinex – Feira Internacional
do Cinema Brasileiro, realizado em Brasília, de 30 de outubro a 9 de novembro de 1980, sob os auspícios da
Embrafilme e da Embratur. Os filmes foram separados nas seguintes categorias: drama, erótico,
esportivo/infantil, documentário, musical, policial, comédia, aventura e social. Para citar algumas dificuldades
dessa categorização, uma categoria excessivamente ampla, como “drama” acabou tendo que ser subdividida em
muitas outras (político, histórico, melodrama, horror, ficção científica, experimental, religioso etc.) enquanto
“comédia” abarcava filmes os mais diferentes como Em cada coração um punhal, O homem nu ou os estrelados
por Mazzaropi. Da mesma forma, outros gêneros terminavam por ser demasiadamente restritos, e os filmes de
“aventura”, por exemplo, praticamente só incluíam os filmes de cangaço dos anos 60 e os “faroestes” da Boca do
Lixo dos anos 70.
326
Ogum e A lira do delírio, numa postura que sob um olhar rigoroso, revela-se igualmente
questionável.
Segundo Andrew Tudor (In: GRANT, 2003, p.3-11), não é produtivo definir um
gênero simplesmente por seus atributos como personagens, cenários ou dramas recorrentes (o
que assumiria uma função simplesmente classificatória) nem por suas intenções (algo sempre
difícil de ser averiguado) – um gênero seria definido por suas convenções culturais.
524
De qualquer forma, ainda não foi feito no país um estudo decisivo sobre uma tradição
do filme policial na história do cinema brasileiro, que poderia remontar ao pioneiro Os
Estranguladores (1908) – primeiro recorde de público e de bilheteria da produção
cinematográfica nacional.
525
Nesse sentido, uma questão levantada por Jean-Claude Bernardet (1995, p.91) a
respeito desses “filmes criminais” produzidos entre 1908 e 1911 também deve ser pensada
para uma análise genérica em qualquer outro período na história do cinema brasileiro. Quando
Bernardet afirma que os filmes criminais brasileiros não podem ser tomados como fatos
isolados, podendo ser enquadrados num gênero cinematográfico consolidado e de sucesso em
outros países, ele se questiona se os espectadores brasileiros diferenciavam os filmes
brasileiros (criminais ou não) dos filmes estrangeiros ou se o público “dominava o gênero
criminal, dentro do qual se podia operar diferenciações (inclusive de nacionalidade), porém
secundárias em relação à categoria dominante que seria o gênero?”.
526
Do mesmo modo, José Mário Ortiz Ramos igualmente questionou “as possibilidades
de um cinema de gênero em países que não conseguiram construir uma indústria de cinema
524
Como apontou Leitch, gêneros costumam ainda ser freqüentemente definidos por outros critérios, como o
cenário (o oeste americano no século XIX no western), um estilo visual bem definido (como o do filme noir) ou
por suas intenções assumidas (o filme infantil, feito para crianças).
525
Produção da Foto-Cinematografia Brasileira de Antônio Leal, o filme abordava o famoso crime cometido por
Roca e Carleto, adaptando a peça teatral A quadrilha da morte, escrita pelo jornalista Figueiredo Pimentel e pelo
jornalista e teatrólogo Rafael Pinheiro. Os Estranguladores foi exibido em 830 apresentações contínuas,
alcançando 20 mil espectadores somente no primeiro mês. Tendo custado quase 4 contos de réis e um mês de
trabalho, rendeu somente no Cinema Palace 57 contos nos 45 dias de exibição contínua (SOUZA, J., op. cit.,
p.236). Os filmes criminais eram inspirados em conhecidos crimes ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo e
se constituíram um filão de sucesso. Pela mobilização pública dos crimes, os filmes conseguiam boas audiências
e sua inspiração na imprensa ou no teatro revelavam o fascínio pela violência que percorria a representação do
crime em diversos meios, sendo difícil isolar a representação cinematográfica de sua representação jornalística e
teatral.
526
Sobre o cinema dos primórdios e partindo de muitas questões do livro de Bernardet, José Inácio de Melo
Souza afirmou que a produção cinematográfica nacional sempre esteve em foco marginal, uma vez que havia
uma oferta abundante de títulos estrangeiros e, possivelmente a preço baixo. A temática nacional era buscada
menos por uma oposição ideológica em relação ao cinema estrangeiro ou pela procura de imigrantes por um
reconhecimento social da comunidade, do que pela lógica de aplicação de uma narrativa conhecida e consagrada
entre o público.
327
estável”. Nesse caso, se as principais análises genéricas – essencialmente sobre o cinema
americano – afirmam que os gêneros devem ser pensados nas relações entre os filmes e os
espectadores, no caso do cinema brasileiro – marginalizado em seu próprio mercado
dominado pelo produto estrangeiro –, a relação do filme nacional com o modelo
hollywoodiano também deve ser levada em conta.
Limitando o foco desta análise, nota-se uma investida do cinema brasileiro sobre o
gênero policial a partir especialmente da década de 50, ocorrida em meio ao crescimento do
número de filmes marcados por temas e abordagens “sérias” e quando diversos diretores das
lucrativas chanchadas tentaram investir em projetos pessoais que freqüentemente se
aproximavam do cinema policial.
527
Buscando inspiração no realismo do cinema americano do pós-guerra, no filme noir e
nas obras de Alfred Hitchcock, o filme policial aos poucos se tornou um filão. Houve
investidas nesse gênero tanto por parte da Vera Cruz já em crise – com Na senda do crime
(dir. Flaminio Bolini Cerri, 1954) –, quanto da Cinelândia Filmes – com Assassinato em
Copacabana (dir. Eurídes Ramos, 1961) –, após a decadência da chanchada e pouco antes da
produtora dos irmãos Ramos encerrar suas atividades.
O aumento da criminalidade nas grandes cidades brasileiras a partir dos anos 50 e a
busca de um retrato crítico e autêntico da “realidade nacional” marcou a investida no filme
policial brasileiro na década de 60. Crimes e marginais reais, conhecidos pelo público através
da imprensa, do rádio e, cada vez mais, também da televisão, ganharam retratos em diversos
filmes.
Depois de assinar duas chanchadas de sucesso, o jovem cineasta Roberto Farias dirigiu
sob encomenda para o produtor Herbert Richers o filme Cidade Ameaçada, cujo protagonista,
chamado Passarinho, era inspirado no marginal paulista Promessinha. Depois do bom
resultado do filme, além de mais uma encomenda de Herbert Richers (dessa vez uma
comédia), Roberto Farias partiu para sua primeira produção, justamente outro filme policial.
O assalto ao trem pagador (1962) era inspirado no crime do bandido Tião Medonho e foi um
enorme sucesso do que na época era chamado do “novo cinema brasileiro”. Nos anos
527
José Carlos Burle, em Também Somos Irmãos (1949) tratou do tema do racismo numa trama sobre dois
irmãos negros (Aguinaldo Camargo e Grande Otelo) que seguiam caminhos diferentes perante a lei, um como
advogado e o outro marginal. A trajetória de dois amigos separados pelos descaminhos da vida também foi o
tema de Maior que o Ódio (1951), do mesmo diretor estrelado por Jorge Dória e Anselmo Duarte. Outra
produção da Atlântida, Amei um bicheiro (dir. Jorge Ileli, 1952) foi elogiado na época ao tratar de um
personagem tipicamente brasileiro (o bicheiro), na história de um homem (Cyll Farney) que tenta escapar da vida
no crime. O diretor Jorge Ileli voltaria mais uma vez ao policial em seu filme seguinte, Mulheres e Milhões
(1960).
328
seguintes, diversos outros crimes reais foram levados às telas: o “crime da machadinha” em
Porto das caixas (1962) o caso da “Fera da Penha” em Crime de Amor (dir. Rex Endsleigh,
1965), o bandido José Rosa de Miranda em Mineirinho Vivo ou Morto (dir. Aurélio Teixeira,
1967), o assalto ao supermercado Peg-Pag em Massacre no supermercado (dir. J. B. Tanko,
1967), o célebre João Acácio Pereira da Costa em O bandido da luz vermelha (1968).
O marginal era o protagonista de quase todos esses filmes, geralmente acuado pela
sociedade, marginalizado pelo sistema e tendo a morte como destino inevitável, como
ilustram os finais de Tocaia no asfalto (dir. Roberto Pires, 1962), Gimba, presidente dos
valentes (dir. Flávio Rangel, 1963), Na mira do assassino (dir. Mário Latini, 1967) ou Nenê
Bandalho (dir. Emílio Fontana, 1971), entre outros.
Mesmo que o incorruptível policial Perpétuo de Freitas desse título ao filme de Miguel
Borges, o bandido Cara de Cavalo é quem protagonizava de fato Perpétuo contra o esquadrão
da morte (1967). Entretanto, o moralismo que marcou os filmes mais conservadores das
décadas de 40 e 50 – como o paulista Cais do Vício (dir. Francisco José Ferreira, 1953) –
ainda manteve algum espaço e o detetive Lincoln Monteiro é que m era o herói de Sete
homens vivos ou mortos (1969). Dirigido por Leovegildo “Radar” Cordeiro, montador e
policial – apontado como membro do Esquadrão da Morte e que faz uma ponta nesse “papel”
em Barra pesada –, seu longa- metragem conquistou a fama de “filme mais fascista já filmado
no país”.
528
Ainda na década de 60, alguns profissionais se aprofundaram especialmente nessa
linha do policial, percebendo um filão ao mesmo tempo lucrativo e que atendia às suas
intenções ou características pessoais, como o já citado Roberto Farias, o cineasta baiano
Roberto Pires ou ainda o astro, produtor e diretor Jece Valadão.
529
Tendo a imprensa sensacionalista como grande divulgadora dos crimes, os repórteres
eram presenças comuns nesses filmes. Se esse personagem já vinha ganhando um retrato
crítico nas peças de Nelson Rodrigues, consequentemente surgiu com força nas adaptações
rodriguianas para o cinema, a partir do inaugural Boca de Ouro, em 1962. O repórter policial
Amado Ribeiro que trabalhava junto com Nelson Rodrigues no jornal Última Hora e deu seu
nome ao inescrupuloso personagem da peça O beijo no asfalto, escrita em 1960 e levada às
528
REICHENBACH, Carlos. In: CINEMA BRASILEIRO: A VERGONHA DE UMA NAÇÃO, 2004, São
Paulo. Programa... São Paulo, Cinemateca Brasileira, dez. 2004.
529
O filme policial também foi o gênero em que muitas co-produções ou produções estrangeiras filmadas no
Brasil se enquadravam, tendo a exó tica paisagem brasileira como cenário para crimes, como em Sócio de Alcova
(Carnival of Crime, 1962, dir. George Cahan).
329
telas pela primeira vez em O beijo (dir. Flávio Tambellini, 1965), foi quem escreveu em 1969,
junto com Pinheiro Jr., o livro Esquadrão da morte. Segundo o sociólogo Michel Misse, essa
foi justamente a obra que marcou o início do filão dos chamados romances-reportagens, um
tipo de literatura policial, de grande vendagem, escrita principalmente por jornalistas, que
reunia ficção e romance documentário.
De uma constatação realista e de um viés sociológico nos 60, para a fugaz rebeldia
avacalhada e iconoclasta do final dessa década, o filme policial vai ganhar um novo fôlego
sobretudo na segunda metade da década de 70, já não tanto com a força da imprensa popular,
mas sobretudo da literatura. Alguns romances-reportagens de sucesso foram adaptados para o
cinema pelos próprios autores, geralmente jornalistas, que também atuavam como roteiristas,
como foi o caso de Aguinaldo Silva ou José Louzeiro. Além desses livros que se
aproximavam da linguagem jornalística, também serviram de inspiração obras de ficção que
chocavam pelo realismo, como foi o caso de Uma reportagem maldita (Querô), de Plínio
Marcos.
530
Segundo Misse (op. cit., p.265), nesse momento a temática do banditismo urbano saiu
dos jornais populares, onde estivera contida até os anos 60, e invadiu as publicações lidas pela
elite – além das telas dos cinemas de todo o país. Embora grupos de extermínio como o
Esquadrão da Morte tenham surgido no final da década de 50, seu retrato mais expressivo no
cinema brasileiro só ocorreu na segunda metade dos anos 70. 531
Do mesmo modo, embora o tráfico de drogas viesse crescendo desde os anos 60 com
o aumento da demanda de maconha, para a percepção social e para a maioria das análises o
divisor de águas na “história” da violência no Rio de Janeiro foi a entrada da cocaína nas
antigas bocas de fumo cariocas no final dos anos 70. Nesse momento também que as drogas
ganharam grande destaque no cinema, em filmes como Terror e êxtase (dir. Antonio Calmon,
1979) ou O último vôo do condor (dir. Emílio Fontana, 1982). O roteiro deste último foi
escrito pelo cineasta em parceria com o já então roteirista profissional José Louzeiro e o
repórter policial Antonio Carlos Fon e tinha como título original Cocaína, a rota do brilho.
530
Publicado apenas um ano antes de Querô, a coletânea de contos Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, também
chocou por sua violência, especialmente a do conto que dava nome à obra. Assim como a peça O abajur lilás, de
Plínio Marcos, o livro de Rubem Fonseca também foi proibido pela ditadura militar em 1975.
531
Em 1958, em São Paulo, o general Amaury Kruel criou o “Grupo de Diligências Especiais”, sob o comando
do detetive Le Cocq, transferido do Esquadrão Motorizado, que a imprensa passou a chamar de Esquadrão da
Morte. Diversos grupos de extermínio surgiram na década de 60 em outras cidades, como os Homens de Ouro de
Mariel Mariscott, a Scuderie Le Cocq, a Polícia Mineira ou as truculentas incursões da Rota (Rondas Ostensivas
Tobias de Aguiar).
330
Assim, é possível estabelecer certo pioneirismo no tratamento de temas específicos na
obra de Plínio Marcos e, consequentemente, em suas adaptações para o cinema. A denúncia
da atuação do Esquadrão da Morte já estava presente em sua peça Oração para um pé-dechinelo, sobre um marginal que se refugia num barraco da favela antes de ser executado pelos
policiais, que foi censurada em 1969, permanecendo proibida até 1979. De certo modo, a
história foi adaptada no texto que deu origem ao filme Nenê Bandalho, também proibido em
1971. 532
Em seus contos e crônicas publicadas ao longo dos anos 70, Plínio denunciava
constantemente os freqüentes extermínios por policiais ocorridos, sobretudo, na Baixada
Fluminense. Desse modo, um filme como A rainha diaba, através de Plínio Marcos, ainda se
revelava ousado em 1974 por sua abordagem violenta do mundo do tráfico e do crime.
Depois de uma “onda” do filme policial brasileiro nos anos 60 – a partir do sucesso de
O assalto ao trem pagador até o final da década, quando um novo panorama surge após o AI5 –, uma nova voga do gênero vai ter lugar na segunda metade dos anos 70 e não só no
cinema, mas também na televisão.
Por outro lado, a matriz do gênero hollywoodiano, com o qual inúmeros filmes
brasileiros vão retomar o diálogo ao longo dos anos 70, também passou por mudanças
significativas. Com a crise dos filmes de orçamento astronômico nos anos 60, uma nova
geração de cineastas estreantes e alguns sucessos surpreendentes promoveram mudanças
através do que ficou conhecido como New Hollywood ou de forma mais crítica, como a
“industrialização do cinema de autor”. O grande sucesso de público de produções de baixo
orçamento como Bonnie & Clyde: uma rajada de balas (Bonnie & Clyde, dir. Arthur Penn,
1967), A primeira noite de um homem (The Graduate, dir. Mike Nichols, 1967) e Sem destino
(Easy Rider, dir. Dennis Hopper, 1969), ou o reconhecimento da crítica para filmes ácidos e
contundentes como Perdidos na Noite (Midnight Cowboy, dir. John Schlesinger, 1969) –
premiado com o Oscar – ou MASH (dir. Robert Altman, 1970) – Palma de Ouro em Cannes –
, conferiram um renovado prestígio a novos diretores americanos. Em meio a filmes
caracterizados pela complexidade narrativa, pelo hibridismo de gênero e pelo investimento
em temas tabus (sexo, drogas, violência, contracultura), o filme policial norte-americano
também mudou, incorporando, de forma mais ampla, estratégias realistas, crítica social e
maior ambigüidade dos personagens.
532
Em O Filho da Televisão, de João Batista de Andrade, episódio do longa-metragem Em Cada Coração um
Punhal (1969), há uma menção explícita, mas também em um tom debochado, ao Esquadrão da Morte.
331
Com o aumento generalizado da criminalidade em grandes cidades como Nova Iorque
ou São Francisco, a violência assumiu em diversos filmes uma forma mais alarmante por ser
arbitrária e gratuita. Segundo Hossent (1974, p.74) “a imagem chave da violência urbana é
talvez a do franco-atirador (sniper)” – o homem que com motivos ou não, atira a esmo em
pessoas completamente estranhas.
533
Sendo as grandes metrópoles representadas como terras sem lei, dominadas por
gangues e marginais, é possível verificar uma proximidade das convenções genéricas do
western com esse filme policial. A violência de um faroeste tardio como Meu ódio será tua
herança (The wild bunch, EUA, dir. Sam Peckinpah, 1969) passou a estar presente em
diversos filmes estrelados não mais pelo cowboy solitário, mas por vigilantes urbanos que
passam por cima da lei para manter a ordem. Não à toa, atores consagrados em faroestes,
como Clint Eastwood e Charles Bronson, se transformaram em dois vingativos personagens:
o Inspetor Harry Calahan em Perseguidor implacável (Dirty Harry, EUA, dir. Don Siegel,
1971) e o pacífico arquiteto que se transforma em “juiz, júri e executor” em Desejo de matar
(Death wish, EUA, dir. Michael Winner, 1974). O motorista de táxi de Taxi driver (EUA, dir.
Martin Scorcese, 1976) é talvez o maior exemplo do complexo cowboy urbano, num filme
com direito, inclusive, a um sanguinolento duelo final.
534
O conservadorismo – e até certo fascismo – presente em alguns desses personagens
que faziam “justiça com as próprias mãos” também pode ser notado numa outra vertente do
filme policial brasileiro, que na década de 70 teria como marco Eu matei Lúcio Flávio (dir.
Antonio Calmon, 1979), realizado a partir do ponto de vista do policial Mariel Mariscott
como contraponto ao fenômeno Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (dir. Hector Babenco,
1978).
De uma forma ou de outra, o sangue abundante e de vermelho vivo e as armas cada
vez mais potentes dos filmes americanos dos anos 70 foram uma influência importante nos
policiais brasileiros realizados da mesma época. Durante a preparação de A rainha diaba,
533
É importante lembrar que em 1968 o senador Bob Kennedy e o pastor Martin Luther King foram assassinados
dessa forma, da mesma maneira que o então presidente Kennedy em 1963.
534
De forma mais crítica, Lawrence Hammond (1974, p. 146) afirmou que Dirty Harry passou a ser o arquétipo
do policial no cinema americano na década de 70: “incapaz tanto de um pensamento quanto de qualquer
sentimento humano, resolvendo qualquer problema com um revólver tão pesado que ele precisa das duas mãos
para mirar”. O personagem de Clint Eastwood teria suplantado o suspense por ação, tensão por brutalidade,
personagens por armas maiores e mais potentes. Tanto esse personagem quanto o de Desejo de matar
retornariam em diversas seqüências na década de 80, quando ocorreu “uma virada para a direita” no governo do
EUA e de grande parte da Europa. Foi essa a época de séries estreladas por policiais como os de Duro de matar
(Die hard, EUA, dir. John McTiernan, 1988) e Máquina mortífera (Lethal weapon, EUA, dir. Richard Donner,
1987).
332
Fontoura contou que pediu ao diretor de fotografia José Medeiros que fizesse para seu filme
uma fotografia como a de Operação França (French connection, EUA, dir. William Friedkin,
1971) – premiado com Oscar de melhor filme, diretor, ator, roteiro e montagem em 1971 e
considerado um dos renovadores do cinema policial ao introduzir elementos da estética do
documentário, além de personagens com tons ambíguos e uma linguagem mais crua.
535
Desse modo, sob o viés do filme policial brasileiro, ao se pensar numa trajetória de
dez anos entre a ruptura de O bandido da luz vermelha (1968) e a consagração de Lúcio
Flávio, o passageiro da agonia (1978) é possível identificar um percurso semelhante das
adaptações de Plínio Marcos, de Nenê Bandalho a Barra pesada, tendo A rainha diaba “no
meio do caminho”. Elementos já presentes nos filmes de Emílio Fontana e de Antonio Carlos
Fontoura, como a narrativa policial e o teor de denúncia, surgiriam de forma ainda mais
incisiva no filme de Reginaldo Faria.
Desse modo, no auge do “cinemão” da Embrafilme, pela primeira vez uma obra
pliniana ganhava uma adaptação cinematográfica com tão altos valores de produção, mas
novamente atendendo aos desejos de um cineasta em tratar com realismo e autenticidade uma
realidade que poucos conseguiam expressar com a mesma crueza e contundência que Plínio
Marcos. Depois do filme de Antonio Carlos Fontoura foi novamente a produtora do então
presidente da Embrafilme quem levou Plínio novamente para as telas. Mas desta vez era um
projeto literalmente concebido de dentro da R.F. Faria, dirigido por um de seus próprios
sócios.
“Reginaldo Faria: do riso ao compromisso”.
Nascido em Nova Friburgo em 1937, Reginaldo Faria morava no Rio de Janeiro,
trabalhava num banco e sonhava em ser músico quando ingressou no mundo do cinema
através do irmão Roberto Farias.
536
Foi assistente de câmera no primeiro filme do irmão
(Rico Ri à toa, 1957), estreando como ator no filme seguinte de Roberto (No mundo da lua,
535
Conforme Fontoura, depois de ver o filme, Medeiros teria dito que a fotografia de Operação França – crua,
ágil, dinâmica – ele já tinha feito em seu primeiro filme, A falecida, e que os americanos é que o tinham copiado.
É curioso que em A rainha diaba a influência de elementos estéticos que marcaram os novos cinemas dos anos
60 podem vir tanto através do Cinema Novo (e de uma personagem importante daquele movimento, como José
Medeiros) quanto dos filmes americanos que também se apropriaram desses mesmos elementos.
536
Por um erro de cartório, o sobrenome de Roberto foi registrado como Farias, enquanto o dos seus irmãos
Reginaldo e Rivanides é somente Faria.
333
1958) e já protagonista em Cidade Ameaçada (1960), pelo qual recebeu elogios da crítica e o
prêmio de melhor intérprete no Festival de Cinema de Marília.
Como ator tornou-se um rosto bastante conhecido no cinema brasileiro, trabalhando
em diversos filmes do começo dos anos 60. Além de intérprete nos primeiros projetos mais
“autorais” de seu irmão – O assalto ao trem pagador (1962) e Selva trágica (1963) –, atuou
tanto em projetos bastantes diferentes, seja com Paulo César Saraceni (Porto das caixas,
1962), diretor carioca identificado com o Cinema Novo, ou Flávio Tambellini (O beijo,
1965), cineasta paulista do dito grupo “universalista”.
537
Em 1966, estrelou a comédia de Roberto Farias Toda donzela tem um pai que é uma
fera e ganhou espaço como ator das novas comédias românticas “classe média”, fazendo, em
seguida, par romântico com Vera Viana em O pacto (dir. Eduardo Coutinho), episódio da coprodução estrangeira ABC do Amor (1967), e com Regina Duarte em Lance maior (dir. Silvio
Back, 1968).
538
Na direção, Reginaldo estreou justamente com a comédia Os paqueras, com roteiro
seu, de Xavier de Oliveira e André José Adler, acumulando também a função de ator
principal. Com uma história sobre jovens de Copacabana atrás de garotas, o filme se tornou
um extraordinário e inesperado sucesso, sendo o segundo longa- metragem mais visto no
Brasil em 1969, entre produções nacionais e estrangeiras. Segundo Reginaldo, “o filme entrou
em cartaz na semana do carnaval. Ninguém na fila, muito menos na bilheteria. A gente
passava de carro pelos cinemas, olhava e nada. Como era carnaval, o Lívio Bruni deu um
desconto e dobrou a semana. Quatro pessoas, oito pessoas, dezesseis, e o filme foi pegando. E
permaneceu semanas em cartaz” (ASSIS, 2004, p.93).
Enquanto Roberto explorava outro recém-descoberto filão de sucesso, o dos filmes
com Roberto Carlos, Reginaldo seguiu o rumo das comédias românticas, dirigindo em
seqüência Pra quem fica, tchau (1970), Os machões (1972), Quem tem medo de lobisomem?
(1973) e O flagrante (1975), todos eles também estrelados pelo ator. Se Os paqueras foi
considerado um dos precursores das pornochanchadas, Reginaldo, como diversos outros
diretores e produtores que investiram nesse tipo de filme numa “primeira fase”, viria a criticar
537
Nesse período, Reginaldo atuou também na co-produção internacional Morte para um covarde (dir. Diego
Santillan, 1964).
538
Em 1965 estreou na televisão, fazendo par romântico com Leila Diniz no “novelão” Paixão de Outuno, da
cubana Glória Magadan, na então recém inaugurada TV Globo.
334
um excesso de “grosseria” que tomaria conta da produção crescente de comédias eróticas
realizadas posteriormente.
539
De fato, na seqüência da carreira de Reginaldo como diretor pode ser encontrada uma
sofisticação crescente em seus filmes, assim como uma diminuição das bilheterias. Pra quem
fica, tchau alcançou um número de espectadores razoável, mas decepcionante na comparação
com o estrondoso sucesso do filme anterior. Os machões, com Reginaldo, Flávio Migliaccio e
o “tremendão” Erasmo Carlos travestidos de mulheres, se saiu melhor, enquanto Quem tem
medo de lobisomem?, “um filme de terror com bom humor” que investia em lendas do
folclore brasileiro, teve um desempenho muito frustrante nas bilheterias. Já a comédia amarga
O flagrante (1975), talvez por suas maiores pretensões foi considerada pelo diretor como seu
“maior fracasso”.
540
Após esse filme, a carreira de Reginaldo iria tomar outro rumo: como ator, estrelando
o estrondoso sucesso Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (dir. Hector Babenco, 1978) e
como cineasta, dirigindo Barra pesada (1977). Mesmo tendo preferência por histórias
originais, em seu sexto filme, o diretor adaptou o argumento de Plínio Marcos Nas quebradas
da vida, abandonando as comédias e partindo para um violento filme policial.
“A senda do crime, por solicitações sucessivas arrasta numa ladeira escorregadia a quem nela ingressa.
A regeneração é quase impossível, pois o vício é ciumento como o mar. Nossa história se inicia num
cais...” 541
“No universo maldito de marginais e prostitutas, os adolescentes não tem opção para sobreviver. A
adesão ao crime é compulsória”. 542
539
Nuno César Abreu fala em um “primeiro bloco de produção” de pornochanchadas entre 1969 e 1972,
marcado pela “entrada em cena de produtores e diretores mais tarimbados”, com filmes de maior elaboração do
roteiro e na escolha de elenco, além de eficiente trabalho de direção (In: RAMOS; MIRANDA, 2000, P.431433).
540
Segundo dados do INC e da Embrafilme, Pra quem fica, tchau alcançou público de 644.227 espectadores; Os
machões, 1.109.555; Quem tem medo de lobisomem? apenas 173.549; e O flagrante, 591.084. O protagonista de
O flagrante era um homem que descobria estar sendo traído pela mulher e que junto com os amigos armava um
flagrante, mas se arrependia, perdoava a mulher e voltava para ela. Segundo o ator e diretor, “o filme mostra a
história desse retorno. Mas não bateu porque a moral machista brasileira não aprovou. Rejeitaram o filme,
rejeitaram o perdão” (ASSIS, op.cit., p.115). Por outro lado, Jean-Claude Bernardet, num artigo à época do
lançamento, afirmou que em relação à abordagem do relacionamento entre homens e mulheres, “sob seus ares
liberais, O flagrante é moralmente reacionário, profundamente reacionário” (BERNARDET, Jean-Claude.
Perdoar é divino? Movimento. 2 jul. 1976).
541
Cartelas iniciais de Cais do vício (dir. Francisco José Ferreira, 1953).
542
BARRA PESADA, [1977], material de divulgação. Mimeografado.
335
Beco sem saída
Barra pesada retrata a trajetória final da vida de Querô (Stepan Nercessian), pivete
que sobrevive de pequenos golpes com seu amigo mais novo Negritinho (Cosme dos Santos)
e cuja mãe, uma prostituta (Ítala Nandi), se suicidou ateando fogo ao próprio corpo coberto de
querosene.
No começo do filme, depois de perderem uma aposta num jogo de sinuca para o
malandro Brandão (Marcus Vinícius), Querô e Negritinho partem para pequenos roubos nas
ruas do Rio de Janeiro para pagar a dívida. Porém, passam a ser achacados pelos vigaristas
Teleco (Wilson Grey) e Nelsão (Banzo Africano) e, além de serem surrados, são obrigados a
dar todo o dinheiro dos assaltos para a dupla para não serem entregues para a polícia.
Após tentar outros golpes e sem conseguir fugir da extorsão de Teleco e Nelsão,
Querô não vê outra saída além de conseguir uma arma para matá- los. Por acaso, encontra um
conhecido, Chupim (Haroldo de Oliveira), que está trabalhando no tráfico. Ao ver o revólver
do colega, Querô rouba sua arma e o mata.
Por ter assassinado um “passador de fumo” e roubado a droga, Querô passa a ser
caçado por um chefão do tráfico, o Dr. Florindo (Milton Morais), e seus capangas. Enquanto
isso, com arma em punho, Querô enfrenta e mata Teleco e Nelsão, passando a ser perseguido
também pela polícia, comandada por um obstinado comissário (Ivan Cândido).
Em meio a essa caçada, Querô conhece a prostituta Ana (Kátia D’Ângelo) e depois de
livrá- la de seu violento cafetão (Newton Couto), o casal de jovens vive um arrebatador
romance enquanto se escondem dos policiais e dos traficantes. A caçada se intensifica e, após
encontrarem Ana e Negritinho, Querô é descoberto escondido no terreiro de um Pai de Santo
(Rui Polanah), sendo finalmente capturado, espancado e executado por policiais e bandidos.
“A Barra está tão pesada que a violência do mundo real até pare ce cena de filme”.
Barra pesada teve seu roteiro – de autoria do próprio diretor – extraído de um conto
de Plínio Marcos intitulado Nas quebradas da vida, vendido em 1971 para a R.F. Farias.
Reginaldo, que não conhecia Plínio pessoalmente, disse ter encontrado o dramaturgo apenas
naquela ocasião, “quando ele foi vender o argumento dele ao meu irmão, Roberto Farias, que
336
estava interessado na história e pretendia dirigir o filme”.
543
Entretanto, no começo dos anos
70, apesar da preocupação com uma produção diversificada – a R.F. Farias estava mais
envolvida com a série do Roberto Carlos e as comédias no rastro de Os paqueras –, o projeto
não teve prosseguimento. Além disso, conforme Reginaldo, Nas quebradas da vida ficou na
gaveta “pois não teria sido possível filmá- lo e exibi- lo quando o Plínio o fez, isto é, por volta
de 1971-72”. 544
De fato, no auge da repressão do governo Médici não teria sido muito “fácil” adaptar
uma história como a de Plínio Marcos, um dos autores mais perseguidos pela ditadura. Ao
mesmo tempo se valorizando e se justificando, Reginaldo Faria chegou a dizer que “se
tivéssemos realizado Barra pesada [...] naquela época, teríamos sido presos”.
545
Por outro lado, em pleno milagre econômico, a trágica e cruel história do pivete Querô
não parecia um projeto com muito potencial para ser um sucesso de público. Já na segunda
metade da década de 70, após as duas últimas comédias de Reginaldo terem fracassado nas
bilheterias, a história de Nas quebradas da vida ressuscitou.
546
Ao voltar de uma viagem ao Festival de Cannes de 1976, impressionado com os filmes
estrangeiros exibidos, Reginaldo ambicionou realizar algo com o mesmo impacto das obras
que tinha visto na França:
Na época fiquei muito indignado em pertencer a um país tão grande como o Brasil e não poder realizar
filmes como aqueles produzidos em países tão pequenos na Europa. Achei, então, que deveria fazer
uma fita que fosse mais fiel à nossa realidade. Conversei com Roberto e disse a ele que não admitia
mais dirigir filmes no esquema de Os paqueras. Na mesma hora ele me ofereceu a história do Plínio
547
Marcos. Eu entrei de sola porque a minha vontade de fazer esse filme era imensa.
Enfim, o conto de Plínio podia sair da gaveta, pois, nas palavras do diretor em 1978,
“o Brasil havia mudado, e as coisas, hoje, estão mais claras”.
543
548
FASSONI, Orlando L. Reginaldo Farias, do riso ao compromisso. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 ago.
1978.
544
REGINALDO Faria: Em Barra pesada a violência é uma forma de sacudir o espectador. Correio do Povo,
Porto Alegre, 19 mai. 1978.
545
COSTA, Ruth. A violência do dia-a-dia, a realidade de “Barra pesada”. Diário Popular, São Paulo, 16 mar.
1978.
546
No documentário Uma rainha chamada Diaba, o ator Stepan Nercessian conta que antes de ser convidado
para atuar em A rainha diaba, já tinha sido sondado para trabalhar no projeto, depois abortado, que viria a se
tornar o filme Barra pesada. O ator foi indicado para interpretar o Bereco do filme de Fontoura pelo produtor
Roberto Farias, com quem já vinha trabalhando desde pelo menos Pra quem fica, tchau, de 1970.
547
FARIA, Reginaldo. Ele já foi Lúcio Flávio. Mas aqui ele é o cineasta Reginaldo Faria. Estado de Minas, Belo
Horizonte, 30 nov. 1978. Entrevista a Ricardo Gomes Leite.
548
REGINALDO Faria: Em Barra pesada a violência é uma forma de sacudir o espectador. Correio do Povo,
Porto Alegre, 19 mai. 1978.
337
De fato, muito mudou no país entre 1971 e 1976. Além da ditadura militar já se
encaminhar para o processo de “distensão lenta, gradual e segura” durante o governo Geisel,
na nova fase da Embrafilme iniciada sob a direção do próprio Roberto Farias em 1974, houve
uma ascensão do grupo político do Cinema Novo sobre a estatal e sobre as diretrizes do
cinema nacional. Conforme Tunico Amâncio (2000), no período entre 1974 e 1978 houve
uma desvalorização do produtor pela Embrafilme – as pessoas físicas substituindo as
produtoras no encaminhamento dos projetos – e o fortalecimento da figura do realizador.
Diante da renovada força dos “cineastas autorais”, Reginaldo partiu para a realização do filme
que viria a ser considerado como seu “grito de autor”.
Além disso, ao longo da primeira metade da década de 70, Reginaldo não tinha
conseguido repetir o mesmo êxito que seu primeiro filme alcançara em 1969, pois o filão da
“comédia urbana picante” – ou da pornochanchada, da qual ele foi considerado, sempre muito
a contragosto, um precursor – passou a ser dominado por outros nomes, como o dos
produtores Pedro Carlos Rovai, Aníbal Massaini Neto e Antônio Polo Galante, dos astros
David Cardoso e Carlo Mossy ou dos diretores Braz Chediak e Alberto Pieralisi. O notável
crescimento dessa produção ao longo dos anos 70, especialmente na Boca do Lixo paulistana,
e as grandes bilheterias alcançadas por alguns desses filmes, teve como uma de suas
conseqüência uma forte campanha promovida pelos meios de comunicação, organizações
sociais e por uma própria parcela do meio cinematográfico contra o “baixo nível” do cinema
brasileiro.
Desse modo, principalmente após a boa recepção de Barra pesada, Reginaldo passou
a reavaliar sua carreira até aquele momento: “Meu primeiro sucesso como ator e diretor foi
com Os paqueras e fez com que eu me afastasse da realidade, procurando descobrir formas
para me superar em sucesso, repetir a dose, e parti para o estereótipo como os de fazer rir,
com fórmulas certas para ser bem sucedido, o que me esvaziou muito”.
549
Segundo o diretor,
“a pornochanchada foi válida, mas tinha que desaparecer. Aliás, é isto que está acontecendo”.
550
Ou seja, foi resolvido a dar uma “guinada” em sua carreira que Reginaldo deu início
em junho de 1976 às filmagens de Barra pesada. Estreando no Rio de Janeiro em 31 de
549
Qual é a sua... Reginaldo Faria. Última Hora, Rio de Janeiro, 12-13 ago. 1978.
COSTA, Ruth. A violência do dia-a-dia, a realidade de “Barra pesada”. Diário Popular, São Paulo, 16 mar.
1978.
550
338
outubro de 1977, com distribuição da Ipanema Filmes, o filme foi lançado em “grande
circuito encabeçado por seis salas lançadoras”.
551
Barra pesada teve uma boa recepção do público em seu lançamento no Rio de Janeiro.
Jornais da época reproduzem dados onde se exalta que o filme “faturou na primeira semana
Cr$ 1.300.000,00 em 23 cinemas da cidade”
552
e que “já na sexta semana de exibição,
segundo cálculos de seus produtores, foi visto por 500 mil pessoas. Sua aceitação popular
abrange todas as faixas do público, da zona sul à zona norte e no grande Rio”.
553
Com exceção de São Paulo, após a estréia no Rio a distribuição de Barra pesada
passou às mãos da Embrafilme. Em março de 1978, o filme foi lançado em Salvador (onde
em sua primeira semana de exibição “rendeu Cr$ 234.000,00, o que é considerado bom índice
para o cinema nacional nas telas baianas”554 ); em maio de 1978, em Porto Alegre (lançado
inicialmente em quatro, e depois oito cinemas da capital, enquanto no Estado todo chegava ao
“circuito recorde de 34 salas”); em agosto de 1978, em São Paulo
555
e somente em maio de
1979, chegou à Brasília (sendo lançado também em quatro salas da capital federal).
Ainda em carreira, comentários de Reginaldo Faria na imprensa apregoavam que o
filme tinha rendido cerca de 6 milhões de cruzeiros no Rio de Janeiro e 1,5 milhões em
Salvador, se constituindo, sem dúvida, num grande sucesso. Documento da Embrafilme
informa que até junho de 1979, Barra pesada alcançou público de 1.174.812 espectadores e
renda de Cr$ 15.211.419,00, a maior bilheteria do diretor desde Os paqueras.
556
Entretanto, a boa carreira de Barra pesada parece ter sido eclipsada pelo estrondoso
sucesso de outros filmes, como Dona Flor e seus dois maridos, A dama da lotação e,
especialmente, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia.
551
GUIA DE FILMES. Rio de Janeiro: Embrafilme, n.70-72, jul-dez. 1977. As salas lançadoras foram Studio
Paissandu (Flamengo), Roma Bruni, (Ipanema), Bruni Copacabana, Bruni Tijuca, Studio Tijuca e Pathé
(Centro). O circuito de Barra pesada incluía ainda os cinemas Matilde (Bangu), Paratodos (Méier), Regência
(Cascadura), Trindade, Fluminense, Vaz-Lobo, Vista Alegre, Guadalupe, Tamoio, Neves, Irajá e Realengo, além
das salas Glória (S.J. de Meriti), Verde (Nova Iguaçu), Caxias, Nilópolis, Rio Branco e Cinema 1 (ambas em
Niterói).
552
BARRA Pesada fatura mais de um milhão. Luta democrática, Rio de Janeiro, 10 nov. 1977.
553
PEREIRA, Miguel. Barra pesada, Radiografia de um sucesso. O Globo, Rio de Janeiro, 8 dez 1977.
554
“BARRA Pesada” é sucesso de público nos cinemas baianos. Jornal da Bahia, Salvador, 14 abr. 1978.
555
Antes de seu lançamento comercial, Barra pesada foi exibido na capital paulista em fevereiro de 1978, dentro
da mostra Perspectivas do Cinema Brasileiro, realizada no MASP.
556
Em relação ao orçamento do filme os dados fornecidos pelos jornais são imprecisos: Barra pesada teria
custado entre Cr$ 1.800,00 e Cr$ 3 milhões. Mas em qualquer um dos casos, com a bilheteria alcançada o filme
obteve um saldo bastante positivo.
339
Quando decidiu enveredar por um novo caminho como cineasta, Reginaldo Faria
tentou comprar os direitos do livro-reportagem de José Louzeiro, um grande best-seller
lançado em 1975, mas o cineasta Hector Babenco foi quem acabou os adquirindo.
557
Os astros da TV Globo Francisco Cuoco e Tarcísio Meira chegaram a ser convidados
por Babenco para interpretar o bandido Lúcio Flávio Lírio, mas ambos recusaram e o
personagem chegou às mãos de Reginaldo. O ator entrou no set de Lúcio Flávio, o passageiro
da agonia apenas cinco dias depois de encerradas as filmagens de Barra pesada.
Estreando somente no Rio de Janeiro no final de 1977, Barra pesada seguiu a
estratégia então comum de percorrer paulatinamente as demais praças do país nos meses
seguintes, ao longo de 1978 e 1979. Enquanto isso, em fevereiro de 1978, quando o filme de
Reginaldo Faria só tinha sido visto pelo público carioca, Lúcio Flávio, o passageiro da
agonia quebrou recordes ao ser lançado com mais de cem cópias em São Paulo e em outros
quatro estados do país, no que era o “mais maciço lançamento de um filme que se tem história
no país”.
558
Esse modelo de grandes lançamentos – os blockbusters ou “arrasa-quarteirões”–,
acompanhados de gigantesca campanha publicitária, já vinha sendo aplicado nos Estados
Unidos em “filmes de verão” como Tubarão (Jaws, EUA, dir. Steven Spielberg, 1975) e
Guerra nas estrelas (Star wars, EUA, dir. George Lucas, 1977) e veio a se tornar
posteriormente a estratégia comum do mercado.
559
O filme de Babenco fez um estrondoso sucesso, alcançando mais de 5 milhões de
espectadores (indiscutivelmente uma das dez maiores bilheterias da história do cinema
brasileiro) e estampou o rosto de Reginaldo Faria em todo o país. Embora possa se pensar que
tamanho êxito talvez tenha ofuscado a carreira comercial de Barra pesada, lembrando que
ambos os filmes foram distribuído pela mesma Ipanema Filmes, é mais razoável pensar numa
estratégia conjunta em que o enorme sucesso de um filme pode ter ajudado o desempenho do
outro.
557
560
Conforme reportagem da época, Roberto Farias e Luiz Carlos Barreto já haviam apresentado propostas para
Louzeiro, “quando Babenco entrou com a sua – na verdade, seu trunfo era apenas uma maior disposição para o
trabalho”. O escritor participou da feitura do roteiro do filme, junto com Jorge Durán e o próprio diretor (A
REALIDADE em cena. Veja, n.496, 9 mar. 1978.)
558
A REALIDADE em cena. Veja, n.496, 9 mar. 1978.
559
Na época, alguns cineastas criticaram a Embrafilme por concentrar seus recursos na divulgação de poucos
filmes que com suas bem-sucedidas carreiras ocupavam praticamente todos os dias reservados a exibição de
filmes brasileiros nas salas de cinema, enquanto outras produções ficariam acumuladas nas prateleiras sem
conseguir distribuição.
560
É fundamental salientar que no começo dos anos 70 a diretoria da Ipanema Filmes passou a ser composta por
Roberto Farias, Riva Faria e Herbert Richers.
340
Como escreveu Alfredo Sternheim num jornal paulista, embora Barra pesada tenha
sido considerado por muitos como superior ao filme sobre Lúcio Flávio, o filme, “dentro
dessa linha, provavelmente vai se beneficiar do grande êxito alcançado por essa fita”.
561
Reginaldo não reclamou, pois se Barra pesada “não fez o sucesso estrondoso de Lúcio
Flávio”, o diretor afirmou que seu filme estaria “fazendo uma excelente carreira”.
Pronto desde pelo menos novembro de 1977 – quando participou da Mostra
Internacional de São Paulo –, Lúcio Flávio foi lançado em São Paulo em fevereiro de 1978 e
no Rio de Janeiro somente dois meses depois, em abril de 1978. Já Barra pesada fez o
circuito inverso, estreando primeiro no Rio em outubro de 1977, e bem depois na capital
paulista – em agosto de 1978, seis meses depois do filme de Babenco.
Não sendo lançados comercialmente exatamente ao mesmo tempo nas principais
praças do país, Barra pesada e Lúcio Flávio se “enfrentaram”, de fato, no VI Festival do
Cinema Brasileiro de Gramado, realizado de 20 a 25 de fevereiro de 1978. Mas o grande
vencedor daquela edição acabou sendo Doramundo, eleito pelo júri como melhor filme e
diretor (João Batista de Andrade). Barra pesada recebeu os Kikitos de melhor atriz
coadjuvante (Kátia D’Angelo) e música (Edu Lobo), enquanto o longa-metragem de Babenco
foi premiado pela edição (Silvio Renoldi), fotografia (Lauro Escorel) e melhor ator,
justamente Reginaldo Faria.
562
Essa imbricação se deu ainda mais com o prêmio de melhor
ator coadjuvante, conferido a Ivan Când ido por seu trabalho nos dois filmes (em ambos
interpretando um violento policial), empatado com Milton Gonçalves por Lúcio Flávio.
Barra pesada ainda foi eleito o melhor filme do Festival de Gramado segundo
votação entre os jornalistas (troféu Imprensa), recebeu o Prêmio Centenário do Jornal O
Fluminense no Festival de Cinema de Cabo Frio, e o de melhor edição (Waldemar Noya) da
Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 1979. No exterior, o filme de Reginaldo
Faria participou da mostra competitiva do VI Festival Internacional de Cinema de Figueira da
Foz, Portugal, em 1977, foi exibido no México, na Semana del Cine Brasileño, em novembro
de 1978, e chegou a ser distribuído comercialmente em alguns países estrangeiros (como o
Japão) pela Embrafilme.
561
STERNHEIM, Alfredo Sternheim. Novo filme de Reginaldo Faria. Folha da Tarde, São Paulo, 12 jul.
1978.
562
Por Lúcio Flávio, Reginaldo conquistou também o único prêmio internacional de sua carreira de ator, no
Festival de Taormina, na Itália.
341
Um filme policial, mas sério.
Ao contrário da maior parte da produção da R.F. Farias – as comédias e os filmes com
Roberto Carlos – que desde o final dos anos 60 alcançava grande sucesso com o público, mas
não com a crítica, Barra pesada era como seu próprio diretor afirmava, um filme mais
“autoral”, comprometido com a “realidade nacional” e que recebeu elogios dos críticos
cinematográficos. Ao invés do nome dos astros, um anúncio do filme de Reginaldo mostrava
com destaque críticas positivas que o filme recebera:
Barra pesada constitui não só o vôo artístico mais ambicioso de Reginaldo Faria como o melhor filme
brasileiro de 1977 (Justino Martins, Fatos e Fotos)
É um filme forte, muito bem realizado, duro, cruel em certas cenas, mas que mostra que o cinema
brasileiro hoje é adulto (Luiz Augusto, U. Hora).
A crítica cinematográfica realmente demonstrou boa receptividade ao filme, que foi
apontado como um dos melhores do ano.
563
José Carlos Avellar conferiu três estrelas (muito
bom) ao filme, ressaltando o desabafo do diretor, que convida o espectador a sentir a violência
contida no dia-a-dia e, desse modo, “jogar pra fora” a pressão.
564
A mesma “função” foi
apontada por Ivo Egon Stigger, ao afirmar que o “grande mérito e força maior de Barra
pesada é sua lucidez, sua consciência”, sobretudo ao apontar o “câncer” da sociedade e
procurar retirar o espectador de sua letargia.
565
O sexto filme de Reginaldo Faria foi considerado de maneira geral como seu “melhor
trabalho”, uma filme “coerente, conciso, sem falhas”
realização”.
567
566
, sua “melhor e mais consciente
Em muitas críticas surgiu a comparação com Lúcio Flávio, o passageiro da
agonia e um alerta foi dado por Rubens Ewald Filho: “Chegando depois e com menos alarde
comercial, Barra pesada pode sofrer uma comparação negativa com Lúcio Flávio”. Orlando
Fassoni, da Folha de São Paulo, afirmou que as semelhanças entre os dois filmes “não são
mera coincidências. Vão do tema à habilidade de tratamento das situações”. Entretanto, se
Ewald comparou ambos – “o filme de Babenco era mais corajoso e polêmico, Barra pesada é
563
Um crítico mineiro mais entusiasmado chegou a considerar o filme “uma as mais belas obras que o cinema
brasileiro moderno já produziu” (MILAGRES, Breno. Barra pesada, retrato da sociedade alternativa. Estado de
Minas, Belo Horizonte. 22 set. 1979).
564
AVELLAR, José Carlos. Coexistência pacífica. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 nov. 1977.
565
STIGGER, Ivo Egon. Discussão de um câncer. Folha da tarde, Porto Alegre. In: FILME CULTURA. Rio de
Janeiro: Embrafilme , n.32, fev. 1979, p.112-113.
566
EWALD FILHO, Rubens. O policial brasileiro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 ago. 1978.
567
FASSONI, Orlando. O poder no cano de um revólver. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 ago. 1978.
342
melhor realizado”
568
– Fassoni colocou os dois longas- metragens no mesmo nível de
qualidade e impacto: “Lúcio Flávio revirou estômagos, Barra pesada é o vômito que vem
depois da pancada”.
569
Algo semelhante ocorreu no Rio, onde o filme de Reginaldo foi exibido antes do de
Babenco. Em sua crítica sobre Lúcio Flávio, mesmo sem deixar de conferir elogios, Míriam
Alencar afirmou que o filme estava longe de superar o clássico O assalto ao trem pagador.
Dizia ainda: “E para citarmos exemplo mais recente, Barra pesada oferece uma denúncia
social muito mais contundente e de elaboração impecável”.
570
A proximidade entre os dois filmes ganhou um exemplo claro em Porto Alegre, onde a
direção do cinema Cacique “inteligentemente” projetava os dois filmes na mesma sessão.
571
Desse modo, se Barra pesada foi considerado um filme autoral, se constituindo como
um projeto pessoal do cineasta, diferente dos que dirigira até aquele momento, ele se
encaixava do mesmo modo que suas comédias anteriores num filão de sucesso, mas seguindo
as convenções de outro gênero: o do filme policial brasileiro. Entretanto, o “autor” Reginaldo
Faria – que significativamente faz apenas uma figuração no filme, justamente como o violento
e anônimo pai do personagem principal – não considerava Barra pesada um filme policial:
“É basicamente uma fita com uma problemática urbana e social muito séria e a polícia está ali
tão humana quanto os marginais, ou tão marginais quanto.”
572
O objetivo do cineasta “era
que o espectador que visse esse filme não o encarasse como um policial americano de
violência, com herói bonzinho e bandido mau. Aqui não tem isso. Todo mundo faz parte do
mesmo contexto e todo mundo é produto de um esquema social distorcido”.
573
A denúncia da realidade em Barra pesada, com a clareza, a secura e o realismo
elogiados pela crítica, num filme que “não comenta fatos” e onde “ninguém, de fato, é
bonzinho”
574
o diferenciaria de ser um simples e desprezado “filme de gênero” e o afastaria
da matriz “maniqueísta” de Hollywood. Por outro lado, o filme de Reginaldo estaria alinhado
568
EDWALD FILHO, Rubens. Tiroteios em estilo internacional. Estado de São Paulo, São Paulo, 19 ago.
1978.
569
FASSONI, Orlando. O poder no cano de um revólver. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 ago. 1978.
570
ALENCAR, Míriam. Filme em questão: Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 14 abr. 1978.
571
BARRA Pesada: retrato fiel. Correio do Povo, Porto Alegre, 7 jun. 1978.
572
ABREU, Ana Maria de Abreu. A violência nossa de cada dia. Última Hora, São Paulo. 14 ago. 1978.
573
AVELLAR, José Carlos. A Barra está tão pesada que a violência do mundo real até parece cena de filme.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 nov. 1977.
574
FASSONI, Orlando. O poder no cano de um revólver. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 ago. 1978.
343
a diversos filmes brasileiros da mesma época que procuravam compartilhar dessa
característica de denúncia social, como o próprio Lúcio Flávio, entre outros.
Entretanto, muitos críticos coerentemente analisaram o filme segundo as convenções
narrativas e visuais do gênero policial, especificamente da produção dos anos 70, lembrando
da “mutabilidade das convenções genéricas” apontada por Leitch. Para Valério Andrade,
crítico do jornal O Globo que deixou seu bonequinho sentado observando o filme, o problema
de Barra pesada estava no ritmo e na tensão do roteiro, além da artificialidade na encenação
da violência física.
575
Alfredo Sternheim também criticou a falta de dramaticidade e de
envolvimento emocional, a montagem sem ritmo, a artificialidade das interpretações de
alguns atores e a falta de verossimilhança da trama.
576
Nessa mesma linha, o jornalista
mexicano Nelson Carro afirmou que o problema de Barra pesada era justamente parecer
demais com os modelos do filme policial americano, utilizando recursos muito convenciona is,
como o flashback. 577
Outros críticos elogiaram uma capacidade brasileira em copiar, reproduzindo com
propriedade as convenções da matriz norte-americana, mas com a necessária cor local – seja o
ambiente, a língua ou a realidade social brasileira. Para alguns, Barra pesada conseguia
realizar a difícil síntese de ser “um filme de Clint Eastwood, no estilo e na forma, com
temática genuinamente nacional”.
578
O próprio Valério de Andrade afirmou que “o principal
mérito de Barra pesada é o de não haver procurado copiar a fórmula do filme policial
americano ou francês. Tendo como base o argumento de Plínio Marcos, [...] Reginaldo Faria
ambientou o filme no submundo carioca. Denuncia os policiais ao invés de moldá- los à
semelhança de um Kojak”.
579
Rubens Ewald afirmou, sem disfarçar um tom ufanista, que “o
filme desmente aquela famosa afirmação de que ‘brasileiro não sabe fazer filme policial”, e
que, “pela primeira vez não ficamos constrangidos de assistir a tiroteios [...] e perseguições”.
580
As cenas de perseguições de automóveis, aliás, teriam em Barra pesada, “uma seqüência
admiravelmente trabalhada”, segundo José Haroldo Pereira, da revista Manchete. 581
575
ANDRADE, Valério. O Globo, 2 nov. 1977.
STERNHEIM, Alfredo. Folha da Tarde, São Paulo, 30 ago. 1978.
577
CARRO, Nelson. Barra pesada. Uno mas Uno, México, nov. 1978.
578
EDWALD FILHO, Rubens. .Policial e Brasileiro. A Tribuna, Santos, 20 ago. 1978.
579
ANDRADE, Valério. O Globo, 2 nov. 1977.
580
EDWALD FILHO, Rubens. .Policial e Brasileiro. A Tribuna, Santos, 20 ago. 1978.
581
As perseguições de carros ganharam um novo destaque no cinema policial a partir de filmes como Bullit
(EUA, dir. Peter Yates, 1968), quando pela primeira vez uma cena desse tipo chamou a atenção da crítica e se
tornou “quase obrigatório ter uma cena de perseguição de carros em filme com policiais e ladrões [...] embora
nem sempre com o mesmo êxito” (HOSSENT, 1974, p. 108). Filmes como Operação França passaram a utilizar
estratégias do cinema documentário aliadas a uma edição ágil para causarem um maior efeito realista nas cenas
576
344
Além do reconhecimento por parte da crítica da importância da denúncia de Barra
pesada e de sua excelência técnica e narrativa (que poderia ser constatada também pelo
sucesso de público), havia a questão da defesa nacionalista do mercado. Na década de 70 era
muito contestada, por exemplo, uma “invasão da televisão brasileira” pelos “enlatados
americanos” e o próprio Plínio Marcos foi um dos mais veementes críticos dessa “importação
cultural”. Dentre os seriados americanos mais bem sucedidos na televisão brasileira estavam
diversas séries policiais como Dragnet, S.W.A.T., Kojak, Baretta, Starsky & Huich (Justiça
em dobro), Rockford files (Arquivo confidencial) ou CHiPs (California highway patrols). A
própria Embrafilme tentou entrar nesse mercado desenvolvendo 22 projetos de pilotos para
seriados em 1977. Dentre eles, estava, por exemplo, Homem de aluguel, com roteiro de José
Louzeiro, estrelado e dirigido por Jece Valadão para ser um substituto nacional para Kojak. 582
Entretanto, as emissoras de televisão que seriam parceiras desses projetos não
concretizaram essa aliança e a Rede Globo, por exemplo, passou a produzir seus próprios
seriados, como Plantão de polícia (1979-1981), tendo entre seus diretores Antonio Carlos
Fontoura, além das mini- séries Bandido da falange (1983), de autoria de Doc Comparato e
Aguinaldo Silva, e Mandrake (1983), dirigida por Roberto Farias e adaptada de Rubem
Fonseca.
583
Ou seja, foi também num contexto de concorrência com o produto americano e de
crítica à “importação da cultura de consumo” que “amesquinha nosso mercado de trabalho”
(nas expressões do próprio Plínio Marcos) – onde se incluía a “luta do seriado nacional contra
o enlatado” – que também se inseriu a produção e a recepção de um filme como Barra
pesada.
Desse modo, se um gênero é definido nas intercessões entre público e os filmes, se
torna possível perceber a criação de um imaginário do filme policial brasileiros nos anos 70
através da constelação de artistas identificados com personagens bandidos ou marginais que
orbitaram em torno dessas produções e também do universo de Plínio Marcos. Vários atores
atuaram tanto em A rainha diaba quanto em Barra pesada, como o eterno “pivete” Stepan
de perseguição de automóveis, que se fizeram presentes, inclusive, nos filmes policiais brasileiros, como O
amuleto de Ogum ou A rainha diaba, assim como em Barra pesada e Lúcio Flávio.
582
O homem de aluguel era de um “super-herói místico”, cujos super-poderes teriam sido descobertos por um pai
de santo, num terreiro de candomblé. O projeto se assemelhava a uma exploração da idéia já presente no
marcante O amuleto de Ogum.
583
Outra mini-série baseada nas mesmas histórias de Rubem Fonseca foi realizada recentemente: Mandrake,
com direção-geral de José Henrique Fonseca (filho do escritor), produção da Conspiração Filmes e exibida no
canal de TV a cabo HBO. O papel do detetive particular carioca que fora interpretado por Nuno Leal Maia, nessa
segunda adaptação ficou a cargo de Marcos Palmeira.
345
Nercessian, os marginais “pés-de-chinelo” Quim Negro, Lutero Luiz, Wilson Grey, Haroldo
de Oliveira, Paulo Roberto, ou ainda o travesti Fábio Camargo.
584
Paulo Sacramento (também creditado como Banzo Negro ou Banzo Africano), alé m
do trunfo Peludo do filme de Fontoura, interpretou também o Nelsão de Barra pesada e o
Negrão de Dois perdidos numa noite suja. Negro, alto, forte, inexpressivo e monossilábico, o
ator foi o rosto que o cinema brasileiro deu ao pesadelo pliniano que atormenta os
personagens dos dois filmes.
585
Além desses atores, os astros e anônimos dos policiais eróticos da Boca do Lixo como
Tony Vieira e David Cardoso e outros atores como Jece Valadão, Milton Gonçalves e Milton
Morais, ora interpretando bandidos, ora policiais, também se consagraram como “tipos”
reconhecíveis e identificados pela memória do público.
586
“No cinema brasileiro, ninguém quer ser mais Goda rd e isso é bom”. 587
De um modo geral, Barra pesada recebeu elogios por ser um filme que aliava uma
ligação com a realidade brasileira, a seriedade na abordagem de uma importante questão
social e um elevado nível técnico de realização. Ou seja, um filme nacional no tema,
consciente nas intenções e de qualidade na forma.
Além disso, se tratava também de um filme “popular”, sendo o termo utilizado para
caracterizar sua capacidade de estabelecer uma ampla comunicação com o grande público.
Armando da seriedade e do compromisso como o dos filmes do Cinema Novo, dentro do ideal
de construção de uma indústria cinematográfica brasileira nos “anos Embrafilme”, Barra
pesada tinha como meta ser também um produto comercial bem sucedido.
Segundo um crítico, essa meta – apontada à época como o caminho mais viável para o
cinema brasileiro – teria sido plenamente alcançada em Barra pesada que chegou a ser visto
584
Fábio Camargo, aliás, faz praticamente o mesmo papel de “bicha pobre” em A rainha diaba, Barra pesada e
também numa ponta em Perdida (dir. Carlos Alberto Prates Correia, 1976).
585
Numa crítica de Barra pesada essa coincidência foi notada: “Para o Tonho, existe o Negrão que descobrindo
sua fraqueza o explora, para Querô, o Nelsão, que juntamente com seu comparsa alcagüete retira toda a sua féria
de pequenos furtos”(JESUS, José Luiz. Barra pesada: chegou a hora do lumpem? Jornal do Commércio, Rio de
Janeiro, 13 nov. 1977).
586
Além de Reginaldo, os nomes de Marcus Vinícius, Stepan Nercessian e Mário Petraglia estavam tanto em
Barra pesada quanto em Lúcio Flávio. Ivan Cândido se consagrou como o policial violento, fazendo papeis
muito semelhantes nos filmes de Babenco e de Reginaldo.
587
FARIA, Reginaldo. Barra pesada. Última Hora, São Paulo, 19 ago. 1978. Entrevista.
346
como “um modelo de filme brasileiro, na medida em que sabe conciliar com perfeição o apelo
popular com a seriedade de propósitos. E que promete ser, muito merecidamente, um grande
sucesso de bilheteria”.
588
O próprio Reginaldo Faria também ponderou sobre o difícil equilíbrio entre a
seriedade (da expressão artística) e a necessidade comercial (do produto industrial):
Na verdade não estou interessado em manter uma atividade comercial tão grande, mas tentar fazer um
cinema melhor. É evidente que o retorno é necessário, inclusive para assegurar uma continuidade de
trabalho. E acho que consegui isso em Barra pesada, um filme comercial e que tem uma força crítica
589
muito forte, uma denúncia muito importante.
Nesse contexto, um cineasta como Glauber Rocha era considerado “elitista” pelo
diretor, uma vez que o Cinema Novo – do qual Glauber se intitulava e era considerado o
principal representante – teria sido inacessível ao povo, repetindo um debate que remontava
ao início dos anos 60 e que teve como um de seus principais pomos de discórdia justamente o
filme O assalto ao trem pagador. Mas com o mesmo otimismo expressado por Valadão em
1972, para Reginaldo em 1978 o cinema brasileiro amadurecia, buscando uma “linguagem
nossa” e podendo ser observada uma diversificação temática muito grande.
590
Ao contrário de Glauber, um diretor como Nelson Pereira dos Santos, que demonstrou
ao longo das décadas de 50, 60 e 70 uma incrível capacidade de adaptação a novas
conjunturas, permanecia sendo uma referência positiva e, não à toa, um comentário dele com
elogios a Barra pesada era transcrito no material de divulgação do longa- metragem. Assim
como A rainha diaba, o filme de Reginaldo Faria também chegou a ser alinhado a O amuleto
de Ogum numa crítica da época, por ser considerado uma obra que abordava temas populares
sem uma postura intelectual elitista ou “pirotecnias da câmera”, realizado por um diretor “que
não procura, através de obras de artes, dar lições de sociologia.”
591
A barra de Plínio
588
PEREIRA, José Haroldo. Barra pesada. Manchete, Rio de Janeiro, 19 nov. 1977.
ABREU, Ana Maria de. A violência nossa de cada dia. Última Hora, São Paulo, 14 ago. 1978.
590
BARRA pesada. Última Hora, São Paulo, 19 ago. 1978.
591
JESUS, José Luiz. Barra pesada: chegou a hora do lumpem? Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 13 nov.
1977.
589
347
Apesar de Barra pesada ser “um filme de” Reginaldo Faria, a ênfase na importância do
argumento de Plínio Marcos fez com que o dramaturgo fosse algumas vezes alçado
praticamente ao mesmo patamar de responsabilidade que o diretor pelo sucesso do filme,
como um verdadeiro “co-autor”. Marcos Farias, por exemplo, afirmou que “o trabalho de
Plínio Marcos e Reginaldo Faria constitui um dos melhores filmes nacionais dos últimos
anos”.
592
Nelson Pereira dos Santos creditou o bom resultado do filme à soma da “vivência
de Plínio Marcos” com a “sabedoria cinematográfica de Reginaldo Faria”. Assim como nas
demais adaptações da obra pliniana, o “conhecimento de causa” do autor maldito com o
universo marginal era considerado um dos principais responsáveis pelo “implacável realismo”
ou elogiado por conferir uma “garantia de autenticidade” ao filme.
Enquanto o conto Nas quebradas da vida ficava na gaveta da R. F. Farias, o mesmo
texto foi reescrito e ampliado por Plínio Marcos, se transformando no romance Uma
reportagem maldita (Querô), publicado em 1976. Novamente investindo na literatura para
escapar da censura – no ano anterior, mesmo empreendendo uma grande luta judicial, a
inédita peça O abajur lilás continuou interditada –, Plínio recebeu elogios da crítica pelo livro
e foi premiado como melhor autor de romance do ano pela Associação Paulista de Críticos de
Arte (APCA).
Entretanto, o dramaturgo não teve participação alguma no filme de Reginaldo Faria
quando ele foi realizado. Seu texto simplesmente se adequou às aspirações do diretor surgidas
cinco anos depois da elaboração do argumento. Como afirmou o cineasta, na época em que o
conto foi vendido “[Roberto Farias] me apresentou o Plínio rapidamente e eu nunca mais
falei com ele, nem o vi”. 593 O romance Uma reportagem maldita (Querô) foi publicado antes
de Barra pesada ser lançado, mas já depois de Reginaldo Faria ter feito o roteiro, baseado
unicamente no conto Nas quebradas da vida. 594
Plínio Marcos, que já tinha defendido o seu título original no caso da adaptação de Nenê
Bandalho, não gostou da mudança de título e chegou a escrever num artigo que não entendia
o porquê da troca do nome.
592
595
O próprio Reginaldo chegou a comentar o fato: “Acho que o
FARIAS, Marcos. Luta democrática, Rio de Janeiro, [1977].
FASSONI, Orlando L. Reginaldo Farias, do riso ao compromisso. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 ago.
1978.
594
Dessa forma, no começo do filme os créditos indicam apenas “Original de Plínio Marcos”, enquanto no
material de divulgação do filme Plínio é citado como responsável pelo argumento, com a indicação, entre
parênteses: “inspirado no argumento cinematográfico de “Nas Quebradas da Vida”.
595
MARCOS, Plínio. Plínio Marcos e a violência. Psicologia atual, v.1, n.6, [1978], p.50-51.
593
348
Plínio não gostou da modificação porque isso é próprio dele, um autor perseguido, proibido,
que não pode fazer nada. E quando modificam alguma coisa, ele fica doido”. 596
Na verdade, o cineasta decidiu não aproveitar o título Nas quebradas da vida por
considerá- lo muito “poético”, trocando por Barra pesada. Coincidentemente, quando o filme
já estava no laboratório, com letreiros e publicidade feita, foi lançado o livro de reportagens
policiais de Octavio Ribeiro com exatamente o mesmo nome. Reginaldo então “procurou o
pessoal do Pasquim [que editou o livro pela Codecri] e o Ziraldo autorizou utilizar o título,
desde que na publicidade do filme citassem o nome do Octávio”
597
.
Esse foi o motivo de se encontrar no material de divulgação de Barra pesada o
seguinte texto:
A semelhança do título do filme de Reginaldo Faria com o título do livro do repórter Octávio Ribeiro é
mais do que uma coincidência: é uma identificação de propósitos. Ao expor as mazelas da sociedade –
Octavio Ribeiro na imprensa, Reginaldo Faria no cinema -, tanto o jornalista como o cineasta estão
agitando um problema social que ninguém deve ignorar. Se não apontam soluções, porque isso não faz
parte do “mettier” de nenhum dos dois, sabem ambos como agitar esse problema.
Mesmo que por casualidade, esse fato expressa também a ligação do cineasta com o
jornalista, elemento com forte presença no filme policial brasileiro e que ganhou força nos
exemplares desse gênero realizados na segunda metade da década de 70 e pautados por
denúncias “realistas” e “objetivas”.
Nesse contexto marcado também pela emergência dos romances-reportagens, o filme
Lúcio Flávio, o passageiro da agonia adaptava o livro homônimo de José Louzeiro escrito a
partir dos depoimentos que o bandido Lúcio Flávio Lírio deu ao jornalista antes de ser
assassinado na cadeia – como é retratado no próprio filme. Exatamente a mesma coisa ocorre
com o personagem fictício Querô, no romance de Plínio Marcos – intitulado justamente Uma
reportagem maldita –, que conta sua vida a um jornalista antes da polícia encontrá- lo e
executá- lo. Como Plínio se intitulava um “repórter de um tempo mau” e foi a atividade
jornalística que o ocupou primordialmente ao longo dos anos 70, é no personagem do
jornalista que o autor se coloca.
596
598
FASSONI, Orlando L. Reginaldo Farias, do riso ao compromisso. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 ago.
1978.
597
FASSONI, Orlando L. Reginaldo Farias, do riso ao compromisso. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 ago.
1978.
598
A mesma estrutura estava presente no argumento Nas Quebradas da Vida, como pode ser percebido pela
declaração de Reginaldo Faria: “Quando li o argumento do Plínio pela primeira vez, imaginei uma solução
fantasiosa. Pensei em começar a história com Querô ferido no barraco do morro, e contar tudo como um delírio
349
Sem ter sido possível o acesso ao argumento original, esta análise parte do livro Uma
reportagem maldita (Querô) para uma reflexão comparativa com o filme Barra pesada.
Apesar de personagens, diálogos e do desenrolar dos eventos serem bastante parecidos, o
romance de Plínio Marcos e o roteiro / filme de Reginaldo Faria, ambos realizados na mesma
época a partir do conto escrito cinco anos antes, apresentam algumas diferenças significativas
entre si além do título.
Barra pesada, seguindo uma ordem linear e cronológica dos acontecimentos,
acompanha o personagem Querô apenas em sua trajetória final e descendente, a partir da
aposta perdida na sinuca com o Brandão – quando passa a ser achacado por Teleco e Nelsão –
, passando por seu envolvimento com o tráfico e o romance com a prostituta, até terminar com
o seu assassinato num casebre em um terreiro em uma favela Esse desenrolar trágico de
eventos, que ocupa somente a segunda metade do romance, no filme se constitui como o
núcleo principal de acontecimentos.
Já no romance Uma reportagem maldita (Querô), o próprio personagem principal
conta sua vida, sendo a narrativa em primeira pessoa – nem um pouco distanciada ou objetiva
– entremeada de inúmeros adjetivos e comentários sobre os acontecimentos e os demais
personagens. Filho de uma prostituta chamada Alzira da Piedade expulsa do bordel por estar
grávida, Querô é abandonado recém- nascido por sua mãe, que se suicida bebendo querosene.
“Foi pras picas. Mas devagar. Devagarinho [...] Ficou um cacetão de tempo no chão se
contorcendo como uma minhoca” relata o garoto a partir das histórias que ouviu depois.
O narrador conta que passou a ser criado pela cafetina da mãe, Violeta, que o batizou
de Jerônimo da Piedade, mas cruelmente só o chamava de “Querosone” – “não foi por
boazinha, nem por remorso que a velha cafetina nojenta me pegou na rua [...] ela me catou por
medo dos bochichos”. Maltratado pela “mãe” adotiva, depois de revidar os constantes
espancamentos, Querosene foge e passa a se virar nas ruas do cais do porto, se juntando à
“curriola” de Tainha, um garoto mais velho que “já estava quase deixando de ser menor” e
que se torna praticamente o irmão que nunca teve.
Esse que foi “o melhor tempo” de sua vida – quando passou a não ser mais chamado
de Querosone, mas somente Querô – acaba um dia, depois de um assalto a um “gringo
do Querô. No delírio ele misturava tudo, a polícia e os bandidos. Mas logo abandonei essa idéia” (AVELLAR,
José Carlos. A Barra está tão pesada que a violência do mundo real até parece cena de filme. Jornal do Brasil,
Rio de Janeiro, 3 nov. 1977). A ausência do jornalista em Barra pesada é significativa, pois mesmo que não
haja no filme nenhum sinal de reflexividade que coloque o cineasta como esse papel, a opção pela “linguagem
universal” ou pela invisibilidade da narrativa clássica já conferem ao diretor do filme o papel do narrador
objetivo daquela história.
350
bichona”, quando Tainha o entrega para os “canas” para “livrar sua cara”. Na cadeia é
acusado pelo roubo e apanha dos policiais, sendo depois enviado ao Juizado de Menores e,
finalmente, ao reformatório. Lá, Querô se envolve numa briga assim que chega e acaba na
solitária. Logo que sai do castigo, passa a se ameaçado de curra pelos demais garotos num dos
trechos mais impactantes do livro:
Quando um vigia cismou, desligou a televisão. Foi uma zorra. A curriola fez um escarcéu. Vaiou. Mas,
logo começaram a me olhar e a rir. Foram saindo devagarzinho. E assobiando para mim. Fiquei parado.
Um vigia, quando me viu sozinho ali, me empurrou para fora, dizendo:
– Vai, vai lá, que é tu mesmo que eles querem. Não esperneia que é pior.
Me levou para o alojamento, mostrou uma cama vazia e disse:
– É aí o teu lugar.
Virou as costas e saiu. Logo a luz se apagou. Eu não tive tempo de me mexer. Todos pularam em cima
de mim. Me agarraram pelo pescoço e me taparam a boca com um travesseiro para eu não gritar. Me
deram pontapé e socos. Me derrubaram no chão e rasgaram a minha calça, nem mexer as pernas eu
podia. Estava preso pelos braços e pelas pernas. Eles me pisavam. E me enrabaram. Quantos foram, não
sei. Mas, foram quantos quiseram.
Depois de se recuperar na enfermaria, devido à vergonha e à raiva Querô se isola dos
outros e passa mais de um ano só no “come-e-dorme”. Certo dia, depois de descobrir que o
cozinheiro Seu Edgar – “um papacu velho, porco, nojento” – passou a “cobiçá- lo”, Querô
aproveita uma oportunidade para o esfaquear, provocando uma fuga em massa e conseguindo
também escapar do reformatório.
De volta ao cais do porto, molhado, com fome e sem nenhum dinheiro ou alternativa,
Querô procura Naná, um “veado” que o azucrinava antes. Já endurecido pela vida e com
“raiva de tudo”, o garoto se aproveita da gama dele e espanca e rouba a “bichona nojenta”.
Desse jeito, Querô consegue se arrumar num quartinho e voltar à antiga vida de biscates.
Por sorte, uma vizinha “negrona”, Gina de Obá, o leva ao pai de santo Bilu de Angola,
onde se envolve com as atividades e festas do terreiro, e chega a se apaixonar por uma menina
de lá, chamada Lica. Nessa maré boa, fica quase dois anos “sem se meter em salseiro”, mas
“por causa de uma besteira de merda” sua vida “se bagunçou de novo”.
É nesse momento da história do personagem que começa o roteiro de Reginaldo Faria,
no qual episódios que no romance ocorrem antes e em outras circunstâncias (o assalto ao
gringo, o encontro com Naná, a paixão por Lica), são modificados e encaixados no filme
seguindo essa nova ordenação da narrativa.
No romance de Plínio Marcos, para conseguir dinheiro para pagar a passagem de
ônibus até o terreiro do pai Bilu, Querô se envolve numa aposta de sinuca com um “crioulão”
chamado Brandão. Após perder o jogo e sem ter como pagar a dívida, Querô passa a ser
351
achacado por dois policiais – Sarará e Nelsão – que “livram sua barra” com Brandão.
Desesperado pelo medo de se tornar “esparro de cana”, a pior coisa que poderia acontecer, e
já disposto a matar os “ratos”, Querô encontra Zulu, um “crioulinho enjoado” do
reformatório.
“Tirando onda” por ter virado “passador de fumo”, Zilu se vangloria: tem grana,
mulher e um revólver. Aproveitando a vaidade e a distração do “crioulinho”, Querô rouba sua
arma e o mata, para em seguida, “com a cabeça cheia da erva”, assassinar também os dois
policiais. Ferido no tiroteio, Querô se refugia no terreiro de pai Bilu.
No penúltimo capítulo de Uma reportagem maldita (Querô), revela-se que Querô está
contando sua história para um jornalista chamado pelo pai de santo. O garoto delira com a
febre por causa dos ferimentos e a linguagem se torna truncada, desconexa, como se toda sua
vida passasse diante dos seus olhos já turvos.
O último capítulo, que ocupa apenas duas páginas, é narrado também em primeira
pessoa, dessa vez pelo jornalista, relatando sob seu ponto de vista, em tom seco e distanciado,
o assassinato de Querô pelos policiais que chegam ao local após terem obrigado Pai Bilu e a
nega Gina a revelarem o esconderijo.
Plínio na barra
O roteiro de Barra pesada se prendeu apenas ao relato de uma ação contínua na vida
de Querô – da aposta com Brandão à execução final –, abdicando da parte inicial de seu
relato. Esse passado do personagem compreendia outros acontecimentos entremeados por
pelo menos quatro grandes elipses temporais, localizados entre o suicídio da mãe e a fuga de
casa (sua infância com Violeta); entre a fuga e o assalto ao gringo (sua criação na
malandragem com Tainha); entre a curra e a fuga do reformatório (um ano só no “come-edorme”); e entre o restabelecimento no cais e a amizade com a Nega Gina até a aposta com
Brandão (dois anos sem se meter em salseiro).
O que poderiam ser tempos mortos ou
passagens longas de tempo foi suprimido.
Em Barra pesada as lembranças da mãe de Querô surgem como flashbacks,
interrompendo a ação e sendo justificados geralmente como sonhos do protagonista (quando
ele está dormindo) ou como delírios (quando é espancado). Essas lembranças, além de
comentar, chegam a influenciar o desenrolar dos acontecimentos. Quando todos riem de
352
Querô no prostíbulo onde ele foi procurar ajuda do travesti Naná (Fábio Camargo), diante do
sentimento de humilhação do personagem surge na tela a imagem de sua mãe dizendo
“bundar com bicha não dá futuro, não, meu filho”. Em outra seqüência, Querô dorme num
quarto de pensão fugindo da polícia e lembra-se da mãe sendo espancada e roubada por seu
cafetão (Reginaldo Faria). Nesse flashback, o personagem, ainda criança, está presente à cena.
De volta à realidade, ele acorda com gritos de uma mulher (em continuidade com os gritos da
mãe no sonho) e encontra no quarto ao lado uma prostituta – Ana – sendo espancada pelo
cafetão. Querô afugenta o homem, justificando-se para Ana: “Eu tenho bronca de cafetão”. Os
dois tornam-se amantes e moça acompanha Querô em sua fuga.
Também em Barra pesada, o assassinato de Chupim parece ser motivado somente
pela necessidade de Querô do revólver. Não existe um passado desse personagem na trama,
como acontece com o “crioulinho enjoado” Zilu no livro, que espezinhava Querô quanto ele
estava “na pior” no reformatório.
No romance de Plínio Marcos, Querô rouba a arma de Zilu, mas depois não sabe ao
certo o que fazer. Não deixa de aproveitar o “poder” que sente ao estar em vantagem em
relação ao outro (“nunca me senti tão legal em toda a minha vida”, pensa), que o leva logo a
se aproveitar de sua posição em relação àquele que logo antes o menosprezava, se afirmando
(“Pra ti, seu veadinho nojento, é Seu Querô!”) e o ameaçando (“Antes de te deixar ir, eu vou
te fazer chupar meu pau.”). Entretanto, como o Bereco de A rainha diaba, ele também revela
a insegurança que sente em seu “batismo”: “Aquela ali era a hora da verdade. Eu, que sempre
acreditei que de arma na mão ia fazer muita miséria, estava vacilando. E não podia”.
Querô continua xingando Zilu “pra ver se pegava raiva dele”, até que finalmente a
brutalidade toma o personagem e o nervosismo é substituído pela completa frieza e crueldade:
Eu sentia os olhos ardidos. Era só o que eu sentia. O frio no saco, o vazio na barriga, tudo tinha passado.
Só meus olhos ardiam. Dei uma olhada pro revólver e depois disse baixinho:
– Tu já atirou com essa merda?
– Não. É novinha.
– Então vou tirar o cabaço.
E mandei ver. Dei no gatilho.”
Em Barra pesada, Querô também aproveita uma distração de Chupim para pegar a arma
das suas mãos. Embora mostrando a mesma hesitação e nervosismo que o personagem do
romance, no filme o garoto não aproveita da sua situação para se impor ou humilhar o
anteriormente falastrão Chupim. No filme, esta seqüência é muito mais curta, sendo o disparo
353
de Querô movido mais pela imediata pressão que Chupim impõe, gritando “Me dá! Me dá,
por favor!”, enquanto caminha lenta e ameaçadoramente na direção de Querô que se vê,
literalmente, contra a parede. O assassinato não é calculado, mas fruto de um impulso, o que,
de certa maneira, absolve em parte Querô. Por outro lado, o personagem do filme se aproxima
mais do tom do livro quando se aproxima do cadáver e diz: “Poxa Criolo, isso é um jogo. Era
eu ou tu. Melhor que foi tu.”
De uma forma geral, enquanto o romance tenta mostrar a longa trajetória da infância e
adolescência de Querô até o estado de brutalidade em que chega ao final, no filme o
personagem se revela desde o início sem possibilidades, condenado, chorando sua fraqueza e
impotência diante do mundo – “Tive medo, tive nojo de mim. Tive até vergonha [...] desde o
começo sempre fui o esparro. Nunca fui o mais forte ou o mais bonito”.
Esse aspecto de Querô, encontrado na obra de Plínio e bem retratado no filme de
Reginaldo, encontra ressonâncias, por exemplo, como a Neusa Sueli de Navalha na carne que
chega a se perguntar: “Será que eu sou gente?”. É interessante que algumas traduções do
título de Barra pesada em inglês tenham sido Dead end street – “beco sem saída” – ou Fish
in a barrel – da gíria shooting fish in a barrel, literalmente “pescando num barril”, que
significa “ridiculamente fácil”, embora “peixe no barril” também pode ser algo como “presa
fácil”. Essa falta de saídas ou alternativas, ligada exemplarmente ao
universo pliniano,
também se encontra no texto de Nelson Pereira dos Santos sobre o filme: “Barra pesada é
um depoimento sobre o comportamento humano submetido a pressões no beco sem saída
desta sociedade, onde se assiste ao duelo final – de um lado, o ser humano (o mocinho), e de
outro, as forças organizadas da sociedade (os bandidos)”.
599
Nesse sentido, o filme de Reginaldo Faria se aproxima de outra adaptação pliniana.
Segundo José Carlos Avellar, A rainha diaba não provoca no espectador identificação com
nenhum personagem, não faz o público ter especialmente raiva ou pena de nenhum deles.
Catitu é sedutor e “fala macio”, mas se revela o grande traidor da história; Diaba será vítima
de seus próprios aliados, mas é extremamente cruel com os outros, principalmente Isa
(movida mais por inveja do que por justiça); mesmo Bereco, envolvido ingenuamente na
história, aproveita-se da paixão sincera da amante para subir na carreira do crime.
599
Curiosamente, o roteiro de Lúcio Flávio tinha o título de Encurralado e o filme foi todo rodado com esse
nome.
354
Com Querô acontece o mesmo. Apesar de grande vítima do mundo, gerando
identificação do personagem com o espectador
por pena, compaixão ou solidariedade,
algumas de suas reações provocam uma ambigüidade desses sentimentos.
Além da cena do assassinato de Chupim, o caráter ambíguo de Querô pode ser ainda
mais notado numa seqüência inexistente nos textos de Plínio, em que o personagem seqüestra
um carro, tomando o motorista (Mário Petraglia) como refém. A postura argumentativa,
corajosa e inadvertidamente até engraçada do dono do carro provoca empatia do público com
ele. Retratado como um “garotão” carioca, em meio ao seqüestro ele diz frases como “Pô,
logo hoje” ou “Eu entro em cada fria”. Nessa situação, ao não libertar o motorista e mandar a
toda hora que ele cale a boca, Querô aparece do lado “negativo”, o que é ainda mais
acentuado pelo fato do refém acabar morto por tiros dos traficantes endereçados a ele próprio.
Nesse contexto, outro episódio significativo para o protagonista é seu encontro com o
travesti Naná, cuja ação e diálogos no filme são praticamente idênticos aos do romance. A
violência e crueldade de Querô emergem quando ele direciona seu ódio gigantesco para
aquele ao seu lado que se revela mais fraco e vulnerável no momento. Quando o garoto
espanca e rouba o travesti para quem pedira ajuda – tanto no livro quanto no filme – surge o
questionamento de quem é bom, que m é mal; quem é a vítima, quem é o carrasco; ou se na
ficção como no mundo real, essa divisão de papéis não é simplesmente fruto das
circunstâncias.
600
Outros personagens de Barra pesada também carregam exemplarmente características
plinianas. Como a Isa de A rainha diaba, o amor de Ana por Querô é acompanhado do
elemento trágico. Se a prostituta foi salva do cafetão por Querô, por quem se apaixona, por
causa dessa paixão ela é brutalmente torturada – tendo sua língua cortada – e estuprada pelos
traficantes para contar o esconderijo do garoto. Ao contrário da cantora de cabaré do filme de
Fontoura, Ana sofre barbaramente, mas não conta nada – até porque não sabia mesmo. É o
garoto Negritinho, espécie de irmão mais novo de Querô, quem acaba revelando o esconderijo
do personagem após ser ameaçado, agora pelos policiais, de sofrer a mesma violência que a
gangue do Dr. Florindo tinha infligido à Ana.
600
601
Na mesma cena, Querô soca sua própria imagem no espelho, revelando como a raiva se direciona também e
ele mesmo ou ainda que ele percebe – e por isso, se enfurece – que estava se tornando igual aos outros que o
exploram.
601
Enquanto no romance de Plínio, Querô é preso pela primeira vez ao ser traído por aquele que ele considerava
seu irmão mais velho, em Barra pesada a “ traição” vem daquele que era como um irmão mais novo.
355
Ao contrário das obras de Plínio Marcos, em Barra pesada, se a amizade não suporta a
ameaça de violência, o amor ainda é romanticamente capaz de resistir a tudo – mesmo que
não adiante nada. Desse modo, com Ana totalmente destroçada, a última e melancólica cena
do filme mostra Negritinho, agora totalmente sozinho no mundo, chorando a morte de Querô,
e tentando se conformar ao dizer para si próprio: “eu não tive escolha ”.
Ou seja, se o protagonista de Lúcio Flávio ganha contornos de mártir ou herói, a partir
da ambigüidade moral dos personagens de Plínio Marcos, Barra pesada se revela um filme
menos maniqueísta do que o do filme de Babenco.
“O tempo do valente forte e no braço já passou”.
Outra questão interessante que pode ser notada em Barra pesada diz respeito à
mistura de elementos de uma marginalidade do passado com a criminalidade alarmante do
presente, como apontada em A rainha diaba.
No filme de Reginaldo Faria, o personagem Brandão que ganha a aposta na sinuca
com Querô é retratado como um típico malandro. Sua roupa (chapéu, camisa aberta no peito,
cordão de ouro) e seu jeito (movimenta-se devagar, sorriso irônico, mastiga palito de dente)
não deixam dúvidas sobre sua figura, reforçada pela trilha sonora – um samba levado apenas
por uma caixa de fósforos – que abre o filme e atravessa a seqüência, se aproximando da cena
do desafio de sinuca em Vai trabalhar, vagabundo!, assim como do filme O jogo da vida.
No romance de Plínio Marcos, Brandão era um “crioulão grande, metido a valente”,
“muito forte” e que quase matava Querô de pancada quando o garoto revelava não ter
dinheiro para pagá- lo. Já no filme, o personagem é interpretado pelo ator Marcus Vinícius,
magro e aparentemente fraco, mas que na hora da briga salta rapidamente para cima do garoto
manejando habilmente justamente uma navalha.
Tanto o valente de Plínio Marcos, quanto o malandro de Reginaldo Faria – o único
que encontramos no filme – se dão mal. No romance, conforme relatado pelo dono do bar,
Brandão é preso (sem motivo algum) pelos policiais que “limpam a barra” do garoto para que
Querô pague pedágio a eles. Em Barra pesada esse destino é enfatizado ao mostrar em uma
cena em que Brandão é preso por policiais depois de ser incriminado por Teleco, que coloca
um pacote suspeito no casaco do malandro – que acaba sendo o “otário” da história.
356
Essa mudança se deve também ao fato de, no filme, a dupla Teleco e Nelsão (e não
Sarará e Nelsão) ser identificada – segundo o material de divulgação do filme – simplesmente
como “cáftens de pivetes”. Enquanto o Sarará e Nelsão do livro eram os mesmos policiais
que tinham prendido Querô depois do assalto ao gringo, no filme os dois não são “canas”
corruptos, mas sim um par de vagabundos, que se viram como cafetões ou “olheiros” da
polícia e encontram no “talento” de batedor de carteiras de Querô e Negritinho uma “grande
chance”.
Desse modo, além de não retratar a dupla de personagens mais cruéis do filme como
policiais (poupando graves problemas com a censura), em Barra pesada, Teleco e Nelsão
também apresentam traços de decadência que caracteriza esse universo dos malandros e
cafetões e que permeia todo o filme de Reginaldo Faria, atravessado por personagens e
cenário decrépitos, ilustrado por imagens de prédios em demolição, casas em ruínas e
canteiros de obras.
No livro de Plínio Marcos, os dois policiais vestem “camisa florida, calça bacana e
sapato branco” e o outro de “de terno e gravata e tudo”. No filme, Teleco e Nelsão são feios,
sujos, pobres e andam de ônibus.
No romance Uma reportagem maldita (Querô), o parceiro de Nelsão diz que ele foi
boxeador peso pesado antes de entrar para a polícia, e o “pedágio” de Querô era necessário
porque “tira ganha pouco” e a grana não garantia o “bom trato” que ele estava acostumado.
Em Barra pesada, Sarará comenta que Nelsão era do telecatch da TV Rio, mas a decadência
da dupla é explícita, expressa especialmente por uma cena em particular. Num bar, Nelsão –
aparentemente bêbado, com uma garrafa de cerveja vazia a sua frente – é visto sentado ao
lado de uma parede na qual estão pregados quadros com fotos de seu passado glorioso de
lutador. Essas imagens antigas, em preto e branco, dignas e vitoriosas, contrastam com a
aparência trôpega dele no bar e acentuam o aspecto decadente no personagem, reforçado pela
própria situação de sobreviver exclusivamente à custa da extorsão de um pivete. O próprio
Querô, quando confronta os dois de arma em punho, percebe o ponto fraco de Nelsão e o
provoca gritando: “o coitado ficou lelé de tanto levar porrada na cachola”.
Desse modo, o policial surge em Barra pesada como um outro personagem, que não
existe no livro de Plínio Marcos, que é o comissário frio, calculista e sem nome, interpretado
por Ivan Cândido. Se em Uma reportagem maldita (Querô), o garoto é morto por policias que
vingam o assassinato dos dois colegas, no filme o comissário é movido por um desejo de
eliminar o marginal que aparentemente não tem a mesma motivação.
357
Quando os policiais chegam ao local em que Querô armou a emboscada para a dupla
que o explorava e o comissário ainda encontra Teleco respirando, é curioso notar o enorme
desprezo que ele manifesta pelo “cáften de pivete”. Enquanto Teleco, em seu último suspiro,
diz: “Foi o Querô. Pega ele”, o comissário responde friamente ao seu “olheiro” à beira da
morte: “A gente pega ele, mas não por sua causa”.
Nesse sentido, Barra pesada se aproxima muito de Lúcio Flávio no contexto de
denúncia da atuação do Esquadrão da Morte que ocupava as manchetes dos jornais naqueles
anos. O filme de Hector Babenco mostrava a história de um marginal que decidia não mais
compactuar com a polícia corrupta, simbolizada pelo personagem Moretti (Paulo Cesar
Pereiro), que era representado justamente como um malandro: vestindo camisa colorida aberta
no peito e cordão de ouro, abusando de ginga e malícia e prometendo sempre “dar um jeito”
em tudo com sua esperteza.
Mas Lúcio Flávio e o próprio Moretti – que chega a dizer que os dois “jogam no
mesmo time, só que com camisas diferentes”, – acabam sendo confrontados por um novo
elemento: a “organização”, representada pelo sóbrio e frio policial Bechara (interpretado pelo
mesmo Ivan Cândido), permanentemente vestido de terno preto. Bechara chega a dizer para
Moretti que seu “tempo passou” e empreende uma perseguição implacável a Lúcio Flávio e
sua quadrilha, eliminando os bandidos um por um.
A denúncia à atuação da polícia corrupta é um tema muito comum nas obras plinianas,
que já pode ser notado em A navalha na carne, peça e filme, quando a prostituta Neusa Sueli
diz que a situação está ruim porque “o novo delegado que está aí está querendo fazer média.
Toda hora passa o rapa. Até os tiras andam apavorados, não pegam caixinha nem nada”
(MARCOS, 2003, p. 162).
Na adaptação de Braz Chediak para a peça Dois perdidos numa noite suja, o tema
surge a partir de um diálogo inexistente no texto de Plínio Marcos, quando Tonho questiona
Paco sobre a vida que ele levava antes deles se conhecerem:
Tonho: Onde está sua flauta?
Paco: Você é tira?
Tonho: Deus me livre.
Paco: Faz tanta pergunta!
Tonho: Só táva querendo conversar...
602
602
Como era no texto da peça de Plínio Marcos: “Tonho: Onde foi parar a sua flauta? / Paco: Passaram a mão
nela” (MARCOS, 2003, p. 91).
358
Uma das poucas falas acrescidas no filme ao diálogo da obra “original” apontava
justamente para uma visão negativa do policial, como o que de mais indesejável poderia haver
para os dois personagens daquele universo.
Já o filme Nenê Bandalho faz uma crítica mais acentuada, pois além de ridicularizar os
personagens policiais, denuncia sua atuação ao mostrá- la a execução sumária de um marginal
já rendido e desarmado. Entretanto, o deboche e irreverência possivelmente minimizavam o
caráter de seriedade da denúncia.
Em A rainha diaba, o policial corrupto que compactua com a Diaba se chama
significativamente “Coisa Ruim”. Mas além do personagem interpretado por Procópio
Mariano, a polícia não tem um papel importante no filme de Fontoura, surgindo novamente
apenas na cilada para Bereco armada por Catitu a mando da Diaba.
De fato, no argumento original escrito por Plínio Marcos e vendido para Antônio
Carlos da Fontoura, após Bereco matar a Diaba e ser fuzilado ao sair do quarto, a história
acabava com a comemoração dos trunfos. Mas embora o conto terminasse com a frase “Eram
os novos reis do fumo”, Plínio escreveu em seguida:
FIM
(CASO QUEIRA CONTINUAR O FILME)
E a ação continuava no conto exatamente como Fontoura reproduziu no filme:
enquanto o grupo comemorava a vitória, Violeta colocava veneno no champagne, matando
todos os outros trunfos. No momento em que a cafetina festejava sozinha, a Diaba surgia do
quarto ensangüentada atirando nela antes de cair também.
Entretanto, enquanto o filme de Fontoura terminava aí, o conto de Plínio continuava:
Nesse momento estouram a porta da rua e bombas são atiradas pra dentro da sala, que fica toda cheia de
fumaça. Escuta-se uma enorme artilharia e vultos se mexem no meio da neblina artificial. Um dos
vultos cai com a mão no peito e é grande a confusão.
Mas, aos poucos, a fumaça vai se dissolvendo. E quem está em cena é a polícia. O chefe examina tudo,
daí grita pra fora com euforia:
– Tudo dominado. Acabamos com o tráfego [sic] de maconha.
Um praça se apresenta e informa:
– O Waldemar morreu.
O chefe faz cara de triste e ameaça um discurso:
– Morreu cumprindo o dever. Mas, um herói que tomba em defesa da família, da...
De estalo, o chefe se manca. Pára, olha ao seu redor e ordena:
– Mande entrar os repórteres.
O praça sai e uma multidão de fotógrafos invade a sala. O chefe então prossegue:
– Morreu para que as famílias possam dormir em paz etc...
359
FIM
Ou seja, Fontoura escolheu não incluir um(a parte do) final que o próprio Plínio
Marcos afirmava ser opcional, mas no qual uma crítica aos policias – não somente corruptos,
como incompetentes e manipuladores – surgia ainda mais acentuada. Como aparece no filme
A rainha diaba, a polícia não teria controle ou influência sobre os marginais, mas o final do
conto mostrava como os policiais ainda tentavam, inútil e desastradamente, fazer alguma
coisa, principalmente para se promover com isso. Mas como em Nenê Bandalho, essa
denúncia era feita com avacalho e deboche.
Podemos imaginar que Fontoura preferiu concentrar seus personagens unicamente no
universo dos marginais, fugindo de uma polarização com o contraste com figuras que
representassem o Estado. Não se pode subestimar ainda a questão da censura, que inibia os
cineastas de traçar qualquer retrato mais crítico das instituições públicas, incentivando-os a
apelar para alegorias e metáforas. Desse modo, o diretor de A rainha diaba chegou até mesmo
a ser acusado de ter se submetido “ao mais gritante caso de auto-censura até hoje dado a
conhecer no cinema brasileiro” em reportagem da época de lançamento do filme:
Em seu roteiro original, o desfecho era marcado pela invasão do sub-mundo pela polícia, que após
eliminar os contendores, passaria então a gerenciar as bocas. Seria no mínimo ingenuidade, deve ter
refletido, apresentar semelhante situação e submetê-la à apreciação soberana da própria polícia (através
do Departamento de Censura). Ou ainda, uma decisão de catastróficas conseqüências para quem
ocupou-se durante oito semanas preparando um trabalho artístico [...] Fontoura não pronunciou-se a
603
respeito.
Sobre esse fato, Aquino (2002, p.147) afirmou que:
Nos debates ocorridos na Universidade de Brasília, quando do lançamento do filme, brotou a idéia de
que este final havia sido acrescentado por pressão da censura ou por pura opção, para ludibriá -la,
amenizando a violência e ousadia do filme com um final do tipo o crime não compensa. Alguns anos
depois, numa entrevista ao Correio Brasiliense (DF, 10/11/82), Fontoura esclareceu que o final do filme
foi proposital: ‘Eu não queria heróis. Se eu tiver ideologia, ela está mais para anarquista. Por isso fiz
aquele final catastrófico. Não fiz concessão nenhuma, foi uma opção criativa.
Realmente, o final do tipo “o crime não compensa” foi criticado por alguns jornalistas,
independente da confirmação de ter sido um caso de auto-censura ou não. Para José Álvaro,
“Se se abstrair a seqüência final, A rainha diaba pode ser considerado um dos melhores
603
NUNES, G.T. Um caso de auto-censura. Correio Braziliense, Brasília, 23 set. 1974.
360
filmes brasileiros da temporada.” Desconfiando que o final teria sido imposto, o que, de
qualquer maneira seria um desrespeito ao publico, o crítico diz que Fontoura, “se tinha que
dar esse final, então resolveu bagunçar o coreto”. 604
Análises contemporâneas de A rainha diaba identificam no filme um “estado de
violência latente” devido talvez ao fato do filme ter sido realizado num dos períodos mais
duros do regime militar
605
, e o crítico Inácio Araújo chegou a afirmar que o “filme revela as
contradições do regime militar sem se referir a ele”, captando “muito bem o estado de coisas
de um Estado que, por ditatorial, se constitui como organização criminosa”.
606
De fato, a cena da tortura de Isa pela Diaba e suas “diabetes” nos remete claramente
para o que estava acontecendo naquele momento nos porões da ditadura. As próprias técnicas
da Diaba – enfiar agulha embaixo da unha e botar ferro de queimar entre as pernas da vítima –
são muito mais condizentes com os procedimentos dos torturadores profissionais do que com
marginais, além de serem diferentes em relação ao texto de Plínio Marcos.
607
O texto do programa de exibição de A rainha diaba no Cineclube Macunaíma durante
o segundo mês do cinema brasileiro, por volta de 1984, já sugeria:
A rainha diaba atinge esse fim [estabelecer ligação com o público] – ficou várias semanas em cartaz no
Rio –, sem prejuízo de outro nível de leitura visível a espectadores mais atentos, como na seqüência do
salão de cabeleireiros. ‘Não vou entregar meu filme’, disse Antônio Carlos da Fontoura para a
apresentação de Copacabana me engana, que coincidiu com o lançamento comercial da Diaba. Para
608
quem sabe ler, um pingo é letra.
Um aspecto semelhante também pode ser notado em Barra pesada, cujo retrato da
violência do dia-a-dia da população e da criminalidade urbana está indissociavelmente ligado
à atmosfera de violência que o país vivia, ainda mergulhado na ditadura. Desse modo, a “falta
de saídas” do pivete Querô, violentado por todos os lados, também refletia um
posicionamento perante a situação política do Brasil, como o próprio cineasta apontou em
entrevista:
604
ÁLVARO, José. A rainha diaba. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 2 out. 1974.
AVELLAR, José Carlos. Análise crítica. Direção de Ana Moreira. Rio de Janeiro: CTAv, 2004.
606
ARAÚJO, Inácio. Filme revela as contradições do regime militar sem se referir a ele. Folha de São Paulo,
São Paulo, 8 out. 2004
607
No conto de Plínio, a Diaba e suas diabetes, além de baterem e queimarem Isa com o cigarro, apelavam
“apenas” para os característicos espetões com facas ou beliscões.
608
CINECLUBE MACUNAÍMA. II mês do cinema brasileiro, Cinema & realidade, n.93. Rio de janeiro:
[1984?].
605
361
Pressionam até na nossa linguagem, até na nossa forma de se expressar. A gente nem pode dizer as
coisas direito. A violência que estamos sofrendo dá medo. É uma violência mais calada, muito mais
sutil, mais requintada. Ela não se manifesta tão declaradamente na realidade. Numa ficção podemos
609
tornar as coisas mais visíveis .
Essa violência encontra-se canalizada em Barra pesada para o que talvez seja a crítica
mais clara e contundente dos personagens policiais de todas as adaptações plinianas,
rearticulando o que era expresso no texto de Plínio Marcos. Se no romance, os “ratos”, como
Querô os chama, são torturadores, corruptos, chantagistas e cruéis, no filme, essa crítica
procede, embora os personagens Teleco e Nelsão não sejam mais caracterizados como “tiras”.
Por outro lado, os policiais que empreendem a caçada à Querô – que no livro aparecem
apenas como pano de fundo –, no filme ganham muito mais visibilidade, mostrando um
interesse maior numa atuação “à la Esquadrão da Morte”. O comissário líder da caçado ganha
inclusive um destaque maior ou igual aos que recebem os próprios personagens que
extorquem Querô.
Mas nesse sentido, o elemento novo e surpreendente de Barra pesada é a denúncia de
uma clara aliança apontada entre os policiais e os traficantes. O “distribuidor de narcóticos na
zona sul” (Milton Morais), chama-se doutor Florindo, adotando um pronome de tratamento
sem justificativa estrita. Enquanto a maioria dos seus capangas é negro, ele é branco – assim
como outro “chefão”, o Serafim, para quem ele liga, e o próprio comissário de polícia – e
aparenta um nível de formação maior que os demais, sem fazer uso, por exemplo, de tantas
gírias.
Na caçada à Querô, os traficantes e os policias agem paralelamente e praticamente não
é possível fazer distinção alguma entre uns e outros – seja pela aparência, comportamento ou
mesmo vestuário.
Desse modo, o elemento mais significativo que Reginaldo Faria introduz na história é
justamente o crescimento industrial do tráfico. No livro de Plínio, Zilu repassa maconha para
uns “meninos” venderem no cais do porto. Já em Barra pesada, Chupim “passa fumo na Zona
Sul”, vendendo a droga no calçadão de Copacabana para diversas pessoas, principalmente
jovens aparentemente de classe média. Enquanto no romance, Querô fuma toda a maconha
que ele pegara de Zilu – o que o faz ficar mais “braseado” ou corajoso –, no filme, ao tentar
vender a droga ao barqueiro Guegué (Lutero Luiz), ele acaba sendo denunciado ao Dr.
609
AVELLAR, José Carlos. A Barra está tão pesada que a violência do mundo real até parece cena de filme.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 nov. 1977.
362
Florindo, dando início a sua perseguição. Não há como escapar do tráfico, que tem suas
ramificações espalhadas por toda a cidade.
Da mesma forma que em Barra pesada, a promiscuidade entre o aparelho repressivo
estatal e o crime é igualmente a principal crítica do filme de Babenco. Se o policial Moretti
dizia a Lúcio Flávio que “polícia e bandido é tudo a mesma coisa, tudo no mesmo barco”, o
bandido, ao perceber como a situação estava mudando e que era ele quem estava sofrendo as
principais conseqüências, decidia romper com o esquema. Ao sustentar que “bandido é
bandido, polícia é polícia”, a atitude ousada e corajosa de Lúcio Flávio, movida à revolta e
indignação, acarreta justamente em sua morte.
Também em Uma reportagem maldita (Querô) – mais até que no filme Barra pesada
– é a recusa indignada de Querô em ser “esparro de tiras” que o leva a um revolta violenta e,
da mesma forma, à sua morte. Desse modo, foi justamente o retrato dos policiais que
acarretou em interferência da censura no filme de Reginaldo Faria – diferentemente de A
rainha diaba, que não teve nenhum problema desse tipo.
Censura policial
Com proibição para menores de 18 anos, mas lançado normalmente nas salas de
cinema, Reginaldo Faria considerou que Barra pesada teve “pouca” censura, por ter sido
cortada apenas uma cena “em que a violência, segunda a censura, era exagerada e teve de ser
atenuada. É no final, quando massacram o Querô”.
610
Em outra circunstância, Reginaldo
novamente não deu muita importância ao fa to, afirmando que foram apenas pequenos cortes
na cena final que amenizaram a brutalidade. Ainda segundo o diretor, “Isto não prejudicou.
Pelo contrário, foi até providencial”.
611
Analisando diversas cópias do filme depositadas na Cinemateca do MAM, foi possível
identificar exatamente qual foi o corte exigido pela censura na parte final de Barra pesada.
Após ser ameaçado pelo comissário, Negritinho leva os policiais ao terreiro do Pai de
Santo onde Querô está escondido. Eles entram na casa onde está ocorrendo uma cerimônia e
Negritinho faz, disfarçadamente, um sinal para um rapaz avisar Querô da chegada de seus
610
FASSONI, Orlando L. Reginaldo Faria, do riso ao compromisso. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 ago.
1978.
611
COSTA, Ruth. A violência do dia-a-dia, a realidade de “Barra pesada”. Diário Popular, São Paulo, 16 mar.
1978.
363
perseguidores. O Comissário percebe o gesto e manda um dos policiais seguí- lo até o barraco
onde o garoto está escondido.
Ao ser alertado para a presença dos “homens”, Querô, mesmo ferido, recebe os
policiais a tiros, acertando um primeiro no pé e um segundo no ombro. Depois dessa
recepção, os demais policiais começam a fuzilar o barraco. Nesse momento chega outro carro
com o “reforço” dos traficantes que se juntam ao tiroteio. O comissário grita em meio aos
tiros: “Mata esse pilantra!”, enquanto descarrega o revólver lado a lado com o Dr. Florindo.
Querô joga-se no chão com a camisa ensangüentada e coberto por cacos de vidros das janelas
despedaçadas.
Finalmente os policias e traficantes entram no barraco e encontram Querô deitado e
ferido. Começa então o massacre: chutes, socos e coronhadas são desferidos inclementemente
no garoto. O Comissário e Dr. Florindo, assim como seus respectivos subalternos, participam
juntos do linchamento. Eles levantam o pivete do chão e o carregam nos ombros para fora do
barraco, com os braços abertos e coberto de sangue.
Em meio à histeria do linchamento são ouvidos gritos de ordem: “Arrasta esse
pilantra!”, “racha esse pilantra!”. A montagem torna-se acelerada, com planos cada vez mais
curtos de murros e pontapés. Os corpos dos agressores são decompostos em punhos, pés e
braços anônimos que se sucedem ininterruptamente. Ao mesmo tempo, a câmera assume o
ponto de vista de Querô – praticamente soterrado debaixo de seus agressores – e o espectador
sente como se as pancadas fossem direcionadas diretamente a ele próprio.
612
A música também acelerada, sobreposta aos ruídos do espancamento, reforça a
sensação de um gozo crescente. No clímax do linchamento, há um insert de uma moça
dançando dentro do terreiro. A música se mistura com os cantos religiosos e o som dos socos
é substituído pelas palmas, estabelecendo nessa seqüência uma relação entre sexo, religião e
violência como práticas orgásticas.
Finalmente um tiro de misericórdia – partindo da arma de um braço não identificado –
silencia a seqüência e põe fim ao linchamento. Articula-se o campo e contracampo: Querô,
coberto de sangue e com um buraco de bala no peito, e Dr. Florindo encarando o cadáver em
silêncio, finalmente dizendo com escárnio: “Esse não tira mais meleca do nariz”.
612
Uma decupagem desse tipo, com a própria câmera sendo “espancada” e “socada” também fora feita na
seqüência de abertura da super-produção estrelada por Tarcísio Meira O marginal (dir. Carlos Manga, 1974),
marcada pelo virtuosismo do operador de câmera Antônio Meliande e do fotógrafo Oswaldo de Oliveira.
364
No plano seguinte os policia is e traficantes descem o morro carregando o corpo de
Querô. Eles largam o cadáver no chão, logo cercado pelas rezas das mulheres do terreiro e
pelos olhares dos curiosos. Negritinho, desolado, observa mais afastado a cena. O comissário
também desce o morro e Dr. Florindo se despede dele com um tapinha amigável no ombro. O
policial tranqüiliza o garoto – “trato é trato”, ele diz, confirmando que por ter delatado o
amigo, não seria importunado – e ainda tenta consolá- lo pela morte de Querô: “ele não sofreu
muito não”. A ironia cruel o acompanha até a última fala.
Essa é a descrição da seqüência completa, como na montagem final de Barra pesada.
Analisando uma cópia exibida na época do lançamento do filme, foi possível identificar o
corte exato da censura, que se dá justamente no momento em que os traficantes e policiais
fuzilam o barraco de Querô. Do plano em que vemos Querô deitado no chão e seus algozes
atirando do lado de fora, segue-se diretamente o plano em que os policias e traficantes descem
o morro carregando juntos o corpo de Querô, sob o olhar de Negritinho. Foi suprimida toda a
seqüência do espancamento e da execução sumária – cerca de quarenta segundos do filme
foram cortados. Com a elipse forçada, tornou-se plausível, por exemplo, que Querô tenha
morrido no tiroteio, possivelmente por acidente durante a troca de tiros – iniciada após a
resistência inicial do bandido. Ao mesmo tempo, a morte sem sofrimento de Querô, como
afirmou o comissário a Negritinho, torna-se plenamente crível.
613
No final do filme os traficantes entram no carro, que segue pela esquerda, enquanto a
viatura va i logo atrás, mas tomando outra direção. Dezenas de crianças cercam o carro da
polícia imitando o som da sirene, mas com barulhos que se assemelham a vaias (que em
algumas sessões, segundo os jornais, eram repetidas também pelos espectadores).
O último plano mostra Negritinho só e inconsolável, andando melancolicamente até
sumir no horizonte todo ocupado pela favela ao fundo, como que a apontar a existência de
muitos outros iguais a ele. Surge, então, a seguinte mensagem sobre a imagem do morro
coberto de barracos:
Dias depois as autoridades fecharam o cerco a fim de desbaratar as quadrilhas de traficantes e
aprisionar os policiais corruptos.
613
No caso de Barra pesada, o corte da censura deu-se nas próprias cópias de exibição, e não nos negativos
originais, como acontecia em casos extremos de intervenção. Na cópia examinada, o corte brusco nem sequer foi
feito entre um plano e outro, pois podemos perceber poucos segundos do close imediatamente anterior de Dr.
Florindo antes do plano do corpo de Querô sendo carregado.
365
Como afirmou Reginaldo Faria, foi a Polícia Federal quem fez uma ressalva para a
colocação dessa cartela no final do filme. A mensagem, querendo conferir o aspecto de
exceção ao retrato dos policias do filme, por ser “manjada” pelos espectadores acabava
assumindo outro tom. Segundo o diretor, a cartela dava um “sentido irônico e moralizador,
claramente percebido pelo público atento”.
614
É curioso que a colocação de uma cartela em Barra pesada – um filme de ficção –,
eximindo os policiais de qualquer julgamento ne gativo, também tenha sido exigida em Lúcio
Flávio, filme baseado num romance-reportagem sobre um personagem real e conhecido.
Conforme documentação oficial, o filme de Babenco recebeu uma “notificação de inserções
no último rolo para salvaguardar a figura do policial”, exigindo “em reconhecimento [?] da
árdua e eficiente tarefa da Polícia, reprimindo o crime e seus autores”, a introdução de uma
cartela com os dizeres:
Os policiais que participaram desta ocorrência já não pertencem mais aos quadros policiais e já
615
sofreram as sanções penais adequadas.
Se os cineastas buscavam a realidade, a censura federal vivia cada vez mais longe
dela.
Denúncia
Em depoimento a um jornal, Reginaldo Faria apontava para o aspecto documental de
Barra pesada, realizado como uma reportagem filmada:
Em Barra pesada eu quis fazer assim como se a gente estivesse na rua e, de repente, visse um acidente.
Como se uma câmera de reportagem visse um acidente. A gente vê daquele momento. É impossível
para um repórter colocar a câmera no ponto de vista ideal, num local estratégico para ver idealmente um
momento que ele não sabe o que vai ser [...] Procurei fazer o filme assim, como se pegasse uma coisa
na hora em que ela acontece. Não marquei no roteiro como seriam as imagens. Escolhi os cenários. Lá
ensaiávamos e depois de levantadas as emoções jogava a câmera no meio da cena, como um
616
repórter.
614
FARIA, Reginaldo. Barra pesada. Última Hora, São Paulo, 19 ago. 1978. Entrevista.
BRASIL, Serviço de Censura de Diversões Públicas, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Notificação de
inserções no último rolo para salvaguardar a figura do policial. Notificação. Brasília, 18 out. 1977. Censora:
Deusdeth Burlamaqui.
616
AVELLAR, José Carlos. A Barra está tão pesada que a violência do mundo real até parece cena de filme.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 nov. 1977.
615
366
Em diversas entrevistas sobre o filme, Reginaldo usou o verbo “jogar” (“jogava a
câmera no meio da cena”, “eu procurei jogar isso na imagem”), o que parece reforçar a idéia
de uma ausência de formalismo ou cuidado excessivo com o quadro. A primazia do conteúdo
sobre a forma foi confirmada pelo diretor em depoimento: “Me pareceu que nessa história o
mais importante era cuidar da história mesmo, e não de como filmar a história”.
617
Nessa
busca pelo realismo, fazendo uso de câmera na mão, filmagens nas ruas com luz natural,
atores misturados a transeuntes, fica patente a influência de uma estética documentária,
assumida pelo diretor: “Joguei com o documental, tendo a linha central da dramaturgia
atravessando tudo isso”.
618
Fernando Duarte, diretor de fotografia do filme, tinha uma ligação estreita com o
cinema documentário, o que se tornaria evidente mesmo em seu trabalho posterior em ficção.
Mas segundo Reginaldo, o fotógrafo, como outros membros da equipe, abandonou o filme no
meio por não agüentar a “barra” das filmagens. José Medeiros, o mesmo fotógrafo de A
rainha diaba, teria sido convocado para substituí- lo, sendo creditado no filme como
responsável pela “fotografia adicional”.
619
Ao mesmo tempo, Barra pesada tem uma mise-en-scène simples e eficiente, na linha
da invisibilidade da narrativa clássica. A montagem ágil de Waldemar Noya, proporciona
dinamismo ao filme, além de suspense e humor nas ações paralelas – como na perseguição
dos traficantes a Querô nos motéis e pensões, enquanto ele e Ana estão escondidos em um
sobrado distante.
620
Por outro lado, além da fotografia, podemos perceber a busca de um realismo
documental em Barra pesada em outros elementos, como na utilização do som direto – nas
palavras do diretor, “a gente consegue extrair mais verdades do ator com o som direto” – à
escolha de locações reais.
617
621
Nesse sentido, o filme de Reginaldo Faria já se aproxima de
Ibid.
ABREU, Ana Maria de. A violência nossa de cada dia. Última Hora, São Paulo, 14 ago. 1978.
619
Fernando Duarte começou sua carreira cinematográfica no cinema novo, trabalhando com Mário Carneiro
como assistente de câmera em Porto das caixas (1965) e câmera em O Padre e a moça (dir. Joaquim Pedro de
Andrade, 1965) e mais tarde fotografando filmes como Ganga Zumba (1963) e A grande cidade (1966), ambos
de Carlos Diegues. Assim como José Medeiros, Fernando Duarte também iniciou sua carreira como repórter
fotográfico, trabalhando para o jornal Metropolitano da União Nacional dos Estudantes.
620
Waldemar Noya, falecido em 1986, era um montador veterano da Atlântida com mais de 80 filmes no
currículo. Barra pesada foi seu penúltimo trabalho em cinema. Antes dele, já tinha montado Quem tem medo de
lobisomem?, de Reginaldo Faria, e outros filmes dirigidos por Roberto Farias ou produzido pela R.F.Farias.
621
AVELLAR, José Carlos. A Barra está tão pesada que a violência do mundo real até parece cena de filme.
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 nov. 1977.
618
367
questões bastante atuais de cineastas que são obrigados a negociar com traficantes para
realizar filmagens nas favelas cariocas, por exemplo. No final da década de 70, o cineasta
contava:
Durante as filmagens, fomos muitas vezes ameaçados pelos moradores dos próprios locais, que não
admitiam que fôssemos para lá. Tínhamos que usar uma certa habilidade política para penetrar no
622
ambiente deles, explicar que se tratava de um filme em defesa deles, e não contra eles.
De fato, cenas estritamente documentais realizadas em locações reais permeiam Barra
pesada, sobretudo em sua parte inicial. Planos gerais mostram prostitutas nas ruelas da Lapa,
operários nas obras, multidões de pedestres nas ruas do centro do Rio
Esse aspecto, na verdade, está presente em outros filmes policiais como o próprio
Lúcio Flávio, no qual Reginaldo Faria chegou a ser filmado por uma câmera escondida dentro
de um presídio verdadeiro sem que os demais detentos soubessem que aquilo era um filme.
Essa busca de um realismo da marginalidade urbana teria prosseguimento com mais
intensidade ainda no filme seguinte de Babenco, também baseado num livro de José Louzeiro,
A infância dos Mortos. Em Pixote - A lei do mais fraco (dir. Hector Babenco, 1981),
Fernando Ramos praticamente interpretou a si mesmo no papel de um pivete de rua e os
notórios acontecimentos que se sucederam ao filme – abordados em Quem matou Pixote?
(dir. José Joffily, 1996) – revelaram os limites muitas vezes estreitos entre a ficção e a
realidade.
Nesse sentido, é curioso que as cenas em que os pivetes Querô e Negritinho assaltam
pedestres nas ruas do Saara, no centro do Rio – filmadas com câmera na mão e com os atores
se misturando às pessoas normais nas ruas lotadas – sejam bastante próximas das imagens dos
roubos dos pivetes nas passarelas do centro de São Paulo em Pixote. 623
Barra pesada denunciava antes ainda de Pixote a vida dos “meninos de rua”, que
embora já fossem retratados no cinema brasileiro desde a década de 50 em diversos filmes,
622
FARIA, Reginaldo. Ele já foi Lúcio Flávio. Mas aqui ele é o cineasta Reginaldo Faria. Estado de Minas, Belo
Horizonte, 30 nov. 1978. Entrevista a Ricardo Gomes Leite.
623
A questão da delinqüência juvenil já fora abordado quase que como uma epidemia urbana em Os
Trombadinhas (1978), filme que Reginaldo Faria chegou a anunciar que seria seu projeto seguinte após Barra
pesada. Originalmente chamado Pelé joga contra o crime, apesar de produzido pela R.F. Farias, o filme acabou
sendo dirigido por Anselmo Duarte. Em Os Trombadinhas, o rei do futebol – que dedicara o milésimo gol de sua
carreira às crianças carentes em 1969, – se disfarça de detetive policial para investigar uma gangue de
trombadinhas que assaltam as ruas de São Paulo. Com a ajuda de um empresário consciente e aliado ao tira Bira
(Paulo Villaça) e a uma polícia que embora com uma potencial vocação para violência, é honesta, eficiente e
cumpridora das leis, Pelé descobre os “maiores” por trás dos “menores” e desbarata a quadrilha de um traficante
internacional de cocaína, abusando de elaboradas cenas de brigas e de perseguição de carros.
368
como o seminal Rio 40 graus, o francês Orfeu do carnaval (Orphée Noir, dir. Marcel Camus,
1959) o curta- metragem Couro de gato (dir. Joaquim Pedro de Andrade, 1960) e,
especia lmente, no extraordinário Fábula, vinham ganhando mais repercussão, inclusive com o
incremento do número de furtos por pivetes nas ruas das grandes cidades brasileiras.
624
Mas em relação ao esse retorno a um realismo – possivelmente uma tendência no
cinema brasileiro na passagem dos anos 70 para 80 –, esse mesmo aspecto está visceralmente
presente num filme como A queda (dir. Ruy Guerra e Nelson Xavier, 1976), filmado em 16
mm e posteriormente ampliado para 35 mm, que retomava os personagens de Os Fuzis
(1964), obra fundamental do Cinema Novo. Outro filme que restabeleceu um diálogo com a
cultura brasileira pré-golpe através de uma moldura realista, foi Eles não usam black-tie (dir.
Leon Hirszman, 1981), adaptação da histórica peça do Teatro de Arena.
625
É curioso que tanto no filme de Ruy Guerra quanto no de Leon Hirszman – diretores
egressos do Cinema Novo – podia ser notada a presença do operário, um personagem então
emergente no cinema brasileiro e que também estava presente em Barra pesada.
626
Como
apontou Jean-Claude Bernardet, esse personagem surgia no filme de Reginaldo Faria na cena
em que Querô mata seu algoz Teleco num prédio em demolição:
Silenciosos, operários se aproximam, constatam e não intervêm. Aquele não é o mundo deles, eles
olham de fora, se diferenciam dos marginais, funcionam como uma espécie de referência a um outro
sistema de relações sociais, de opressão e violência. Trata-se de uma referência breve e pouco explícita,
e é bom que Reginaldo Faria tenha deixado vaga a significação do aparecimento dos operários.
Em sua análise, Bernardet também usou como comparação o livro Uma reportagem
maldita (Querô):
No romance de Plínio Marcos, o assassinato do personagem de Wilson Grey ocorre num meio marginal
[no Broadway, “um cabaré de merda”], ninguém de fora assistindo. Mas o romancista, em outro
624
Entretanto, a escalação de Stepan Nercessian, que estreara no cinema com 16 anos, mas que já tinha 23
quando fez o papel do “menor de idade” Querô, talvez tenha diminuído o impacto de Barra pesada nas telas.
Embora apenas 3 anos mais novo que Stepan, Cosme dos Santos, com seu corpo miúdo alcançou mais força no
papel do indefeso Negritinho. O ator, aliás, começou sua carreira ainda criança, participando justamente dos
filmes O assalto ao trem pagador e Couro de gato e co-protagonizando Fábula. É curioso que ao se candidatar
ao papel de Negritinho em Barra pesada, Reginaldo Faria inicialmente não o reconheceu como sendo o mesmo
menino que interpretara um dos filhos de Tião Medonho no filme em que ele atuara e seu irmão dirigira em
1962.
625
Os filmes de Ruy Guerra e Leon Hirszman foram aclamados pela crítica e premiados internacionalmente,
recebendo, respectivamente, o Urso de Prata do Festival de Berlin e o Leão de Ouro do Festival de Veneza.
626
Um jornalista chegou a dizer que “ao lado de A queda, Barra pesada parece retomar os caminhos iniciais do
Cinema Novo, em que a realidade era o grande personagem dos filmes” (FARIA, Reginaldo. Ele já foi Lúcio
Flávio. Mas aqui ele é o cineasta Reginaldo Faria. Estado de Minas, Belo Horizonte, 30 nov. 1978. Entrevista a
Ricardo Gomes Leite).
369
momento do enredo, criou uma outra testemunha, um olhar de fora, uma referência a um outro sistema
de relações sociais: é o jornalista que entrevista Querô no final do livro e que tem a última palavra. Os
roteiristas provavelmente não tiveram a intenção clara de substituir o jornalista por operários. Mas, de
fato, deixou de ser o jornalista que confessa a sua impotência diante de Querô, mas se envolve
emocional e é no fundo o próprio autor, e passou a ser operários sem envolvimento emocional. Esse
deslocamento me parece significativo 627 .
Para Bernardet, assim como o mundo marginal seria utilizado para expressar as
relações de opressão da sociedade global na qual o forte subjuga o fraco, os operários também
seriam representados como símbolos dessa mesma opressão. Se o bandido teria maior tradição
no cinema brasileiro, o operário estaria aparecendo insistentemente naquele momento, o que
seria uma amostra de uma nova interpretação da sociedade brasileira, como também dos
cineastas nessa sociedade.
Mas algo que Bernardet não aponta em sua análise é que enquanto no romance de
Plínio Marcos, o personagem Querô é assassinado por policiais em seu esconderijo num
barraco distante, no “cú do mundo”, tendo apenas Pai Bilu, Nega Gina e o jornalista como
testemunhas impotentes; no filme de Reginaldo Faria a execução do garoto ocorre no meio de
uma favela à luz do dia. A violência não surpreende aqueles moradores, que incapazes de
reagir, só podem acender velas ao redor do corpo de Querô e rezar logo apos ele ser
executado.
No final dos anos 60, depois de uma série de filmes que tinham o intelectual de
esquerda como protagonista, ocorreu um processo de identificação dos cineastas com o
marginal, então visto como uma figura de revolta tal qual a frase de Oiticica “Seja Marginal,
seja Herói”. Em filmes como Nenê Bandalho, O Marginal ou Lúcio Flávio, o bandido
permaneceu sendo retratado como vítima de uma sociedade injusta e que tenta se enquadrar à
sociedade, sobretudo através da formação de uma família burguesa. Não sendo permitido se
redimir de seus pecados ou escapar de seu trágico destino, a revolta desse personagem- mártir
contra a injustiça social acabava sendo frequentemente romantizada, embora invariavelmente
terminando com sua morte.
Entretanto, se no contexto de crescente criminalidade e violência urbana no final dos
anos 70, talvez a identificação maior dos cineastas deixasse de ser com a revolta ou o martírio
dos marginais, mas sim com as testemunhas mudas, aqueles que somente podem observar, tão
atônitos quanto conformados, tão revoltados quanto impotentes, sejam operários –
627
BERNARDET, Jean Claude. Barra Pesado, o grito contra a podridão total. Última Hora, São Paulo, 31 ago.
1978.
370
trabalhadores como os cineastas – ou simplesmente os moradores da favela – familiarizados
com violência assim como a classe média também viria a ser.
371
8. A RETOMADA
A retomada do (Plínio Marcos pelo) cinema brasileiro
Depois de Barra pesada e Lúcio Flávio, Reginaldo Faria conquistou ainda mais
sucesso como astro de televisão, atuando nas telenovelas da Rede Globo Dancing days (1978)
e Água viva (1980). Embora tenha chegado a anunciar outros projetos de longas- metragens,
inclusive policiais na linha de seu último filme, sua única investida nesse sentido se deu como
ator, no projeto “autoral” de seu irmão, o igualmente polêmico, “consciente” e policialesco
Pra frente, Brasil (dir. Roberto Farias, 1981). Reginaldo só voltaria à direção de um longametragem com Agüenta, coração (1983), crônica de costumes sobre relacionamentos
maduros, seu último filme até o momento.
Com a crise do cinema brasileiro ao longo da década de 80, Reginaldo Faria, Roberto
Farias e diversos outros profissionais de cinema encontraram na televisão, especialmente na
TV Globo, seu principal mercado de trabalho e diminuíram gradativamente suas participações
em filmes.
628
A década de 80 também não seria uma boa época para o teatro brasileiro e nem para
Plínio Marcos. No final dos anos 70, durante a chamada “abertura”, o autor maldito voltou à
cena com diversas peças, tanto seus grandes sucessos interditados, quanto textos que
permaneciam inéditos por força da censura. Em 1979 escreveu uma peça inspirada no seu
romance publicado três anos antes. Entre o livro Uma reportagem maldita (Querô) e sua
628
Reginaldo participou de praticamente uma telenovela por ano na Rede Globo até os anos 90, quando passou a
se dedicar também ao teatro. Em meio à retomada do cinema brasileiro, tentou viabilizar sua volta à direção de
um filme com a cinebiografia de Leonardo Pareja – bandido de classe média que enganou a polícia diversas
vezes e morreu executado na prisão em 1995, aos 21 anos – num projeto assumidamente influenciado por Lúcio
Flávio e Barra pesada. O filme jamais foi realizado: “De certa forma, Pareja teve coragem de denunciar alguma
coisa corrupta dentro do sistema carcerário — diz Reginaldo. — Abandonei o projeto. A dificuldade era grande
quando se tocava no nome de Pareja. Todos diziam que era um marginal e tinha que morrer, ninguém via o filme
como algo que pudesse contribuir para a sociedade, achavam que iríamos mitificar um marginal” (BIAGGIO,
Jaime. Reginaldo Faria: 13 anos depois, novamente um homem de cinema. O Globo, Rio de Janeiro, 18 ago.
2001).
372
versão teatral, o filme Barra pesada tinha sido lançado. Entretanto, a peça não foi montada na
época, permanecendo inédita até 1993.
629
Entretanto, mesmo alçado à condição de “um dos maiores dramaturgos do teatro
brasileiro”, ao longo dos anos 80 Plínio Marcos viu suas novas peças – que apresentavam
significativas mudanças formais e temáticas – ficarem restrita ao teatro alternativo paulistano.
Se para alguns críticos seus antigos sucessos passaram a ser “clássicos incontestáveis”, outros
afirmavam que essas primeiras obras tinha se tornado datadas e as mais recentes careciam da
força das mais antigas.
Sem marcar presença nos grandes veículos de comunicação, com sua atuação restrita
principalmente as suas palestras-shows, à atividade de “camelô da cultura” e ao tarô, o autor
maldito aos poucos se transformou num persona gem folclórico da metrópole paulistana.
Se Plínio perdeu espaço no panorama do teatro brasileiro ao longo dos anos 80, o
cinema também não se interessou por suas obras no mesmo período. Embora a produção
cinematográfica brasileira desta década ainda não tenha sido estudada com o devido rigor,
algumas de suas tendências, como as comédias jovens cariocas ou o cinema paulista da Vila
Madalena, seguiam caminhos muito distantes do universo pliniano que despertara o interesse
de outros cineastas nos anos anteriores.
630
Ao mesmo tempo, a grave recessão econômica que o país atravessou na chamada
“década perdida” não deixou de atingir o cinema brasileiro. Se a Embrafilme sofreu um
processo de esvaziamento político e financeiro, o cinema popular da Boca do Lixo, depois de
enveredar pelo sexo explícito, também se enfraqueceu com o aniquilamento desse mercado,
629
Como o filme de Reginaldo Faria, a peça é mais concentrada na derrocada final de Querô, com seu passado
sendo mostrado através de inserções (ou flashbacks). Além de modificações na estrutura narrativa e em alguns
personagens, uma das principais mudanças na versão para os palcos foi a presença mais vigorosa do caráter
religioso-simbólico. O nome de Querô, de Jerônimo da Piedade passou a ser Jerônimo da Paixão, com sua vida
seguindo um martírio como o de Jesus Cristo – algo que o próprio Plínio Marcos levou aos palcos em 1981 com
a peça Jesus-homem. A inserção de canções também foi uma influência dos musicais que Plínio vinha
escrevendo e de sua participação em shows e discos ao longo dos anos 70. Por fim, um detalhe interessante é que
na peça de 1979 a droga vendida pelo colega que Querô encontra e depois mata não é mais maconha, mas
cocaína.
630
Assim como ocorrera dez anos antes, na passagem dos anos 70 para 80 ocorreu um “surto juvenil” no cinema
e televisão. Mesmo tendo exemplares produzidos na Boca do Lixo, essa produção que abordava o universo do
jovem e mantinha estreita ligação coma música e a cultura pop encontrou seus resultados mais bem sucedidos
nos filmes cariocas de Antonio Calmon e Lael Rodrigues na primeira metade dos anos 80, assim como na série
Armação ilimitada, de Guel Arraes, levada ao ar pela TV Globo. Na mesma época em São Paulo, diversos
cineastas egressos da ECA-USP se aglutinaram em torno de produtoras localizadas especialmente no bairro Vila
Madalena e consolidaram uma produção sintonizada com um “cinema pós-moderno”, restabelecendo um diálogo
com o cinema de gêneros hollywoodiano e reavaliando questões como “identidade nacional” ou “cultura
popular”. Na exibição de A dama do Cine Shangai (dir. Guilherme de Almeida Prado) no Festival de Gramado
de 1988, a respeito da fotografia de Cláudio Portioli, o jornalista da Folha de São Paulo Maurício Stycer cunhou
a expressão “néon realista”, que passou a ser utilizada também para denominar essa produção paulista.
373
entre outros fatores, pelo advento do videocassete e pela concorrência com o filme pornô
estrangeiro.
Não apenas a produção de filmes brasileiros, mas o mercado cinematográfico no país
de um modo geral passou por uma grave crise nos anos 80, com a enorme redução do número
de salas de cinema no Brasil, especialmente no interior do país, e pelo crescimento maciço do
mercado de vídeo doméstico.
631
Entretanto, mesmo distante da força das bilheterias da década de 70, ainda assim o
cinema brasileiro conseguiu manter um volume relativamente constante de produção,
alcançando algumas grandes bilheterias e repercussão com alguns filmes. Além disso, nos
anos 80 uma nova geração de jovens cineastas mostrou sinais de renovação estética numa
vigorosa produção de curtas- metragens.
Por outro lado, uma grave crise estrutural já vinha se esboçando nos últimos anos da
década, assim como a popularização de tendências neo- liberais no país e no meio
cinematográfico.
632
Mas mesmo assim, uma ruptura de dimensões até hoje não avaliadas
totalmente ocorreu com o desmantelamento dos órgãos federais de cultura pelo presidente
Fernando Collor de Melo, através da reforma administrativa de 16 de março de 1990. As
conseqüências do fechamento da Embrafilme e da Fundação do Cinema Brasileiro
representaram não somente o declínio do volume de produção – que nem foi tão acentuado
quanto se alarde até hoje –, mas, sobretudo, uma desmobilização dos profissionais do meio e
um enfraquecimento das relações entre os filmes brasileiros e seu público, deixando a
produção audiovisual brasileira ainda mais identificada quase que exclusivamente à produção
televisiva. Com a perda de referências, sobretudo para uma nova geração de espectadores, o
público se “desacostumou” com o cinema brasileiro que voltou a se tornar refém de antigos
preconceitos como o de “baixo nível” moral e técnico.
631
Em menos de dez anos, o número de salas no país caiu para menos da metade, indo de 3.276 em 1975 (auge
da década de 70) para 1.372 em 1986 (pior momento nos anos 80) (BRASIL. Ministério da Cultura. Secretaria
do Audiovisual. Cinema Brasileiro: um balanço dos 5 anos da retomada do cinema nacional, Brasília, 1999.
Pesquisa de Helena Salem).
632
Em reportagem do jornal O Globo de fevereiro de 1989, intitulada A hora de virar a mesa: sem o generoso
dinheiro do Estado, os cineastas descobrem que estão vivos e vão à luta, diversos cineastas falavam sobre suas
relações mais independentes com o Es tado em meio à crise do cinema brasileiro. Dodô Brandão reclamava de
dificuldades, mas se orgulhava de nunca ter pedido dinheiro à Embrafilme. Arnaldo Jabor dizia que o país estava
passando por um novo momento de sua produção cultural, feita em “bases mais reais, modernas”. Dizia o
cineasta: “Neste caso, graças a Deus que o Estado brasileiro, com a Embrafilme, faliu”. Ivan Cardoso, gozando
dos lucros de As sete vampiras (1986) afirmava que o cinema era um ótimo negócio e que o problema estava
com os filmes de arte. É muito significativo desse momento que naquela época o diretor Antonio Calmon
passasse a trabalhar exclusivamente na TV, enquanto Flávio Tambellini abandonasse a carreira de economista
para se tornar produtor de cinema, como fora seu pai.
374
O filme Barrela, adaptação da peça homônima de Plínio Marcos, é uma obra
significativa da encruzilhada que o cinema brasileiro vivia antes ainda da “canetada maldita”
de Collor. Em 1989, sem conseguir viabilizar a produção de Casa grande, senzala & cia.
depois da morte do cineasta Joaquim Pedro de Andrade, que encabeçava o grandioso projeto
de adaptação do livro de Gilberto Freyre, o produtor Marcelo França decidiu que sua saída era
fazer um filme mais barato possível. Na época dividindo apartamento com o montador Marco
Antônio Cury, ambos decidiram levar às telas a peça de Plínio Marcos.
Além do prestígio de clássico do teatro e da fama de peça maldita – proibida por mais
de vinte anos e que passara a ser encenada livremente somente no começo dos anos 80 –,
Barrela era, acima de tudo, uma peça de cenário único e que necessitava de no máximo onze
atores. Ou seja, um texto ideal para uma adaptação o mais barata possível. Assim como
ocorreu com Plínio Marcos ao escrever Dois perdidos numa noite suja em 1966, eram
motivações de ordem econômica que encaminhavam o filme para a estrutura narrativa que
consagrou o teatro pliniano.
Uma reportagem escrita na época de realização de Barrela afirmou que Marcelo
França teria reinaugurado a cooperativa no cinema brasileiro, uma vez que parte do
orçamento de Crz$ 700 mil foi pago através de doze cotas divididas entre os atores e
membros da equipe. Eram produtores associados de Barrela o diretor de fotografia Antonio
Penido, o diretor de arte Marcos Flaksman, além de todo o elenco principal do filme: Claudio
Mamberti, Marcos Palmeira, Paulo Cesar Pereio, Chico Diaz, Cosme dos Santos e Marcos
Palmeira.
633
Significativamente, o filme também contou com verba da Embrafilme do último lote
de financiamentos concedidos pela empresa antes de seu fechamento.
634
Entre a idéia de filmar Barrela e a cópia final, se passaram apenas seis meses, sendo
somente quatorze dias de filmagem. Finalizado em 1990, o filme de estréia de Marco Antonio
Cury participou do 27º Festival de Gramado, no qual o então novato Marcos Palmeira recebeu
o Kikito de melhor ator, enquanto o ator Claudio Mamberti recebeu um prêmio especial no 2º
Festival de Cinema de Natal e no Festival de Havana.
633
635
MOCARZEL, Evaldo. França tenta vender Plínio Marcos em Berlim. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14
jan. 1990.
634
Produzido pela Nádia Filmes de Marcelo França, o filme teve co-produção ainda do investidor Armando
Conde, do Banco Nacional, da produtora Blec-Berd Produções Artísticas e da Cinédia – que cedeu os estúdios e
equipamentos de iluminação.
635
Cláudio Mamberti recebeu o Prêmio Coral de Actuación Masculina (ex-aequo) empatado com o ator
mexicano Eduardo López Rojas, no 13º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, em 1991.
375
Marcelo França tentou vender Barrela para o exterior, mas o filme não emplacou. Para
piorar, além do golpe de misericódia dado por Fernando Collor no cinema brasileiro naquele
ano, a única cópia do filme (legendada em inglês) foi roubada. Desse modo, como tantos
outros filmes brasileiros que conseguiram ser realizados nos primeiros anos da década de 90,
Barrela não foi lançado comercialmente, permanecendo na prateleira até que o panorama do
cinema brasileiro mudasse.
Depois da crise do cinema brasileiro atingir seu ponto mais agudo em 1992, algumas
iniciativas governamentais mais firmes foram tomadas para tentar contornar a situação, como
o aprimoramento de uma legislação que possibilitava o investimento em cinema por empresas
privadas e estatais a partir do instrumento de renúncia fiscal. O Governo Federal, já
encabeçado pelo presidente Itamar Franco, atuou ainda mais diretamente com a criação do
significativamente chamado Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro. Em dois editais lançados
em 1994, a dotação orçamentária da extinta Embrafilme foi distribuída entre 24 filmes que
viriam a movimentar novamente a produção cinematográfica nacional.
636
Naquele mesmo ano, o filme Lamarca (dir. Sérgio Rezende), foi recebido como um
sinal de mudança de ventos, tanto pelos elogios recebidos (inclusive por sua qualidade
técnica) quanto por ter conseguido uma bilheteria então considerada expressiva de 123.683
espectadores. No mesmo ano, o filme Menino maluquinho, a aventura (dir. Helvécio Ratton)
alcançou um público ainda maior, chegando a 397.023 espectadores.
Nesse sentido, uma outra iniciativa importante, pois não investia somente na produção, foi a
criação da distribuidora RioFilme pelo governo do município do Rio de Janeiro em 1991,
responsável justamente pelo lançamento de Lamarca e Menino maluquinho, a aventura.
Entretanto, em 1994 o então diretor da empresa, Paulo Sérgio de Almeida, reclamava que não
tinha títulos suficientes para montar um catálogo de peso. Desse modo, uma das estratégias
636
Depois da crise, um cineasta como Arnaldo Jabor defendeu veementemente a nova estrutura, como num
artigo publicado na Folha de São Paulo em junho de 1993: “Nos anos 90 Collor chegou e exterminou o que
sobrava da recessão. Há apenas três anos o cinema no Brasil é apenas uma peregrinação por gabinetes, na
tentativa de criar uma nova legislação que não dependa do Estado. Fizemos a lei do audiovisual, aprovada pelo
Congresso. É a nova Carta Magna do Cinema, moderna, sem dependência do Estado. É a única solução”. Em sua
coluna do jornal O Globo, em 13 de agosto de 1996, continuava afirmando que “a nova lei do audiovisual pode
ser uma revolução cultural no país”. Jabor ainda tentou voltar ao cinema, mas seu projeto não foi aprovado em
nenhum dos dois editais do Prêmio Resgate e hoje continua se dedicando ao trabalho de jornalista e articulista de
TV.
376
foi distribuir alguns dos muitos filmes realizados nos difíceis anos do começo da década que
permaneciam esquecidos nas prateleiras.
637
Foi justamente através da distribuição da RioFilme que Barrela foi finalmente lançado
comercialmente no Rio e em São Paulo, com uma cópia em cada cidade, agora acompanhado
do subtítulo: Escola de crimes. Apesar das críticas ao seu caráter teatral, os cronistas
cinematográficos se mostraram complacentes com o filme, freqüentemente apontando a
importância de seu lançamento naquele momento em que o cinema brasileiro tentava sair da
crise. 638
No ano seguinte, em 1995, o filme Carlota Joaquina, princesa do Brasil (dir. Carla
Camurati) estabeleceu um marco ao atingir mais de um milhão de espectadores, resultando
também alcançado por O quatrilho (dir. Fábio Barreto) no ano seguinte, filme que ainda
provocou uma onda patriótica ao ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
Apesar de uma maior ocupação do mercado ser verificada entre 1994 e 1997, o
incremento maior foi no número de filmes lançados. Depois de anos de crise, passou a se
viver uma euforia com o que já era chamada de “retomada do cinema brasileiro”. Esse
otimismo fez com que diversos diretores voltassem à atividade, incluindo aqueles que não
tinham conseguido receber prêmios ou vencer concursos promovidos pelo governo. Antonio
Carlos Fontoura se envolveu com a produção de O cangaceiro (dir. Aníbal Massaini Neto,
1997) e dirigiu o fracassado Uma aventura do Zico (1998). Em 1996, Emílio Fontana também
tentou voltar ao cinema, do qual estava afastado desde a década de 80 (como Fontoura), com
uma adaptação da peça Quando as máquinas param, escrita por Plínio Marcos em 1967.
Entretanto, por não conseguir captar os recursos através da legislação, o filme nunca foi
realizado.
637
639
Em 1994 Luiz Felipe Miranda listou 51 filmes produzidos desde 1990 que aguardavam lançamento comercial
nas salas de ciema, entre eles Barrela (ANGRIMANI, Danilo. Falta exibidor para 51 filmes nacionais. Diário do
Grande ABC, Santo André, 14 jun 1994).
638
Além de Barrela, diversos outros filmes realizados anos antes chegaram ao circuito exibidor tardiamente,
como O corpo (dir. José Antônio Garcia, 1991-1994) ou Beijo 2348/72 (dir. Walter Rogério, 1991-1994) –
ambos também do último lote de financiamento da Embrafilme, como o filme de Marco Antonio Cury.
Praticamente todos eles foram totalmente rejeitados pelo público e crítico pela evidente defasagem em relação a
um novo padrão que veio a se estabelecer. É significativa a avaliação do “crítico de cinema” Tom Leão sobre o
filme O circo das qualidades humanas (dir. Jorge Moreno, Milton Alencar Jr., Paulo Augusto Gomes e Geraldo
Veloso, 2000-2004) ao dizer que tudo nele tudo soava antiquado, “como naqueles filmes que passam de
madrugada no Canal Brasil”. Por outro lado, o mercado de vídeo também foi uma alternativa para esses filmes
esquecidos, e Barrela foi lançado nesse formato ainda em novembro de 1994 pela Sagres.
639
Na material de apresentação do filme estava anunciado seu perfil: “Este projeto não pretende em absoluto
incluir um elenco de nomes conhecidos, muito menos de estrelas. Segue a filosofia da produção independente
norte-americana. Este filme não procurará o mercado brasileiro, mas sim o mercado externo para sua
377
O cineasta Neville D’Almeida também foi outro que tentou voltar aos cinemas anos
depois de seu último filme ter sido lançado (Matou a família e foi ao cinema, 1991). Seu
projeto O testamento da rainha louca tinha sido rejeitado no Prêmio Resgate em 1994 e ficara
de lado. Em 1995, o cineasta deu início à pré-produção de seu novo filme: uma adaptação da
peça Navalha na carne. 640
Depois de quase dois anos captando recursos através das leis de incentivo, em janeiro
de 1997 finalmente começaram as filmagens de Navalha na carne. De Barrela, produção de
ínfimos US$ 20 mil, Plínio Marcos finalmente voltava ao cinema na década de 90 num filme
com orçamento de US$ 2,5 milhões. Chegava-se ao auge de um processo: 1997 foi o ano
recorde de captação de recursos através da lei do audiovisual, com mais de 75 milhões de
reais sendo investidos no cinema brasileiro naquele ano.
641
A produção do filme de Neville D’Almeida foi cercada de expectativas,
principalmente pelo retorno ao cinema da polêmica estrela Vera Fisher no papel de uma
prostituta, provocando furor semelhante ao que cercou a decisão de Tônia Carrero interpretar
o mesmo papel na estréia da peça no Rio de Janeiro em 1967.
642
Além disso, no papel do
cafetão Vado estava uma estrela internacional, o ator cubano Jorge Perugorria, protagonista
comercialização. Deverá terminar pago e deixando ainda, recursos para cobrir as despesas para negociações no
exterior”. Seu orçamento em 1997 era de US$ 841.000.
640
Neville D’Almeida, nascido em Belo Horizonte em 1941, fez parte da geração do Cinema Marginal e seu
primeiro longa-metragem, Jardim de Guerra (1968) foi considerado uma obra importante desse período. No
início dos anos 70, realizou filmes experimentais em d iferentes partes do mundo. Voltando ao Brasil, conseguiu
financiamento da Embrafilme para produzir A dama da lotação (1975), com produção de Nelson Pereira dos
Santos. O sucesso deste filme fez com que seguisse no caminho de adaptações de Nelson Rodrigues (Os sete
gatinhos, 1977) ou de filmes que tinham a nudez como forte atrativo (Rio Babilônia, 1982). Seu último filme
tinha sido Matou a família e foi ao cinema, remake do “clássico” marginal de Julio Bressane. Esse longametragem recebeu em 1991 a “mais estrondosa vaia” da história do Festival de Brasília, acusado de entrar “pela
janela” na competição e pelo fato da atriz principal do filme, Cláudia Raia, ter sido a estrela da campanha
presidencial de Fernando Collor de Melo.
641
Em 1996 esse valor tinha sido de R$ 51.033.000 e em 1998 foi de R$ 35.256.000. O total captado por
mecanismos de incentivo em 1997 só foi ligeiramente superado em 2004, mas agregando os valores divididos
entre os captados através de diversas outras leis e instrumentos além da lei do Audiovisual que, individualmente,
jamais repetiu o pico de 1997. É importante lembrar que depois de 1997 explodiram os escândalos envolvendo
irregularidades na produção de O guarani (dir. Norma Bengell, 1996) e Chatô, o rei do Brasil (dir. Guilherme
Fontes), ainda “em finalização”.
642
Ex-miss Brasil e estrela de pornochanchadas no começo de sua carreira, Vera Fischer se tornara estrela das
telenovelas da Rede Globo e sua turbulenta vida pessoal conquistava o público tanto quanto suas personagens.
Longe das telas desde Doida demais (dir. Sérgio Rezende, 1989) e Forever (dir. Walter Hugo Khouri,1991),
ambos filmes que exploravam sua nudez, a atriz foi contratada por um altíssimo cachê de 100 mil dólares e
participação nas bilheterias. Pouco antes do lançamento de Navalha na carne, a atriz saíra de uma clínica de
reabilitação de drogas, o que gerou ainda mais expectativas para o lançamento do filme. Prova da permanência
de sua beleza e fama, foi o fato de que em 2000, aos 48 anos, a atriz ter novamente sido convidada para posar
nua para a revista Playboy.
378
do internacionalmente premiado Morango e chocolate (Fresa y chocolate, Cuba, 1993, dir.
Tomás Gutierrez Alea e Juan Carlos Tabio), lançado no Brasil em 1995.
643
Neville D’Almeida, diretor de A dama da lotação (1978), uma das maiores bilheterias
da história do cinema brasileiro, anunciava que com Navalha na carne seria novamente
“consagrado pelo público”, mesmo sem abrir mão da originalidade e do experimentalismo.
A nova adaptação cinematográfica da mais famosa peça de Plínio Marcos chegou às
salas de cinema do Brasil inteiro no dia 21 de novembro de 1997, com mais de 100 cópias
distribuídas por Severiano Ribeiro no maior lançamento nacional do ano, acompanhado de
intensa campanha de promoção em diversas capitais brasileiras capitaneada pela estrela Vera
Fischer.
Entretanto, o filme foi mal recebido pela crítica – alguns adjetivos foram “risível”,
“ridículo”, “desastrado” ou “inacreditável” – e também pelo público. Em sua primeira semana
de exibição, Navalha na carne alcançou uma decepcionante bilheteria de 89.536
espectadores. O número de salas foi bastante reduzido nas semanas seguintes e o filme
finalizou sua carreira com 170.929 espectadores, em 5º lugar no ranking de filmes nacionais
de 1997. Apesar do número bem abaixo das expectativas, até 1998 A navalha na carne era o
12º filme de maior bilheteria dos anos 90. Quatro anos depois passou para o 38º lugar.
Em seu filme, Neville respeitou fielmente o texto de Plínio Marcos, dialogou com a
versão de Chediak criando também uma “introdução”, mas fez diversas modificações (cf.
FREIRE, 2002; LUNA, 2005).
644
Além da atualização da história e da transferência da trama para um Rio de Janeiro de
cartão-postal, na adaptação de Navalha na carne de 1997 a eclética trilha musical assumia
grande importância, no que seria, nas palavras do diretor, uma “ópera-samba”. Mais o
principal diferencial era o fato do filme assumidamente se propor a ficar num meio caminho
entre o realismo e o surrealismo, com a inserção de estranhas “seqüências oníricas” no meio
da história.
643
645
Morango e Chocolate – 1995 e Guantanamera em 1996. Graças ao ator, o filme já teria sido vendido para
Espanha e o pagamento pelos direitos de exibição da obra teriam ajudado no pagamento do chachê. Diversos
filmes tem atores e personagens estrangeiros (personagens estrangeiros surgem em diversas obras, como O
Quatrilho, Como nascem os anjos, Jenipapo, Baile Perfumado, O que é isso companheiro, Amélia, For All e
Bossa Nova. . Deve-se lembrar ainda da valorização da moeda frente ao dólar.
644
Em 1997, diversas reportagens comparam os dois filmes e adaptação de Chediak foi oportunamente lançada
em vídeo em fevereiro de 1998, na mesma semana que o filme de Neville também chegava às locadoras.
645
Assim como a frustrada adaptação de Boca de Ouro, de Walter Avancini, anunciado como um enorme
sucesso ao ser a primeira investida do consgrado diretor de televisão no cinema, juntando estrelas da Tv como
Tarcísio Meira, a nudez da estonteante Luma de Oliveira e a atualização da marinalidade da peça (o bicheiro
379
Alguns poucos críticos elogiaram o filme por ser “diferente” da produção bemcomportada e pelo aproveitamento do “mau gosto” como elemento fundamentalmente autoral,
num diálogo que pode ser estabelecido com o Cinema Marginal e, obviamente, com A rainha
diaba. 646
Mas o desempenho frustrante de Navalha na carne mostrava que o conceito de
“cinema popular” tinha mudado, assim como o perfil do público dos filmes. A nudez de Vera
Fisher não era mais um atrativo essencial para lotar as salas de cinema, cada vez mais restritas
aos shopping-centers, com ingressos caros e um público elitizado.
Nesse sentido, apesar de não deixar de investir na qualidade técnica, Navalha na carne
ia contra a corrente da produção cinematográfica brasileira pautada pelo recato e pelo bomgosto. Bastante significativo foi o fato da pré-estréia do filme de Neville no Rio de Janeiro ter
ocorrido numa enorme “sala de rua” da Cinelândia: o Cinema Palácio “cheirando a mofo”,
segundo uma repórter.
647
Depois do otimismo dos primeiros anos da “retomada”, sobretudo com as grandes
produções, diversos fracassos revelaram o tamanho real do mer