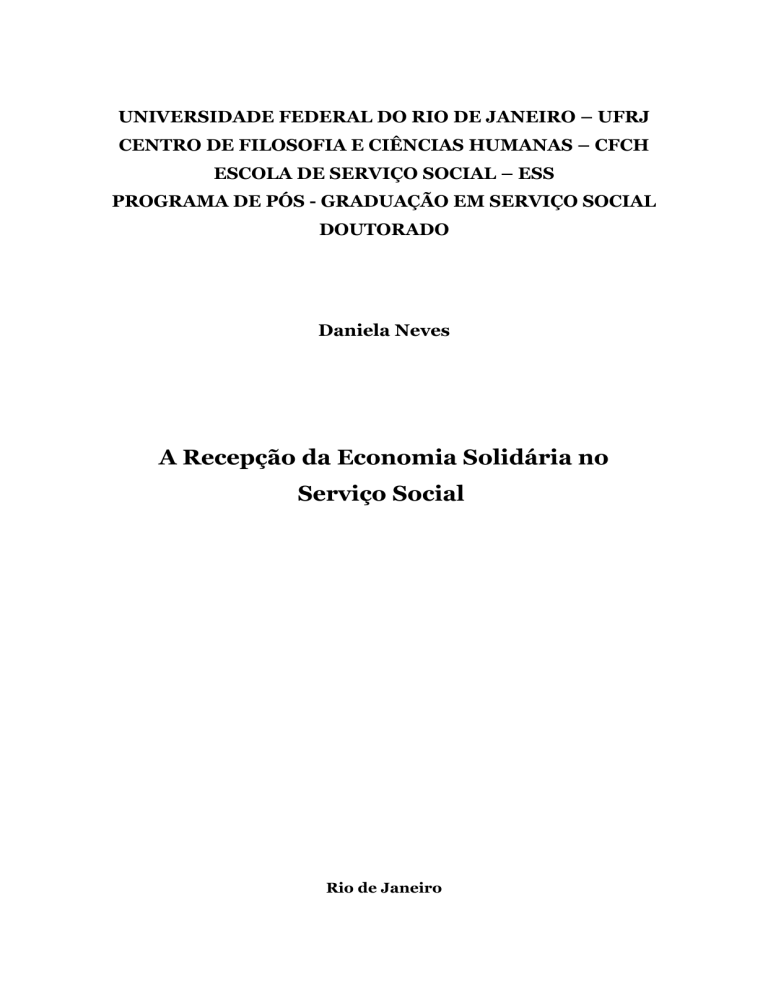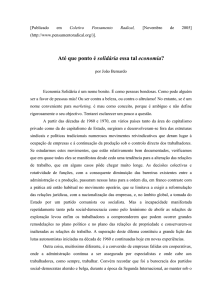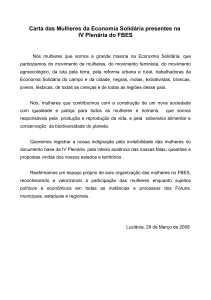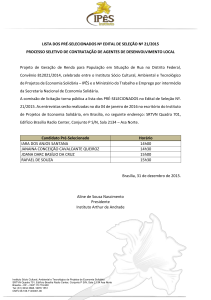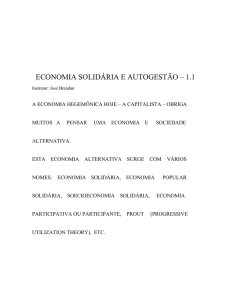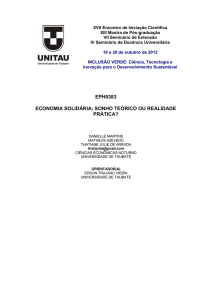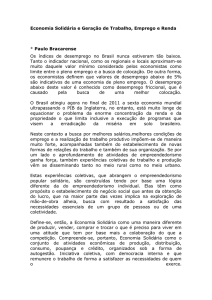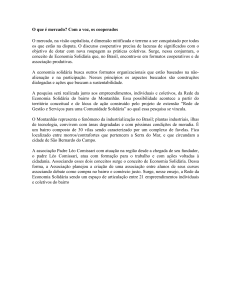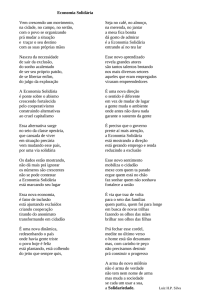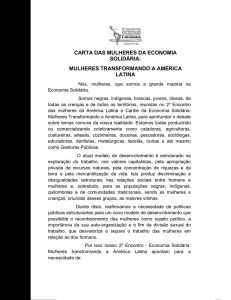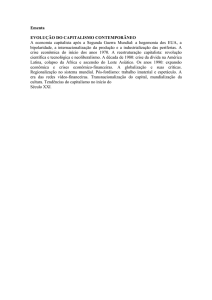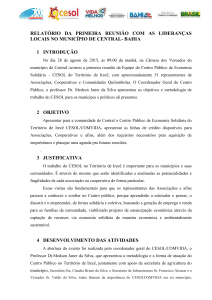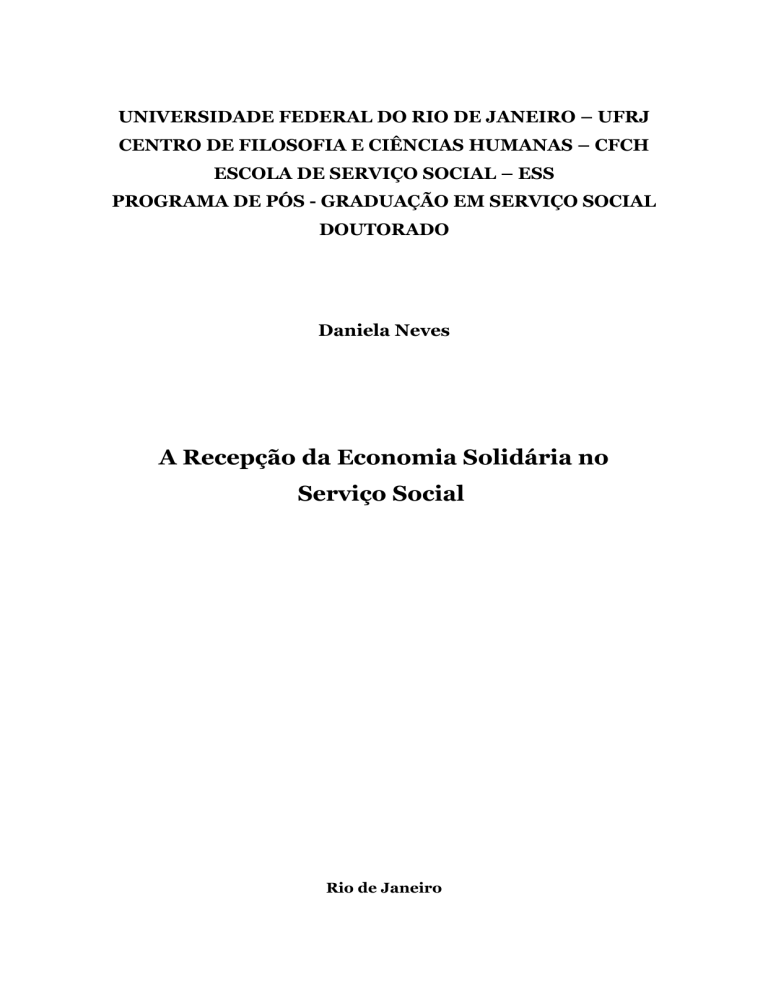
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFCH
ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL – ESS
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
DOUTORADO
Daniela Neves
A Recepção da Economia Solidária no
Serviço Social
Rio de Janeiro
2010
Daniela Neves
A Recepção da Economia Solidária no
Serviço Social
Tese
de
Doutorado
apresentada
ao
Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social da Escola de Serviço Social da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
como requisito parcial para a obtenção do
título de Doutor em Serviço Social
Orientador: Prof. Doutor José Paulo Netto
Rio de Janeiro
2
2010
A Recepção da Economia Solidária no
Serviço Social
Daniela Neves
Tese de Doutoramento submetida à comissão julgadora nomeada pelo Programa de PósGraduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
parte integrante dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor.
Aprovada por:
________________________________________
Orientador: Prof. Dr. José Paulo Netto
________________________________________
Prof.ª. Dra. Cleier Marconsin
________________________________________
Prof.ª. Dra. Elaine Behring
________________________________________
Prof.ª. Dra. Cleusa Santos
________________________________________
Prof. Dr. Mauro Luis Iasi
Rio de Janeiro
2010
3
N518
Neves, Daniela.
A recepção da economia solidária no serviço social / Daniela Neves. Rio de
Janeiro: UFRJ, 2010.
211f.
Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de
Serviço Social / Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, 2010.
Orientador: José Paulo Netto.
1. Serviço social - Brasil. 2. Economia – Brasil – Aspectos
Sociais. 3. Política social – Brasil. I. Netto, José Paulo.
II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Serviço
Social.
CDD: 361.981
4
Aos trabalhadores da economia solidária,
por se aventurarem nesta
panaceia contemporânea.
A Adrianyce de Sousa,
pelo nosso fim de ano (2009).
5
AGRADECIMENTOS
Aos daqueles que eu sou, daqueles de onde vim, daqueles que sei onde estão, a Grande
Canindé;
A Adrianyce de Sousa, por toda a colaboração que fizemos ao longo deste doutorado;
A minha família cearense, meus amores e minha ida e volta;
A Letícia Batista, meu guia genial, pela sua força e aconchego, com palavras precisas;
Ao Fernando Velloso, o irmão que este doutorado me deu, pela recepção que tive na sua
vida;
A Marlise Vinagre, que me levou ao Rio que faz parte de mim;
A Lúcia Soares e Bruno, que me receberam de braços abertos sob a Guanabara;
A Marylúcia Mesquista, pela eloquência e carinho que traz a minha vida;
A Thaís Batista, aprendi que é importante dizer as verdades sorrindo;
Ao Rodrigo Marcelino, amigo que me instiga, me instrui, e me dá carinho;
Ao Leandro, o padrinho que eu escolhi e que sempre compartilhou com os debates da
economia solidária.
A Ivanete e Elaine, pelas maravilhosas marchinhas de carnaval, de aniversário, de verão....,
que tivemos no Rio.
A Ranieri, pelo carinho que nos ofertou no doutorado;
Ao Antonio, meu amigo livreiro, que me trouxe carinho e livros;
Aos novos amores, uma família mesmo, em processo de construção: Arnaldo, Érica, Estela,
Isabel, Juci, Jussara, Lucinha, Rose e Thiago.
A Cleir Marconsin, pela solidariedade dos legítimos revolucionários;
A Esther Lemos, pelo carinho que sempre compartilhou nos caminhas dessa pós;
A Leila Escorsim, pela amizade e carinho construídas ao longo deste doutorado, mas
também pela acolhida e aconchego nesta reta final;
A Luisa e Eurico, pela recepção, amizade e aconchego diferenciados em terras portuguesas;
6
A Juca e Martha, pela gentileza e pelo aprendizado que compartilharam conosco em
Portugal;
A Alcina e Rosa, que além de professoras, foram as nossas queridas amigas portuguesas;
A Anna Maria Dottavi, Paola e Laura, que foram grandes amizades conquistadas no curso
deste doutorado, pela acolhida e por nos revelar uma outra via romana.
Ao Alfredo, um italiano de alma brasileira, com quem aprendi um pouco mais sobre Paulo
Freire, e que foi nosso grande amigo e interlocutor na Itália.
Aos amigos e professores Carlos Montaño, Cleusa Santos e Yolanda Guerra, que nos
propiciaram bons debates no doutorado e foram sempre carinhosos e incentivadores deste
trabalho.
A Adriane Tomazelli, Fernando e Belinha, pela solidariedade e carinho imensuráveis, uma
linda família que aprendi a amar, e ainda por toda a torcida nesta reta final;
A Rosa Stein e Marlene Teixeira, pela acolhida e carinho nessa nova etapa da minha vida;
Aos professores e colegas do Programa de Pós-Graduação da Escola de Serviço Social da
UFRJ, pelos debates que realizamos nessa trajetória;
Aos queridos funcionários da Escola de Serviço Social da UFRJ, especialmente, Luiza,
Sérgio, Fábio e Tião, amigos delicados, funcionários atenciosos e socorristas das horas
mais improváveis;
Ao meu orientador, amigo e mestre José Paulo Netto, em toda a nossa caminhada sempre
se comportou como um verdadeiro professor, foi preciso e presente, duro quando tinha de
ser, mas sempre solidário em compartilhar muito do seu rico conhecimento, pelos
ensinamentos que vão além deste doutorado, pelo comunismo e otimismo que me
inspiram, mas, sobretudo, pela generosidade e carinho da nossa amizade;
Ao professores Cleier Marconsin, Cleusa Santos, Elaine Behring e Mauro Iasi, por
aceitarem prontamente o convite de fazer parte dessa banca e compartilhar dos seus
conhecimentos;
A CAPES, pela bolsa de doutorado no país durante os 04 anos do meu curso, e pelo
investimento através do PDEE/sanduíche no exterior.
7
Resumo
Esta tese apresenta uma análise da produção teórica do Serviço Social sobre a economia solidária
no Brasil. A partir da análise de temas centrais realizamos um balanço dos debates importantes na
produção teórica do Serviço Social, como a “problemática da democracia”, da política social, da
questão social e do projeto profissional de ruptura com o conservadorismo, que, na nossa
perspectiva, se constituem em canais para circulação e produção de concepções ídeo-políticas que
dão suporte ao conjunto de valores econômicos, políticos e culturais que animam a relação da
economia solidária com o Serviço Social. O núcleo articulador da pesquisa – que se utiliza tanto,
dos fundamentos ídeo-políticos e teóricos, que vão dos socialistas utópicos ao socialismo de Singer,
como uma radiografia dos chamados “empreendimentos de economia solidária” que vem sendo
desenvolvidos no Brasil – indica que a produção teórica da profissão reflete o conjunto heterogêneo
das perspectivas ídeo-políticas que concorrem no debate da economia solidária no país, recheadas
de conservadorismo e anticapitalismo romântico.
8
Abstract
This thesis presents an analysis of theoretical production of Social Work about the solidarity
economy in Brazil. From the analysis of central issues we conducted a review of important debates
in theoretical work of Social Work, as the "problem of democracy, social policy relating to social
and professional project to break with conservatism, which in our view if channels are in circulation
and production of ideo-political ideas that support the set of economic values, politics and culture
that animate the relationship of economic solidarity with the Social Work. The core promoter of
research - which uses both of the grounds of ideologies and political theorists, ranging from the
utopian socialists socialism Singer, as a snapshot of the so-called "developments of the solidarity
economy" that has been developed in Brazil - indicates that the theoretical production of the
profession reflects the heterogeneous set of ideo-political perspectives that compete in the
discussion of the solidarity economy in the country, filled with romantic anti-capitalism and
conservatism.
9
Riassunto
Questa tesi presenta un'analisi della produzione teorica di Servizio Sociale per l'economia di
solidarietà in Brasile. Dalla analisi delle questioni centrali che abbiamo effettuato una revisione dei
dibattiti importanti nel lavoro teorico di Servizi Sociali, come il problema della democrazia, della
politica sociale in materia di progetti sociali e professionali a rompere con il conservatorismo, che a
nostro avviso se i canali sono in circolazione e la produzione di ideo-idee politiche che sostengono
l'insieme dei valori economici, politici e culturali che animano il rapporto di solidarietà economica
con il Servizio Sociale. Il promotore principale della ricerca - che utilizza entrambi i motivi di
ideologie e teorici della politica, che vanno dal socialismo utopistico socialisti Singer, come
un'istantanea del cosiddetto "sviluppo dell'economia solidale", che è stato sviluppato in Brasile indica che il produzione teorica della professione riflette l'insieme eterogeneo di ideo-prospettive
politiche che competono in discussione l'economia di solidarietà nel paese, pieno di romanticismo
anti-capitalismo e il conservatorismo
10
SUMÁRIO
LISTA DE SIGLAS...............................................................................................................13
INTRODUÇÃO.....................................................................................................................15
CAPÍTULO I: Serviço Social Contemporâneo: balanço de alguns debates...................20
1.1. O debate da democracia................................................................................................21
1.2. O debate da política social............................................................................................37
1.2.1 Origem da política social e sua vinculação orgânica à questão social..............38
1.2.2. O keynesianismo/fordismo e a política social.....................................................41
1.2.3. Política Social no neoliberalismo.........................................................................46
1.3. O debate da Questão Social...........................................................................................50
1.3.1 A origem da questão social....................................................................................51
1.3.2. A questão social no capitalismo contemporâneo e seu enfrentamento............60
1.3.3. Elementos para a crítica da suposta “nova” questão social.............................64
1.4. O Serviço Social e a construção do Projeto Ético-político profissional....................66
1.4.1. O projeto profissional de ruptura com o Serviço Social tradicional...............66
1.4.2. O Serviço Social brasileiro e sua aproximação ao marxismo...........................69
1.4.3. Serviço Social e o Projeto Ético-Político.............................................................71
1.4.4. Temas conexos e desafios para o Serviço Social na cena contemporânea.......74
CAPÍTULO II: Economia Solidária e Capitalismo...........................................................81
2.1. Características contemporâneas do capitalismo.........................................................82
2.2. Fundamentos da economia solidária: dos socialistas utópicos a Paul Singer..........97
2.2.1. Saint-Simon...........................................................................................................99
2.2.2. Charles Fourier...................................................................................................104
2.2.3. Robert Owen.......................................................................................................105
2.2.4. Pierre-Joseph Proudhon.....................................................................................109
2.3. Ideias fundamentais da economia solidária...............................................................113
2.4. A economia solidária no Brasil...................................................................................123
11
CAPÍTULO III: Serviço Social e Economia Solidária....................................................136
3.1 A recepção da economia solidária no Serviço Social.................................................137
3.2. O universo teórico e político comum ao Serviço Social e à economia solidária.....157
3.3. Conservadorismo, anticapitalismo romântico e Serviço Social...............................170
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................ 191
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA...................................................................................198
ANEXOS..............................................................................................................................208
12
LISTA DE SIGLAS
ADS – Agência de Desenvolvimento Solidário;
ANTEAG – Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas Autogestionárias e de Participação
Acionária;
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;
CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais;
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;
CNES – Conselho Nacional de Economia Solidária;
CONAES – Conferência Nacional de Economia Solidária;
CUT – Central Única dos Trabalhadores;
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos;
EES – Empreendimentos de Economia Solidária;
ENPESS – Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social;
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador
FASE – Fundação de Órgãos para a Assistência Social e Educação;
FBES – Fórum Brasileiro de Economia Solidária;
FED – Federal Reserve Bank;
FETRABALHO – Federações das Cooperativas de Trabalho;
FMI – Fundo Monetário Internacional;
FSM – Fórum Social Mundial;
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
ITCPs – Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares;
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego;
ONU – Organização das Nações Unidas;
OIT – Organização Internacional do Trabalho;
PEA – População Economicamente Ativa;
PME – Pesquisa Mensal de Emprego;
PPA – Plano Pluri-Anual;
PT – Partido dos Trabalhadores;
13
SEAD – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados;
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
SENAES – Secretaria Nacional de Economia Solidária;
SIES – Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária;
UNITRABALHO – Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Mundo do Trabalho.
14
INTRODUÇÃO
Remetendo-nos ao processo de construção da nossa pesquisa, que tem por objeto a recepção
que a economia solidária vem tendo no Serviço Social no marco das transformações societárias do
capitalismo contemporâneo, uma pergunta se coloca de imediato: qual a relação e a importância de
um estudo com este foco para o Serviço Social. Dentre as argumentações e respostas possíveis a
este questionamento, indicaremos o que nos parece ser interessante de se explicitar no interior de
um Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, e que podem ser pontuadas a partir de dois
eixos centrais: um que se localiza no debate teórico-acadêmico e outro que se situa no terreno do
exercício profissional.
Em relação ao primeiro eixo, podemos estabelecer que é significativo um movimento
expansivo no Serviço Social que aponta para a sua consolidação enquanto área do saber. Neste
processo de expansão, a profissão amadurece dando importância à pesquisa e afirma-se como
produtora de conhecimento. Nestes termos, podemos destacar que a produção científica no Serviço
Social – nos seus programas de pós-graduação – tem privilegiado linhas de pesquisa na área do
trabalho, dentre outras, dado o entendimento de ser este um debate fundamental para a investigação
tanto da realidade social como das relações sociais gestadas pelo sistema capitalista. Assim, além de
estudar o próprio Serviço Social, a pertinência da nossa tese também pode ser justificada pela
percepção imediata que se tem da economia solidária no campo do trabalho: uma modalidade de
trabalho diferenciada das relações de trabalho convencionais da “economia capitalista”.
Estas questões levam-nos a enfatizar que a análise da economia solidária e sua recepção no
Serviço Social não configura apenas uma interface da profissão com diversas temáticas das ciências
sociais, mas expressa, alternativamente, a importância da centralidade das análises no campo do
trabalho e dos processos sociais do capital e do Estado, na construção intelectual da profissão, que
vem buscando investigar os elementos constitutivos das relações sociais capitalistas – e, neste
processo, produzir conhecimentos que possam mediatizar a ação das classes subalternas nas
disputas na sociedade. Como expressão deste entendimento, Francisco de Oliveira tece relevantes
considerações no prefácio a Behring (2003): “os ainda chamados assistentes sociais constituem-se
numa das categorias mais combativas e, por isso criativas, na política brasileira do último quartel do
século” (2003, p.15). Dessa forma, para a profissão, investigar a realidade social e os processos
sociais contemporâneo torna-se um dos meios mais profícuos para instrumentalizar a intervenção
social.
Logo, esta compreensão possibilita-nos apontar o outro eixo anteriormente mencionado,
qual seja: o trabalho profissional que, balizado por este entendimento, demarca a necessidade de um
15
profissional investigativo como condição para realização de um exercício profissional
comprometido com as classes trabalhadoras, remetendo-se, por sua vez, à busca constante das
determinações da totalidade da vida social. Assim, queremos deixar claro que a importância das
análises sobre a economia solidária e sua relação com o Serviço Social ultrapassa o universo strictu
senso do conhecimento em que se inscreve a pesquisa acadêmica e pode resgatar alguns problemas
que, já elaborados teoricamente no terreno da luta ídeo-política, facilitando aos assistentes sociais e
a outros interessados combater o conjunto de conteúdos problemáticos em que se inscreve a
economia solidária.
Estabelecida a importância, para o Serviço social, de se realizar uma análise sobre economia
solidária nos seus ambientes à luz das transformações do capitalismo contemporâneo, é preciso,
pois, situar sinteticamente em que se constitui nosso problema de estudo.
O governo do presidente Lula da Silva institucionalizou no Brasil, desde o início do seu
primeiro mandato (2003), uma política centrada na economia solidária e criou, com a Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003 (instituída pelo Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003), a Secretaria
Nacional de Economia Solidária – SENAES, interna ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
A direção da SENAES ficou sob o comando de um respeitado acadêmico brasileiro, que tem grande
produção sobre o tema, o economista Paul Singer. A partir de então, a economia solidária alçou-se
ao status de política pública de governo.
Mesmo antes da criação da SENAES, as iniciativas de economia solidária no Brasil vinham
sendo impulsionadas a partir das ações de vários grupos sociais (movimentos sociais, ONGs,
Igrejas, incubadoras acadêmicas, etc.), que apoiam a constituição e trabalham na articulação de
cooperativas populares, de redes de produção e comercialização dos produtos, em feiras de
economia solidária etc. Ao longo dos últimos dez anos (2000-2010), esses grupos passaram a
articular fóruns estaduais e regionais de economia solidária e participar do Fórum Social Mundial –
FSM, e durante a 3ª edição do FSM (2003) foi criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária –
FBES.
Os números da economia solidária também são expressivos. Os dados do Sistema Nacional
de Informações em Economia Solidária, do MTE, apontam até 2007 um total de 21.859
“Empreendimentos de Economia Solidária” – EES existentes no país, dos quais, cerca de 49%,
foram criados somente entre 2001 e 2007 e chegam a reunir um contingente, aproximadamente, de
1.687.496 participantes - mais de 1 milhão e meio de pessoas.
Com todo esse dinamismo, a economia solidária apresenta-se na atualidade como um
movimento político e de trabalho que atravessa, não apenas, mas de modo significativo, os
ambientes do Serviço Social brasileiro. Mais do que isso, já há, em congressos profissionais e
encontros de pesquisa, um interesse documentado, por parte dos assistentes sociais, sobre o debate
16
da economia solidária. Existem, também, livros, teses, ensaios, artigos, e projetos de pesquisa que
tematizam a economia solidária no Serviço Social. Esta produção teórica caracteriza uma tendência
emergente à profissão, uma tendência crescente, que vem ampliando o interesse e as elaborações
sobre o tema, tanto no corpo profissional ligado à prática profissional quanto nos profissionais
vinculados à academia.
Como afirmamos mais acima, o crescimento desse debate, e a preocupação com o
desenvolvimento de atividades de economia social não envolve apenas o Serviço Social. Diversos
segmentos da sociedade civil e o do próprio Estado vêm desenvolvendo ações no âmbito da
economia solidária. Esse setor vem se ampliando no Brasil desde os últimos anos do século
passado, tentando se constituir, por um lado, como resposta, de partes da sociedade, às mudanças
nas relações de trabalho e ao aumento da suposta “exclusão social” e, por outro, como alternativa
política ao indicar que uma outra economia é possível, fora e dentro dos marcos do capitalismo.
Entretanto, o nosso interesse de pesquisa incidiu sobre o Serviço Social, visto que já havia, de nossa
parte, um estudo acumulado da economia solidária, cabendo-nos pensá-la em interface com o
Serviço Social.
Dessa forma, e como já se viu, a nossa tese tem por objeto de pesquisa a relação Serviço
Social e Economia Solidária, buscando cuidar dessa tendência, que nos é perceptível como sendo de
grande receptividade na profissão. Nossa tese se propõe como uma primeira investigação que visa
oferecer um quadro sintético de como a Economia Solidária vem sendo recepcionada pelo Serviço
Social e quais as implicações, para este, desta recepção. E cabe sublinhar que, devido à vinculação
de nossa abordagem à tradição marxista, partimos da hipótese de que nem a economia solidária é
uma alternativa crítica de superação do capitalismo, nem a sua recepção pelo Serviço Social
contribui para uma afirmação do espírito crítico e combativo que subjaz ao “Projeto ético-político
do Serviço Social”.
Do final dos anos 1990 em diante, é verificável, mesmo que em seus primeiros passos, uma
produção do Serviço Social sobre os temas que compõem o universo da Economia Solidária. Já em
2001 foram identificados, no X Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS, no Rio de
Janeiro, a partir de levantamento feito por nós, 26 trabalhos que discutiam a economia solidária e
temas diretamente a ela relacionados, como, entre outros, cooperativismo e autogestão. Três anos
depois, no XI CBAS (2004), em Fortaleza, foi criado um eixo temático especialmente denominado
“Políticas alternativas de geração de trabalho e renda”. No terreno da pesquisa acadêmica, o X
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS, realizado em 2006, em Recife,
publicou em seus anais 15 trabalhos individuais e esta temática também comparece nas publicações
de algumas revistas acadêmicas (dos Programas de Pós-Graduação da área do Serviço Social).
Tais dados indicam a existência de uma produção sobre a economia solidária no Serviço
17
Social, e são relevantes, sobretudo, para tentarmos dimensionar em quais ambientes e em quais
perspectivas este debate está sendo absorvido na profissão. Em se tratando da nossa pesquisa, todas
essas informações e indícios de produtividade ressaltam a pertinência da nossa tese, o que, por sua
vez, justifica a análise da relação Serviço Social/economia solidária.
A nossa tese, está assim organizada: no Capítulo 1 realizamos um balanço de debates
centrais na produção teórica do Serviço Social, analisando a “problemática da democracia”, da
política social, da questão social e do projeto profissional de ruptura com o conservadorismo, que,
na nossa perspectiva, se constituem em canais para circulação e produção de concepções ídeopolíticas que dão suporte ao conjunto de valores econômicos, políticos e culturais que animam a
economia solidária. Tratou-se, portanto, de destacar os principais entendimentos sobre a democracia
que incidem sobre as ciências humanas e perpassam também o serviço social, e resgatar os
fundamentos sócio-históricos da questão social e os processos que dinamizam a existência e
funcionalidade das políticas sociais. Verificou-se, dessa forma, que as respostas para o
enfrentamento da questão social operadas no momento contemporâneo implicam numa larga
repressão das forças sociais do trabalho e a constituição, no campo das políticas sociais, de
alternativas fracionadas, em contraste com os direitos sociais mais amplos, e, por isso, a expansão
de modalidades como a economia solidária.
O segundo Capítulo trata da Economia Solidária em face das manifestações do capitalismo
contemporâneo, e, mais ainda, rastreia alguns dos seus fundamentos ídeo-políticos e teóricos, que
vão dos socialistas utópicos ao socialismo de Singer (1998), e se dedica, particularmente, a
investigar a economia solidária no Brasil e oferecendo ao leitor uma radiografia dos chamados
“empreendimentos de economia solidária” que vem sendo desenvolvidos no país. Nessa parte da
pesquisa identificamos o que é, no nosso entendimento, um movimento contraditório de ampliação,
fragilização e pauperização das estratégias de trabalho dos segmentos populares inscritas no leque
da economia solidária no Brasil.
No Capítulo 3 dedicamo-nos a investigar, especialmente, como o Serviço Social vem
recepcionando a economia solidária, e como este relacionamento comparece no conjunto da sua
produção teórica. Neste capítulo apresentamos uma significativa sistematização de quais trabalhos
teóricos sobre esta temática vem sendo produzidos nos circuitos do Serviço Social, tanto
acadêmicos quanto das intervenções profissionais, e mapeamos as tendências que estão contidas
nela. Assim, proporcionamos uma análise dessas tendências indicando, particularmente, as
perspectivas de defesa e crítica da economia solidária em face do sistema capitalista.
Finalmente, gostaríamos de destacar que, para a realização dessa pesquisa, contamos com o
apoio institucional do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ; registramos ainda o
importante apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, que,
18
por meio do Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior – PDEE, nos possibilitou a
realização, em Portugal, de um estágio que foi fundamental para o levantamento de fontes e estudos
comparativos das experiências de economia solidária entre os dois países, bem como a participação
de debates sobre o tema e suas articulações o Serviço Social internacional. Agradecemos também o
apoio acadêmico do Instituto Superior Miguel Torga – ISMT e da nossa orientadora nesta
instituição, a professora doutora Alcina Martins.
19
CAPÍTULO I
SERVIÇO SOCIAL CONTEMPORÂNEO:
balanço de alguns debates.
20
Neste capítulo apresentamos um balanço de debates importantes na produção teórica do
Serviço Social: democracia, política social, questão social e do projeto ético-político profissional,
que são canais de circulação e produção de concepções ídeo-políticas que dão suporte ao conjunto
de valores e que animam a economia solidária. Dessa forma, nas respostas do capital para o
enfrentamento da questão social, comparecem expressões da larga repressão em que as forças
sociais do trabalho se encontram, e as formas alternativas de trabalho que são gestadas neste
universo, a exemplo da economia solidária.
1.1. O debate da democracia
Em seu livro, Cultura e Democracia, Chauí (1990) assinala os riscos de uma disputa
histórica cultivada entre filósofos e sociólogos: os primeiros consideram-se possuidores da verdade
porque são detentores da Ideia, os segundos porque são conhecedores do Fato. Essa rivalidade
marca largamente os estudos sobre democracia, cidadania, entre outros temas centrais no advento da
sociedade moderna e ascensão da burguesia. Surpreendendo a todos – filósofos e sociólogos –, Karl
Marx e alguns outros intelectuais clássicos põem por terra essa cisão Fato/Ideia, e produzem, no
conjunto das suas obras, um amplo conhecimento sobre a sociedade capitalista e sobre o capital
fundado numa intensa apropriação da realidade enquanto uma totalidade social, demarcando um
campo de saberes e de práticas ricas e contraditórias.
Ora, é neste campo amplo e heterogêneo que também os assistentes sociais se inserem e se
confrontam contemporaneamente com o debate da democracia. No terreno profissional, através das
políticas sociais públicas, ou por meio da investigação e pesquisa dos processos de formação e
conformação da sociedade brasileira e seus setores dominantes, os assistentes sociais vêm dando a
sua parcela de contribuições. Dessa forma, alguns segmentos profissionais fazem coro com os
sociólogos factuais, outros com os filósofos idealistas, e há ainda aquele setor que exorciza toda
essa dualidade e se ocupa de compreender a sociedade brasileira e captar o papel da democracia no
capitalismo atual.
Apesar da valorização da democracia verificar-se em vários momentos da história ocidental,
é precisamente com o advento das sociedades modernas 1 que ela torna-se uma conquista social.
Entretanto, a radicalidade potencial da democracia é extraída da pauta capitalista pelo processo de
1
Essas são caracterizadas pela consolidação da industrialização e a ascensão econômica, cultural e, principalmente,
política da burguesia na sociedade.
21
decadência ideológica da burguesia2 e dessa forma a problemática democrática só comparece na
agenda burguesa como tópico programático e constantemente mistificador.
Interessa-nos considerar esta problemática no lapso histórico que nos é mais próximo. Após
os anos de 1945, com o fim da guerra e a derrota dos regimes nazi-fascistas de base econômica
monopolista, formam-se dois grandes blocos mundiais: de um lado, a proposta socialista (sob a
forma stalinista) e os ganhos sociais dos trabalhadores da Europa do Leste, que se materializaram na
consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS, marco possível a partir da
Revolução de 1917, e de regimes políticos do que se chamou então “campo socialista”; e, do outro
lado, a proposta capitalista monopolista, sensivelmente tensionada pela ameaça socialista e pela luta
das forças operárias e democráticas da Europa Ocidental, formada pelos países que compõem a
Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN, chefiada pelos Estados Unidos da América –
EUA.
É nesse contexto da denominada Guerra Fria que os processos sócio-políticos do mundo
capitalista são alargados e preenchidos, funcionalmente, pela problemática democrática 3. Pois havia,
no contraponto socialista, amplas massas trabalhadoras que gozavam de novos padrões de
organização da vida social – mesmo que o stalinismo tivesse conseguido esvaziar o conteúdo
democrático da alternativa socialista que se desenvolvia.
As ideologias democráticas burguesas mostram, neste período, uma tendência constante: a
clara capacidade de incorporar manifestações político-sociais diversificadas, sobretudo aquelas que
se restringem às práticas no campo político. Todavia, o efetivo poder sobre o ordenamento
econômico é o limite da flexibilidade capitalista4.
O contexto da reorganização política e econômica capitalista que segue ao pós-1945 marca o
desenvolvimento, por parte do Estado, de políticas anticrise que supõem elementos interventivos e
reguladores (sob o comando dos interesses do capital), inclusive com articulações supra-nacionais –
recorde-se o papel, por exemplo, da Conferência de 1944 em Bretton Woods 5, bem como de
medidas respeitantes a controle de preços e à criação de políticas fiscais e políticas sociais. Estas
últimas, além de serem medidas estatais do receituário anticrise, também resultam das
2
3
4
5
Este tema será melhor abordado na seção 3 do terceiro capítulo da nossa tese. Po r agora, basta-nos assinalar que o
processo de decadência ideológica da burguesia analisado por Marx é retomado por Lukács (1968), que nos revela
como a burguesia, no pós-1848, transforma-se de classe revolucionária, que carrega no interior do projeto moderno
a defesa dos grandes interesses históricos da humanidade, em uma classe conservadora.
O Estado Liberal burguês, predominante entre a segunda metade do século XIX e início do século XX, é substituído
pelo Estado Social que predominou nos anos 50 e 60 em países centrais da Europa.
Uma excelente análise sobre as ideologias democráticas e os limites da democracia nas sociedades capitalistas pode
ser encontrada em Netto (1990).
Apesar do encontro de Bretton Woods ser um marco para a atividade bancária e financeira mundial (aqui são
criados o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento –
Banco Mundial), ele também redefine os parâmetros da reconstrução econômica capitalista, que será capitaneada
pelos EUA. Para estudos mais aprofundados sobre Bretton Woods, cf. Moffit (1984).
22
reivindicações das camadas operárias, que buscavam uma inserção democrática e corporativa na
agenda política e social do Estado.
A originalidade instaurada por este modelo nos principais países de capitalismo central
quase nada tem haver com a particularidade dos capitalismos latino-americanos, carentes de
reformas democráticas burguesas - como, por exemplo, a manutenção do controle da terra pelos
latifundiários. A partir de uma inserção periférica no capitalismo na sua fase imperialista, os países
da América Latina, sensivelmente o Brasil, têm seu desenvolvimento econômico reafirmado como
subalterno e dependente aos países imperialistas centrais e esta condição é resultado da
funcionalidade que as burguesias nacionais imprimiram aos seus Estados, em especial a
heteronomia econômica e a exclusão das massas por meio de regimes restritos e anti-democráticos6.
É por tais características que diversos analistas (Fernandes, 1976; Coutinho, 1980 e 2000 e
Netto, 1990) afirmam que a burguesia brasileira nunca teve compromisso, ou mesmo interesse, num
pacto social que permitisse a participação das camadas subalternas na dinâmica política do país.
“Os projetos burgueses estiveram sempre divorciados do pacto democrático. A institucionalidade
democrática sob a dominação burguesa não passou nunca de expediente tático nos conflitos para a
instauração e/ou a consolidação do ordenamento capitalista” (Netto, 1990, p. 119). A constituição e
evolução da sociedade brasileira contou com a vitória continuada das forças sociais conservadoras
que souberam travar o processos de fermentação social e neutralizaram as lutas sociais populares,
mediante mecanismos integradores e/ou repressivos, garantindo a composição política dos
interesses das camadas dominantes – dos tempos do pacto colonial ao século XX.
A dinâmica capitalista que marcou a ascensão dos modernos monopólios, no século XX,
criou uma nova condição estratégico-dependente para as nações da periferia. No caso brasileiro,
aquela dinâmica teve efeitos tais que, na primeira metade do século XX, tornaram muito peculiares
a constituição e o desenvolvimento das classes e da ordem social capitalista competitiva. Por um
lado, a organização dos trabalhadores já nasce tutelada e a burguesia brasileira é a expressão do
congelamento da descolonização (a feliz expressão é de Fernandes, 1976) e, por outro, o Estado
burguês restringe a constituição dos direitos e torna-se quase a expressão exclusiva do poder das
classes dominantes. Assim, o regime social brasileiro mostra-se, para com as classes subalternas,
muito pouco flexível, impedindo os deslocamentos democráticos possíveis nas sociedades
burguesas.
Por isto mesmo, a valorização em larga escala da temática da democracia é, sobretudo, fruto
de processos históricos mais recentes no país. O período, próprio do regime político instaurado em
6
Um estudo clássico sobre a particularidade das burguesias dependentes, em especial o Brasil, encontra-se em
Fernandes (1976).
23
1964, que marca a ditadura do grande capital (Ianni, 1981) suprimiu toda a prática social
democrática e restringiu duramente o debate público sobre a democracia. A análise e crítica social
da autocracia burguesa que se constituiu só foi possível em pequenos nichos da intelectualidade,
cortados de todo contato com segmentos sociais mais amplos, e nos circuitos fechados e
clandestinos dos partidos e organizações de esquerda. Fortemente pressionada, a ditadura,
visivelmente a partir de 1979, é compelida a seu projeto de auto-reforma, com medidas
liberalizantes planejadas e controladas pelo Estado. Todavia, as mobilizações da sociedade civil
intensificam-se e, aliada à conjuntura da crise econômica de 1981-1983 (cf. Singer, 1988),
começam a influenciar, diretamente, no processo de abertura política.
A democracia renova-se nesse contexto como um processo e um tema relevante para
sociedade brasileira, e impacta, diretamente, toda a sua estrutura social. No caso particular do
Serviço Social, a democratização foi especialmente importante pois contribuiu, decisivamente, no
avanço da sua renovação. O Serviço Social prossegue, portanto em melhores condições, na década
de 1980, seu processo de renovação teórico, político e profissional. As vertentes teóricas que
influíam na profissão7, naquele momento, continuavam suas empreitadas na disputa dos rumos
profissionais. A vertente modernizadora, em refluxo desde fins dos anos de 1970, estabelece
conexões com a vertente da reatualização do conservadorismo, a fim de manter sua ampla
influência nos circuitos profissionais. Os sujeitos protagonistas da concepção de intenção de
ruptura elegeram a perspectiva modernizadora como a principal tendência a ser combatida, pois
esta última era identificada com os interesses do projeto social implantado no país no pós-1964. O
ambiente da ampliação das liberdades democráticas, próprio da abertura política, foi um dos
condicionantes para a perspectiva de intenção de ruptura ampliar seu processo de maturação e
consolidação acadêmica, aprofundando a renovação do Serviço Social e trilhando caminhos da
teoria crítica marxista.
Assumindo internamente a dinâmica de análise das relações sociais predominantes na
sociedade, o Serviço Social apropria-se da pauta da democracia e transforma-a em parte teóricoprática do seu processo de renovação profissional. Dessa forma, um conjunto de temas –
democracia, cidadania, direitos sociais, participação, autonomia, exclusão social, dentre outros –
ganha nas duas décadas seguintes (1990 e 2000) ampla difusão nos circuitos teóricos e profissionais
do Serviço Social.
Interessa-nos aqui, para os objetivos desta teses, o debate teórico e político da “questão
democrática” e das principais perspectivas que recobrem esse tema nas ciências humanas e nas
7
A renovação do Serviço Social sob a autocracia burguesa é analisada por Netto (1994), o qual identifica e classifica
as três principais direções teóricas na profissão nesse período: a perspectiva modernizadora, de referencial estrutural
funcionalista; a perspectiva de reatualização do conservadorismo, com recurso à fenomenologia; e a perspectiva de
intenção de ruptura com inspiração sobretudo marxista.
24
práticas políticas da sociedade civil.
Um conjunto de intelectuais ligados à tradição democrática, de diversas inspirações
(socialistas, comunistas e liberais), são responsáveis diretos pela difusão nas práticas políticas da
sociedade brasileira e na produção teórica das ciências humanas, de um rol de temas que informam
concepções diversas de democracia. As análises sobre o Estado, a sociedade civil, as relações
sociais, a cidadania, os direitos, etc comportam nesse conjunto uma variação de entendimentos
sobre democracia. Todavia, para efeito de análise, elegemos os autores e as produções teóricas que
têm o debate explícito da democracia como vetor de suas análises.
A discussão sobre os vínculos entre democracia e sociedade moderna conheceu diferentes
propostas e conhece ainda hoje diferentes formulações, tanto em nível internacional quanto no
Brasil. Em nosso país, em que o recente processo de democratização se fundou na modernização
conservadora (Barrington Moore Jr.) de sua economia e do poder das suas elites, a maioria das
propostas democráticas revela uma fundamental cisão entre democracia política e socialização da
riqueza. As propostas liberais apostam na construção da “democracia representativa” relacionada a
momentos pontuais de “democracia participativa”. De outro lado, a esquerda socialista e os
comunistas investem na pauta democrática para fortalecer a “soberania popular” e combater o
capitalismo - mas note-se que mesmo a esquerda elegendo a “questão democrática” como uma
prioridade nas lutas populares no país, isto não implica sua concepção e compreensão seja uniforme
entre os grupos e partidos que a compõem.
Grande parte da esquerda brasileira sustentou inicialmente, baseada no marxismo da
Terceira Internacional, que a democracia seria apenas uma etapa preliminar no caminho para o
socialismo, a ser substituída, oportunamente, pela ditadura do proletariado. Porém, ao longo dos
anos de 1970 começa a difundir-se a ideia de que a democracia seria um momento ineliminável não
só da luta pelo socialismo, mas também de sua organização e construção. E, mais recentemente, ao
longo dos anos de 1990, consolida-se uma formulação na esquerda brasileira, inspirada na socialdemocracia europeia e pressionada pela ofensiva neoliberal, que abandona de fato o horizonte
socialista e propõe a democracia como forma de “melhorar” o capitalismo conferindo-lhe um
conteúdo de “justiça social”.
No campo dessas várias tendências de esquerda, começamos por destacar as formulações de
Carlos Nelson Coutinho sobre democracia e socialismo, e sua tese da democracia como valor
universal. Alinhado – e um dos principais intelectuais orgânicos – ao campo de esquerda que
entende a democracia como arma de luta pelo socialismo e necessária à sua construção, Coutinho
(1980, 2000) defende que muitas das formas e objetivações de relacionamento social que compõem
o arcabouço institucional da democracia política, que teve sua gênese na sociedade burguesa, não
25
perdem, objetivamente e subjetivamente, seu valor universal com o desaparecimento dessa
sociedade. Isso porque o valor que constitui a democracia, à qual se refere, é resultado do processo
pelo qual o homem se cria a si mesmo e complexifica e amplia tanto os carecimentos quanto as
faculdades humanas.
Surgem ao mesmo tempo, num processo dialético, o carecimento de
determinadas objetivações (valiosas para a realização do homem) e a
faculdade ou capacidade que torna possível a satisfação de tal
carecimento. Essas objetivações valiosas, de acordo com a natureza do
carecimento, podem se dar em qualquer esfera do ser social, da estética à
política (Coutinho, 2000: p. 22).
A democracia, para o autor, deve ser particularizada como o resultado de um processo
histórico no qual foram desenvolvidas formas de objetivação política construídas pelo próprio
homem - mas que têm uma dinâmica de evolução que depende da história e das suas leis. Dessa
forma, Coutinho, nos termos de Lukács, compreende a democracia como um processo e não como
um estado8.
As múltiplas objetivações que formam a democracia moderna surgem
como respostas, dadas em determinado nível concreto de processo de
socialização do trabalho, ao desenvolvimento correspondente dos
carecimentos de socialização da participação política. Embora formem
um conjunto sistemático, essas objetivações vão se desenvolvimento ao
longo do tempo, razão pela qual Lukács, ao falar em democracia, prefere
corretamente usar o termo “democratização” (ibdi, p. 23).
Assim, essa democratização torna-se um valor na medida em que contribui para explicitar e
desenvolver os componentes centrais do ser humano-genérico. Essa perspectiva permite Coutinho a
afirmar: como a democracia e a existência desse valor possibilita ao ser social produzir e destacar
componentes humanos universais que o particularizam como humanidade, ela operará, como tal,
independente da formação social que exista. Dito de outra forma, a democracia é universal, pois
possibilita a constituição do ser humano- genérico tanto no capitalismo quanto no socialismo.
Justifica que agreguemos ao substantivo valor o qualitativo de universal o
fato – historicamente inquestionável – de que as objetivações
democráticas são capazes de promover a explicitação do ser genérico do
homem em diferentes formações econômico-sociais, ou seja, tanto no
capitalismo quanto no socialismo. O consenso hoje quase unânime em
torno do valor universal da democracia é a expressão subjetiva de um
8
Está disponível uma coletânea brasileira de textos de Lukács com o título “Socialismo e democratização” onde esse
debate pode ser acessado. (Lukács, 2008, organizado por C. N. Coutinho e J. P. Netto).
26
fenômeno primariamente objetivo (Coutinho, ibid, p. 23).
Nesse entendimento, a democracia teria, segundo o autor, um potencial trans-histórico.
Tanto contribui na formação de processos de participação política que tensionam as estruturas
institucionais capitalistas, quanto preserva modalidades sociais e institucionais de descentralização
de poder que devem ser garantidos no socialismo. Portanto, a democracia é parte central da luta
política contra o capitalismo e é, na mesma intensidade, parte central da constituição do socialismo.
Coutinho retrata essa centralidade da democracia no extrato a seguir:
Não basta constatar o valor que continuam a ter para as forças do
progresso social, nas sociedades capitalistas de hoje, a conservação e o
desenvolvimento das instituições democráticas, os quais são assegurados
em grande parte, e muitas vezes em oposição à burguesia, pela luta
organizada dos trabalhadores. Também é preciso afirmar que tanto na fase
de transição para o socialismo quanto no socialismo realizado continuam
a ocorrer situações que só a democracia política será capaz de resolver no
sentido mais favorável ao enriquecimento do gênero humano (ibid, p. 2324).
O socialismo não existirá como tal sem democracia. Com total convicção teórica e política
sobre isto, Coutinho resgata a resolução política do último congresso do Partido Comunista Italiano
(1989), que reconhece a necessidade de uma representação política adequada à unidade na
diversidade produzida pelo socialismo. E essa representação seria a democracia. Para os comunistas
italianos, “a democracia não é um caminho para o socialismo, mas sim o caminho do socialismo”
(PCI apud Coutinho, ibid: p. 24, itálicos do autor). Coutinho reforça, assim, sua tese da democracia
como valor universal.
Por agora, queremos apenas enfatizar que a importância dada por Coutinho à democracia,
tanto no ordenamento político do capitalismo quanto do socialismo, alimenta uma cultura política
de esquerda que hipervaloriza a “questão democrática” e faz dela a diretriz fundamental do seu
programa político de luta anticapitalista e do chamado socialismo democrático.
Neste mesmo campo – da supervalorização da democracia –, mas por caminhos diferentes,
podemos destacar a influência recente da obra de Ellen Wood na intelectualidade de esquerda
brasileira. Wood (2003) também acredita que a democracia tem uma potencialidade política capaz
de abalar com golpe de morte o capitalismo; todavia, essa queda não passa necessariamente pelo
socialismo (o que a distancia de Coutinho).
Ela parte da premissa de que o capitalismo é, na sua essência, incompatível com a
democracia. E que a crítica histórica ao capitalismo tem que ser executada com a convicção de que
27
existem alternativas, mas para realizar a crítica do capitalismo na atualidade exige-se o exame
também crítico da própria tradição socialista. “O objetivo principal dessa crítica foi a transformação
da ideia socialista, de uma aspiração a-histórica, num programa político baseado nas condições
históricas do capitalismo.” (Wood, 2003: p. 21). A autora busca nesta crítica ao socialismo resgatar
a “história que vem de baixo”, termo que toma emprestado de E. P. Thompson (1987), contra o
programa de “socialismo imposto de cima” - e utilizar essa análise histórica do movimento popular
para colocar a luta de classe no centro da teoria e da prática política e econômica, construindo uma
tensão democrática no capitalismo a partir da liberdade do demos.
Meu próprio ponto de orientação ainda é o socialismo, mas as posições e
resistências são de um tipo diferente e exigem crítica específica. Se existe
hoje um tema unificador entre as várias oposições fragmentadas, é a
aspiração à democracia (…) democracia como desafio ao capitalismo
(Wood, ibid: p. 21).
Uma das partes centrais da análise de Wood é que a democracia deve ser pensada para além
dos mecanismos da política e explorada sua dimensão de poder do povo sobre a dinâmica
econômica.
Já sugeri em várias partes desse livro que o mercado capitalista é um
espaço político, assim como econômico, um terreno não apenas de
liberdade e escolha, mas também de dominação e coação. Quero agora
sugerir que a democracia precisa ser pensada não apenas como categoria
política, mas também como categoria econômica. Não estou sugerindo
apenas uma “democracia econômica” entendida como maior igualdade na
distribuição. Estou sugerindo democracia como um regulador econômico,
o mecanismo acionador da economia (Wood, ibid: p. 248; destaques da
autora).
A proposição de Wood aponta para a democracia além dos mecanismos políticos e indica-a
como sistema social capaz de regular a economia não somente no seu aspecto distributivo da
riqueza mas, sobretudo, na sua forma imperativa nas relações de produção. Nesses termos, a autora
indica como um bom ponto de partida a associação livre de produtores diretos proposta por Marx.
Segundo ela, “o melhor local para começar a busca de um novo mecanismo econômico é a própria
base da economia, na organização do trabalho” (ibid: 248). Todavia, Wood chama atenção para as
formas imperativas do mercado impostas a uma organização democrática de produtores diretos.
Formas novas e mais democráticas de organizar o local de trabalho e as
tomadas de controle por parte dos trabalhadores são objetivos admiráveis
em si e a base potencial de algo mais; mas, ainda que todas as empresas
28
fossem assim tomadas, persistiria o problema de separá-las dos
imperativos do mercado (ibid: 249).
A perspectiva de democracia apresentada pela autora, além de resgatar a centralidade da
democracia nas formas de organização política (a partir de elementos da democracia antiga, 'poder
do demos', articulados às modernas estruturas da democracia), propõe a democracia como suposto
mecanismo regulador da economia; desta regulação seria possível a criação de uma nova dinâmica
de relações sociais que confrontaria medularmente o capitalismo. Segundo Wood,
Certos instrumentos e instituições hoje associadas ao mercado seriam
sem dúvida úteis numa sociedade realmente democrática, mas a força
motora da economia teria de emanar não do mercado, mas de dentro da
associação auto-ativa dos produtores. E se a força motivadora da
economia se encontrasse na empresa democrática, nos interesses e
objetivos dos trabalhadores auto-ativos, seria necessário descobrir
alternativas para colocar tais objetivos e interesses a serviço da
administração da economia como um todo e do bem-estar da comunidade
em geral (ibid: p. 249).
Nesses termos, a autora aponta a democracia como um motor capaz de produzir uma nova
racionalidade e uma nova lógica econômica. Trata-se de uma democracia fundada na organização
democrática da produção, o que pressupõe a reapropriação dos meios de produção pelos
trabalhadores e uma disposição em constituir uma cadeia produtiva independente da dominação
interna e externa exercida pelo mercado. A totalidade das teses de Wood revela, sem dúvidas, um
pensamento atual e ousado.
No marco das tendências de análise sobre democracia que anunciei no início desse
mapeamento, tomaremos agora a vertente de esquerda e socialista que localiza a democracia no
campo preciso da sua particularidade no capitalismo e suas potencialidades, ou não, nessa
sociedade.
As notas produzidas por José Paulo Netto sobre democracia têm receptividade naqueles
setores da esquerda que realizaram um sistemático expurgo do politicismo e do economicismo
presentes no marxismo da Terceira Internacional, mas que reivindicam a sua herança política para
elaborar uma análise teórica e política do capitalismo. Netto (1990) referencia sua análise das
conexões entre democracia e capitalismo aprofundando algumas determinações marxianas: uma
primeira é que “há relações pluricausais e determinantes entre a estrutura econômica e o
ordenamento político de uma sociedade historicamente situada”; uma segunda: “estas relações não
se põem abstratamente (...), mas operam numa totalidade sócio-histórica cuja unidade não elide a
existência de níveis e instâncias diferentes e com legalidades específicas”, ou seja, a estrutura
29
econômica, em si mesma, não constitui uma instância ontológica que exclua a dinâmica particular
de outras; e uma terceira determinação: “no interior desta totalidade sócio-histórica, a rede
multívoca e contraditória de mediações concretas (…) abre um leque de possibilidades para a
emergência e a compatibilização de ordenamentos políticos com a estrutura econômica” (ibid: p.
71-72). Dessa forma, podemos compreender que uma dada sociedade, com uma estrutura
econômica determinada, pode comportar um conjunto de ordenamentos políticos diferentes;
todavia, essas alternativas políticas são limitadas. Segundo Netto,
Ninguém contesta que o sistema capitalista tem produzido e articulado
distintos
regimes
políticos,
compatibilizando,
é
verdade
que
diferencialmente, seus mecanismos estritamente econômicos com formas
políticas muito variadas (…). Engendra ordenamentos políticos
tendencialmente autocráticos (culminando, por vezes, na instauração de
formas
políticas
inteiramente
fascistas)
quanto
pode
integrar
ordenamentos outros que não sacrifiquem necessária e substancialmente
aquele elenco de direitos e garantias que foram formalizados no
pensamento e na prática política da cultura ocidental desde a culminação
da revolução burguesa – e que abrem a etapa da institucionalização da
moderna democracia política (ibid: p. 73).
A evolução da sociedade capitalista abre, nesse entendimento, a possibilidade da democracia
política moderna, que nasce com a sociedade burguesa, ser absorvida como uma das alternativas de
conformação política dessa sociedade. Para o autor, a democracia pode realizar-se, pois ela é a
“generalização do reconhecimento social da igualdade jurídico-formal dos indivíduos e comporta a
incorporação de amplos segmentos sociais nos cenários de ação e intervenção sociais” (Netto, ibid:
p. 76) - e só consegue expandir-se dependendo da capacidade de mobilização organizada desses
segmentos. Ou seja, a sociedade capitalista comporta o ordenamento político da democracia;
todavia, a sua ampliação a outros grupos sociais que não a burguesia depende do nível de pressão
que a mobilização social alcance.
O autor chama atenção para o fato de que a expansão da democracia, como já foi anunciado
anteriormente, esbarra no limite próprio do ordenamento econômico. Mesmo que a economia
capitalista não seja excludente de modalidades políticas democráticas, estas têm um limite: a
socialização dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida. Dessa forma, para Netto,
no capitalismo só há a possibilidade da realização da democracia-método.
O que a análise das formações econômico-sociais capitalistas demonstra
insofismavelmente é que a estrutura econômica que lhes é própria põe à
democracia um limite absoluto: ela só se generaliza e universaliza
enquanto não desborda para um ordenamento político que requeira uma
30
organização societária fundada na igualdade social real, ou seja, na
igualdade em face dos meios de produção – a estrutura capitalista só é
compatível com a democracia-método (Netto, ibid: p. 76-77; itálicos do
autor).
A construção de uma igualdade social real, baseada num ordenamento econômico e político
alternativo ao capitalismo não pode, de acordo com Netto, suprimir da pauta socialista
revolucionária a funcionalidade das exigências democráticas. Assim, a questão democrática é
estrutural e deve ser compreendida como componente estratégico do movimento de luta socialista.
Todavia, as exigências democráticas devem ser valorizadas, segundo ele, exatamente por essas
ajudarem a romper com o mito da democracia:
“Se se quiser aprofundar e implementar teoricamente o processo de
transformação social radical (…) a via mais correta não consiste na
apreciação da democracia tomada abstratamente como um valor em si
mesmo; consiste em determinar concretamente a sua função e ponderação
no curso dos processos revolucionários reais e a relação destes com os
seus objetivos macroscópicos”(Netto, ibid: p. 83-84).
Portanto, para o autor, a viabilidade democrática está circunscrita a mecanismos
institucionais precisos e importantes que caracterizam o que ele, seguindo a Cerroni, designa por
democracia-método. De outro lado, a democracia-condição social é uma inviável modalidade no
capitalismo. Mas precisamente como o autor define o estatuto dessas exigências democráticas? Para
Netto,
Por democracia-método deve entender-se o conjunto de mecanismos
institucionais que, sob formas diversas (mais ou menos flexíveis), numa
dada sociedade, permitem, por sobre a vigência de garantias individuais, a
livre expressão de opiniões e opções políticas e sociais; quanto à
democracia-condição social, ela não é um simples conjunto de institutos
cívicos, organizados num dado ornamento político, mas um ordenamento
societário em que todos, a par de livre expressão de opiniões e opções
políticas e sociais, têm iguais chances de intervir ativa e efetivamente nas
decisões que afetam a gestão da vida social (ibid: p. 84-85; itálicos do
autor).
Mas é importante ainda deixar claro que, no entendimento do autor, a democracia-método é
um claro instrumento – despido da vulgata instrumentalista – para que a sociedade possa acessar a
democracia-condição social e ultrapassá-la qualitativamente a partir da construção de uma nova
experiência social, na qual revelaria novas relações sociais. Essa é sem dúvida, na nossa avaliação,
a formulação do pensamento socialista revolucionário que situa a democracia-condição social como
31
um objetivo e um meio, pois esta caracteriza uma fase claramente de transição. O que vem depois
não é passível de afirmações e as especulações correm o risco das proposições utópicas. Assim, para
Netto,
a democracia, qualquer que seja a sua natureza, não é degradável ao
estatuto de expediente tático e permutável no bojo do processo
revolucionário; inserindo na totalidade deste processo as exigências
democráticas para transformá-las, através de uma mudança qualitativa,
em realidades democráticas de condição social, o pensamento socialista
revolucionário atribui-lhe (à democracia) um valor instrumental
estratégico (ibid: p.86; itálicos do autor).
Dessa forma, a democracia tem no capitalismo sua forma máxima possível de socialização
dos mecanismos da política, sem com isso socializar o poder político. Dados os limites que são
impostos pelo ordenamento econômico capitalista, a democratização da sociedade pode tensionar
essa dinâmica econômica, o que torna a democracia estratégica. Contudo, a ordem societária que
pode vir a nascer da ultrapassagem do capitalismo definiria com novas tonalidades as relações
sociais e essas, por sua qualidade renovada, de acordo com Netto, não seria a democracia.
A quarta perspectiva que discutiremos a seguir é alinhada politicamente à esquerda e propõe
a democracia como forma de “melhorar” o capitalismo conferindo-lhe “justiça social” e
participação ativa popular. Mas sobre essa tendência é necessária uma explicação prévia. É
inquestionável que uma perspectiva fundada no melhoramento capitalista e na justiça social tem
inspiração orgânica nas ideias tradicionais e reformistas da social-democracia clássica. Entretanto, a
vertente que nós pretendemos expor não está situada politicamente neste quadrante, muito menos
tem apreço aos projetos de poder político – via Estado – traçados pelos sociais-democratas. Esta
vertente defende a chamada democracia participativa ativa inspirada nos movimentos mundiais de
resistência à globalização e que, no Brasil, é muito bem representado no Fórum Social Mundial.
Dentre alguns autores desse campo, elegemos como exemplar Boaventura de Sousa Santos. Sua
produção teórica, no nosso entendimento, tem ampla receptividade nos circuitos acadêmicos das
ciências humanas brasileira, no movimento onguista e na ação política dos movimentos sociais que
se auto-intitulam de minorias (os importantíssimos movimentos de mulheres, negro, da diversidade
sexual e outros).
Para pensar uma proposta de democracia, Santos (2003) parte da crítica ao que ele denomina
de procedimentalismo democrático instituído nas estruturas políticas dos Estados ocidentais do
norte. Para o autor, a organização democrática não pode ser um método de autorização de governos.
Ela teria de ser uma forma de exercício do poder político que tem na sua base “um processo livre de
apresentação de razões entre iguais” (ibid: p. 53). Desse modo, ele informa que o
32
procedimentalismo que legaliza os processos eleitorais e os níveis de poder do Estado são apenas
uma esfera, e insuficiente, da dinâmica democrática. Ela carece do fortalecimento da participação e
da diversidade.
A recuperação de um discurso argumentativo associado ao fato básico do
pluralismo e às diferentes experiências é parte da reconexão entre
procedimentalismo e participação. Nesse caso, mostram-se patentemente
insuficientes os procedimentos de agregação próprios à democracia
representativa
e
aparecem
em
evidência
as
experiências
de
procedimentalismo participativo de países do Sul, como o orçamento
participativo no Brasil ou a experiência dos Panchayats na Índia (Santos,
ibid: p. 53).
Assim, para o autor haveria uma reinvenção da democracia que parte dos países do Sul
devido a um processo de democratização instaurado pela inserção dos movimentos sociais em
práticas de ampliação do político, pela transformação de práticas dominantes, pelo aumento da
cidadania e pela inserção na política de “atores sociais excluídos”. No entanto,
“a redemocratização não passou pelo desafio de limites estruturais da
democracia, como supunha a discussão sobre democracia nos anos 60. O
que a democratização fez foi, ao inserir novos atores na cena política,
instaurar uma disputa pelo significado da democracia e pela constituição
de uma nova gramática social.” (ibid: p. 54).
O protagonismo desses movimentos recriou a democracia e deu a ela novos significados - o
que, na perspectiva de Santos, expressaria a centralidade da participação social no debate
democrático, sobretudo a necessidade de construção do que o autor vai chamar de uma nova
gramática social. Ou seja, o surgimento de demandas as mais diversas desses denominados pelo
autor de novos atores sociais implicaria na elaboração de uma nova interlocução entre esses
segmentos e o Estado, o que para ele supõe a redefinição do próprio Estado.
O problema da constituição de uma gramática social capaz de mudar as
relações de gênero, de raça, de etnia e o privatismo na apropriação dos
recursos públicos colocou na ordem do dia o problema da necessidade de
uma nova gramática social e uma nova forma de relação entre Estado e
sociedade. Essa gramática implicou na introdução do experimentalismo
na própria esfera do Estado, transformando o Estado em um novíssimo
movimento social (Santos, ibid: p. 54).
A reinvenção da democracia participativa, segundo o autor, instituiria novos processos
sociais que atingiriam o Estado e reformulariam a relação Estado/sociedade. Mas, ainda nos termos
33
de Santos, isso é possível em países do Sul, que dentro da lógica hegemônica do período posterior à
Segunda Guerra Mundial “não estiveram no assim chamado campo democrático” - e ele
complementa exemplificando com países como Portugal, Moçambique, África do Sul, Brasil,
Colômbia e outros, que não tiveram nenhuma democracia durante a maior parte do século XX ou
tiveram uma variação entre democracia, autoritarismo e guerra civil.
Segundo Santos, o ascenso da democracia participativa requer uma nova combinação da
velha articulação entre democracia representativa e democracia participativa. De acordo com ele,
existiriam duas formas possíveis de combinação entre essas duas modalidades de democracia: a
primeira seria uma combinação de coexistência e a segunda seria de complementaridade – e esta é a
mais propícia à participação e articulação entre os “novos segmentos políticos” e o Estado. Na
primeira, a coexistência implicaria uma convivência, em diversos níveis, das diferentes formas de
“procedimentalismo”, de organização administrativa e de estrutura institucional.
A democracia representativa em nível nacional (domínio exclusivo em
nível da constituição de governos; a aceitação da forma vertical
burocrática como forma exclusiva da administração pública) coexiste
com a democracia participativa em nível local, acentuando determinadas
características participativas já existentes em algumas democracias dos
países centrais (Santos, ibid: p. 75-76).
Note-se ainda que, segundo o autor, esse formato de coexistência secciona os níveis
nacionais e locais da seguinte forma: a democracia representativa seria predominante na esfera
nacional e a democracia participativa predominaria na esfera local. A segunda forma de
combinação, chamada de complementaridade, implicaria uma articulação mais profunda entre
democracia representativa e democracia participativa. Conforme Santos (2003), essa combinação
parte do e contribui para o fortalecimento dos “atores” e esferas locais de poder político, e renova
completamente o padrão hegemônico de democracia dominante nos países centrais.
Essa combinação (de complementaridade) pressupõe o reconhecimento
pelo governo de que o procedimentalismo participativo, as formas
públicas de monitoramento dos governos e os processos de deliberação
pública podem substituir parte do processo de representação e deliberação
tais como concebidos no modelo hegemônico da democracia. Ao
contrário do que pretende esse modelo, o objetivo é associar ao processo
de fortalecimento da democracia local formas de renovação cultural
ligadas a uma nova institucionalidade política que recoloca na pauta
democrática as questões da pluralidade cultural e da necessidade de
inclusão social (Santos, ibid: p. 76).
34
Por isto, para Santos, a concepção de complementaridade implicaria uma democracia mais
qualitativa, pois ampliaria a participação em nível local através das formas locais de participação
direta que substituiriam esferas de deliberação e decisão que fazem parte do processo de
representação. Essa alteração contribuiria, segundo ele, para ampliar a diversidade cultural e a
inclusão social. Nas palavras de Santos, “tanto no Brasil quanto na Índia, os arranjos participativos
permitem a articulação entre argumentação e justiça distributiva e a transferência de prerrogativas
do nível nacional para o nível local e da sociedade política para os próprios arranjos
participativos”(ibid: p.76).
Santos conclui sustentando que o fortalecimento da democracia participativa passa pela
mobilização do que ele anuncia como três teses: 1ª) pelo fortalecimento da demodiversidade. “Essa
tese implica reconhecer que não existe nenhum motivo para a democracia assumir uma só
forma”(ibid: p. 77); 2ª) pelo fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre local e o
global. “Novas experiências democráticas precisam de apoio de atores democráticos transnacionais
nos casos nos quais a democracia é fraca”(ibid: p. 77); 3ª) pela ampliação do experimentalismo
democrático. “É necessário para a ampliação cultural, racial e distributiva da democracia que se
multipliquem experimentos em todas essas direções”(ibid: p.78).
A última vertente que nos propomos a resgatar é aquela fundada no liberalismo clássico que
aparece na atualidade com diversas tonalidades, e principalmente renovada pela ofensiva
contemporânea do capital trajada de neoliberalismo. Todavia, o seu núcleo central é o mesmo: uma
concepção de cidadania conectada a uma determinada forma de entender a liberdade e a igualdade,
e forjar uma chamada cultura pública do que seria uma sociedade democrática. Como referência
desse debate na academia brasileira, e muito bem manuseado pelos cientistas políticos desse campo,
escolhemos Norberto Bobbio.
De acordo com o autor, para se formular uma definição mínima de democracia, o primeiro
indicativo é que ela é seja contraposta a todas as formas de governo autocrático e que ela seja
caracterizada por um conjunto de “regras primárias ou fundamentais” que estabelecem quem está
autorizado a tomar decisões coletivas e com quais “procedimentos”. Para o autor,
Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos
os seus membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto
interna como externamente. Mas até mesmo as decisões de grupo são
tomadas por indivíduos (o grupo como tal não decide). Por isso, para que
uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) possa ser
aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em
regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que estabeleçam
quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para
35
todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos (Bobbio,
2000: p. 30-31).
Dessa forma, para o autor, a definição das regras ganha importância central para legitimar as
decisões tomadas pelo grupo que, ainda de acordo com ele, é a soma de vários indivíduos. Mas
essas regras servem principalmente para definir quais indivíduos têm autorização para decidir e de
que forma é organizada essa tomada de decisão. Isso indicaria, no entendimento de Bobbio, que os
escolhidos como representantes do grupo têm esse poder de decidir e que, para caracterizar uma
democracia, os representantes seriam um quantitativo elevado do grupo. “No que diz respeito aos
sujeitos chamados a tomar (ou colaborar para a tomada de) decisões coletivas, um regime
democrático caracteriza-se por atribuir este poder (que, estando autorizado pela lei fundamental,
torna-se um direito) a um número muito elevado de membros do grupo” (ibid: p. 31). Todavia, esse
número elevado ao qual o autor refere-se é naturalmente vago e não pode ser igual a todos do
grupo, pois, para o ele, os discursos políticos estão inscritos no universo do “aproximadamente” e
do “na maior parte das vezes”, e é impossível dizer que mesmo no mais perfeito regime
democrático “todos” participem e votem. O autor mostra, por exemplo, que não votam os
indivíduos que não atingiram uma certa idade. Nos termos de Bobbio,
A onicracia, como governo de todos, é um ideal-limite. Estabelecer o
número dos que têm direito ao voto a partir do qual pode-se começar a
falar de regime democrático é algo que não pode ser feito em linha de
princípio, isto é, sem a consideração das circunstâncias históricas e sem
um juízo comparativo: pode-se dizer apenas que uma cidade na qual os
que têm direito ao voto são os cidadãos masculinos maiores de idade é
mais democrática do que aquela na qual votam apenas os proprietários e é
menos democrática do que aquela em que têm direito ao voto também as
mulheres(ibid: p. 31).
A democracia, assim, é processual e gradativa e o grau maior ou menor de democracia seria
medido pela inserção dos segmentos nos processos decisórios. Em se tratando das modalidades de
decisão, de acordo com o autor, a regra fundamental da democracia seria “a regra da maioria”. Para
que decisões sejam consideradas coletivas, elas deveriam ser aprovadas ao menos pela maioria
“daqueles a quem compete tomar a decisão” e virariam normas imperativas para todo o grupo.
Bobbio chama atenção, dessa forma, para a validade da decisão. Segundo ele, a decisão coletiva da
maioria adquiriria uma validação legítima, sendo apenas superada pela decisão adotada por
unanimidade. Mas esta, adverte o autor, só seria possível em grupos restritos ou homogêneos.
Na definição de democracia de Bobbio (2000), há um outro elemento fundamental que, para
ele, antecederia o processo de participação dos indivíduos na tomada de decisões e a existência de
36
regras de procedimentos baseadas na maioria. Este elemento seriam os direitos fundamentais de
liberdade, que garantiriam que os indivíduos estão tomando decisões a partir de escolhas livres e
possíveis. Para ele, esta é a base do Estado liberal e foi a partir dele constituído o Estado de direito.
É necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os assim
denominados direitos de liberdade, de opinião, de expressão das próprias
opiniões, de reunião, de associação, etc. – os direitos à base dos quais
nasceu o Estado liberal e foi construída a doutrina do Estado de direito
em sentido forte, isto é, do Estado que não apenas exerce o poder sub
lege, mas o exerce dentro de limites derivados do reconhecimento
constitucional dos direitos “invioláveis” do indivíduo (Bobbio, ibid: p.
32).
É evidente, nessa perspectiva, que as normas constitucionais na qual estão cristalizadas esses
supostos direitos “invioláveis” não são regras da organização democrática. São pressupostos que
antecedem a democracia e que definem um tipo específico de funcionamento para a sociedade e as
relações sociais. Mas o último ponto que nos parece importante na análise do autor é a relação
intrínseca que ele estabelece entre Estado liberal e Estado democrático.
É pouco provável que um Estado não-liberal possa assegurar um correto
funcionamento da democracia, e de outra parte é pouco provável que um
Estado
não-democrático
seja
capaz
de
garantir
as
liberdades
fundamentais. A prova histórica desta interdependência está no fato de
que Estado liberal e Estado democrático, quando caem, caem juntos
(Bobbio, ibid: p. 33).
Tendo essa convicção, Bobbio afirma que liberalismo e democracia são interdependentes,
pois seriam necessárias “certas liberdades” para o exercício “correto” do poder democrático - como
também é necessária a democracia para garantir a existência e divulgação das “liberdades
fundamentais”. Esta é precisamente a concepção de democracia que determina o ordenamento
político e a relação Estado/sociedade na maior parte dos países em escala mundial.
1.2. O debate da política social
O debate que apresentamos nesta parte da nossa tese sobre a política social tem uma função
diferente do anterior sobre democracia, que buscou mapear algumas das principais perspectivas
sobre o tema. Agora, partimos da origem da política social até os tempos atuais para resgatar a
articulação fundamental entre natureza do capitalismo, papel do Estado e papel da luta de classes na
emergência e ampliação/contração das políticas sociais, de modo que tal articulação é o que
37
determina o significado e a função da política social em períodos historicamente determinados.
O estudo da política social, a partir dessa perspectiva, nos permite identificar sua tendência
predominante e suas funções na dinâmica econômica e social da realidade brasileira nos tempos
atuais e reconstruir, a partir dela, um dos fios que estabelece conexões entre a economia solidária e
o Serviço Social – nosso objeto central. De pronto, é necessário dizer que analisamos a política
social a partir de um mirante determinado. Buscamos tratá-la inspiradas na tradição marxista9 que a
compreende – de modo muito amplo – como a expressão possível e limitada, condicionada pela
dinâmica da acumulação, das modalidades de proteção social nas sociedades capitalistas. As
políticas sociais expressam um contexto contraditório de disputas, pelas classes sociais, de parcelas
do excedente econômico (que se exprimem em conquistas e direitos sociais), sempre condicionadas
pela acumulação (cf. Netto, 1992; Behring, 1998; Behring e Boschetti, 2006).
1.2.1. Origem da política social e sua vinculação orgânica à questão social
As políticas sociais e as modalidades que constituem a proteção social são respostas e formas
de enfrentamento às manifestações da questão social nas sociedades capitalistas. A questão social
apresenta-se historicamente através das suas refrações e os sujeitos sociais engendram formas de
seu enfrentamento.
Sumariamente, o surgimento da questão social é marcado pela constituição das relações de
produção e reprodução social capitalistas num determinado momento histórico – justamente aquele
demarcado pelos primeiros impactos da revolução industrial e da urbanização a ela conexa.
Sumariamente, pode-se entender por questão social o conjunto de determinações políticas, sociais e
econômicas que a emergência da classe operária acarretou - com seus movimentos de protesto
contra a exploração e o pauperismo a que estava submetida - no processo de afirmação da sociedade
capitalista (cf. Cerqueira Filho, 1982). A contradição entre capital e trabalho é, nesses termos,
fundamental no desenvolvimento da questão social.
Com este pressuposto, podemos afirmar que as respostas dadas às sequelas da questão social
até o final do século XIX pelo Estado liberal capitalista foram de caráter predominantemente
repressivo e atenderam apenas a demandas pontuais da classe trabalhadora, “transformando as
reivindicações em leis que estabeleciam melhorias tímidas e parciais nas condições de vida dos
trabalhadores, sem atingir, portanto, o cerne da questão social” (Behring e Boschetti, 2006: p. 63).
Mas a própria organização da classe trabalhadora foi importante para impor mudanças ao Estado e
reivindicar mais direitos, mesmo os inscritos na pauta da cidadania burguesa (cf. Coutinho, 1996).
O trânsito histórico ao capitalismo dos monopólios determinou renovadas funções econômicas
e políticas ao Estado burguês. E, na dinâmica contraditória que o orienta, criou condições para que
9
Não existe uma análise única e sem divergências sobre política social na tradição marxista. Mas a compreensão que
apresentamos aponta apenas aspectos gerais do que seria comum a boa parte dos intelectuais desse campo.
38
ele buscasse legitimação política através de meios democráticos, o que o tornou permeável a
demandas das classes trabalhadoras organizadas que conseguiram algumas respostas para atender a
seus interesses e reivindicações imediatas. Na medida em que as manifestações da questão social
tornam-se alvo da intervenção contínua e sistemática do Estado, são criadas modalidades de
atendimento a algumas dessas manifestações e é nessa trama que se origina a política social: “É só a
partir da concretização das possibilidades econômico-sociais e políticas segregadas na ordem
monopólica (concretização variável do jogo das forças políticas) que a ‘questão social’ se põe como
alvo de políticas sociais”(Netto, 1992: p. 25).
O Estado capitalista, então, passa a realizar ações sociais de modo mais sistemático. Na
análise de diferentes autores, constata-se que existem aqueles que identificam alguns elementos que
demarcariam o surgimento das políticas sociais no final do século XIX. Podemos, assim, sumariar
na sequência alguns desses elementos apontados por Pierson (apud Behring e Boschetti, 2006). A
presença da social-democracia alemã no parlamento e nas lutas sociais colaborou para a introdução
de políticas sociais orientadas pela lógica do seguro social na Alemanha, a partir de 1883. A criação
dessas políticas marcou o reconhecimento público de que a incapacidade para o trabalho devia-se a
contingências que deveriam ser protegidas. O desenvolvimento das políticas sociais passa a ampliar
a ideia de cidadania nos marcos do capitalismo, pois começa a alcançar alguns segmentos dos
trabalhadores, o que reorienta suas ações antes apenas direcionadas para a pobreza extrema; isto
ficaria explícito, segundo Pierson, na mudança de relação do Estado com o cidadão em quatro
direções:
a) o interesse estatal vai além da manutenção da ordem, e incorpora a
preocupação de atendimento às necessidades sociais reivindicadas pelos
trabalhadores; b) os seguros sociais implementados passam a ser
reconhecidos legalmente como o conjunto de direitos e deveres; c) a
concessão de proteção social pelo Estado deixa de ser barreira para a
participação política e passa a ser recurso para o exercício da cidadania,
ou seja, os direitos sociais passam a ser vistos como elementos da
cidadania; e d) ocorre um forte incremento público nas políticas sociais,
com crescimento do gasto social (Pierson apud Behreing e Boschetti,
ibid: p. 64-65).
Note-se que essas referências são de todo geral, pois a forma como a intervenção estatal
ocorreu nos vários países remete a determinações que vão além do jogo de interesses das forças
sociais. Aquela intervenção é particularizada pela magnitude das políticas sociais, pela constituição
de fundos e pelos procedimentos diversos a sua formulação e implementação. Isso impede, segundo
Bhering e Boschetti, estabelecer um padrão único nesse período de emergência das políticas sociais.
Mas existem iniciativas que podem ser situadas como predominantes, segundo as autoras.
entre 1883 e 1914, todos os países europeus implantaram um sistema
39
estatal de compensação de renda para os trabalhadores na forma de
seguros; no mesmo período, 11 dos 13 países europeus introduziram
seguro-saúde e 9 legislaram sobre pensão ao idosos; e em 1920, 9 países
tinham alguma forma de proteção ao desemprego (ibid: p. 67).
Essas indicações nos servem para apontar características importantes que revelam o processo
de emergência da política social e as formas que esta adquiriu inicialmente, ainda sob o signo do
liberalismo.
No último quarto do século XIX e início do século XX fica patente o enfraquecimento político
do liberalismo e destaca-se, no desenvolvimento do capitalismo, seu estágio imperialista10 e o papel
decisivo dos monopólios e do capital financeiro. Podemos verificar, neste período, a significação
central do processo de concentração e monopolização do capital. O mercado passa a ser cada vez
mais liderado por grandes monopólios que inserem na dinâmica econômica fenômenos novos:
a) os preços das mercadorias (e serviços) produzidas pelos monopólios
tendem a crescer progressivamente; b) as taxas de lucro tendem a ser
mais altas nos setores monopolizados; c) a taxa de acumulação se eleva,
acentuando a tendência descendente da taxa média de lucro e a tendência
ao subconsumo; d) o investimento se concentra nos setores de maior
concorrência, uma vez que a inversão nos monopólios torna-se
progressivamente mais difícil; e) cresce a tendência a economizar
trabalho “vivo”, com a introdução de novas tecnologias; f) os custos da
venda sobem, com um sistema de distribuição e apoio hipertrofiado – o
que, por outra parte, diminui os lucros adicionais dos monopólios e
aumenta o contingente de consumidores improdutivos (contrarrestando,
pois, a tendência ao subconsumo) (Netto, 1992: p. 16-17).
De outro lado, vem ocorrendo o crescimento do movimento operário que pressionou a
burguesia para o reconhecimento de direitos políticos, cívicos e sociais cada vez mais amplos. Esta
luta contou com um acontecimento decisivo para determinar a amplitude das conquistas dos
trabalhadores: a vitória do movimento socialista em 1917 na Rússia e o processo posterior de
consolidação da revolução. A Revolução de Outubro, como também é conhecida, teve um efeito
singular no movimento operário internacional, fortalecendo-o, e impôs ao capital uma posição de
defensiva. Também importantes foram as mudanças no processo de produção (taylorismo, depois
associado às fórmulas fordistas) que, ao mesmo tempo em que possibilitaram taxas mais altas de
mais-valia, propiciaram também, contraditoriamente, maior poder coletivo aos trabalhadores, que
passam a requisitar acordos coletivos de trabalho e outras garantias trabalhistas.
Todo esse contexto é palco da intensificação da concorrência inter-capitalista que culminou,
em vias de fato, com as duas grandes guerras em escala mundial. Estas foram expressão dos
10
Para uma análise sobre o imperialismo os estudos de Lenin são centrais (Lenin, 1981). Outras importantes
contribuições são de Hilferding (1985) e Luxemburg (1984).
40
conflitos inter-imperialistas, constituindo “a forma extrema de partilhas do mundo pelas potências
imperialistas” (Netto e Braz, 2006: p. 183). Esse período de desenvolvimento amplo do
imperialismo foi marcado por inúmeras crises, mas nenhuma delas se compara, pelos seus impactos,
à crise de 1929. A grande depressão que se iniciou em 1929 e prolongou-se até 1932 começou no
sistema financeiro americano e se espalhou por todas as partes do mundo. Esta crise, que teve
consequências arrasadoras, agravou ainda mais a confiança nos pressupostos econômicos liberais e
obrigou os líderes capitalistas a repensar as alternativas políticas e econômicas que seriam
implementadas pelas potências imperialistas.
A crise de 1929 evidenciou, para os dirigentes mais lúcidos da burguesia dos países
imperialistas, a necessidade de formas de intervenção do Estado na economia capitalista.
Registremos: o Estado burguês sempre interveio na dinâmica econômica, “garantindo as condições
externas para a produção e a acumulação capitalistas (...); mas a crise de 1929 revelou que novas
modalidades interventivas tornavam-se necessárias” (Netto e Braz, ibid: p. 192). As formas de
intervenção estatal que seriam necessárias não tinham, de modo algum, mais nenhum suporte
teórico no pensamento liberal-conservador, para o qual o Estado deveria ser atrofiado de funções
sociais e principalmente econômico, responsável apenas pela garantia dos direitos políticos e
cívicos tidos como um direito natural. Neste cenário, ganha espaço uma figura central, John M.
Keynes (1883-1946), e sua clássica obra publicada em 1936, Teoria Geral do emprego, do juro e do
dinheiro dá suporte teórico e garante a inovação que foi requisitada pelo capitalismo monopolista.
Esse contexto demarca a passagem do Estado liberal para o que será denominado de “Estado
Social”11.
1. 2. 2. O keynesianismo/fordismo e a política social
O período que segue do fim da Segunda Guerra Mundial até final dos anos sessenta ficou
marcado no desenvolvimento do capitalismo como o dos “anos dourados” de sua expansão. Então,
o capitalismo vivenciou uma fase única, na qual apresentou resultados econômicos jamais vistos na
sua história. A intervenção sistemática do Estado impôs uma regulação que reduziu os impactos das
constantes crises – cíclicas e inelimináveis - do capitalismo e proporcionou taxas de crescimento
econômico incomparáveis.
As propostas do pensamento keynesiano (que, em geral, norteou esse processo de
11
Behring e Boschetti chamam atenção para o fato de que “não existe uma polaridade irreconciliável entre Estado
liberal e Estado social (...). Houve sim uma mudança profunda na perspectiva do Estado, que abrandou seus princípios
liberais e incorporou orientações social-democratas num novo contexto socioeconômico e da luta de classes. (…) Não
se trata, então, de estabelecer uma linha evolutiva linear (...), mas sim chamar atenção para o fato de que ambos tem um
ponto em comum: o reconhecimento de direitos sem colocar em xeque os fundamentos do capitalismo” (2006: p. 63).
41
renovação) sustentavam-se centralmente na ideia de que o capitalismo não conseguiria, pela
dinâmica exclusiva do mercado, se auto-regular, sendo para isso, portanto, necessários fatores extraeconômicos frear a recessão e estimular os investimentos. Segundo Sweezy (1977), mesmo não
concordando com as ideias de Keynes, ele afirma que suas maiores realizações foram a libertação
da Economia da tirania da lei de Say12 e a destruição do mito do capitalismo como sistema autoregulável capaz de reconciliar interesses públicos e privados. “Keynes acreditava que o incentivo a
investir era, digamos, naturalmente débil e que a estrutura do sistema era de molde a permitir que
um débil incentivo a investir resultaria em depressão e desemprego” (Sweezy, ibid: p. 85-86).
Menos que evitar a crise, tais medidas tinham a função de amortecer seus impactos e
proporcionar uma forma viável para a reconstrução europeia pós-guerra. Estas medidas foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a planificação da economia, destinada a evitar os riscos das flutuações periódicas13;
a intervenção na relação capital/trabalho através da política salarial e do controle de preços;
a distribuição de subsídios;
a política fiscal;
a oferta de crédito combinada a uma política de juros;
e as políticas sociais.
Essas medidas, operacionalizadas pelos poderes públicos, tiveram em seu conjunto o
objetivo de conter a queda das taxas de lucros e, assim, efetivar algumas estratégias para conter o
ciclo depressivo e estimular o crescimento econômico. A intervenção estatal tinha um programa
fundado em dois grande eixos:
a) a política de pleno emprego, a partir da geração de empregos diretos na produção e nos serviços
públicos;
b) e a redução da desigualdade social via os chamados salários indiretos, aumentando a renda dos
trabalhadores e outros segmentos por meios dos serviços públicos, dentre eles a política social
(cf. Behring e Boschetti, 2006).
O Estado passa a agir ativamente na administração macroeconômica, intervindo na produção
e regulação das relações econômicas e sociais. Porém, se “o bem-estar ainda deve continuar sendo
buscado individualmente no mercado (...) se aceitam intervenções do Estado em áreas econômicas,
para garantir a produção, e na área social, sobretudo para as pessoas consideradas incapazes para o
trabalho: idosos, deficientes e crianças” (id, ibid: 86).
12
13
A Lei de Say é uma norma econômica neoclássica, de autoria do economista francês Jean-Baptiste Say, que
estabelece que a chamada Oferta Agregada da Economia é que determina o nível da produção.. Segundo este
princípio, quando um produtor vende seu produto, o dinheiro que obtém com essa venda está sendo gasto com a
mesma vontade da venda de seu produto; sinteticamente: a oferta de um produto sempre gera demanda por outros
produtos. Pela lei de Say, não existem as crises de superprodução, uma vez que tudo o que é produzido pode ser
consumido, já que a demanda de um bem é determinada pela oferta de outros bens, de forma que a oferta agregada é
sempre igual à demanda agregada. Mas Say aceitava ser possível que certos sectores da economia tivessem relativa
superprodução em relação aos outros setores, que sofressem de relativa subprodução (cf. Mauro, 1973).
Não são poucos os marxistas que discordam dessa “planificação da economia” sob o comando do capital (p. ex.,
Mészáros, 2002); parece, todavia, que aqui não se refere a um planejamento central e global da economia, mas,
antes, à determinação dos futuros fluxos de investimentos estatais que, publicizados, oferecem aos capitalistas
indicações mais ou menos precisas para os seus próprios investimentos.
42
Da parte dos trabalhadores, esse período histórico do capitalismo foi um momento de
intensas críticas e lutas sociais que adensaram ainda mais esse movimento de renovação do capital e
lhe impuseram alguns constrangimentos. O avanço das lutas trabalhistas foi propiciado por um
conjunto de fatores históricos, assim sistematizados por Netto e Braz:
Três processos, todos mutuamente relacionados, conferiram bases reais e
práticas a esse questionamento (do capitalismo e da ordem burguesa). De
uma parte, tendo sido a força decisiva na vitória contra o fascismo, a
União Soviética passou a desfrutar de grande prestígio e poder, agora não
mais isolada, mas cercada por um conjunto de países que, libertados da
ocupação nazista, romperam com o capitalismo e se dispuseram à
experiência socialista. De outra, especialmente a Europa Nórdica e
Ocidental (à exceção de Espanha e Portugal, onde as ditaduras fascistas
se prolongaram até meados dos anos setenta), o movimento operário e
sindical e os partidos ligados aos trabalhadores conquistaram enorme
legitimidade, impondo limites e restrições efetivos aos monopólios.
Nesse mesmo período, ganhou dimensão mundial a mobilização
anticolonialista que, ao fim, acabou por destruir os impérios coloniais
(2006: p. 196).
De fato, tais processos colaboraram ativamente para que o Estado a serviço dos monopólios
redefinisse seu papel em relação aos trabalhadores. Os pressupostos das orientações econômicas do
Estado são agora a desoneração do capital de parte dos custos e obrigações com a preservação da
força de trabalho, financiando a prestação de serviços públicos os mais diversos, que irão conformar
as modalidades de políticas sociais: seguro do trabalho, saúde, educação, aposentadoria, habitação
etc.
Existe uma mudança fundamental, que possibilitou de fato toda essa nova dinâmica da
regulação social: as significativas alterações na própria organização do trabalho industrial. Houve
um expressivo desenvolvimento de novas técnicas de produção, aliadas à introdução de também
novas técnicas de “gerenciamento científico”. No início do século já eram desenvolvidas algumas
experiências nesse sentido nos EUA patrocinadas por F. Taylor e Henry Ford. Inicialmente, essas
novas estratégias de organização do processo de trabalho foram introduzidas nas indústrias de
automóveis e tornaram-se rapidamente, devido aos seus resultados tão favoráveis ao capital, o
padrão produtivo dominante e generalizaram-se por todas as latitudes no segundo pós-guerra. Esta
modalidade de gestão da força de trabalho designa-se, até hoje, como fordista-taylorista. Dessa
forma, ao keynesianismo foram agregadas determinações estruturais que possibilitaram o que a
literatura convencionou chamar de pacto-fordista. O pacto proporcionou outras condições – que
Netto e Braz (2006) vão chamar de mecanismos promotores de coesão social – para viabilizar o
crescimento econômico, articulando os principais atores do processo de desenvolvimento
43
capitalista.
O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papeis e construir novos
poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas em
certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade
segura; e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções
relativas ao desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de
produção (Harvey, 1992: p. 125).
Para conformar essa forma de organização social, foi necessário um amplo processo de
legitimação do Estado a serviço dos monopólios, e este foi possível pelo reconhecimento dos
direitos sociais e a ampliação do ordenamento democrático (sob pressão dos movimentos dos
trabalhadores). Essas ações tiveram como resultado a “consolidação de políticas sociais e a
ampliação de sua abrangência, na configuração de um conjunto de instituições que dariam forma
aos vários modelos de Estado de Bem-Estar Social” (Netto e Braz, ibid: p. 206).
A ampliação das funções econômico-sociais do Estado não permite que possamos
homogeneizar as modalidades de bem-estar produzidas em cada país capitalista. Não há a menor
dúvida de que o modelo norte-americano tem muito pouco a ver com o modelo nórdico, e este com
o da Europa meridional - para não falar das diferenças com as modalidades que foram sendo
construídas em algumas periferias capitalistas. Existem muitos estudos que buscam uma
uniformização delas, recobertas todas pelo grande guarda-chuva denominado Welfare State14 ou
ainda tentativas de criar tipologias para definir os traços marcantes desse Estado social, como é o
caso da análise de Esping-Andersen (1991). A partir dessas indicações, embora não existam
sistemas de seguridade social únicos ou um modelo-padrão de Welfere State, vale a pena, por
preocupação meramente expositiva, lembrar algumas classificações realizadas pelos estudos
comparativos nos últimos anos. Devido à sua influência no debate sobre o tema, destacamos os
esquemas elaborados por Titmus (1963) e Esping-Andersen (1991) que foram sistematizados por
Fiori (s/d). Segundo Fiori, as várias experiências foram agrupadas em alguns padrões básicos,
diferenciados por sua forma de financiamento, pela extensão de seus serviços, pelo peso do setor
público, pela sua organização dos sistemas políticos, pela sua forma de organização institucional
etc. E que podem ser assim organizadas: “a mais antiga tipologia, e talvez a mais conhecida delas,
foi sugerida por Titmus, já nos anos 60”:
i. "The residual welfare model of social policy", o padrão ou modelo
residual, "onde a política social intervém ex-post. e possui o caráter
temporalmente limitado". Seria o caso contemporâneo dos Estados
Unidos.
ii. "The industrial achievement performance model of social policy", em
14
Welfare State foi o termo adotado na Inglaterra para caracterizar as ações do Estado na implementação dos serviços
sociais não contributivos a partir do Plano Beveridge de 1942. (cf. Marshall, 1967).
44
geral traduzido como modelo ou padrão meritocrático-particularista,
onde a política social intervém apenas para corrigir a ação do mercado.
“O sistema de welfare”, nestes casos, é tão-somente complementar às
instituições de mercado. A Alemanha talvez fosse, hoje, o caso que mais
se aproxima deste modelo.
iii. "The redistributive model of social policy", ou padrão institucionalredistributivo, "voltado para a produção e distribuição de bens e serviços
sociais ‘extra-mercado’, os quais são garantidos a todos os cidadãos
universalmente cobertos e protegidos". Os países nórdicos e a Suécia em
particular seriam os países que mais se enquadrariam neste padrão.(Fiori,
ibid: p. 06).
Esping-Andersen (1991) nos oferece uma outra tipologia do que ele chamou de "regimes de
welfare states", que, no entendimento de Fiori, “não se distingue muito no essencial da que já havia
sido proposta por Titmus”. Esping-Andersen fala de três grandes grupos e apresenta critérios
essenciais de diferenciação dos seus "regimes": “a qualidade dos direitos sociais, o grau em que o
sistema promove ou reproduz a estratificação social e a forma em que se relacionam, em cada um
dos casos, o Estado, o mercado e as famílias” (Fiori, ibid: p. 06). Eis a tipologia de EspingAndersen:
i. O "welfare state liberal", "em que predominam a assistência aos
comprovadamente pobres, reduzidas transferências universais ou planos
modestos de previdência social e onde as regras para habilitação aos
benefícios são estritas e muitas vezes associadas ao estigma". São seus
exemplos típicos: Estados Unidos, Canadá e Austrália;
ii. Os "welfare states conservadores e fortemente corporativistas", onde
"predomina a preservação das diferenças de status; os direitos, portanto,
aparecem ligados à classe e aos status... e a ênfase estatal na manutenção
das diferenças de status significa que seu impacto em termos de
redistribuição é desprezível. Incluem-se aqui, como casos típicos,
Áustria, França, Alemanha e Itália;
iii. Os "regimes social-democratas", onde o universalismo e a
desmercantilização atingem amplamente a classe média e "onde todos os
segmentos sociais são incorporados a um sistema universal de seguros no
qual todos são simultaneamente beneficiários, dependentes e, em
princípio, pagadores". Não cabe dúvidas de que Esping-Andersen está
falando aqui de um número limitadíssimo de países escandinavos.(Fiori,
ibid: p. 06-07).
A caracterização geral das políticas sociais e dos sistemas de seguridade social existentes
(ou que existiram) em vários países capitalistas centrais nos permite afirmar que as políticas sociais
45
experimentaram, dessa forma, sua consolidação no segundo pós-guerra, tendo como fator decisivo a
intervenção do Estado na regulação das relações econômicas e sociais. Mesmo que não possamos
equalizar tais experiências, podemos certamente apontar que esse período foi marcado, em
praticamente todos os países, pelo crescimento do orçamento público destinado ao social e pela
multiplicação de programas sociais. As mudanças capitalistas que se seguem a esse período, a partir
especialmente da década de setenta, revelariam o caráter episódico da generalização das políticas
sociais de cariz não contributivo e universais.
1. 2. 3. Política social no neoliberalismo
A passagem de finais dos anos de 1960 à década seguinte é marcada na história do
capitalismo monopolista por um conjunto de crises que define a saída de uma onda longa expansiva
para uma onda longa recessiva (Mandel, 1982) e impõem grandes quedas nas taxas de lucro do
capital. Esta conjuntura, aliada à inflexão neoliberal que se seguiu a partir de meados e fins dos
anos 1970, produziram taxas elevadas e persistentes de desemprego e índices cada vez mais
crescentes de pobreza na maioria dos países capitalistas centrais, mas principalmente na periferia.
Os dirigentes capitalistas puseram em movimento um rápido processo de reestruturação capitalista,
que vem apresentando seu formato e suas renovadas funções nos últimos trinta anos. A ofensiva do
capital é marcada pelo aprofundamento da mundialização - via financeirização - da economia
global, pela reestruturação produtiva e pela adesão às orientações políticas e econômicas do
neoliberalismo15. Por outro lado, o desemprego impôs aos trabalhadores uma atitude de defensiva e
determinou as opções do movimento operário em ações corporativas de defesa dos trabalhadores
formais. Este processo desarticulou a resistência política no campo do trabalho, que vem
acumulando sucessivas derrotas. A desagregação da União Soviética e a queda do muro de Berlim
demarcaram o recuo dos projetos socialistas e colaboram objetiva e subjetivamente com o
enfraquecimento da resistência operária e popular.
O Estado burguês, que desempenhava amplas funções na regulação das relações econômicas
sociais, começa a passar por um extensivo processo de contra-reforma, na qual são redefinidas suas
ações. Sua intervenção passa a ter como principal objetivo a otimização da acumulação capitalista
em crise por via da desregulação e abertura ampla e irrestrita dos mercados (mercantis e
financeiros), da privatização e da realocação do fundo público (Oliveira, 1998) – com grandes
implicações para as políticas sociais. Não ser trata de pensarmos que, no período anterior o Estado
não era o principal articulador do crescimento do capital - mas agora essas funções se exacerbam
em detrimento dos direitos do trabalho.
15
Algumas particularidades do capitalismo contemporâneo serão analisadas com mais mediações na seção primeira do
capítulo 2 da nossa tese.
46
Se o estado social foi um mediador ativo na regulação das relações
capitalistas em sua fase monopolista, o período pós-1970 marca o avanço
de ideais neoliberais que começam a ganhar terreno a partir da crise
capitalista de 1969-1973. Os reduzidos índices de crescimento com altas
taxas de inflação foram um fermento para os argumentos neoliberais
criticarem o Estado social e o “consenso” do pós-guerra, que permitiu a
instituição do Welfare State (Behring e Boschetti, 2006: p. 125).
O neoliberalismo é, em primeiro lugar, uma teoria das práticas político-econômicas que
propõe que a melhor satisfação dos indivíduos é provida pela liberação das capacidades
empreendedoras individuais a partir de direitos naturais fundamentais: direito à propriedade
privada, ao livre comércio e ao livre mercado. E o papel do Estado seria garantir e criar uma
estrutura institucional adequada a essas práticas. Dessas funções do Estado deduz-se um suposto
“Estado mínimo”, mas a realidade mostra que há um grande abismo entre as elaborações teóricas e
a prática que vem operando. “O caráter geral do Estado na era da neoliberalização é de difícil
descrição (...) tornam-se rapidamente evidentes desvios do modelo da teoria neoliberal” (Harvey,
2008: p. 80). Nos termos de José Paulo Netto, o “neoliberalismo é o capital sem controles sociais
mínimos”.
A estrutura do financiamento e dos gastos públicos no período de hegemonia neoliberal
produziu um aumento de impostos regressivos para o capital e, para os trabalhadores, de impostos
indiretos para a classe trabalhadora e há redução de gastos com as políticas sociais, sem ter sido
retomado o crescimento econômico do período anterior. Tais medidas agravam as desigualdades
sociais e a concentração de riqueza socialmente produzida. Essas realidades não são alteradas na
década de 1990 e início do século XXI. Mas o que se obteve foi uma recuperação das taxas de
lucros dos grandes monopólios.
A reestruturação produtiva, as alterações na organização do trabalho e a hegemonia
neoliberal têm provocado importantes reconfigurações nas políticas sociais. Além das tendências
apontadas anteriormente, a expansão de programas de transferência de renda marca mais um traço
da orientação neoliberal para as políticas sociais nos últimos anos. No final da década de 1980, as
políticas neoliberais foram adotadas não apenas pela social-democracia que predominava em alguns
países capitalistas centrais (europeus), como em muitos países periféricos e pelos Estados póssocialistas emergentes no Leste europeu e marca a estagnação ou redução dos gastos sociais.
Alguns países europeus e os países periféricos, na sua maioria, instituíram essa modalidade
(transferência de renda) de política social. Stein apud Behring e Boschetti (2006) nos oferece uma
caracterização geral desses programas:
• são condicionados à situação de ausência ou baixa renda;
• são completivos ou substitutivos dos salários;
47
• possuem abrangência nacional e são regulamentados em lei nacional;
• os beneficiários devem ter acima de 18 anos e devem comprovar cidadania ou residência
legal no pais;
• os beneficiários devem mostrar disposição para inserção econômica e ou social em alguma
atividade ligada a qualificação profissional ou atividade de trabalho;
• o financiamento é de responsabilidade, em geral, compartilhada entre governo federal,
estados e municípios;
• são permanentes e assegurados a partir de critérios objetivos (ibid: p. 133-134).
As tendências contemporâneas da política social apontam nitidamente para um processo de
contração quantitativo e qualitativo. A reestruturação capitalista em curso imprime nas políticas
sociais características muito particulares, como a restrição, a seletividade e a focalização,
“rompendo um ciclo de ampliação de direitos e proteção social criados no desenvolvimento
capitalista” (Behring e Boschetti).
A neoliberalização política, econômica, social e cultural não foi capaz de resolver a crise do
capitalismo nem alterou os índices da recessão nos termos propostos. As medidas implementadas –
provocando aumento do desemprego, destruição dos postos de trabalho não-qualificados, redução
dos salários devido ao aumento da oferta de força de trabalho e redução de gastos com as políticas
sociais – tiveram vários efeitos devastadores, mas o principal sem dúvida foi a degradação do
padrão de vida dos trabalhadores.
O processo de neoliberalização, no entanto, envolveu muita “destruição
criativa”, não somente dos antigos poderes e estruturas institucionais,
mas também das divisões do trabalho, das relações sociais, da promoção
do bem-estar social, das combinações de tecnologias, dos modos de vida
e de pensamento, das atividades reprodutivas, das formas de ligação à
terra e dos hábitos do coração. (Harvey, 2008: p. 13).
A destruição de que nos fala Harvey cria, tendo em vista a recuperação da rentabilidade do
capital e do aumento da intensificação do trabalho, a recomposição da superpopulação relativa
submetida a um quadro de insegurança constante que diz respeito à sua própria existência. Mas é
importante destacar que não há uma eliminação das funções sociais do Estado; trata-se da sua
refuncionalização, que implica na apropriação quase exclusiva dos mecanismos de regulação
econômica pelo grande capital. E quais são as alternativas apresentadas para tratar com as refrações
da questão social? O desemprego e a pobreza – que são derivações diferentes do mesmo processo –
serão objeto de intervenção da ação pública e privada determinada por novas funções com ênfase no
voluntariado, nas organizações não-governamentais, nas empresas privadas ditas não lucrativas
(fundações) e de responsabilidade social (cf. Montaño, 2002).
48
Entretanto, existe ainda, no nosso entendimento, a proliferação de um conjunto de medidas
emergenciais que o Estado brasileiro (nos seus níveis federal, estadual e municipal) vem
desenvolvendo para atender aos desempregados e aos pobres. Essas políticas emergenciais
somaram-se e fundiram-se, em alguma medida, com diversas modalidades associativas espontâneas
surgidas no movimento popular e vêm formando nas duas últimas décadas um movimento
heterogêneo de experiências concretas sob o leque genérico chamado de “economia solidária”. Esta
é a forma que vincula política social no capitalismo contemporâneo e economia solidária sobretudo porque, se, de um lado, os “inválidos para o mundo” necessitam de uma forma de
amenizar seus problemas de sobrevivência imediata, do outro “os donos do mundo” precisam
suavizar os efeitos da questão social e garantir que a barbárie não chegue a níveis insuportáveis.
Como anunciamos no início dessa análise sobre a política social, o posicionamento teórico e
político de que compartilhamos é uma das perspectivas – obviamente a não hegemônica – que vem
se dedicando a estudar esse fenômeno ao longo do século XX e início do XXI. Existem outras
perspectivas que partem de entendimentos os mais diversos (a política social seria uma evolução
linear na aquisição de direitos de cidadania burguesa; ou ela seria uma concessão exclusiva do
Estado que busca cumprir sua função natural de reger a coisa pública; dentre outras) e por isso
identificam as novas orientações para a política social, e para o conjunto de modalidades de
combate ao desemprego e à pobreza que a ela se vinculam, como formas necessárias de adquirir
mais eficiência e efetividade na alocação do fundo público, visto que o Estado tornou-se “pesado” e
“sobrecarregado”, gerando ineficiência, burocracia e morosidade na gestão da política pública.
Essas vertentes de análise (todas elas) gozam de alguma receptividade nos circuitos
políticos, acadêmicos e profissionais. No caso particular do Serviço Social, percebemos a ampla
difusão dessas perspectivas tanto no campo teórico quanto prático, que propiciam uma grande
apropriação por parte dos assistentes sociais de preocupações teóricas, políticas e profissionais em
torno da temática da proteção social e das modalidades atuais de política social. Mas existe, na
atualidade no Serviço Social, um contraponto claro entre duas vertentes: a primeira, na qual nos
inserimos, compreende a “política social como expressão possível e limitada de produção de bemestar nas sociedades capitalistas no contexto de acumulação do capital” (Behring e Boschetti, 2006);
e uma segunda, para a qual a “política social destina-se a garantir o direito social, a promover a
igualdade de oportunidades e a proteger os grupos vulneráveis” (Draibe, 2003). Nesta polarização
de perspectivas, ganha destaque a tese de Mota (2008), apontando que vem ocorrendo um processo
de “assistencialização da política social” - apesar desta tese ser uma chave analítica muito
interessante, não nos ateremos especificamente a ela.
O fato que, a esta altura, queremos destacar é que, havendo alterações no significado e nas
funções da política social – inclusive com a criação de modalidades renovadas, como é o caso, em
49
nosso entender, da economia solidária –, e se a política social é “base profissional-funcional do
Serviço Social” (Montaño, 2000), certamente tais alterações impactam o universo ídeo-político e
teórico-prático do Serviço Social. Então, os temas e experiências vinculadas a todo esse caldo
político, econômico, social e cultural produzido no seio da ofensiva neoliberal, haverão de incidir,
através de várias mediações, com efeitos similares tanto na economia solidária como no Serviço
Social.
1. 3. O debate da questão social
Os estudos realizados pelos diversos segmentos profissionais sobre a “questão social” 16 são,
certamente, um dos eixos centrais que balizam a produção teórica do Serviço Social nas últimas três
décadas. Há um conjunto de análises ao longo desse período que consubstanciam, hoje, as
concepções de Serviço Social que disputam a hegemonia junto à categoria profissional e,
justificadamente, uma parte delas vem dando a tônica e direcionamento crítico aos debates
profissionais.
A produção do Serviço Social sobre a questão social tem um fôlego proporcional à
importância que lhe é conferida e à sua diversidade de formulações. De um lado, o processo de
renovação profissional – que inaugurou a centralidade da questão social na pesquisa e na formação
acadêmica no Serviço Social –, lhe conferiu solidez analítica; de outro, a elaboração de
pesquisadores e docentes brasileiros do Serviço Social criou um leque de estudos com inspirações
teóricas diferentes, e por vezes colidentes, sobre o tema. Todavia, há uma tendência comum:
localizá-la inscrita na dinâmica da sociedade capitalista, o que não qualifica em si a análise.
Destacamos os autores que mais representam esse conjunto plural e heterogêneo de análises no
debate e buscamos construir um roteiro que nos sinaliza onde e porquê o Serviço Social tem
oferecido aporte teórico, político e prático aos modelos de organização social forjados no debate
contemporâneo da economia solidária.
De modo necessariamente esquemático, fizemos um apanhado das análises e formulações
sobre a questão social que autores e pesquisadores desenvolveram nos últimos anos, sem, todavia,
ter alguma pretensão de exaurir o seu pensamento.
1. 3. 1. A origem da questão social
Os estudos e análises sobre a questão social no Serviço Social tendem a partir de um ponto
inicial, que localiza e contextualiza a compreensão da produção da questão social na sociedade
16
Como a categoria “questão social” é estranha, na sua origem, ao universo teórico marxista, e possui até hoje
compreensões diferenciadas, utilizamos aqui as aspas na sua grafia inicial, o que não ocorrerá ao longo do nosso
trabalho.
50
capitalista. Dito de outra forma, os autores selecionados entendem que a sociedade capitalista é a
formação histórica precisa que produz esse fenômeno social (a questão social) e, assim, identificam
nela sua gênese. A despeito de existir na produção teórica da profissão aquelas tendências que
identificam a questão social como um produto transistórico, o debate da questão social no
capitalismo é o predominante. Localizamos três tendências explicativas da origem da questão
social: 1ª) identifica sua produção vinculada à acumulação capitalista, tal como exposto por Marx
no capítulo XXIII (Lei geral de acumulação capitalista) d'O Capital; 2ª) inscreve sua produção
exclusivamente no processo de politização das necessidades e carências sociais dos trabalhadores,
por meio dos embates políticos; 3ª) sua produção é resultado da desigualdade social resultante da
sociedade de classes e equalizada genericamente à pobreza e à “exclusão social”.
Passamos, a seguir, à análise dessas tendências, mas preliminarmente lançaremos mão da
esclarecedora reconstrução, feita por Netto, do deslocamento do termo questão social – estranha
inicialmente ao universo categorial da teoria social de Marx – para o universo teórico e político dos
revolucionários.
De acordo com Netto (2001), existem aspectos histórico-teóricos centrais para o estudo da
questão social e sua interpretação no Serviço Social. O autor afirma que – na sua origem – a questão
social está ligada ao fenômeno do pauperismo, resultado do primeiro movimento de industrialização
na Inglaterra no final do século XVIII. Esta pobreza é vista pelos críticos da sociedade capitalista
em crescimento como a resultante de um processo novo e em curso. Netto destaca essa
particularidade de modo a centrar-se no caráter novo desta pobreza.
Pela primeira vez na história, a pobreza crescia na razão direta em que
aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a
sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e
serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além
de não ter acesso efetivo a tais bens e serviços, viam-se despossuídos das
condições materiais de vida de que dispunham anteriormente (id. ibid: p.
42-43).
A dinâmica contraditória da questão social se mostra logo como traço próprio do
crescimento do capitalismo (neste momento inicial, apenas na sua fase de produção de pobreza
absoluta). E proporciona aos sujeitos que realizavam uma determinada crítica social (os
reformadores sociais) a possibilidade de condenar politicamente o aumento do pauperismo. Netto
analisa assim essa contradição.
Se, nas formas de sociedade precedentes à sociedade burguesa, a pobreza
estava ligada a um quadro geral de escassez (quadro em larguíssima
medida determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas
materiais e sociais), agora ela se mostrava conectada a um quadro geral
tendente a reduzir com força a situação da escassez. Numa palavra, a
51
pobreza acentuada e generalizada no primeiro terço do século XIX – o
pauperismo – aparecia como nova precisamente porque ela se produzia
pelas mesmas condições que propiciavam os supostos, no plano imediato,
da sua redução e, no limite, da sua supressão(ibid: p. 43).
A produção da riqueza na sociedade burguesa está, de acordo com a análise de Netto, ligada
medularmente à produção exponenciada da pobreza, que resultou, em primeiro plano, em protesto e
contestações as mais diversas à florescente sociedade burguesa. A efervescência fruto desse
movimento se representou na aparição das protoformas do movimento operário e no surgimento da
denominação questão social. “A designação desse pauperismo pela expressão 'questão social'
relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócio-políticos”(id, ibid). Os protestos dos
pauperizados e suas resultantes políticas configuraram-se, naquele momento, como uma ameaça
real às instituições sociais existentes. “Foi a partir da perspectiva efetiva de uma eversão da ordem
burguesa que o pauperismo designou-se como 'questão social'”(id, ibid).
Entretanto, o autor destaca que a expressão questão social deixa de configurar o universo
intelectual comum dos críticos da pobreza, para orbitar, mesmo que paulatinamente, no vocabulário
do pensamento conservador. A Revolução de 1848 irrompe com eventos que encerram o ciclo
progressista da burguesia e obriga aos intelectuais a ela vinculados a atuar na defesa da ordem
burguesa. A questão social passa a ser naturalizada e vai perdendo toda e qualquer contextualização
histórica determinada. Netto destaca que as manifestações da questão social passam a ser vistas,
pelo pensamento conservador, “como o desdobramento, na sociedade moderna (leia-se: burguesa),
de características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem, no máximo, ser
objeto de uma intervenção política limitada (preferencialmente com suporte ‘científico’), capaz de
amenizá-las e reduzi-las através do ideário reformista”(ibid: p. 44).
O movimento que é inerente à produção capitalista passa a ser, na ordem burguesa,
naturalizado, e o pensamento conservador, na medida em que naturaliza a questão social e as suas
manifestações, também moraliza o trato e as intervenções junto a estes segmentos.
De fato, no âmbito do pensamento conservador, tanto o laico quanto o
confessional, a ‘questão social’, numa operação simultânea à sua
naturalização, é convertida em objeto de ação moralizadora. E, em ambos
os casos, o enfrentamento das suas manifestações deve ser função de um
programa de reformas que preserve, antes de tudo e mais, a propriedade
privada dos meios de produção (id, ibid: p. 44).
O resultado desta operação é a tentativa de blindar e preservar a sociedade burguesa e os
fundamentos da exploração, para que não haja questionamentos à ordem estabelecida e, através da
manipulação das manifestações da questão social, pouco se altera para nada mudar. Esse é o
movimento clássico do conservadorismo. A análise de Netto sobre isso é precisa:
o cuidado com as manifestações da questão social é expressamente
52
desvinculado de qualquer tendência a problematizar a ordem econômicosocial estabelecida; trata-se de combater as manifestações da ‘questão
social’ sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Tem-se aqui,
obviamente, um reformismo para conservar (ibid: p. 44).
Segundo Netto, o caldeirão de 1848 não resultou somente na regressão ideológica, cultural e
política da burguesia, mas serviu, mais que tudo, para alterar a cultura política do movimento
operário. Torna-se perceptível para a classe trabalhadora o antagonismo de classes e, certamente, o
protagonismo da burguesia na manutenção da ordem social17. Dessa forma, a expressão questão
social passa a ser identificada pelo pensamento revolucionário como uma verberação da ideologia
conservadora e começa a utilizá-la para destacar o caráter mistificador da sociedade burguesa. Mas
Netto chama atenção de que consciência política é diferente de compreensão teórica: somente
alguns anos mais tarde é que o movimento operário teria instrumentos teóricos e metodológicos
para apreender “a gênese, a constituição e os processos de reprodução da 'questão social'” (id, Ibid).
Foi a partir dos trabalhos de Marx e Engels sobre o processo de produção capitalista, especialmente
O Capital de Marx, publicado em 1867, que se puseram precisamente os elementos teóricos da
dinâmica da questão social e ficou patente para a classe trabalhadora que não se suprime a questão
social conservando o capitalismo.
O caminho que acabamos de percorrer nos apresenta, exclusivamente, o percurso histórico
do início da designação questão social, a partir da análise de Netto (ibid); cabe agora analisar como
é possível desvelar o mecanismo de produção da questão social e, consequentemente, os
mecanismos da exploração capitalista – e, a partir daí, confrontar as análises produzidas no Serviço
Social.
A primeira tendência que anunciamos inicialmente – que identifica a produção da questão
social vinculada à acumulação capitalista – sustenta que a origem da questão social está ligada ao
fenômeno da superpopulação relativa, já emergente quando do primeiro movimento de
industrialização na Inglaterra no final do século XVIII.
Segundo essa tendência, a análise marxiana da lei geral da acumulação capitalista, operada
n’O Capital, desvela o processo de reprodução ampliada do capital e de produção exponenciada da
pobreza. A constituição historicamente determinada de um novo modo de produção, o capitalismo,
revela a estrutura contraditória do seu sistema, pois o mesmo mecanismo que produz a riqueza
social e a exacerbação da acumulação gera um contingente de trabalhadores supérfluos para o
capital. De acordo com um dos autores que representa essa tendência, a novidade que é posta nessa
dinâmica é a exploração do trabalho. “A análise de conjunto que Marx oferece n'O Capital revela,
luminosamente, que a 'questão social' está elementarmente determinada pelo traço próprio e
17
Recorde-se que é concomitante aos processo de 1848, em nível histórico-universal, a passagem do proletariado de
“classe em si” a “classe para si” – passagem que permite às vanguardas trabalhadoras acederem à consciência de que
a questão social está colada à sociedade burguesa, e que somente a eliminação desta leva à supressão daquela.
53
peculiar da relação capital/trabalho – a exploração” (Netto, ibid: p. 45).
Quando a composição do capital mantém-se inalterada, na primeira fase do
desenvolvimento capitalista, o aumento do capital se dá ou pelo aumento do número de capitalistas
que competem entre si ou pelo número absoluto de trabalhadores assalariados sob o comando do
capital. Entretanto, o poder de acumulação do capital não está em ter muitos trabalhadores sob seu
mando, mas precisamente pela capacidade constante do capital de aumentar a produtividade do
trabalho a partir de processos resultantes da divisão técnica do trabalho e o incremento constante de
tecnologia e da ciência. A incorporação de novas formas de produção – grande indústria – altera a
relação entre trabalho vivo e trabalho morto empregada em cada processo produtivo e, dessa forma,
altera a composição orgânica do capital. O contingente de trabalhadores que são expulsos do
processo produtivo vai formar as fileiras da pobreza.
Outra pesquisadora que se vincula a essa primeira tendência e explica o processo de
produção da superpopulação relativa é Iamamoto18 Segundo a autora,
A incorporação por parte dos empresários capitalistas dos avanços
técnicos e científicos no processo de produção (no sentido lato,
englobando, produção, distribuição, troca e consumo) possibilita aos
trabalhadores, sob a órbita do capital, produzirem mais em menos tempo.
Reduz-se o tempo de trabalho socialmente necessário à produção das
mercadorias, ou seja, o seu valor, ampliando simultaneamente o tempo de
trabalho excedente ou mais-valia. Em termos da composição de valor,
reduz-se relativamente o capital variável – empregado na força de
trabalho – e aumenta-se o capital constante, empregado nos meios
materiais de produção. […] Assim, o processo de acumulação produz
uma população relativamente supérflua e subsidiária às necessidades
médias de seu aproveitamento pelo capital. […] Gera, assim, uma
acumulação da miséria relativa à acumulação da miséria relativa à
acumulação do capital, encontrando-se aí a raiz da produção/reprodução
da questão social na sociedade capitalista. (Iamamoto, 2001: p. 14;.
itálicos do original).
Mota, em recente debate sobre a questão social, ratifica essa perspectiva da origem da
questão social e também vincula-se, assim, à primeira tendência apontada: “Quero sustentar que, em
minha análise, a questão social apresenta-se como um problema real […]. Os fundamentos teóricos
da posição aqui sustentada encontram-se em Marx, No capítulo XXIII do livro primeiro de O
Capital, quando discorre sobre a lei geral da acumulação capitalista” (Mota, 2008: p. 37). Para
Mota, questão social é uma problemática que se funda no mecanismo de produção da acumulação
18
A Prof.ª Marilda Iamamoto vem se dedicando a analisar o processo de produção da questão social no capitalismo e,
de fato, foi a primeira a relacionar Serviço Social e questão social numa perspectiva crítica marxista no seu livro
“Relações Sociais e Serviço Social” de 1982, redigido com Raul de Carvalho.
54
capitalista e de produção da superpopulação relativa, ou seja, da exploração do trabalho.
A segunda tendência que identificamos – que inscreve a produção da questão social
exclusivamente ao processo de politização das necessidades e carências sociais dos trabalhadores,
por meio dos embates políticos – está presente na produção de alguns autores do Serviço Social,
mas é na elaboração de Pereira que ganha mais sofisticação e visibilidade. De acordo com Pereira, o
conceito de questão social sempre expressou a relação dialética entre estrutura e ação, na qual
sujeitos estrategicamente situados assumiram papeis políticos fundamentais na “transformação de
necessidades sociais em questões” (Pereira, 2001: p. 51) ou, em outras palavras, questões sociais
politizadas. Tais ações políticas se realizavam com vistas a que aquelas necessidades fossem
integradas à agenda pública para, a partir daí, ganhar dimensões também nos espaços decisórios.
Dessa forma, para a autora, as mudanças contemporâneas produziram um desafio renovado para a
articulação de atores políticos estratégicos e já que os riscos e as necessidades atuais ainda carecem
de efetiva explicitação e de problematização por tais atores, dá-se uma inviabilização da produção
contemporânea da questão social. Pereira indaga: “Será que não estaríamos diante de uma questão
latente que, apesar de inscrita na contradição fundamental do sistema capitalista – a contradição
entre capital e trabalho –, ainda não foi explicitada, dada a posição profundamente desigual dos
setores progressistas na atual correlação de forças? Tudo indica que sim” (ibid: p. 51, itálicos do
original).
É evidente para a autora que, num contexto político de fraca articulação e pouco impacto
dos poderes populares, as necessidades destes não adquirem dimensão pública e política - logo, não
se tornam questão social e não são objeto da ação social do Estado.
Por falta de forças sociais com efetivo poder de pressão para fazer
incorporar na agenda pública problemas sociais ingentes, com vista ao
seu decisivo enfrentamento, entendo que temos pela frente não
propriamente uma “questão social” explícita, mas uma incômoda e
complicada “questão social” latente, cuja explicitação acaba por torna-se
o principal desafio das forças sociais progressistas (Pereira, ibid: p. 52;
itálicos do original).
Para a autora, a dimensão e a profundidade dos problemas que são postos na atualidade à
sociedade (como, por exemplo, o desemprego estrutural) não permitiram ainda articular um “ethos
unificado, a partir do qual atores sociais estratégicos possam efetivamente se posicionar e impor os
interesses das classes subalternas” (ibid: p. 53). Nesses termos, no entendimento de Pereira, a
realidade carece de problematização para que os problemas possam ser transformados em questões
explícitas, o que remete sua produção ao processo de politização das necessidades coletivas. Nos
termos da autora:
Os problemas atuais – tal como aconteceu com a alienação do trabalho e a
55
pauperização do proletariado que, no século XIX, esteve na base da
questão social – são produtos da mesma contradição que gerou essa
questão, mas que, contemporaneamente, ainda não foram suficientemente
politizados. Donde se conclui que a “questão social” não é sinônimo da
contradição capital e trabalho e entre forças produtivas e relações de
produção – que geram desigualdades, pobreza, desemprego e
necessidades sociais –, mas de embate político, determinado por essas
contradições. (Pereira, ibid: p. 54).
A organização dessa tendência aposta que a questão social só adquire tal corporificação
na medida que as classes subalternas e as forças políticas progressistas produzem um movimento
amplo de politização das necessidades sociais e criam, dessa forma, um embate político inconteste
com os interesses dos grupos sociais dominantes, tornando as necessidades sociais uma questão
social explícita.
A terceira tendência que destacamos – que identifica a produção da questão social como
resultado da desigualdade social, equalizando-a genericamente à pobreza e à “exclusão social” – é
sem dúvida a que mais reverbera nas produções teóricas voltadas à intervenção profissional. Apesar
do número significativo de trabalhos neste campo, não elegemos representantes específicos a que
possamos atribuir-lhes a maternidade desta tendência 19, mas identificamos que esta tem penetração
corrente nos escritos do serviço social.
É importante afirmar inicialmente que esta tendência pouco se dedica a tratar do
fenômeno da questão social enquanto seu objeto de estudo privilegiado – o que poderia inicialmente
justificar a superficialidade com que se apropria do tema. Mas o que dá a tônica nesta vertente são
as pesquisas e elaborações sobre a pobreza e a chamada “exclusão social”. Observa-se, no conjunto
dessa tendência, que a referência à questão social é apenas um ponto de partida que, exposto
genericamente, serve para afirmar que a pobreza tem determinações econômicas, políticas e
culturais. Note-se, ainda, que para os trabalhos que estão contidos nessa tendência, de modo geral, a
questão social está inscrita no contexto da desigualdade social, especialmente o aspecto de
distribuição desigual da riqueza produzida; por isto, ela acaba por atribuir a desigualdade a apenas
seu aspecto mais perceptível, que se localiza na distribuição social – com isto, apaga da trama social
a produção capitalista como elemento gerador de tal desigualdade. Assim, somente o aspecto da
divisão da sociedade em classes seria suficiente, nos seus termos, para deduzir a base desigual de
19
Diferente das tendências anteriores, nas quais são claramente perceptíveis suas características na produção de
autores bem determinados, principalmente porque ao derivarem a questão social das relações sociais capitalistas,
precisam necessariamente expor seus fundamentos para justificar-se, esta última tendência – que equaliza questão
social à pobreza e à exclusão social - carece de fundamentação nos processos sócio-históricos da ordem social
vigente, e na tentativa de fazê-la, remete à indicação abstrata do capitalismo, sem ater-se às suas particularidades
tanto na esfera da produção quanto da distribuição. Pela sua condição desreferenciada da dinâmica real capitalista,
esta terceira tendência remete-se à questão social de modo parcial e abstratamente. Para sua para sua melhor
caracterização e identificação nesta tese, ela requereria um estudo específico, detalhado e aprofundado sobre o
problema, o que nos desviaria do objeto da nossa pesquisa - a economia solidária e o Serviço Social.
56
acesso à riqueza na sociedade capitalista; dito de outra forma: é a divisão em classes que
determinaria a desigualdade social e a existência da questão social na sociedade vigente, deixando
completamente na sombra o fato de que a novidade da ordem burguesa não é a divisão da sociedade
em classes, mas o aspecto social da produção que contrasta com o aspecto privado do controle da
riqueza.
A ênfase que esta tendência dá à questão da distribuição da riqueza – enquanto processo
que determina a questão social – a leva à conclusão de que dessa desigual apropriação da riqueza
desenvolve-se um circuito próprio da sociedade capitalista que seria a exclusão social. Nesse
entendimento, seria a natureza excludente da sociedade capitalista o substrato que produz a questão
social e determina a sua expressão factual: a pobreza.
A apresentação dessas três tendências identificadas na produção do Serviço Social sobre
a origem da questão social revela que, se suas premissas têm um ponto de partida comum, a
sociedade capitalista, sua análise sobre o desenvolvimento dessa sociedade comporta determinações
muito distintas, principalmente se confrontadas ao universo categorial da obra marxiana. Mas essa
exposição nos exige um rápido confronto e análise de tais tendências.
A tradição marxista, e até mesmo alguns marxólogos, são unânimes em afirmar que o
traço inconteste que particulariza a relação capital e trabalho no modo de produção capitalista é a
exploração. Mas não se trata de uma forma geral de exploração, pois essa existiu em formações
históricas anteriores ao capitalismo, como, por exemplo a exploração que os senhores feudais
impunham aos seus servos no feudalismo. A exploração revelada por Marx n'O Capital está ligada
intimamente à distinção ele elabora entre capital constante e capital variável e nos permite entender
o mecanismo da exploração como fundante da acumulação (cf. Mclellan, 1974). Na sociedade
capitalista, a diminuição da exploração não mais implica, como em regimes anteriores, a diminuição
da produção da riqueza, pois, ao analisar com esses novos determinantes a composição orgânica do
capital, Marx apresenta a tendência de ampliação do capital constante e diminuição do capital
variável, o que imprime à produção o incremento de tecnologia com redução de força de trabalho e
particulariza o processo de acumulação. Assim, no capitalismo, riqueza e exército industrial de
reserva são produzidos no mesmo processo, a partir de um renovado mecanismo de exploração do
trabalho. Netto analisa essa questão:
o que é distintivo desse regime [capitalista] é que a exploração se efetiva
num marco de contradições e antagonismos que tornam, pela primeira
vez na história registrada, suprimível sem a supressão das condições nas
quais se cria exponencialmente a riqueza social. Ou seja, a supressão da
exploração do trabalho pelo capital, constituída a ordem burguesa e
altamente desenvolvidas as forças produtivas, não implica – bem do
contrário – redução da produção de riquezas. (2001: p. 46).
57
Para nossos interesses, importante apontar com precisão o lugar que a exploração ocupa
na dinâmica da sociedade capitalista para revelar, dessa forma, que é exatamente este processo que
produz a questão social e confere a ela uma radicalidade histórica, pois questão social no
capitalismo não são somente desigualdades e privações que advêm da escassez, mas desigualdades
e privações resultantes da escassez produzida socialmente, ou seja: as relações sociais de produção
– baseadas na apropriação privada dos meios de produção e na destinação decidida privadamente do
excedente – são contraditórias com a base socializada das forças produtivas.
Desta forma, a produção da questão social não é, como acredita a terceira e última
tendência exposta, o resultado apenas da desigualdade que advém da distribuição desigual da
riqueza, mas, sobretudo, é expressão da desigualdade que se origina na forma própria do modo de
produção do sistema capitalista. Pois a particularidade da produção da questão social não reflete
apenas a pobreza como carência, seja ela material, cultural ou política, como nos indica esta
vertente, proveniente da má distribuição da riqueza, mas, especialmente, pela impossibilidade, neste
sistema, de o produtor direto ser possuidor dos meios para a produção da riqueza social e de
determinar a destinação e alocação do excedente. Como o demonstram, entre outros, Iamamoto
(2001), Netto (2001) e Mota (2008), é precisamente este o fundamento de produção da questão
social – ainda que estes autores não coincidam inteiramente no trato dos seus desdobramentos e nas
propostas de seu enfrentamento.
Mas voltemos à segunda tendência que sinalizamos, com destaque para a elaboração de
Pereira (2001). É certo que a autora conhece as bases em que assenta o processo de acumulação
capitalista – e a particularidade que a relação de exploração entre capital e trabalho implica –, mas
Pereira identifica apenas no processo de politização e de enfrentamento político o mecanismo que
produz a questão social. É evidente que o processo de saturação de multicausalidades, sejam elas
políticas, históricas ou culturais, qualifica e enriquece a análise da questão social produzida na
sociedade capitalista, porque a questão social tem que ser apreendida como uma problemática na
qual incidem incontestes determinações. Porém, o seu aspecto fundador tem suporte na estrutura
própria da acumulação do capital. Dito de outra forma, sua base ontológica tem registro preciso no
processo de exploração típico da ordem capitalista. Isso não quer dizer que, identificada a sua
gênese, está revelada sua complexidade. Mas quer dizer que se sua origem não está devidamente
localizada, a incorporação de outras determinações obscurece mais do que explica a sua base.
A exploração, todavia, apenas remete à determinação molecular da
“questão social”; sua integralidade, longe de qualquer unicausalidade,
implica a intercorrência mediada de componentes históricos, políticos,
culturais etc. Entretanto, sem ferir de morte os dispositivos exploradores
do regime do capital, toda luta contra as suas manifestações sóciopolíticas e humanas (precisamente o que se designa por “questão social”)
58
está condenada a enfrentar sintomas, conseqüências e efeitos (Netto, ibid:
p. 45-46).
A apreensão da totalidade da questão social é fundamental, mas autonomizar expressões
importantes como os desdobramentos políticos do embate entre as classes entifica e mistifica os
desdobramentos para o seu correto enfrentamento. E quando essa questão central é remetida à
dinâmica do Serviço Social, o trabalho profissional inscreve-se exclusivamente na reprodução da
questão social. Dessa forma, quando Perreira nos indica que o processo de embate político entre as
forças sociais está desigual – não pende para o lado dos setores progressistas – por que falta
conhecer melhor o conjunto de problemas e necessidades sociais para que seja possível construir
uma unidade social para seu enfrentamento, alerta-nos corretamente para a problemática de que o
enfrentamento contemporâneo da questão social requer a saturação de causalidades que se puseram
somente na fase atual do capitalismo dos monopólios – como, por exemplo: a mundialização
financeira do capital e a flexibilidade com que isso se traduz nos processos reais de produção do
valor. O que não nos parece correto na análise da autora é deduzir desse enfraquecimento das
classes subalternas a ausência de suficiente politização da questão social e, consequentemente, da
não explicitação dela como tal. No nosso entendimento, o arrefecimento pelo qual passa o conjunto
das lutas sociais de resistência da classe trabalhadora tem variados determinantes, o que não nos
leva a concluir que falta a politização das necessidades e problemas sociais contemporâneos. É
precisamente a ofensiva política do capital no processo de embates na luta de classes que vem
impondo sucessivas derrotas às classes trabalhadoras. Dessa forma, do ponto de vista teórico, é
necessário analisar o capitalismo contemporâneo para compreender a multicausalidade que incide
sobre o velho processo de exploração que origina a questão social, e assim revelar a sua
integralidade na atualidade. Do ponto de vista político, identificar as determinações que incidem
sobre questão social na atualidade expressa, tão somente, que nem mesmo reformas sociais são
possíveis no interior do capitalismo contemporâneo, o que politicamente aponta duas alternativa ao
movimento organizado dos trabalhadores: ou resistência anti-capitalista ou barbárie.
1. 3. 2. A questão social no capitalismo contemporâneo e seu enfrentamento.
No marco desta tese, é fundamental relacionar a economia solidária ao movimento
contemporâneo de ofensiva capitalista e inseri-la no interior, e como resultado, das modalidades de
trabalho inscritas na flexibilização e nas alternativas de políticas de produção de renda e de
minimização da pobreza. Isto posto, a investigação das determinidades da questão social no
capitalismo contemporâneo indica como a economia solidária pode ser apresentada como uma
alternativa nesse contexto. Assim, as mudanças que vêm ocorrendo nos processos de organização e
gestão do trabalho, nas formas de produção e acumulação do capital – em particular, a
predominância do capital financeiro – nas funções de regulação econômica e social do Estado
59
capitalista e na ação organizada das massas trabalhadores devem ser traduzidas como respostas à
crise que se instaura com a onda longa recessiva e define significativas alterações que remetem à
integralidade da questão social.
As transformações dessa quadra histórica alteram a face do capitalismo e da sociedade. O
capitalismo radicalizou a sua tendência à internacionalizar a produção e constituiu um processo
renovado de mundialização e financeirização do capital. Na base de produção e acumulação, a
flexibilização aparece como alternativa para intensificar o trabalho e regular o exército industrial de
reserva com particular destaque para a ampliação do desemprego. O movimento operário e popular
encontra-se, dessa forma, na defensiva frente a essa restauração capitalista de base ídeo-política
neoliberal. Verifica-se uma ampla investida do capital contra as funções sociais do Estado e
reorganização das suas funções econômicas. Assim, o trato às manifestações da questão social que
foi historicamente produzido no anterior período de expansão capitalista – por exemplo: a questão
social como objeto de políticas sociais – adquire novas feições sem, com isso, romper com a velha
origem.
As mudanças no capitalismo, aqui apenas sinalizadas 20, revelam que as condições de vida
e trabalho de um enorme contingente de pessoas que vivem nas fronteiras da produção e sem acesso
à riqueza socialmente produzida agravam-se drasticamente e refletem o aprofundamento da
exploração em paralelo ao desenvolvimento do capital e das forças produtivas. Pobreza e riqueza
continuam como resultado imanente à acumulação capitalista. A produção da questão social no
capitalismo contemporâneo, originada na mesma estrutura do passado, apresenta implicações e
formas novas.
Dentre as determinações atuais, destacaremos as de ordem ideológica e política, visto que
estas adicionam dimensões especiais à questão social - não por lhe conferirem a condição de
questão social (nem, menos ainda, de nova questão social), mas porque a elas ligam-se formas
diversas de enfrentamento do capitalismo. Assim, a ofensiva política e ideológica para assegurar a
hegemonia do capital passa pela contra-reforma do Estado e por novas estratégias de constituição de
cultura e sociabilidade que impactam a sociedade civil e que se tornam fundamentais para uma
“reforma intelectual e moral” e direcionam novos valores e novas “concepções de mundo” com
substratos do liberalismo e do conservadorismo (cf. Mota, 1995). Essa reforma peculiar “reforma
intelectual e moral” está centrada na conversão do trabalhador em “cidadão”, em “consumidor”, em
“empreendedor”, em “parceiro” e “associado” dos seus empregadores. Harvey também indica essa
tendência e agrega, ainda, particularidade posta pela maciça inserção das mulheres no trabalho.
A natureza e a composição da classe trabalhadora global também se
modificaram, o mesmo ocorrendo com as condições de formação de
20
Há uma larga documentação que trata suficientemente, para os fins desta tese, de tais mudanças. Cf., por exemplo,
entre muitos Harvey (1992), Husson (1999), Mészáros (2002), Antunes (1999 e 2001) e Netto e Braz (2006).
60
consciência e de ação política. A sindicalização e a “política de esquerda”
tradicional tornaram-se muito difíceis de manter-se diante de, por
exemplo, sistemas de produção patriarcais (familiar) característicos do
Sudeste Asiático ou de grupos imigrantes em Los Angeles, Nova Iorque e
Londres. As relações de gênero também se tornaram muito mais
complicadas, ao mesmo tempo que o recurso à força de trabalho feminina
passou por ampla disseminação. Do mesmo modo, aumentou a base
social de ideologias de empreendimentismo, paternalismo e privatismo
(1992: p. 179).
Os resultados políticos deste processo sobre a classe trabalhadora e os segmentos à
margem têm implicado na fragmentação dos interesses de classe e na ampla visibilidade que
movimentos sociais apartidários típicos dos anos 1960 vêm ganhando, alimentando a ideia de que a
diversidade das agendas desses grupos é mais propícia à liberdade em face do chamado
totalitarismo partidário e operário tradicionais. Isso tudo ao mesmo tempo em que a grande
burguesia mostra-se capaz de agregar os interesses das megacorporações e dos gigantescos
monopólios internacionais.
O conjunto dessas mudanças políticas e ideológicas retrata, assim, novos componentes na
integralidade da questão social no capitalismo contemporâneo. Nestes termos, Mota (2008) aponta
algumas indicações sobre a questão social e sua particularidade na atualidade.
É nesse contexto que a expressão “questão social” amplia seu leque de
significados, ultrapassando, de certa forma, o sentido original que lhe foi
conferido. Refiro-me, aqui, às consequências dessa fragmentação na
composição e ação política das classes trabalhadoras, resultado do
desemprego, da precarização do trabalho e do seus novos modelos de
gestão (Mota, ibid: p. 32).
A ação política das classes trabalhadores experimenta, depois de muitos anos de ascensão
no cenário mundial, um retrocesso e uma certa pulverização. Podemos, é claro, identificar que
existem lutas com referenciais nitidamente classistas em várias partes do mundo, mas visibilidade e
permeabilidade sociais são conferidas às resistências trans-classistas - tais como, movimentos
ecológicos e em defesa do clima, movimentos de solidariedade com a pobreza e miseráveis etc. A
centralidade que era conferida ao trabalho no momento histórico imediatamente anterior é posta à
prova pela ofensiva ideo-política e econômica do capital, que repõe no centro o desemprego como
resultado natural da incorporação tecnológica e a pobreza como dimensão natural da sociedade.
Essa aparente metamorfose alimenta o processo de reificação típico do capitalismo. Segundo Mota,
“implica num 'deslocamento' do significado da questão social, que se afasta da relação entre
pauperização dos trabalhadores e acumulação capitalista, para ser identificada genericamente
com as expressões objetivas da pobreza” (ibid: p. 32. itálicos do original).
61
Remetemos anteriormente nossa a análise ao universo político e ideológico que cimenta a
sociedade burguesa e vulnerabiliza a condição da organização dos trabalhadores na luta de classes
para retomar, a partir desse contexto, as ações de enfrentamento da questão social.
As multicausalidades que operam na problemática da questão social nos interditam
atribuir aos determinantes ideológicos e políticos um peso maior do que aos seus congênitos
elementos econômicos, históricos e culturais. Mas pusemos em destaque esse conjunto de
particularidades para deles inferir a letargia ídeo-política que concorre nas formas possíveis de
enfrentamento da questão social por parte das classes trabalhadores. O confronto direto dos
interesses de classe na ordem burguesa dispõe, objetivamente, de poucas alternativas para as classes
trabalhadoras organizarem seu enfrentamento, mas as inscrevem num universo bem delimitado: ou
a superação real e concreta das condições que se impõem nas determinidades da questão social ou a
reprodução da dinâmica capitalista a partir de ordenamentos que possibilitam maior ou menor
incorporação de demandas do trabalho. Não há nessa nossa indicação nenhum componente
determinista ou fatalista do caminho que pode (como possibilidade) ser trilhado pelas lutas
operárias e dos seguimentos trabalhadores em geral. São elementos que compõem a legalidade das
relações de produção e reprodução capitalista. Netto nos aponta, inclusive, que o dever ser não é um
imperativo abstrato:
Não é possível, por exemplo, desvincular a projeção marxiana da
revolução proletária e do comunismo da suas análise do modo de
produção capitalista. O “juízo de valor”, em Marx, não é um elemento
ético que se justapõe às suas análises da realidade – é um componente
crítico que arranca delas: o dever ser é uma possibilidade concreta que se
extrai da análise histórico-sistemática do desenvolvimento do ser. Por via
de conseqüência, o método de Marx, que pode ser dissociado de
assertivas pontuais e singulares do seu discurso, não pode ser divorciado
de sua teoria e de suas inferências inclusivas, relativas a processos
histórico-universais. (1990: p. 65).
Se a existência histórica do proletariado é uma das condições, em si, para a superação do
modo de produção capitalista, as modalidades e os nexos políticos para essa realização estão de
longe relacionados às condições e impacto que a intervenção das classes poderá alcançar. Dessa
forma, retomando a questão anteriormente formulada, as condições de defensiva em que se
encontram as classes trabalhadoras no capitalismo contemporâneo nos indica que a potencialidade
da intervenção dessas, como ação coletiva organizada, inscrevem-se com mais concretude na
possibilidade de reprodução da ordem do capital – que implica a incorporação de demandas dos
trabalhadores em maior ou menor medida – do que na possibilidade de superação da legalidade do
processo de trabalho capitalista.
Uma importante pesquisadora do Serviço Social repõe essa problemática em outros
62
termos e com muito mais precisão. Segundo Mota,
A rigor, não existem – do ponto de vista histórico, político e teórico –
muitas alternativas para pensar a natureza do enfrentamento da questão
social. Pode-se, de fato, falar apenas de duas tendências gerais: sua
administração no interior da ordem burguesa – demarcada pela
implementação de reformas sociais e morais, tanto mais “eficientes”
quanto mais ancoradas tecnicamente – ou a sua superação como uma
prática que transforma não a questão social em si, mas a ordem social que
a determina. É evidente que tais tendências gerais se constituem e se
explicam no âmbito da política e da economia, sob condições históricas
muito precisas. Contudo, implicam em escolhas ético-políticas e em uma
direção ideológica referenciada por um projeto político de classe – e que,
mormente no que toca à tendência superadora, para sua realização, requer
rigorosa análise da realidade e delineamento de estratégias de luta,
balizadas pelas possibilidades contidas nas condições históricas existentes
(2008: p. 49; itálicos do original).
Apesar da análise de Mota ter sido produzida com outro interesse, reforça nosso
entendimento de que as ações ídeo-políticas das classes trabalhadoras, de enfrentamento da questão
social, não vêm adquirindo ofensiva suficiente para pôr na agenda política desses movimentos a
questão da superação capitalista e da revolução, o que as impele, tendencialmente, à administração
dos seus interesses no interior da ordem burguesa. Como no limite tais ações não apontam para a
ruptura elas são, sucessivamente, refuncionalizadas pelo capitalismo.
Não é casual, pois, que estejamos destacando o debate do enfrentamento da questão
social nesse pequeno estrato da nossa tese. A ele vincula-se, no nosso entendimento, a base
funcional que adquire a economia solidária na dinâmica contemporânea do capitalismo, e através da
qual o Serviço Social relaciona-se com a economia solidária.
Parece-nos que desse universo – localizado no interior da relação capital e trabalho, e das
características e determinações que incidem sobre suas conformações - devem ser inferidas as
modalidades de gestão e reprodução das condições de vida e trabalho das pessoas na atualidade e
identificada a função social que tais modalidades adquirem. Nesses termos, o trato que é dispensado
às polifacetadas refrações da questão social, por parte do capital, incorporam novas formas, não
somente as tradicionais políticas sociais características do Estado de Bem-Estar Social, mas a
conjugação reformulada dessas com ações sociais da sociedade civil (organizações privadas não
lucrativas, empresas capitalistas, fundações empresariais, organizações da classe trabalhadora etc.).
É evidente que esse trato à questão social alcança resultados de mínimas melhorias nas condições
de vida e trabalho dos segmentos populares face à barbárie; todavia, são elas também estratégias
funcionais de reprodução do ordenamento econômico e político da sociedade burguesa. É neste
63
campo que localizamos os enlaces possíveis entre economia solidária e Serviço Social.
1. 3. 3. Elementos para a crítica da suposta “nova” questão social.
Mais recentemente, em finais dos anos 1990 e início de século XXI, foi introduzido no
debate profissional um conjunto de análises sobre as mudanças em curso da sociedade que
tematizam, especialmente, a crise pelo qual passava o assim chamado Estado social e como, dessa
crise, surgia uma pretensa “nova” questão social. Na sequência deste debate, pareceu exorcizada a
suposta “nova” questão social – e praticamente não há produção teórica que se reporte a ela sem
alguma posição crítica. Todavia, mais significativo do que eliminar o adjetivo na caracterização e na
análise da questão social – pois, como já vimos, anteriormente o processo que a produz é muito
antigo (mesmo que com novíssimas determinações) –, importa o resultado da apropriação desse
debate pelo Serviço Social e é decisivo observar que, hoje, frequentemente estão implícitas teses e
concepções que têm por base a ideia de, realmente, já uma “nova” questão social – de que são
exemplos as equalizações entre questão social e exclusão/inclusão sociais (estas duas últimas notas
são originalmente provenientes deste debate, mas foram e são por ele alimentadas e reforçadas).
Dessa forma, parece-nos relevante introduzir aqui uma nota referente à crítica da “nova” questão
social.
A generalização e os significados sócio-históricos das transformações da sociedade
contemporânea, em especial a reorganização dos processos de produção e reprodução da vida
social, repercutiram nos estudos e análises das ciências humanas (e não foi diferente no Serviço
Social) e resultaram nos mais diversos modelos de interpretação das mudanças sociais em curso, em
particular as produções sobre a questão social – destaque para a produção da Escola Francesa21.
A produção de autores como Rosanvallon e Castel criou um corpo analítico para o debate da
“nova questão social” ou de aspectos, segundo eles, sui generis que criaram fissuras estruturais que
romperam com padrões sociais vigentes. De um lado, Rosanvallon indica que a crise do Etatprovidence (o Estado de Bem-Estar Social na tradição francesa), a partir de alterações nos modelos
de financiamento e gestão da proteção social, romperia com o “contrato social” existente e
resultaria na formação de uma nova pobreza e de uma nova questão social. De outro lado, com uma
excelente pesquisa, Castel analisa a crise da sociedade salarial e realiza o que ele denomina de “uma
crônica do salário”, reproduzindo o movimento histórico das chamadas “metamorfoses da questão
social”, que são resgatadas para além da particularidade da sociedade capitalista, mas com
centralidade no trabalho dos sujeitos nos processos históricos.
As críticas que são apresentadas a estes autores no Serviço Social (cf. esp. o material
21
Os dois principais autores da Escola Francesa nos estudos contemporâneos sobre a questão social são Rosanvallon
(1998) e Castel (1998).
64
recolhido na revista Temporalis22) são normalmente feitas em bloco, apesar das diferenças
significativas entre seus pensamentos e se direcionam a resgatar o real processo de gênese da
questão social e mostrar como o fenômeno, que nasce com o capitalismo, tem sobre ela
determinações de monta que a redefinem e a qualificam. Por isto mesmo, não há que perder de vista
estas determinações. No entanto, o essencial – que não aparece necessariamente nas críticas a que
tais autores vêm sendo submetidos – é sublinhar que não há uma nova pobreza: é mais do mesmo,
particularmente um mesmo que vem degradando cada vez mais as condições de vida e trabalho
mundialmente.
Uma armadilha que está embutida em tratamentos da questão social como os de Rosanvallon
e Castel (malgrado as suas diferenças) reside em que, quando suas múltiplas e diferenciadas
expressões são desconectadas de sua gênese comum e encobrem a contradição fundamental das
relações sociais capitalistas, elas tendem a análises fragmentadas das questão social e, no limite, à
postulação da existência de várias “questões sociais”. Para Mota:
Embora por vetores de análise distintos, as construções de Rosanvallon
(1998) e Castel (1998), longe de serem, respectivamente, tão-somente
análises de cunho culturalista ou histórico-antropológica dos processos
sócio-históricos, expõem, com clareza inconteste, seus referenciais
ideopolíticos: baniram do horizonte histórico e teórico qualquer
possibilidade de ruptura com a ordem social vigente. E mais, dotam a
crise capitalista de um caráter genérico, sem classes, como um problema
de todos e não como uma crise do projeto de sociabilidade do capital,
sustentado pela hegemonia da classe dominante (2008: p. 44-45).
Mota, na sua análise, demonstra que tais autores, bem como a penetração de suas ideias no
Serviço Social, reduzem a questão social às manifestações da pobreza e consideram seu
“enfrentamento como uma questão afeta às políticas de inserção”(ibid: p. 45). Para os assistentes
sociais, esta redução coloca mais um desafio para o conjunto profissional: precisar com rigor a sua
inserção nos processos de enfrentamento político da questão social, esclarecendo como a prática
profissional vem interferindo nas modalidades contemporâneas da sua administração. E a pesquisa
crítica e comprometida é uma grande aliada para desvelar a reificação que se desenvolve no
capitalismo contemporâneo, pois, “inexiste qualquer “nova questão social”; deve-se investigar, para
além da permanência de manifestações “tradicionais” da “questão social”, a emergência de novas
expressões da “questão social” que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital” (Netto,
2001: p. 48).
22
Este número (3, de 2001) do periódico da ABEPSS, editado em Brasília, traz a contribuição de diversos teóricos do
Serviço Social especificamente sobre a questão social e, na Bibliografia, citamos praticamente todos os textos
pertinentes.
65
1. 4. O Serviço Social e a construção do Projeto Ético-político profissional.
1. 4. 1. O projeto profissional de ruptura com o Serviço Social tradicional
O Serviço Social brasileiro vem desenvolvendo, desde finais da década de 1960, um
processo de renovação das suas bases originárias conservadoras, que é designado na literatura
dedicada ao estudo desse tema como “Serviço Social tradicional 23”(Netto, 1994, 2005; Iamamoto,
1995). Essa renovação já foi fruto de vários estudos e debates no interior da profissão; todavia, a
pesquisa de Netto (1994) é central para desvelar a dinâmica histórica e profissional dessa renovação
nos marcos da ditadura do grande capital.
O processo de renovação do Serviço Social no Brasil desenvolveu-se sob o signo da
autocracia burguesa instaurada no país em 1º de abril de 1964. Um movimento reacionário civilmilitar derrubou o governo constitucional e instaurou uma ditadura que durou por vinte anos. A
ditadura burguesa representava os interesses do grande capital monopolista nacional e internacional,
inscrita no contexto de golpes que abalaram o cenário latino-americano – golpes que concretizaram
um amplo movimento contra-revolucionário para expandir os interesses dos grandes monopólios e
abafar qualquer tentativa de ruptura social com a ordem burguesa nessas regiões. “Movendo-se na
moldura de uma substancial alteração na divisão internacional do trabalho, os centros imperialistas,
sob o hegemonismo norte-americano, patrocinaram, especialmente no curso dos anos sessenta, uma
contra-revolução preventiva em escala planetária” (Netto, 1994: p. 16). A contra-revolução
preventiva posta em movimento apresentava finalidades muito articuladas e inter-dependentes, que
podem ser assim sumariadas: adequar o desenvolvimento nacional ao padrão econômico capitalista,
marcado pelo aprofundamento da internacionalização do capital; neutralizar os protagonistas
sociopolíticos qualificados em fazer qualquer resistência ao enquadramento, ainda mais subalterno,
do país no sistema capitalista; e, por fim, apoiar nas diversas partes do mundo grupos e tendências
contrárias a qualquer perspectiva revolucionária e socialista (cf. Netto, ibid).
Esta forma particular da dominação burguesa no Brasil teve resultados diretos no processo
de renovação profissional. A ditadura realizou, como indica Netto (ibid), uma “modernização
conservadora” que estimulou, particularmente, o desenvolvimento industrial e acadêmico do país,
que tiveram íntima determinação para o Serviço Social: o primeiro introduziu demandas renovadas
ao trabalho profissional catalizadas pela classe dominante e pelos interesses dos trabalhadores; e o
segundo propiciou ao Serviço Social uma consolidação nas instituições de ensino e pesquisas
23
Na análise de Netto o “Serviço Social tradicional” refere-se a uma “prática empirista, reiterativa, paliativa e
burocratizada, orientada por uma ética liberal-burguesa, que, de um ponto de vista claramente funcionalista, visava
enfrentar as incidências psicossociais da “questão social” sobre os indivíduos e grupos, sempre pressuposta a
ordenação capitalista da vida social como um dado factual ineliminável (2005: p. 06).
66
acadêmicas. Dessa forma, a renovação, dos anos 1960 a 1975, realizou-se, predominantemente 24, a
partir da incorporação pela profissão de diretrizes desenvolvimentistas e modernizantes que
adequaram a profissão às exigências do projeto social da ditadura. Essa tendência, qualificada por
Netto (1994) como a perspectiva profissional modernizadora25, diversificou o perfil profissional,
jogando para debaixo do tapete sua face tradicionalista, e articulou o conservadorismo a novos
parâmetros teóricos e técnicos de clara inspiração funcionalista, requisitando uma fundamentação
“científica” para o Serviço Social que redimensionasse metodologicamente as práticas profissionais.
É somente a partir da segunda metade dos anos setenta que a renovação profissional aponta
para rumos mais críticos com a herança tradicionalista e propõe um projeto profissional de
ruptura26, marcado pelo contexto da auto-reforma da ditadura e pelo avanço das forças sociais
democráticas na cena política nacional. A passagem dos anos 1970 aos 1980, animada a cena
política com a reorganização do movimento operário e sindical e o avanço das lutas democráticas,
instaurou novas determinações concretas para a parcela profissional que se organizava alinhada às
demandas populares e na ruptura com o tradicionalismo. Os assistentes sociais passaram, dessa
forma, a investir em duas frentes: na organização da categoria profissional e na formação
acadêmica. Na primeira frente de auto-organização, o Serviço Social realizou um significativo
deslocamento político, caracterizado pela ruptura política com as vanguardas profissionais
conservadoras, e pôs no centro do debate da organização profissional a defesa dos interesses das
classes trabalhadoras, no marco do que ficou conhecido nos circuitos profissionais como o
Congresso da Virada, em 197927:
A categoria presente no III CBAS em 1979, no Congresso da Virada,
deliberou, sob a coordenação e direção do CENEAS, por uma direção
sócio-política de seu projeto profissional comprometido com a classe
trabalhadora. Isso somente foi possível pelo fato da reorganização
24
25
26
27
É importante destacar aqui a exceção do grupo que se organizou, nesse período na Universidade Católica de Minas
Gerais, e constituiu uma experiência de formação profissional que ficou conhecida na literatura profissional de
“Método BH”, de inspiração na tradição marxista.
A perspectiva modernizadora, nos termos de Netto “constitui a primeira expressão do processo de renovação do
Serviço Social no Brasil. Emergente desde o encontro de Porto Alegre, em 1965, ela encontra sua formulação
afirmada nos resultado do primeiro “Seminário de Teorização do Serviço Social”, promovido pelo CBCISS na
estância hidromineral de Araxá (MG), entre 19 e 26 de março de 1967” (1994: p. 164).
Essa tendência do processo de renovação profissional foi denominado, novamente por Netto, como “a intenção de
ruptura”, porque o e autor entendia que havia um processo em andamento de ruptura com as bases tradicionais, mas
carecia ainda de aprofundamento teórico-metodológico da perspectiva que lhe inspirava, o marxismo. E essa
tendência continha em “seu projeto as diretrizes para romper substantivamente com o tradicionalismo e suas
implicações teórico-metodológicas e prático-profissionais” (1994: p. 250).
“É precisamente sob o impacto da reinserção do proletariado na arena política, no quadro da mobilização antiditatorial de amplos contingentes assalariados, da mobilização de setores pequeno-burgueses, inclusive burgueses, e,
na sequência quase imediata, da declaração da anistia, que o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (III
CBAS) traz à cena política as tendências democráticas contidas e reprimidas no Serviço Social” (Netto, 2009: p. 27).
Em 2009 foi realizado em São Paulo, pelo CFESS e CRESS/SP, nos marcos de comemoração dos 30 anos do
“Congresso da Virada” um evento político de avaliação e renovação dos compromissos sociais assumidos pelas
vanguardas profissionais no III CBAS e que estão presentes até hoje no projeto político-profissional.
67
político-sindical da categoria se inscrever no processo crescente de
mobilização e de lutas, que articulavam as questões específicas da
categoria às lutas políticas mais amplas, o que lhe conferia
representatividade e legitimidade (Abramides e Cabral, 2009: p. 56).
Na frente acadêmica, instituiu-se um currículo de graduação de incidência nacional, em 1982, que
buscava materializar os avanços teóricos-metodológicos que a vertente de intenção de ruptura vinha
consolidando, e ampliou a pós-graduação na área, investindo na pesquisa, na qualificação
acadêmica e com grande interlocução com as ciências sociais(cf. Netto, 2005: p. 18). É
precisamente esse investimento na pesquisa e na produção crítica, que inclusive desenvolveu-se
com a inserção do marxismo no universo teórico da profissão, que veio delineando a nova face do
Serviço Social brasileiro e suas possibilidades tanto de intervenção política no cenário nacional
quanto de sua inserção no debate latino-americano do Serviço Social.
É preciso sublinhar que a existência desse conjunto profissional que dá substância crítica ao
Serviço Social possui uma composição política e teórica diversificada, marcada pela existência de
propostas profissionais concorrentes e por polêmicas e debates que explicitam a característica da
sua pluralidade. E dispõe de um pólo em que há a permanência e proliferação de tendências teóricas
e políticas conservadoras e tecnicistas que se alimentam da herança conservadora imanente à
dimensão sincrética da prática profissional e do contexto sócio-político regressivo e avesso às
pautas progressistas. “Seria um equívoco imaginar que este ‘Serviço Social crítico’ é a expressão de
todo o Serviço Social no Brasil. O panorama profissional brasileiro é muito diversificado, contando
com tendências conservadoras (em algumas dimensões, reacionárias) e neoconservadoras, Nos
últimos anos, de maré montante neoliberal, estas tendências vêm sendo muito estimuladas” (Netto,
2005: p. 18).
1. 4. 2. O Serviço Social brasileiro e sua aproximação ao marxismo
As questões pontuadas até aqui permitem-nos chegar a um ponto importante para a análise
da construção de um processo de ruptura profissional com o conservadorismo e a construção de um
projeto político profissional em novas bases, qual seja: o contexto em que se realiza a interação
entre o Serviço Social e a tradição marxista - posto que é no bojo do desenvolvimento da intenção
de ruptura que podemos demarcar esta aproximação. Passemos agora à análise das condições
efetivas desse processo e suas determinações.
O marco inaugural da emersão da intenção de ruptura, o “Método BH”, o é também para
pensar a relação entre Serviço Social e marxismo - entretanto, filtrada por uma problemática central
dessa interação: o viés da tradição marxista a que ela está vinculada. Esta é uma tônica presente no
desenvolvimento dessa relação, posteriormente superada quando o recurso ao legado marxiano se
68
efetiva e amadurece. Esta problemática marca o horizonte profissional, ainda sob a lente marxista,
pois acaba reafirmando uma séria dicotomia entre a teoria e prática, na medida em que desde seus
primeiros influxos no Serviço Social, o marxismo serviu para justificar um forte traço de
militantismo, caucionado no que seria a aposta em uma prática profissional transformadora.
Ao mesmo tempo, esta perspectiva marxista no Serviço Social só ganha substratos
profissionais quando o caldo conservador que a precedeu é posto efetivamente em xeque. Ou seja, é
somente quando o conservadorismo é colocado em xeque pela conjuntura histórico-social refletida
no interior da profissão que se criam as condições para que o Serviço Social brasileiro possa pensarse histórico-criticamente. Este movimento é marcado pela obra de Iamamoto e Carvalho, em 1982,
com posterior desdobramento na literatura profissional, efetivando aquilo que consideramos a real
ruptura com o tradicionalismo, que se dá no campo teórico a partir da incorporação do marxismo.
Aproveitando a indicação que nos foi feita por Adrianyce de Sousa em recente debate
acadêmico, socorremo-nos da categorização que Santos (2007) apresenta para pensarmos as
nuances das aproximações sucessivas entre o Serviço Social e o marxismo. O primeiro momento
dessa aproximação, chamado pela autora de apropriação ideológica do marxismo, é aquele que diz
respeito, naquilo que já está consagrado na bibliografia, ao período fortemente marcado pelo peso
das necessidades ídeo-políticas, com reduzida exigência teórica e, por isso, fortemente instrumental
- ou seja, opera-se pela via da militância política: neste momento, dado o clima da época, a
instrumentalização era a forma “para legitimar estratégias e táticas” (Netto, 1994, p. 268).
Este se constitui num aparente paradoxo da experiência de Belo Horizonte. Na medida em
que encerra efetivamente a primeira interlocução mais sistematizada da intenção de ruptura com o
marxismo, ela se faz não referenciando as fontes originais (o pensamento marxiano) e sim a
tradição marxista, que à época representava-se no marxismo oficial e manualizado. O aparente
paradoxo reside, para a intenção de ruptura, na necessidade de sua explicitação política sem a
explicitação do padrão societário que se deseja referenciar. Ou seja, é uma elaboração marxista que
carece de uma projeção socialista e que, mesmo sem esta projeção, traz para o universo profissional,
por meio dos objetivos de transformação social que se propunha, uma legitimidade que só pode ser
posta como perspectiva histórica de enquadramento do projeto de profissão e não da transformação
da sociedade. Nesse momento, como travejamento dessa estrutura teórico-metodológica, recolhe-se
da tradição marxista o visceral empirismo e se lhe dá uma iluminação teórica via redução do arsenal
marxiano, ao epistemologismo de raiz estruturalista (Althusser) – donde a reiteração de discussões
sobre idealismo, materialismo, ciência e ideologia, teoria e prática etc. (Netto, ibid: p. 268). Nesta
concepção, a obra de Marx aparece, neste primeiro momento no Serviço Social, como “uma
sociologia científica que desvenda o mecanismo da evolução social a partir da análise da situação
econômica” (Netto, ibid: p. 268). Aqui, a obra de Marx aparece totalmente destituída de sua relação
69
contraditória e dialética – trata-se de uma apropriação positivista do marxismo (Quiroga, 1991).
O segundo momento dessa aproximação é marcado pelas elaborações que passam a recorrer
às fontes mais originais. Com ela se abrem as condições efetivas para fissuras na tônica dominante
na profissão, pois o quadro da transição democrática pelo qual passava o país repõe a política e a
história como objetos práticos inelimináveis e possíveis de reflexão e, ao mesmo tempo, a
elaboração marxista nas ciências sociais, e também no Serviço Social, passa a recorrer às fontes
mais originais. O caráter inaugural desta perspectiva está no livro Relações Sociais e Serviço Social
no Brasil, de Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, em 1982 e seu caráter seminal, para a
profissão, reside na “justa compreensão que tem da postura teórico-metodológica marxiana” (Netto,
1994, p. 292). O eixo central da obra é a recusa a uma leitura interna do Serviço Social – que
buscava a sua especificidade no seu objeto, objetivos, procedimentos e técnicas – e que passa a uma
abordagem da sua institucionalidade como epifenômeno da ordem social burguesa. Procura, pois,
compreender o significado social do exercício profissional em suas conexões com a produção e a
reprodução das relações sociais na formação social vigente na sociedade brasileira (Iamamoto e
Carvalho, 1994). Neste sentido, esta obra expressa uma afirmação e aprofundamento da perspectiva
da ruptura com o conservadorismo, mas efetivamente esta só conseguirá se materializar
hegemonicamente em processos profissionais posteriores; ao mesmo tempo, os pontos expressivos
deste debate vão ser verificados em torno das disputas que articularam o Código de 1986 e na
formação profissional, mais precisamente no currículo de 1982·.
O projeto profissional de renovada elaboração marxista consegue, coletivamente, instaurar nos
marcos do Serviço Social um novo ethos profissional, com nítido amadurecimento teórico,
acadêmico, político e ético, que vem se entranhando nos últimos trinta anos no meio profissional. A
relação entre o Serviço Social e o marxismo, no Brasil, contribuiu para:
•
a ampliação do universo temático do debate profissional, com a introdução de discussões
acerca da natureza do Estado, das classes e dos movimentos sociais, das políticas e dos serviços
sociais, da assistência;
•
o desvelamento crítico do lastro conservador (teórico e prático) do Serviço Social;
•
o reconhecimento da necessidade de explicitar, com máxima clareza, as determinações
sócio-políticas das práticas profissionais;
•
a ênfase na análise histórico-crítica da evolução do Serviço Social no país (cf. Netto, 1991:
p.90).
Nestes termos, a década de 1980 foi marcada pela renovação do Serviço Social brasileiro em bases
marxistas, destacando-se pela primeira vez no universo profissional uma apropriação do conjunto
teórico-metodológico marxista mais consolidada, mesmo que muito diversifica e com apropriações
teóricas em níveis distintos no seu conjunto.
70
A relação fecunda com o marxismo tem possibilitado o crescimento maduro e produtivo do Serviço
Social. Os assistentes sociais ingressaram nos anos 1990 como uma categoria profissional que
investe na pesquisa, que reflete a realidade brasileira, e que investiga o trabalho profissional do
assistente social. Esse Serviço Social de inspiração crítica a partir da tradição marxista vem
implementando, nos últimos vinte anos, o chamado Projeto Ético-Político Profissional.
1. 4. 3. Serviço Social e o Projeto Ético-Político
Nossas alusões ao Serviço Social na década de 1980 e a sua aproximação ao marxismo de
Marx é importante, posto que nos oferece a referência inicial para compreendermos o universo
profissional que surge nos anos seguintes, particularmente o que se convencionou chamar de
“projeto ético-político” da profissão. O resultado político e teórico das reflexões e lutas
empreendidas pelo conjunto dos profissionais engajados nesse amadurecimento crítico está hoje
expresso neste “projeto ético-político” e vem fomentando o conjunto das reflexões críticas no
interior da profissão, particularmente sobre a sua contemporaneidade. Segundo Iamamoto, um dos
desafios do Serviço Social na atualidade
É re-descobrir alternativas e possibilidades para o trabalho profissional,
traçar horizontes para a formulação de propostas que façam frente à
questão social e que sejam solidárias com o modo de vida daqueles que a
vivenciam, não só como vítimas, mas como sujeitos que lutam pela
preservação e conquista da sua vida, da sua humanidade. Essa discussão é
parte dos rumos perseguidos pelo trabalho profissional contemporâneo
(1998, p. 75).
Na década de 1990, ancorado no fôlego com que as lutas populares demonstraram nos anos
imediatamente anteriores, foi possível que a maturidade teórica e política que vem caracterizando o
processo profissional de ruptura com o conservadorismo ganhasse hegemonia teórico-política nos
circuitos do Serviço Social brasileiro. O Serviço Social que se põe crítico e ativo desenvolve um
conjunto de ações políticas de resistência na implementação do projeto ético-político, com grande
destaque na atuação organizativa do conjunto dos profissionais, em especial nas entidades
representativas como o conjunto CFESS – Conselho Federal de Serviço Social e CRESS –
Conselho Regional de Serviço Social, a ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Serviço Social (antiga ABESS), e as entidades estudantis, em especial a ENESSO – Executiva
Nacional dos Estudantes de Serviço Social. Assumir uma postura em defesa das classes exploradas
levou o Serviço Social a consolidar uma orientação ético-política que se tornou central no Código
de Ética Profissional de 1993 e orientou a nova normatização federal da Lei de Regulamentação da
Profissão, também de 1993.
No campo da formação profissional foi empreendida uma nova jornada de pesquisas e
71
discussões que matizaram ainda mais uma perspectiva estratégica para a formação dos assistentes
sociais, definindo as expressões da questão social enquanto objeto sobre o qual incide a intervenção
profissional e elegendo o chamado “processo de trabalho e Serviço Social”, centrado nas análises
do trabalho profissional, como espinha dorsal do novo currículo - aprovando, assim, as Diretrizes
Curriculares para os cursos de Serviço Social da ABEPSS, em 1996, através de muita discussão
coletiva com as unidades de formação acadêmica de todo o país.
Assim, aquele Serviço Social que nasce nos anos de 1970 constrói um novo Serviço Social
que vem implementando, ao longo desses anos, o projeto ético-político marcado por uma unidade
pluralista, que comporta no seu interior interpretações teórico-metodológicas e ético-político
distintas, posto que o pluralismo não impede a disputa de ideias. A nova dinâmica profissional
consegue apresentar, dessa forma, uma direção política e uma atuação profissional que se legitima
na sua função social, sua relação com a sociedade, e com outros sujeitos políticos. Nos termos de
Netto,
Os projetos profissionais elegem os valores que a legitimam
socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções,
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para seu
exercício,
prescrevem
normas
para
o
comportamento
dos
profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários
de seus serviços, com outras profissões e com as organizações e
instituições sociais, privadas e públicas (entre estas, também e
destacadamente com o Estado, ao qual coube, historicamente, o
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais) (1999, p. 16; negritos
do original).
Considerando essa perspectiva diversa, podemos elencar um conjunto de concepções e
princípios que se apresentam ora como normatizações que estão cristalizadas nos documentos
profissionais citados anteriormente28, ora como compromissos que orientam a formação, o trabalho
profissional e a prática política dos assistentes sociais. O projeto ético-político do Serviço Social foi
sendo construído a partir dos debates coletivos e organizativos e explicitou um conjunto de valores
e compromissos que vem dando substrato à ação política das entidades profissionais, ao
posicionamento dos profissionais frente às demandas dos usuários e ao direcionamento da formação
acadêmica e técnica dos assistentes sociais. Considerando as perspectivas políticas e éticas que vêm
sendo referenciadas pelo projeto profissional, seja na prática política das vanguardas profissionais,
seja nas orientações normativas do trabalho profissional, podemos identificar três conjuntos de
princípios que podem ser assim sistematizados, conforme estudos de Netto (1999):
28
O Código de Ética Profissional de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão também de 1993, e as Diretrizes
Curriculares dos cursos de Serviço Social da ABEPSS de 1996.
72
i) o núcleo do projeto profissional: a liberdade é posta como um valor central, concebida
historicamente como possibilidade de escolher entre alternativas concretas. Deste núcleo derivam
alguns compromissos como a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais,
a defesa dos direitos humanos. Logo, rechaçam-se politicamente todas as formas de autoritarismo,
arbítrio e preconceitos, e assume-se o pluralismo – tanto na sociedade quanto no exercício
profissional – como modalidade necessária para a disputa da direção teórico-metodológica e éticopolítica;
ii) a dimensão política do projeto: afirma-se a necessidade de equidade e justiça social, que deve
ser entendida na direção da universalização do acesso aos programas e políticas sociais; defende-se
a cidadania de forma ampliada, a partir da consolidação e garantia dos direitos civis, políticos e
sociais das classes trabalhadoras. Articulam-se ainda esses primeiros princípios à defesa do
aprofundamento da democracia – vista a democratização enquanto socialização da participação
política e socialização da riqueza socialmente produzida;
iii) os aspectos do exercício da profissão: o projeto profissional indica um compromisso com a
qualidade dos serviços prestados, o que requer competência técnica profissional e indica a
necessidade de aprimoramento intelectual do assistente social. Por isso, um esforço continuado do
conjunto profissional em construir uma formação acadêmica qualificada, alicerçada em concepções
teórico-metodológicas críticas e aprofundadas, capazes de viabilizar uma análise concreta da
realidade social. O projeto também destaca uma renovada relação sistemática com os usuários dos
serviços desenvolvidos pelos assistentes sociais (cf. Netto, 1999).
Essas são, sinteticamente, orientações que se apresentam como desafios no cotidiano do
exercício profissional e na prática política, e estão presentes em todos os debates que tematizam o
projeto profissional critico e comprometido. De acordo com Iamamoto:
Os princípios constantes no Código de Ética são focos que vão
iluminando os caminhos a serem trilhados, a partir de alguns
compromissos fundamentais acordados e assumidos coletivamente pela
categoria. Então ele não pode ser um documento que se “guarda na
gaveta”: é necessário dar-lhe vida por meio dos sujeitos que,
internalizando o seu conteúdo, expressam-no por ações que vão tecendo o
novo projeto profissional no espaço ocupacional do cotidiano (1998, p.
78).
Este panorama, esboçado em largos traços, fundamenta uma perspectiva cada vez mais
difundida no meio profissional, que é construída tendo o trabalho profissional como uma forma
efetiva de luta para transformação das relações sociais postas pela ordem burguesa. Mesmo
73
que não formulada e exposta nestes termos, esta é a mensagem que está contida, especificamente
para o exercício profissional – porque é isso que nós somos, uma profissão –, no conjunto do
projeto ético-político; e mais: tendemos a acreditar que é desta forma que ela vem sendo
incorporada pelo conjunto dos assistentes sociais.
1. 4. 4. Temas conexos e desafios para o Serviço Social na cena contemporânea
Sumariamos neste capítulo os grandes temas (democracia, questão social e política social)
que consideramos de íntima relação com o Serviço Social, com a produção teórico-prática que vem
sendo desenvolvida e com o projeto ético-político profissional. Tais temas, antes de ser uma
sistematização necessária para o nosso debate da economia solidária, são eixos-chave que oxigenam
a dinâmica política e prática do trabalho dos assistentes sociais e os colocam em aberta interação
com as demandas sociais e institucionais das classes. Agora, retomaremos certas formulações já
tangenciadas para indicar alguns dos problemas e desafios atuais do projeto político profissional
que podem potencializar a relação emergente entre Serviço Social e economia solidária.
Quando apresentamos uma resenha em torno da problemática da democracia, buscamos
indicar perspectivas que dão a tônica de diversas práticas/entendimentos sobre ela. Não procuramos
definir um conceito único porque, de fato, não conseguiríamos formulá-lo, visto o lastro que existe
de polêmicas nesse debate, inclusive dentro de um mesmo campo. Mas é necessário lançar no
debate algumas anotações que nos ajudam a pensar a democracia e sua radicalidade29 no Serviço
Social.
É de conhecimento popular que a palavra democracia vem do grego e significa governo do
povo. Todavia, em sua evolução nas sociedades modernas, a democracia foi sendo utilizada para
caracterizar uma perspectiva de liberdade dos indivíduos frente aos Estados absolutistas e sem
espaço para o liberalismo. Esse ponto de partida se repõe até hoje, de modo que a temática da
democracia sempre aparece numa clara polarização entre liberdade e ausência ou limite dela, ou
seja, ditadura x democracia ou autoritarismo x democracia. Os primeiros ideólogos da burguesia
realmente acreditavam que essa seria a forma necessária para liberar indivíduo e mercado de
qualquer restrição. Mas, a evolução do capitalismo, principalmente na fase de constituição dos
monopólios, pôs por terra essa ideologia universalizada. E ficou claro que conceitos como liberdade
e igualdade no plano econômico e apenas formal (no plano jurídico), no ordenamento burguês,
tornaram-se vazios, cada vez mais palavras ocas30.
29
30
Refiro-me a concepção de democracia que alicerça um dos princípios do Código de Ética Profissional de 1993,
especialmente o entendimento de democracia enquanto socialização ampliada da riqueza socialmente. Pensamos que
uma consequência desta concepção de democracia, em termos prático-políticos, foi a campanha promovida em
2009, pelo conjunto CFESS/CRESS's sobre a concentração de riqueza no país, sob o título “Depois que o rico come,
é isso o que sobra para você”.
Essa interpretação foi feita por Lukács em sua intervenção nos Encontros Internacionais de Genève, em 1946 (cf.
Konder, 1980).
74
Esse esvaziamento gerou uma reação das forças sociais que se reivindicavam dos setores
democráticos e passou a indicar a necessidade de superar a condição formal da liberdade e da
igualdade, construindo estruturas sociais que possibilitassem o exercício real da democracia.
O pensamento democrático passou a se insurgir, então, com crescente
vigor, contra a mistificação liberal. Os democratas mais aguerridos –
entre os quais se destacavam os socialistas – insistiam no fato de que não
bastava proclamar abstratamente a igualdade dos cidadãos perante a lei:
era preciso criar condições práticas, materiais, concretas, para assegurar
aos homens uma vida decente e a efetiva possibilidade de serem livres
(Konder, 1980: p. 12).
Dessa forma, os democratas de toda cepa apostam no caminho democrático como forma de
construir alternativas de participação dos indivíduos na dinâmica da sociedade e na construção de
modalidades de controle democrático, e as revoluções burguesas, tão sedentas de democracia,
geram modalidades as mais diversas de democracia que conhecemos no mundo moderno (a
democracia bipartidária e lobista dos EUA, o mix nobreza e burguesia na democracia inglesa, ou
ainda a forma mais clássica, a democracia francesa). A democracia que nasce com a ordem burguesa
autonomiza conceitos de liberdade e igualdade em função da sua estrutura peculiar. Na ideologia
burguesa, a democracia é tomada assepticamente: primeiro, não referencia o seu conteúdo, pois
privilegia sua forma; segundo, não revela a necessidade da sua historicidade, dado que não pode ser
confrontada com as prioridades econômicas.
Note-se que a democracia, como resultado dos processos históricos, não pode ser
descontextualizada da legalidade particular em que ela se desenvolve. É necessário analisar a
formação das classes, as formas de apropriação do Estado pelas classes dominantes, sem dessa
análise isolar as determinações universais que impactam a democracia mediante as exigências do
ordenamento econômico. Ou seja, a análise das sociedades e seu processo de democratização está
condicionado à apreensão da legalidade própria da formação sócio-econômica particular e sua
interação íntima com os processos sócio-históricos que determinam a conformação das modalidades
políticas resultantes dessa formação sócio-econômica. Esse trajeto teórico-metodológico para
investigar a democracia é apanhado nos estudos de Lukács (2008), que indica precisamente o
caráter histórico e determinado da democracia na sociedade capitalista e nos adverte contra o seu
tratamento estático.
Busco aqui tratar a democracia (ou melhor, a democratização, dado que,
também neste caso segundo uma abordagem ontológica, trata-se
sobretudo de um processo e não de uma situação estática) de um ponto de
vista histórico, como concreta força política ordenadora daquela particular
formação econômica cujo terreno ela nasce, opera, torna-se problemática
e desaparece (2008: p. 85).
75
O pensamento liberal, já marcado pelo processo de decadência ideológica burguês, revertese em pensamento conservador e dedica-se a tratar do problema da democracia como uma
expressão estática das virtudes da ordem burguesa. A realização da liberdade e da igualdade, que
foram centrais na luta contra o feudalismo e contra o eclipse da razão (Horkheimer), tornam-se,
dessa forma, carentes de factualidade sócio-econômica, pois a ampliação da liberdade e da
igualdade esbarra no direito “natural” e ineliminável da propriedade privada próprio da democracia
e cidadania burguesas. Os problemas que são postos para a democracia, e para os democratas, giram
em torno do ordenamento estritamente político e das modalidades de gestão, ou seja, do
procedimentalismo: o tamanho do Estado, considerações jurídicas acerca da cidadania e os direitos
políticos, civis e sociais.
Nesses termos, a interferência da democracia na base sócio-econômica não é limitada
porque nasce limitada: é assim porque liberdade e igualdade nascem sob o signo de configurações
históricas determinadas pela ordem burguesa e são a expressão contraditória da liberdade e
igualdade possíveis no capitalismo, porque nelas assenta a legitimação da realização factual das
relações de produção social dessa sociedade.
A forma política clássica da moderna democracia burguesa, ou seja, a
Revolução Francesa, nasceu e entrou em funcionamento acolhendo
conscientemente, no plano intelectual, muitíssimo desse modelo. No
plano socioeconômico, porém, encontra-se exatamente no polo oposto.
Ao sublinhar esse caráter antitético, Marx destaca ao mesmo tempo que
liberdade e igualdade, as expressões ideológicas centrais da essência da
democratização moderna, podem decerto, precisamente no plano
ideológico, assumir formas bastante diferenciadas; mas, no que se refere à
essência socioeconômica, elas não só “são respeitadas no intercâmbio dos
valores de troca, mas o intercâmbio dos valores de troca é a base
produtiva real de toda igualdade e liberdade” (Lukács, 2008: p. 88).
Há, sem dúvida, no processo de democratização, como nos indica o pensamento lukacsiano,
possibilidades de ampliação ou restrição da democracia constituídas sempre em bases ideológicas;
todavia, a realização dela não indica maior ou menor liberdade e igualdade, porque estas têm sua
constituição precisa determinada pelo traço ontológico das relações de produção capitalistas, isto é:
são realizadas como livre expressão dos vendedores e compradores privados de força de trabalho e,
assim, do valor que importa nas trocas capitalistas. A “questão democrática”, nesse entendimento,
está inscrita nos processos políticos e ideológicos da sociedade e, a partir de uma análise dialética,
podemos dizer que ela é esvaziada do conteúdo central – o plano sócio-econômico – , sendo que seu
conteúdo passa a ser determinado pela forma – modalidade de ordenamentos possíveis na ordem
burguesa. Não há nessa indicação nenhum reducionismo na análise das conexões entre estrutura
econômica e ordenamento político, mas apenas a indicação da primazia da primeira em relação à
76
segunda na constituição da vida social.
Essa compreensão da democracia nos permite inferir o lugar que ela ocupa na sociedade
burguesa - o que não quer dizer que dela está deduzido um processo evolutivo de constituição e
ampliação da democracia, pelo contrário. A democracia e suas formas mais ampliadas somente são
possíveis a partir da pressão real que as classes trabalhadoras e populares organizadas conseguem
imprimir ao ordenamento político. Mas essa relação entre ampliação e restrição é uma problemática
tão mediada, na qual incide um conjunto muito largo de multicausalidades, que nos parece
importante destacar apenas que a ampliação extrema da democracia tensiona as bases de
organização do próprio capitalismo e sua radicalização como prática política revolucionária aponta
para a ruptura da ordem burguesa. No pensamento socialista revolucionário, “a questão da
democracia aparece sempre diretamente relacionada não só com a liquidação do sistema capitalista
como, com igual ênfase, com a transição socialista” (Netto, 1990; p. 79).
Mas essa valorização da democracia tem que ser precisada, e não pode ser atribuído a ela um
status estruturante da luta de superação do capitalismo, vale dizer: é importante afirmar sua
funcionalidade para radicalizar as condições de luta das classes trabalhadoras, sem daí derivar um
novo valor abstrato que se universaliza e se autonomiza do processo histórico. Pois a revolução
proletária contemporânea está “ligada à possibilidade de consolidar a universalização do
ordenamento democrático, para transformá-lo qualitativamente através de rupturas ao longo de um
processo onde ele será, rigorosamente, superado” (Netto, ibid: p. 80, itálicos do original). Essa
observação, efetivamente mediada, não condiciona ou ainda não afirma que da radicalização da
democracia nascerá a ruptura com o sistema capitalista, ou se instaurará o processo revolucionário.
Todavia, podemos inferir que a democratização da sociedade é o resultado do processo sóciohistórico no qual se contém, por um lado, a legitimação ideológica da sociedade burguesa, e, por
outro, a pressão possível das classes trabalhadoras organizadas, o que pode gerar – estritamente
como possibilidade – a renovação das práticas políticas e radicalização das lutas sociais de classe,
sem com isso deduzirmos que a democracia é uma condição para a ruptura com a ordem sócioeconômica capitalista.
Como a democracia deve ser apreendida como uma problemática em processo histórico, no
caso brasileiro a dura realidade da brutal coerção exercida historicamente pelo Estado apropriado
pelos interesses das classes dominantes tem sido sempre disfarçada e mistificada. A burguesia
conservadora do país garantiu, por diversas vias, a passagem do estatuto colonial para o de pretensa
autonomia nacional mediante um processo de industrialização que não operou as reformas
fundamentais e necessárias ao ordenamento burguês “clássico”, o que determinou historicamente o
alijamento das classes populares aos direitos da cidadania (burguesa). Nesse contexto, a questão da
democratização no Brasil emprenha-se de conteúdos ainda mais civilizatórios e coloca muitos
77
constrangimentos às elites brasileiras31. No Brasil a “questão democrática” comporta um conjunto
de demandas universais das camadas populares que são fundamentais para a emancipação política
dos sujeitos sociais - todavia, inscritas precisamente na legalidade própria da formação sócioeconômica do país, pois mesmo a sua condição de capitalismo dependente não cancela as
determinações universais do sistema capitalista.
Essa pequena sinalização da questão da democracia na realidade nacional nos ajuda a situar
porque democracia, justiça social, igualdade, direitos e cidadania adquiriram tamanha importância
política no projeto ético-político profissional do Serviço Social e porque a sua defesa é importante
para a melhoria das condições de vida e trabalho da população brasileira. Do ponto de vista do
trabalho profissional, a condição restrita ou ampliada da cidadania e da democracia expressa-se,
factualmente, na possibilidade de acesso a parcelas da riqueza social, na forma de serviços e
políticas sociais, de modo que a administração da questão social no país adquira tonalidades mais
democráticas. Assim, esses temas estão intimamente relacionados ao Serviço Social, ganhando
materialidade nas práticas ídeo-políticas das vanguardas profissionais, mas profundamente
tensionadas no exercício cotidiano dos assistentes sociais.
Podemos retomar agora uma afirmação presente na nossa argumentação anterior: a
dimensão ética e política que adquire o projeto ético-político profissional coloca para o Serviço
Social o horizonte da possibilidade de ruptura com o capitalismo - todavia, enquanto categoria
profissional politicamente organizada, essa potencialidade inscreve-se necessariamente na
articulação e defesa das lutas das classes trabalhadores e proletárias organizadas. Enquanto
determinado pela condição que nos é atribuída na divisão social e técnica do trabalho, o nosso
exercício profissional comporta formas de trabalho democráticas, que lutam pela qualidade dos
serviços sociais e que podem ampliar o acesso aos direitos sociais, mas a funcionalidade que esses
adquirem socialmente independe da vontade dos sujeitos, o que nos inscreve precisamente no
universo da administração da questão social no capitalismo.
Não queremos, com esta afirmação, simplesmente remeter a uma análise já consolida no
Serviço Social acerca das diferenças estruturais entre projetos societários e projetos profissionais –
para a qual os primeiros comportam os projetos universalizantes das classes sociais fundamentais e
os segundos elegem diretrizes e valores que legitimam a profissão socialmente e a vinculam aos
projetos societários. Queremos apenas indicar que a defesa e construção do socialismo ou a “opção
por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária,
sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero” (CFESS – Código de Ética Profissional,
1993) é possível na dimensão das articulações e práticas políticas que o conjunto profissional
organizado elege e desenvolve; porém, no exercício cotidiano das intervenções profissionais pode
31
O racismo e preconceitos de toda ordem (de classe, de gênero, de orientação sexual etc.) são traços das classes
burguesas que se agregam numa constelação heterogênea de valores altamente elitistas.
78
ocorrer, no máximo, a explicitação da defesa de uma outra ordem societária de modo individual
e/ou coletivo, sem com isso alterar a natureza e a funcionalidade que o trabalho profissional possui,
pois o sujeito pode à partida atribuir um objetivo à sua prática, mas a funcionalidade dela é
determinada por um conjunto de policausalidades que atuam no fenômeno sobre o qual ela incide.
Ou seja, os sujeitos assistentes sociais poderiam até, no limite, serem todos revolucionários – tal não
alteraria, em si, a natureza e os limites do seu trabalho profissional.
Esta observação crucial, todavia carente de muitas mediações para sua explicitação, parecenos necessária para problematizarmos como a categoria profissional vem se apropriando deste
princípio presente no Código de Ética – “opção por um projeto profissional vinculado ao processo
de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero”
– vista a impossibilidade dessa transformação social se posta exclusivamente no horizonte do
exercício profissional. À partida, ainda que apenas apoiada na minha própria experiência
profissional e política (que, obviamente, inclui minha análise da bibliografia profissional e minha
participação em fóruns de debate da categoria), surge-me a seguinte hipótese: como a ação teórica e
política dos sujeitos profissionais organizados não está conseguindo explicitar claramente a
dimensão eminentemente ídeo-política da perspectiva de construção de uma nova ordem
societária presente no projeto ético-político profissional (que só ganha prática concreta na ação
coletiva e organizada da categoria profissional em condições históricas determinadas), tal
perspectiva vem sendo incorporada pelo conjunto da categoria profissional como uma dimensão
constituinte do que seria uma intervenção profissional crítica, comprometida e, por vezes,
transformadora. Dito de outra forma: dada a carência de rigor com que vem sendo apropriada a
natureza e a estrutura do Serviço Social e suas atuais funções sociais na dinâmica de administração
da questão social própria do capitalismo contemporâneo, os componentes ídeo-políticos presentes
no trabalho profissional vêm progressivamente se autonomizando das práticas dos assistentes
sociais e estes desenvolvem, assim, um discurso progressista de si, do trabalho e da sociedade, mas
reproduzem uma intervenção conservadora. O fenômeno aparece de modo límpido, por exemplo,
quando se confunde a direção social crítica marxista que cauciona o projeto de formação
profissional das Diretrizes Curriculares da ABEPSS com o resultado dessa formação, ou seja: não
se formam marxistas ou revolucionários nas nossas graduações, mas assistentes sociais municiados
de um arsenal teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo que pode, ou não, ter
referências no marxismo. E qual a importância dessa consideração para a nossa tese? Os equívocos
do exercício profissional, alicerçados na autonomização ídeo-política de princípios muito caros e
disputados no Serviço Social, vem implicando o uso descontextualizado de conceitos teóricos tais
como democracia, participação, cidadania, etc. e a adesão a práticas profissionais desreferenciadas
das suas reais funções sociais. O uso indiscriminado desses conceitos me parece, do ponto de vista
79
teórico, um dos afluentes da emergente relação entre Serviço Social e economia solidária.
Esta angulação é, decerto, um campo de polêmicas que estão para além, inclusive, do
próprio Serviço Social – mas é deste lugar que se faz a nossa análise. Antes que nos acusem de
estarmos presas na gaiola de ferro weberiana pela via do pessimismo, preferimos assumir a
pretensão de padecer do rigor teórico necessário nas análises que se reivindicam legatárias do
pensamento marxiano.
80
CAPÍTULO II
ECONOMIA SOLIDÁRIA
E
CAPITALISTMO
81
O segundo Capítulo trata da Economia Solidária em face das manifestações do capitalismo
contemporâneo, e, mais ainda, rastreia alguns dos seus fundamentos ídeo-políticos e teóricos, que
vão dos socialistas utópicos ao socialismo de Singer (1998), e se dedica, particularmente, a
investigar a economia solidária no Brasil e oferecendo ao leitor uma radiografia dos chamados
“empreendimentos de economia solidária” que vem sendo desenvolvidos no país. Nesta parte da
pesquisa identificamos o que é, no nosso entendimento, um movimento contraditório de ampliação,
fragilização e pauperização das estratégias de trabalho dos segmentos populares inscritas no leque
da economia solidária no Brasil.
2. 1. Características contemporâneas do capitalismo
O capitalismo contemporâneo – e sua dinâmica de desenvolvimento nos países periféricos –
foi, e continua sendo, objeto das mais diversas análises que tematizam, principalmente, a
reestruturação do modo de produção capitalista após a crise mundial iniciada nos anos de 1970 e a
inflexão neoliberal na década seguinte. Apesar desses elementos – reestruturação produtiva e
neoliberalismo – serem aspectos relativamente renovados no ordenamento do capital, a separação
entre o econômico e o político são formas aparentes, constantes e constitutivas da reprodução
capitalista. Com efeito, é necessário afirmar, desde já, que a compreensão que baliza nossa tese
remete a uma tentativa em analisar e captar alguns dos determinantes econômicos, políticos e
sociais que caracterizam o capitalismo contemporâneo como uma totalidade e, nesse cenário,
compreender como a economia solidária tem uma funcionalidade econômica, política e social ao
sistema de produção e reprodução capitalista.
Uma tentativa de caracterização do capitalismo contemporâneo nos leva a destacar,
inicialmente, que vivenciamos um período de continuidades e renovações na dinâmica da ordem
vigente. As continuidades referem-se inegavelmente ao constitutivo monopolista na estrutura
organizativa dos capitais, com aprofundamento do imperialismo, o que para Netto e Braz “vale
dizer, [que] o capitalismo contemporâneo constitui a terceira fase do estágio imperialista”
(2006: 211, negrito dos autores). Ou seja, a fase imperialista, que se instaura no início do século
XX, permanece inalterada no seu conteúdo monopolista, todavia repleto de mudanças que
caracterizam as renovadas formas de expansão capitalista.
82
A onda longa expansiva32, que deu o verdadeiro suporte econômico ao desenvolvimento
capitalista nos “anos dourados”, manteve o crescimento econômico atrelado a altas taxas de lucro e
bons índices de emprego e melhoria das condições de vida de parcelas da classe trabalhadora nos
países centrais assegurada, pelo Welfare State, apesar das enormes desigualdades sociais. Já em
finais dos anos 1960, a onda longa expansiva dava sinais de esgotamento. A taxa de lucro do capital
começava a cair em várias partes do mundo central 33, o que levou a uma redução real do
crescimento econômico e da margem negociável de transferência da mais-valia para o fundo
público e para os salários. De outro lado, para agudizar ainda mais a crise, contam-se as fortes
pressões de segmentos de trabalhadores organizados34, que foram decisivos reivindicando aumentos
salariais e questionando a organização da produção capitalista. O suposto “capitalismo
democrático” dos países centrais começa a derruir e são postos à prova a base do consenso
capitalista construído no período pelo pacto capital, trabalho e Estado – pacto no qual a socialdemocracia desempenhou papel político-ideológico central (Przeworski, 1991).
A análise mandeliana das crises cíclicas capitalistas nos leva a afirmar que as recessões
generalizadas de 1974/75 e 1980/82 não são nem resultado do acaso nem o produto de elementos
exógenos à dinâmica capitalista (como a alta do preço do petróleo, ou a mudança do padrão-ouro
como medida de conversibilidade para o comércio internacional). São essas – as recessões – parte
constitutiva das crises capitalistas, como as que vêm sendo vivenciadas nos últimos 35 anos, que
definem uma renovada onda longa recessiva, caracterizada pelo recuo do crescimento e pela
ofensiva do capital nas alternativas às crises.
A profundidade da crise mundial, que pôs fim ao “ciclo dourado” de crescimento econômico
do segundo pós-guerra, determinou a intensidade e o impacto das diversas respostas - econômicas,
políticas e sociais - que o capital monopolista operou sobre os países centrais e periféricos. O que,
na nossa percepção, fortaleceu sobremaneira o capital frente às resistências sócio-históricas
oferecidas pela classe trabalhadora e pelo movimento socialista. Produziu, assim, uma espécie de
“tônico,” dando ao capitalismo uma imagem que, para muitos, mostra como inconteste a sua
supremacia - o que levou rapidamente os apologistas burgueses a declararem o “fim da história”,
por vias da liberdade plena do mercado e da vigência da democracia parlamentar representativa
enquanto etapa final da evolução da humanidade. Esta, certamente, como uma projeção
32
33
34
Já referenciamos, no capítulo 1, a obra pertinente de Mandel (O capitalismo tardio) de que retiramos a concepção de
“onda longa” (e que, como o próprio autor esclarece, tem raízes nos trabalhos de Leontiev). O conteúdo teórico
desta concepção está suficientemente desenvolvido na obra do marxista belga (cf. Mandel, 1982: p. 75-102) de
modo que não consideramos necessário retomar aqui as suas lúcidas considerações.
Entre 1968 e 1973, a taxa de lucro começa a cair rapidamente: na Alemanha Ocidental de 16,3 para 14,2%, na GrãBretanha de 11,9 para 11,4%, nos Estados Unidos de 18,2 para 17,1%, no Japão de 26,2 para 20,3%, e na Itália de
14,2 para 11,1% (Netto e Braz, 2006: 213).
São de destacar aqui as manifestações francesas de 1968 e as italianas de 1969.
83
mistificadora do real e da história, já recebeu inúmeras contestações teórico-políticas, mas sem
dúvida a mais precisa foi a da própria realidade, fruto das ações de resistência das camadas sociais
mais diversas e das crises que vêm assolando o mundo desde o final do século XX e início do
século XXI, (1994-95, crise econômica e moratória do México; 1997-98, crises financeiras russa e
asiática; 2001-02, quebra do sistema bancário argentino e, especialmente, a crise do final de 2008)35.
O capital, tanto no centro como na periferia, inicia, já nos finais da década de setenta, uma
estratégia política de ofensiva na busca de reverter o quadro que lhe era totalmente desfavorável. O
primeiro alvo foi o movimento sindical, que passou a sofrer um ataque sistemático, na medida em
que foi, e ainda é, atribuído às conquistas da classe trabalhadora a responsabilidade dos gastos
públicos com as garantias sociais e as perdas de lucros com os aumentos salariais. Nos anos 1980,
com os governos de Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos, o capital constitui um
aparato legal e político de controle dos movimentos sindicais, e instaura, nos planos econômicos e
políticos, as bases para o seu contra-ataque. Importante destacar a grande repressão promovida por
mistress Thatcher sobre os mineiros na Inglaterra, entre 1984-85, e por mister Reagan aos
controladores de voo nos EUA, em 1981.
No domínio dos circuitos produtivos, são introduzidas alterações que reconfiguram o padrão
econômico e produtivo denominado rígido, que se consolidou nas décadas áureas de crescimento.
Em substituição, instaura-se um modelo caracterizado pelos seus aspectos flexíveis. Flexibilidade
esta que se aplica aos processos de trabalho, aos mercados de trabalho, aos produtos e aos padrões
de consumo. A produção volta-se para atender demandas as mais diversificadas, e se alinha a uma
diversificação agora própria da acumulação, que se caracteriza pelo “surgimento de setores de
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e
organizacional” (Harvey, 1992: 140), cuja natureza corresponde ao momento presente das
demandas do capital, marcado pela necessidade de elevar a acumulação do capital a partir da
redução, cada vez mais imperativa, do tempo de realização das mercadorias.
De acordo com Antunes, esse modelo é a tentativa de construção de uma nova fase de
acumulação e repõe os elementos que constituem a dinâmica de expansão capitalista. Assim, na
medida em que é uma forma própria do capitalismo, o ordenamento produtivo atual mantém três
características que lhe são fundamentais: 1. direcionamento para o crescimento e acumulação de
capital; 2. crescimento baseado na exploração do trabalho vivo; 3. o capitalismo, enquanto um
35
Referências mais detalhadas das crises capitalistas que se vêm sucedendo desde os anos 1990 encontram-se, entre
outros, em Amin (2003), Harvey (2005) e Netto e Braz (2006).
84
sistema de regulação baseado na busca incessante de acumular capital, apresenta uma intrínseca
dinâmica tecnológica e organizacional (Antunes, 1999).
Na reestruturação produtiva, o essencial encontra-se na dinâmica, sem precedentes, de
incorporação à produção de tecnologias de base microeletrônica e na desconcentração produtiva,
que provoca uma reorganização territorial, em escala mundial, da produção dos monopólios. A
partir do deslocamento, total ou parcial, de complexos produtivos – mediante contratação direta, via
terceirização, via subcontratações, ou ainda trabalho autônomo domiciliar ou cooperativas de
trabalho –, o capital consegue intensificar a exploração da força de trabalho e renova ainda mais o
carácter desigual e combinado do desenvolvimento capitalista. A desconcentração produtiva
caracteriza-se, ainda, neste mesmo entendimento, pelo deslocamento do emprego e das modalidades
de trabalho formal - movimento que ocorre com o fechamento de postos de trabalho na indústria
fabril central e abertura de novas frentes de trabalho nos chamados serviços. Essa alteração na
gestão e contratação da força de trabalho aponta, para alguns autores, entre eles Offe (1995), que o
setor de serviços seria supostamente esse novo espaço privilegiado de inserção dos trabalhadores,
visto que, segundo o autor, o setor industrial estaria sendo comprimido a partir da substituição dos
trabalhadores por máquinas e pela tecnologia. Isto, para Offe, resultaria em mudanças substantivas
na centralidade do trabalho como regulador da dinâmica produtiva e do movimento da vida social.
Ora, diferentemente do que afirma Offe (ibid), entendemos que os trabalhadores deslocados da
empresa central e alocados nas suas concessionárias e subcontratadas – processo esse mediado por
renovadas e diversificadas formas de pagamento da força de trabalho (por tempo de trabalho ou por
peça) – estariam medularmente articulados ao processo de criação de mais-valia e interligados
mediante processo de valorização do capital36.;
O perfil industrial – a organização produtiva e a gestão das empresas – alterou-se
profundamente. E a ofensiva capitalista avançou também nas orientações neoliberais que deram a
tônica no processo de liberação econômica e sócio-política do capitalismo. Os governos de Reagan
e Tatcher aprofundaram o processo de desregulamentação financeira, com a eliminação das
restrições à mobilidade dos capitais, o fim do controle de preços e das restrições à criação de novos
tipos de aplicações e investimentos no mercado financeiro.
Já que as barreiras das regulações e dos agentes sócio-políticos vinham, e vêm, sendo
36
As subcontratadas, dessa forma, transferem para a “empresa mãe” parte do valor produzido em seus processos de
trabalho. Mesmo ante a fragmentação, o trabalho seria ainda organizado de modo que a cooperação permanece
como eixo vinculador do trabalhador coletivo e mediador dos diversos processos de trabalho. As pequenas e médias
empresas seriam supostamente “prestadoras de serviços” às grandes produtoras, contratadas por tempo determinado,
que por sua vez têm em seus quadros trabalhadores temporários, trabalhadores sem emprego regular, que são,
principalmente, desprovidos de direitos trabalhistas (Cf. Neves, 2007).
85
gradativamente derrubadas, o capital monopolista encontra-se cada vez mais livre para operar –
para além da exploração direta do trabalho - suas estratégias de reificação da vida social e de
deslegitimação das lutas e das conquistas sociais. “Realmente, o capitalismo contemporâneo
particulariza-se pelo fato de, nele, o capital estar destruindo as regulações que lhe foram impostas
como resultado das lutas do movimento operário das camadas trabalhadoras” (Netto e Braz, ibid.:
225). A desmontagem dos sistemas de proteção social nos países centrais aponta, de modo
emblemático, como o capital vem retirando sistematicamente os direitos sociais que são resultado
das conquistas históricas. Direitos estes que são apresentados e reproduzidos para a sociedade como
privilégios, ou ainda, como custos adicionais desnecessários para a contratação de trabalho, sobre a
qual imporiam uma suposta carga de impostos adicionais que onera em muito o empresariado e
desestimula o desenvolvimento – o que economistas brasileiros neoliberais denomiman de custo
Brasil37.
Entretanto, o neoliberalismo não é apenas uma estratégia com bases restritas na economia.
Mesmo que as ideias que dão corpo às teses neoliberais sejam originárias do economista austríaco
Friedrich Hayek38, e seu premiado livro O caminho da servidão (1944), a ideologia neoliberal é uma
reação teórica e política que surge, inicialmente, como alternativa ao modelo de desenvolvimento
centrado na intervenção do Estado, mas que veio se tornado um fenômeno ídeo-cultural em escala
mundial. O seu caráter conservador é baseado na compreensão da sociedade como um grande
mercado e, assim, como um meio para a realização criativa dos indivíduos, onde todas as formas de
competição são estimuladas. Supõe-se, nesta perspectiva, uma ideia de liberdade e de progresso que
só é realizável, para os neoliberais, na ação “livre” dos indivíduos por meio do mercado - assim,
primeiro existe o indivíduo com seus interesses e carências e depois a sociedade. Desse
37
38
Para boa parte dos economistas da atualidade, o problema do trabalho no Brasil está atrelado ao seu alto custo
social, o chamado “custo Brasil”. Esta grande vertente dos economistas acredita que a flexibilização do processo de
trabalho, do mercado de trabalho e da legislação trabalhista é um elemento fundamental para alavancar o
desenvolvimento econômico do país. De acordo com um dos grandes apologistas liberais, “no Brasil, o resultado da
soma da Constituição, CLT e jurisprudência da Justiça do Trabalho gera uma enorme inflexibilidade para se
negociar condições de trabalho (...). A grande vantagem da contratação coletiva – perdida com a inflexibilidade
apontada – é exatamente a das partes acertarem livremente o que mais lhes interessa no momento em que negociam.
A competição, o avanço veloz das inovações, a diversidade dos produtos e a globalização da economia estão
impondo novas formas de contratação, desconcentração e remuneração da mão-de-obra. Cresce a necessidade do
trabalho em tempo parcial; trabalho temporário; trabalho por projeto; teletrabalho etc. Assim como aumenta a
necessidade de se fazer arranjos específicos, sob medida, em nível de empresa e de caráter conjuntural” (Pastore,
1995: p. 183-184).
A importância de Friedrich August von Hayek (1899 Viena, Áustria - 1992 Freiburgo, Alemanha) no século XX é
comparada, pelos economistas burgueses liberais, com o papel que Adam Smith desempenhou durante o
Iluminismo, no séc. XVIII, com a defesa da liberdade do chamado poder criativo e da economia de mercado. A sua
ideologia está bem patente nas suas obras mais famosas: The Road to Serfdom (1944),The Constitution of Liberty
(1960) e The Fatal Concept: The Errors of Socialism (1989). Ao defender o capitalismo global, Hayek teve grande
influência não apenas em vários economistas e filósofos proeminentes (K.R. Popper e Robert Nozick) como também
em políticos de topo, tanto no ocidente (Ludwig Erhard/Alemanha ocidental, Margaret Tatcher/Inglaterra e Ronald
Reagan/EUA) como do leste europeu (Vaclav Klaus/Républica Checa, Leszek Balcerovicz/Polónia e Mart Laar/
Estónia) (cf. Caldwell, 2004).
86
entendimento deriva uma concepção teórico-prática de homem, caracterizado, particularmente,
como individualista e egoísta, pois funda-se no entendimento liberal da autodeterminação
individual, no qual todos compartilham das mesmas oportunidades, sendo que apenas alguns
conseguirão ascensão social ou melhorias de vida por via de uma competição justa. Essa concepção
é também conhecida como teoria política do individualismo possessivo39.
A ideologia neoliberal tem seu núcleo principal no ataque a qualquer limitação dos
mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciando tal limitação como uma ameaça letal à
liberdade econômica e política. Assim, os neoliberais retomam a tese clássica40 de que o mercado é
a única instituição que pode, e deve, apresentar soluções aos problemas sociais de natureza
econômica, política ou cultural. O Estado torna-se o primeiro alvo dos ataques neoliberais, também
reforçado pelo espaço aberto com a derrubada dos modelos do leste europeu e da crise dos modelos
sociais-democratas de distribuição. O Estado social e interventor é qualificado como burocrático e
inoperante e, segundo os neoliberais, limita a liberdade necessária para que capitais e mercados
superem as crises. Para eles, o Estado deve ser reformado 41, possibilitando maior flexibilidade e
movimento para a economia capitalista, principalmente a redefinição da alocação do fundo público.
Apesar dessa demonização ideológica do Estado, os setores monopolistas se utilizam
sistematicamente da intervenção estatal para viabilizar a economia capitalista. Um excelente
exemplo disso foram as recentes intervenções do governo norte-americano, com o presidente
Obama injetando monumentais recursos públicos para evitar o colapso do capitalismo. O pacote de
estímulos à economia aprovado pelo Congresso americano em fevereiro de 2009 destinou 1 bilhão
de dólares só para a geração, prevista, de 35 mil empregos, na tentativa de recuperação frente às 6
39
40
41
Em Macpherson encontramos uma análise profícua sobre o que o autor chama de unidade básica do pensamento
político inglês dos séculos XVII e XIX, o “individualismo possessivo”. Segundo o autor, “é necessário que se possa
postular que os indivíduos de que se compõe a sociedade se vêem, ou são capazes de se ver, como sendo iguais, sob
algum aspecto fundamental, do que sob todos os aspectos em que são desiguais. Essa condição foi preenchida na
sociedade pelo mercado possessivo original, desde seu surgimento como forma dominante no século XVII, até seu
apogeu no século XIX, pela aparente inevitabilidade da subordinação de todas as leis do mercado” (1979: p. 284).
Em Adam Smith, especialmente no seu livro A Riqueza das Nações (1776), desenvolve alguns formulações que se
tornaram seminais para o pensamento liberal, por isso sua condição clássica. Para Smith, na livre concorrência os
homens agem segundo sua liberdade e pensam exclusivamente na própria satisfação, e assim serão,
involuntariamente, os motores do desenvolvimento social. "Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou
do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse", diz Smith. É
no inesperado resultado dessa luta competitiva por melhoramento próprio que "a mão invisível" regula a economia,
e Smith afirma que a mútua competição ou concorrência força o preço dos produtos para baixo até seus níveis
"naturais", que correspondem ao seu custo de produção. Ele quer demonstrar, ainda, que o mecanismo protetor,
conversor do mal em bem, é a concorrência e a competição. O desejo apaixonado do homem para melhorar sua
condição pelo melhoramento próprio em detrimento do outro - "um desejo que vem conosco do útero materno e
nunca nos deixa até que vamos para a sepultura - é transformado em um agente beneficente social, dando
nascimento a uma sociedade ordenada e progressista” (cf. Mauro, 1973).
Observa-se, de acordo com Netto e Braz, que “pela primeira vez na história do capitalismo, a palavra reforma
perdeu o seu sentido tradicional de conjunto de mudanças para ampliar direitos; a partir dos anos oitenta do século
XX, sob o rótulo de reforma(s) o que vem sendo conduzido pelo grande capital é um gigantesco processo de contrareforma(s), destinado à supressão ou redução de direitos e garantias sociais” (2006: 227; grifos e negritos dos
autores).
87
milhões de vagas que foram eliminadas em 18 meses de crise. A primeira etapa de recursos do
Estado para salvar a economia americana foi de 700 bilhões de dólares para evitar que o sistema
financeiro americano derruísse por completo, juntamente com a quebra de vários conglomerados
financeiros, principalmente o gigante Lehman Brothers. Depois, liberaram-se mais 787 bilhões para
diversos setores da economia, com destaque para o setor automobilístico, com o que o governo
tornou-se um grande acionista, injetando diretamente 65 bilhões para salvar a General Motors e a
Chrysler42(cf. Lethbridge, 2009).
Ao contrário do que sustentam as teses neoliberais, o Estado continua, como se constata
empiricamente, com seu papel central na criação e manutenção das condições necessárias à
acumulação capitalista e, sobretudo, neste momento contemporâneo, financiando a pesquisa e as
descobertas aplicadas ao desenvolvimento de diversas áreas como eletrônicos, mecânicos,
nanotecnologia, ciências da vida e da informação (cf. Netto e Braz, 2006).
Parece evidente concluir que o “Estado mínimo” proposto pelos neoliberais refere-se
somente às ações estatais que correspondem às conquistas sociais do trabalho e a viabilização do
conjunto de direitos sociais. Por outro lado, ao capital foram exponenciadas as condições de captura
da renda mundial para além das fronteiras nacionais, através da financeirização da riqueza, da
redução dos custos de contratação e manutenção da força de trabalho, da diminuição da proteção
social e da transferência de ativos estatais para o setor privado, via privatizações. No dizer, muito
preciso, de Netto (1993: p. 81), o Estado é apenas mínimo para o trabalho e máximo para o capital.
Ainda é importante afirmar que o neoliberalismo exprime, a partir do papel renovado do
Estado, o poder e a “hegemonia da finança”. Os analistas do processo de financeirização,
especialmente Chesnais, identificam, há alguns anos, um regime de acumulação com dominância
financeira, que resulta de um processo de desregulamentação e de liberalização empreendido pelos
Estados nacionais sob o signo do neoliberalismo. Trata-se, assim, de uma nova forma de dominação
social da finança43, fruto de uma intervenção sistemática do Estado.
Considerar a alta brutal da taxa de juros ocorrida em 1979, o “golpe de
42
43
É facilmente perceptível que o socorro do governo americano veio para todos, inclusive para os que defendem a
exclusividade do mercado na regulação econômica. Mesmo assim, a hipócrita mídia burguesa continua pregando as
possíveis nefastas consequências das ações estatais neste momento de intervenção na crise. Ainda segundo
Lethbridge, em matéria na revista Exame, “ Quem pediu Estado, está tendo Estado para valer. Até agora, o resultado
desse tratamento de choque foi evitar que a economia americana mergulhasse num abismo. Numa frente, a
dinheirama do Fed e a intervenção estatal estabilizaram o sistema financeiro. E, na outra, o pacote de estímulos
amenizou o impacto da recessão. Segundo a agência de classificação de risco Moody's, os bilhões do governo
salvaram 500.000 empregos até agora. Mas, ao intervir na economia, transferindo o risco do setor privado para o
Estado, o governo americano pode criar as bases para a próxima crise” (Lethbridge, 2009: 37).
A financeirização do capital é um núcleo fundamental para a investigação do capitalismo contemporâneo análises
fecundas encontram-se em Chesnais (1996, 2003, 2005).
88
1979”, como o ato fundador da dominação da finança significa,
necessariamente, atribuir ao Estado (ao Tesouro e ao Federal Reserve dos
Estados Unidos) um papel central. Entre as transformações verificadas
nas duas últimas décadas, Duménil-Lévy e Chesnais destacam, em
diversos momentos, o papel motor do governo, principalmente dos
Estados Unidos. Nenhuma das contribuições trata o Estado como um
poder autônomo, situado acima das classes; muito pelo contrário
(Duménil e Lévy, 2003: 94-95).
Se os neoliberais insistem em que é necessário menos papel do Estado na dinâmica
econômica capitalista, onde seriam então, para eles, necessárias as intervenções estatais? O impacto
que a reestruturação capitalista dos últimos anos vem exercendo sobre a massa operária e o
conjunto das camadas trabalhadoras reflete o surgimento de novas determinações que incidem sobre
a questão social. E é, sem dúvidas, sobre o processo de pauperização que deve incidir,
prioritariamente, a intervenção do Estado, de acordo com o receituário neoliberal.
Nesse ponto da análise, faz-se importante destacar que todas as transformações
implementadas pelo capital têm como objetivo principal reverter a queda da taxa de lucro e criar
condições renovadas para a exploração da força de trabalho (cf. Teixeira, 1996). Dessa forma, são
os trabalhadores que pagam diretamente pelas mudanças impostas para salvaguardar o capitalismo,
“da redução salarial... à precarização do emprego” (Netto; Braz, ibid.: p. 218).
Em resposta à crise pela qual vem passando, o capitalismo desencadeia estratégias de
superação, particularmente na sua base produtiva. A dinâmica social do capital busca sempre, e
muito mais nos momentos de crise, formas de intensificação do trabalho, aumento de produtividade,
resultando na otimização da extração de mais-valia. A flexibilização, que é operada em diversos
sentidos, impõe sério enfraquecimento ao trabalho. É perceptível a fragmentação na organização da
produção, nos processos de trabalho, no mercado de trabalho e nos direitos regulamentados do
trabalhador, que resulta, consequentemente, numa fragmentação da classe trabalhadora e dos seus
processos de organização social.
A reestruturação produtiva diminuiu, de modo relativo, a classe trabalhadora industrial no
núcleo central produtor de mercadorias; e na medida que foi reduzindo os postos de trabalho
internos à fábrica, incorporou novas modalidades de trabalho, como as cooperativas, o trabalho
doméstico e as pequenas empresas terceirizadas, integrando-as intensamente à organização da
produção capitalista. Este fato demarca a proliferação, ainda mais precária, de diversos segmentos
trabalhadores nas bordas do complexo produtor central, o que no nosso entendimento explica como
89
trabalhadores, que foram “transferidos” do setor produtivo para o setor de serviços, continuam
ligados ao circuito de valorização do capital44.
E mais: o argumento de se flexibilizar45 para criar mais postos de trabalho é facilmente refutável
à base de dados internacionais e nacionais – vejamos alguns dados referentes ao nosso país. Assim,
podemos destacar, a partir dos dados do DIEESE/SEADE, que, durante a década de 1990, o auge de
contratações flexíveis ocorreu em 199946 e de modo mais intenso nas regiões metropolitanas de São
Paulo e de Porto Alegre. Na primeira, a contratação flexibilizada, que em 1989 representava 20,9%
do total de postos de trabalho criados pelas empresas, passou em 1998 para 31,6%, atingindo 33,1%
em 1999. Na região metropolitana de Porto Alegre, passou de 17,8%, em 1993, para 22,1%, em
1998 e 24,8% em 1999. Dentre as formas de contratação flexíveis, a mais praticada foi a
contratação realizada diretamente pela empresa, com assalariamento e sem carteira assinada. A
segunda forma de flexibilização a se generalizar foi a terceirização de serviços e a contratação do
trabalhador por conta própria ou autônomo, que em 1998 era de 8,4% em São Paulo, passando para
14,5% em 1999.
Todas essas modalidades contemporâneas de contratação do trabalho são formas renovadas de
precarização das relações de trabalho e expressam a atual necessidade do capital, ou seja: o capital
busca, para recompor suas taxas de lucro, formas cada vez mais “livres” de contratação, isto é, sem
compromissos com os direitos sociais.
As modernas formas de contratação (subcontratação, trabalho domiciliar,
trabalho por tarefas, trabalho em tempo parcial etc.) da força de trabalho
criam novas condições extremamente favoráveis para um maior domínio
e controle do trabalho pelo capital. (...). Essa nova estruturação
potencializa enormemente a exploração da mais-valia. Isso pode ser
demonstrado quando se analisam as peculiaridades características de
formas de pagamento da força de trabalho. Aliás, trata-se de uma
reposição de formas antigas de pagamento que foram dominantes nos
primórdios do capitalismo (Teixeira, 1996: p. 65).
Assim,
antigas
formas
de
trabalho
-
trabalho
artesanal,
associativismo,
cooperativismo, trabalho doméstico e familiar - aparecem como alternativas de trabalho para um
número crescente de trabalhadores que não estão inseridos em relações formais de trabalho e aos
44
45
46
No marco deste debate, é útil o trabalho de Tavares (2004).
De acordo com o DIEESE, por flexibilização “entende-se a contratação do trabalhador diretamente pela empresa,
como assalariado sem carteira de trabalho assinada, ou via terceirização ou ainda como trabalhador autônomo”
(DIEESE, 2001: p. 14).
O aumento do número de contratos de trabalho temporário e jornadas flexíveis deve-se, especialmente, à
regulamentação dessa modalidade de contratação, a partir da promulgação da Lei 9.601/98, que dispõe sobre o tema.
90
quais não se asseguram direitos trabalhistas.
No Brasil, o processo de desregulamentação do trabalho tem suas particularidades, pois, a
grande maioria dos pobres sempre careceu de empregos formais e com direitos trabalhistas
assegurados – vale dizer: de empregos minimamente remunerados, que oferecem estabilidade,
perspectivas de carreira, seguro-desemprego, seguro contra acidentes, enfermidades, velhice e
morte, ou seja, o sentido universal do emprego típico das camadas trabalhadoras dos países centrais.
No mercado de trabalho capitalista, a venda da mercadoria força de trabalho resulta de um
contrato pelo qual o empregador compra a mercadoria de que necessita. Se há muito trabalho
disponível, pronto para ser adquirido, o preço da mercadoria tende a cair – assim, os salários são
comprimidos gerando mais pauperização e mais desemprego. E a ideologia neoliberal tenta
estabelecer, com entusiasmo, o mercado como única forma de coordenação possível para regulação
do emprego, e realiza, dessa forma, mais um ataque ao movimento sindical e ao conjunto do
trabalho organizado. Mas, contraditoriamente, corresponde,
por um lado, ao reconhecimento implícito do papel dos sindicatos
operários como um obstáculo às pretensões do capital e, por outro, a que a
escolha de alternativas leva sempre em conta a contradição fundamental
entre capital e trabalho assalariado. Consequentemente, o resultado
prático da visão liberal é a tentativa de reposição do exército industrial de
reserva como variável de ajuste das relações salariais (Meneleu, 1996:
76-77; itálico do autor).
O monumental crescimento do desemprego direto no capitalismo contemporâneo é um dos
problemas mais evidentes da conjuntura atual. Muitos economistas tentam explicar este fenômeno
como apenas o resultado “natural” do conjunto de ajustes que vêm sendo realizados mas,
principalmente, como resultante da introdução de tecnologias poupadoras de força de trabalho. De
fato, as incorporações tecnológicas respondem pela absorção cada vez maior de trabalho morto no
processo produtivo - o que libera, realmente, quantitativos de trabalhadores de determinados
processos no sistema de produção. Mas o desemprego é, na atualidade, resultado de determinações
que vão desde as políticas fiscais das economias nacionais até a flexibilização das relações de
trabalho. As políticas fiscais e monetárias têm em vista impedir que a economia se “aqueça” por
demais, o que implica manter uma margem de sobre-oferta de força de trabalho. Nesse sentido, o
desemprego também é um efeito funcional das políticas de estabilização (cf. Belluzzo e Almeida,
2002). Se essas são algumas determinações na dinâmica do desemprego, é preciso destacar que
existe um grande fator que também regula esse processo, a luta de classes. “Só a grosso modo os
91
movimentos gerais de salários são exclusivamente regulados pelo movimento do exército industrial
de reserva […]. Esses movimentos são regulados por outros fatores: a luta de classes, por exemplo”
(Teixeira, 1995: 199).
A ofensiva do capital sobre o trabalho, nos últimos anos, no Brasil, resultou numa
fragilização do poder sindical, que se materializa em sindicatos e centrais sindicais atrelados ao
governo, e vem transformando a política sindical na própria política de governo. Dessa forma, a
resistência organizada dos trabalhadores é, substancialmente, neutralizada, e os limites que seriam
possíveis de se estabelecer ao capital, na regulação do mercado de trabalho, vêm sendo
sucessivamente destruídos.
A realidade que se revela demonstra que a desigualdade, a pobreza e o desemprego têm
raízes profundas e são expressivos no quadro do capitalismo contemporâneo, particularmente no
Brasil. Pois, apesar dos estudos do IBGE, do IPEA e outros institutos estatísticos seguirem
afirmando o crescimento da economia brasileira, a redução do desemprego e a diminuição da
pobreza, as informações coletadas por estas mesmas agências revela o grave quadro da flexibilidade
no mercado de trabalho, o contingente expressivo daqueles que trabalham por conta própria e,
ainda, daqueles que não são empregáveis e compõem uma massa significativa da população pobre.
Antes de apresentar alguns dados, é preciso dizer que a precarização do trabalho toma
também a forma de relações “informais”, que não são modalidades novas 47. Porém, com a redução
de empregos estáveis ou permanentes nas empresas, e da maior subcontratação de trabalhadores
temporários, eventuais ou por conta própria – tudo isso agora legalizado, as pesquisas sobre
emprego adotaram, além de novas metodologias, novas nomenclaturas para a análise do mercado de
trabalho: aí estariam os ocupados e os desocupados em relação à população economicamente ativa
– PEA.
De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego – PME, do IBGE48, em relação à condição de
atividade, os dados das seis regiões metropolitanas (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), em 2008, o número de pessoas em idade ativa era de 40.322.000
(mais de 40 milhões). Destas, apenas 23.221.000 (57,5%) pessoas (um pouco mais de 23 milhões de
pessoas) eram consideradas economicamente ativas, PEA. Veja-se, 42,5% da população ativa não
está compondo a PEA. Desta mesma PEA, apenas 52,5% encontravam-se ocupadas e 4,5%
(1.853.000 pessoas) estavam desocupadas. O restante entravam-se em categorias diversas marginais
47
48
Para este tema consulte-se os estudos dos anos 1980 de Souza (1980).
As informações sobre a PME, que agregamos à nossa pesquisa, são parte da publicação de um estudo sobre o
mercado de trabalho brasileiro, no período de 2003 a 2008 realizado pelo IBGE (2009).
92
à condição de ocupados, ou seja, inseridos em alguma atividade de trabalho. Somando o número de
desocupados e os considerados não economicamente ativos (17.101.000), temos um total de
18.954.000, quase 19 milhões de pessoas que estão sem trabalho, somente nessas 6 regiões
metropolitanas brasileiras. O que esses números também apresentam, é que uma parte significativa
da população vive sem uma renda mínima advinda de uma ocupação de trabalho e vive as diversas
intempéries para prover sua sobrevivência.
Com relação ao tamanho das empresas, denominadas na pesquisa de empreendimentos, os
resultados mostraram que, no total das seis regiões, 58,9% dos trabalhadores estavam ocupados
naquelas com 11 ou mais pessoas, 5,9% com 6 a 10 pessoas e 35,3% com 1 a 5 pessoas em 2008,
tendo a Região Metropolitana de São Paulo 63,3% ocupados em empreendimentos com 1 ou mais
pessoas e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro com 41,4% ocupados em empreendimentos
com 1 a 5 pessoas. A primeira coisa que chama atenção é a grande quantidade de empresas de
pequeno porte. Se relacionarmos essa informação à alta “taxa de mortalidade” das micro e pequenas
empresas49, investigada e divulgada pelo SEBRAE, inferimos que parte importante dos trabalhos
realizados nesses empreendimentos têm pouca durabilidade e continuação, refletindo grande
insegurança na sua manutenção. Já o fato de São Paulo ter o maior número de empreendimentos
com número de pessoas acima de 10 explica-se facilmente por esta ser a região com maior índice de
industrialização, setor este que, em geral, requer um número maior de pessoas relacionadas ao
processo de trabalho.
Quando buscamos analisar os dados da flexibilização do mercado de trabalho no Brasil, nos
últimos anos, os números revelam uma tendência à estabilização e incorporação permanente desse
tipo de trabalho. Na tabela 1, a seguir, a evolução das pessoas ocupadas, segundo a posição na
ocupação, pode ser acompanhada em uma série histórica, de 2003 a 200850.
TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS, SEGUNDO A POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO, NO TOTAL DAS
REGIÕES METROPOLITANAS (Recife, Salvador, BH, RJ, SP e Poa) (em%)
2003
49
50
2004
2005
2006
2007
2008
Reguladas pela aprovação, em 2009, da Lei complementar 128/09, que integra a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa. Com essa lei, os chamados empreendedores individuais podem formalizar empreendimentos por conta
própria com receita bruta anual de até R$ 36 mil por ano, diretamente via internet, junto à Receita Federal e à Junta
Comercial.
Essa série histórica (2003-2008), escolhida pelo IBGE para realizar o estudo, não nos parece aleatória. Corresponde,
para os mais atentos, ao período mensurável desde o início do governo Lula até véspera da crise mundial de finais
de 2008.
93
Empregados com carteira assinada no
setor privado
Empregados sem carteira assinada no
setor privado
Conta Própria
39,7
39,3
40,3
41,4
42,4
44,1
15,5
15,9
15,6
14,8
13,9
13,4
20
20,3
19,4
19,1
19,4
18,8
Empregadores
5,5
5,3
5,2
5
4,8
4,7
Trabalhadores domésticos
7,6
7,8
8,2
8,2
8,2
7,7
Militares ou funcionários públicos
estatutários
Empregados com carteira assinada no
setor público
Empregados sem carteira assinada no
setor público
7,4
7,3
7,3
7,4
7,3
7,6
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,5
1,5
1,4
1,5
1,5
1,4
FONTE: IBGE / PME, 2009 (elaboração de nossa responsabilidade).
Podemos observar, nesta tabela, que os contratos flexíveis de trabalho, regulamentados no
final dos anos de 1990, se consolidaram e representam no setor privado, em média, 14,85% da
população ocupada, no período de 2003 a 2008. Se considerarmos somente o setor privado, os
trabalhadores sem carteira assinada totalizam 23,31% do setor, em 2008. Cabe destaque ainda, em
2008, para os trabalhadores classificados como por conta própria, que representam 18,8% dos
ocupados e 7,7% são de trabalhadores domésticos, dos quais muitos também não têm carteira de
trabalho assinada. Como o que mais caracteriza as modalidades flexíveis de trabalho é a carência
de direitos sociais, podemos inferir que boa parte das pessoas ocupadas nas grandes regiões
metropolitanas do país – local onde, historicamente, é criado o maior número de empregos
tipicamente estáveis – trabalham sem seguros de trabalho, previdência social e outras garantias
mínimas.
Em complemento às informações do trabalho no Brasil, a realidade daqueles que vivem em
condições de pobreza51 também tem seu números alarmantes. De acordo com o IPEA, a pobreza
está caindo nas seis regiões metropolitanas centrais por conta do crescimento da economia, do
aumento do salário mínimo, dos programas sociais de transferência de renda do governo, como
Bolsa-Família, e dos incentivos à agricultura familiar. Segundo o mesmo instituto, a taxa de
pobreza52 nessas regiões passou de 42,5% em março de 2002, para 31,1% em junho de 2009 (IPEA,
2009). Os resultados dos programas de transferência de renda não podem ser ignorados, sobretudo
porque a condição de miséria no país também é expressiva e é impactada positivamente por
qualquer renda que essas famílias venham a ter acesso. Todavia, esse percentual de 31,1%, em
termos absolutos, significa 14,5 milhões de pessoas em condição de pobreza só nos grandes centros
51
52
A concepção de pobreza presente na obra marxiana, especialmente n'O Capital (1867), nos oferece aspectos
fundamentais para a análise das desigualdades sociais, particularmente os conceitos de pobreza absoluta e relativa.
Entretanto, as informações disponíveis sobre a pobreza no Brasil nada têm a ver com a concepção marxiana
(baseando-se, antes, em critérios bastante discutíveis de agências internacionais) e não temos aqui condições para
recorrer à sua crítica mais profunda – elementos para esta crítica encontram-se em Salama (2002).
Essa taxa é identificada pelo rendimento médio familiar per capita de até meio salário mínimo mensal.
94
urbanos. Adicionando-se a isto a realidade de milhares de pequenos municípios brasileiros, a
realidade nos revela a magnitude da desigualdade social no país.
Este breve excurso acerca do trabalho, do desemprego e da pobreza brasileiros nos remete a
indagar: quais são as alternativas propostas pelo capital, pelo movimento sindical e pelo governo
para enfrentar tais fenômenos? A resposta a este questionamento não é simples, mas dispomos de
uma importante indicação: o fato do aumento do desemprego e da deterioração das relações
contratuais de trabalho desequilibrarem a correlação de forças a favor do capital implica que as
alternativas a esse quadro terão um impacto débil na realidade vivida por enormes contingentes
populacionais e serão frequentemente funcionais às formas capitalistas vigentes.
Já expusemos, anteriormente, como os neoliberais compreendem o crescimento do
desemprego: é este o resultado natural do processo de ajuste econômico e do desenvolvimento
tecnológico e, por isto, deve ter sua sorte decidida pelo mercado. Não é de estranhar, pois, que as
soluções capitalistas propostas para o desemprego se limitem, em geral, a oferecer ao desempregado
treinamento profissional e algum financiamento, para que ele possa começar até o seu próprio
negócio. A tão divulgada qualificação é, sem dúvida, uma das mistificações clássicas de estratégia
de combate ao desemprego, que é, por sua vez, insistentemente reclamada pelos empregadores, sem
uma correspondente ênfase na geração de empregos.
O aumento da qualificação não induz os capitais a ampliar a demanda por
força de trabalho, pois esta depende basicamente do crescimento dos
mercados em que as empresas vendem seus produtos. Se todos os
trabalhadores desempregados incrementassem seu nível de qualificação, o
único resultado seria uma concorrência mais intensa entre eles, com
prováveis quedas dos salários pagos. A qualificação maior interessa ao
trabalhador individual para obter uma vantagem na luta por emprego, mas
só traria vantagens aos trabalhadores em conjunto se fosse possível
negociar escalas de salários que remunerassem melhor os de mais
qualificação, sem reduzir o ganho dos menos qualificados (Singer, 2001:
119-120).
Totalmente em sintonia com as iniciativas para promover a flexibilização crescente no
mercado de trabalho, o capital e o Estado tentam sempre transformar os desempregados em
microempresários ou em trabalhadores autônomos. Mas estes têm pela frente os entraves do
mercado e da sua dinâmica competitiva, do que resulta num grande número de insucessos. Essa
estratégia de trabalho autônomo vem sendo cada vez mais requisitada, especialmente, porque os
95
custos iniciais desses trabalhos tendem a ser menores. Nessa onda de trabalho autônomo, os
Empreendimentos de Economia Solidária - EES destacam-se pela sua diversidade: são cooperativas,
associações, empresas de autogestão, clubes de trocas, entre outros.
A participação dos EES na economia brasileira vem crescendo e têm ganho legitimação em
duas frentes: por um lado, representam uma alternativa de ocupação para os trabalhadores
desempregados e, por outro, as atividades de economia solidária são estimuladas como política de
geração de renda e combate à pobreza. Esses argumentos referendam socialmente a Economia
Solidária - ES, e lhe confere status privilegiado dentre as políticas de trabalho e geração de renda
promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, nos últimos 7 anos. Há ainda, na
produção teórica e política sobre os ESS, um forte apelo ideológico pois, para muitos, eles seriam
uma alternativa para além do capitalismo. Paul Singer 53 é, de longe, o mais expressivo e
significativo defensor da economia solidária como uma estratégia de combate ao desemprego, à
pobreza, e, sobretudo, ao capitalismo.
Para resolver o problema do desemprego é necessário oferecer à massa
dos socialmente excluídos uma oportunidade real de se reinserir na
economia por sua própria iniciativa. Esta oportunidade pode ser criada a
partir de um novo setor econômico, formado por pequenas empresas e
trabalhadores por conta própria, composto por ex-desempregados, que
tenha um mercado protegido da competição externa para os seus
produtos. Tal condição é indispensável porque os ex-desempregados,
como se viu, necessitam de um período de aprendizagem para ganhar
eficiência e angariar fregueses (Singer, 2001: 122; itálicos do autor).
A economia solidária aparece, nessa perspectiva, como uma alternativa ao desemprego por
suas características intrínsecas: autonomia, iniciativa própria, autogestão, cooperação... mas que têm
relação com a necessidade reinserir socialmente, e romper a suposta exclusão que os não
empregados vivenciam. Pressupõe, também, a criação de um mercado isolado e isento da ação do
capitalismo. Por isso, na compreensão de Singer, os empreendimentos de economia solidária devem
ser apoiados por vários agentes: o Estado, os trabalhadores e os capitalistas progressistas.
Seria importante que a cooperativa de economia solidária contasse desde
o início com apoio patrocínio do poder público municipal, dos sindicatos
53
Nascido em Viena (Áustria), em 1932, Paul Singer vive no Brasil desde os 8 anos de idade. Economista, foi membro
fundador do Cebrap, secretário municipal de planejamento de São Paulo na gestão da prefeita Luiza Erundina
(1989-92). É professor titular da FEA – USP e secretário nacional de economia solidária do Ministério do Trabalho e
Emprego. Singer tem uma vasta publicação na área da economia, e coordenou a tradução e publicação d'O Capital,
de Marx, para edição da Nova Cultural (1983-1984).
96
de trabalhadores, das entidades empresariais progressistas e dos
movimentos populares. Esse patrocínio conferirá à cooperativa o prestígio
necessário para atrair a adesão de um número grande de desempregados,
sem o qual o novo setor não terá o vigor necessário para levantar vôo
(sic). Além disso, o poder público será crucial para erguer instituições de
ajuda à cooperativa, dentre as quais a mais importante será um “banco do
povo” (Ibid: 123).
Vê-se, assim, de acordo com o autor, que as atividades de economia solidária necessitam de
grande suporte institucional, social e governamental para que possam, não somente existir,
principalmente permanecer viáveis economicamente e independentes do mercado capitalista. A
ideia de criar uma economia não capitalista pressupõe que as unidades de produção e trabalho dessa
economia devam organizar-se em função delas mesmas, e não de um grande capital centralizador.
Dessa forma, as modalidades solidárias inscritas no conjunto da economia solidária são criadas, na
atualidade, como alternativas de trabalho e inclusão social para um contingente de pessoas que
estão fora do mercado de trabalho.
Antes, porém, de passarmos a uma análise mais particular da economia solidária no Brasil,
resgataremos partes de um debate teórico e político dos supostos fundamentos que vinculam a
proposta brasileira de economia solidária ao projeto socialista e anticapitalista.
2. 2. Fundamentos da economia solidária: dos socialistas utópicos a Paul Singer
Para a maioria dos estudiosos e acadêmicos que se debruçam sobre o tema da economia
solidária, é referência comum todos localizarem nos socialistas do século XIX, em especial os
chamados socialistas utópicos, a origem ideo-política dos fundamentos teóricos da proposta de
economia social. Saint Simon, Charles Fourier e Robert Owen são tradicionalmente conhecidos na
história do pensamento socialista por suas idéias acerca de uma sociedade libertária e de
organização social de base comunitária. As diferenças entre eles são muitas, mas os pontos que os
congregam nos permitem agrupá-los num único denominador: o do socialismo utópico54.
Quando se trata, porém, de situar estes pensadores do início do século XIX, a literatura que
54
Este termo é usado pela primeira vez, de acordo com Beer (1944), por Marx e Engels em 1848, por ocasião da
redação do Manifesto do Partido Comunista. Todavia, a expressão usada originalmente no texto de 1848 era
“socialismo crítico-utópico”. Este debate foi retomado por Engels, trinta anos mais tarde, no seu trabalho contra
Dühring, no qual desenvolve uma análise mais apurada do socialismo utópico e dos seus autores.
97
analisa a história do socialismo55 localiza-os, em sua grande maioria, como precursores de uma
tradição muito mais rica e significativa. Os historiadores não veem neles senão os elos de uma
corrente que conduz inevitavelmente ao “socialismo científico”. Entretanto, o ressurgimento do
utopismo no tempo contemporâneo mostra que esse segmento do socialismo não foi apenas um
momento histórico do desenvolvimento das ideias socialistas, mas constitui uma corrente de
pensamento que retoma forças a partir de contextos de crise e obscurecimento das lutas do
proletariado.
Nestes termos, não se trata, para nós, de resgatar as origens do pensamento socialista e, em
particular, os socialistas utópicos, e apresentá-los como fundamentos histórico-políticos da
economia solidária contemporânea, mas especialmente localizá-los como substrato de uma
renovada onda utopista56 que se repõe na agenda das lutas sociais em seus momentos de retenção e
de desorganização.
A Inglaterra, em fins do século XVIII, a França e o resto Europa na primeira metade do
século seguinte experimentaram alterações econômicas e sociais da maior importância. A grande
revolução tecnológica que se realiza na época tem o efeito de provocar o desaparecimento dos
antigos modos de vida, bem como uma migração em larga escala dos habitantes do campo para os
centros industriais e urbanos. A burguesia é agora a detentora do poder econômico e político e, ao
mesmo tempo, contraditoriamente, gesta as condições para a construção do proletariado industrial.
Sob o choque brutal de tais mudanças, frente às sombras dos novos tempos, desaparece a era da
desigualdade sob a servidão, e se sobrepõe a era da desigualdade social sob a exploração do
trabalho assalariado. É nesse tempo histórico, de viradas, que as ideias políticas e sociais de SaintSimon, Fourier, Owen nascem e se propagam como contraponto econômico e social à sociedade
capitalista que se desenvolvia.
As preocupações morais, humanitárias ou metafísicas, fundamentais para os homens do
século XVIII, dão lugar aos trabalhos e pesquisas voltadas para os problemas econômicos e sociais.
55
A palavra “socialismo” surge pela primeira vez em novembro de 1831, no jornal Le Semeur, e depois, em fevereiro
de 1832, em Le Globe. Na França, o termo socialismo foi utilizado inicialmente para contrapor socialismo e
individualismo. Na Inglaterra, por sua vez, a palavra torna-se corrente e serve para designar a doutrina
associacionista de Robert Owen. Cf. Beer (1944).
56
Não é o objetivo do nosso texto tratar aqui do debate da utopia, apesar de este ser um dos vetores força que adjetiva
e qualifica uma das correntes de socialismo por nós aqui estudada. O que não nos impede de apontar,
sumariamente, que a noção de utopia comporta duas dimensões importantes: a crítica do existente e a proposição do
que deveria ser, sendo que a formulação prescritiva domina o núcleo de uma concepção utópica. (Cf. Netto, 1987).
98
As interrogações dos autores que citamos partem inicialmente de questões sobre a miséria existente.
Precisamente: como realizar a igualdade e a harmonia entre todos os homens? E para estas questões
eles, entre outros, apresentam diversas respostas criativas e ousadas, entretanto carentes de domínio
e conhecimento dos processos reais da sociedade que se colocava nascente. Neste contexto, são
propostos modelos de sociedade que se gostaria de ver realizados no mundo novo.
2. 2. 1. Saint-Simon
De modo cronológico, a primeira expressão do chamado socialismo utópico apareceu na
França na época da Restauração57, antes mesmo que a palavra socialismo tivesse sido criada.
Motivado pelas conseqüências iniciais do processo de industrialização do mundo, as ideias de um
aristocrata, o Conde de Saint-Simon, constituíram as bases de um projeto com que o autor visava à
contribuir para com “a classe mais desfavorecida”.
No ano de 1802, ele publica a sua primeira obra, Carta de um habitante de Genebra a seus
contemporâneos, na qual desenvolve a ideia de um governo mundial de sábios e artistas, celebrando
um culto ao pé do mausoléu de Newton. Embora esta obra inicial não revele os passos que ele
seguirá na sua trajetória intelectual, ela mostra a criatividade que está contida em várias proposições
do autor. Todavia, as suas obras mais significativas são História do Homem (1810), Da organização
da sociedade européia (1814), A parábola (1819), O sistema industrial (1823), Catecismo dos
industriais (1823-1824) e O novo cristianismo (1825) (cf. Petitfils, 1977).
O pensamento do Saint-Simon da maturidade sofre uma forte influência do progresso
técnico e do desenvolvimento das ciências e da indústria.
Saint-Simon tinha uma fé inabalável na ciência e no progresso humano.
Achava que a “ciência das sociedades” deveria ser uma ciência positiva e
chegou a propor, em 1814, uma “reorganização da sociedade européia”,
inclusive com a constituição de um parlamento europeu. Apesar de sua
visão idílica do mundo agrário, preconizava uma revolução industrial
(Teixeira, 2002. p. 47).
Para Saint-Simon, o progresso das ciências e das técnicas prepara o advento de um novo tipo
57
A Restauração é a designação dada ao período da história da França compreendido entre a queda do Primeiro
Império Francês, a 6 de abril de 1814, e a Revolução de 1830. A Restauração francesa consistiu no regresso da
França à soberania monárquica, limitada pela Carta de 1814, nos reinados de Louis XVIII e Charles X, irmãos de
Louis XVI. Correspondeu a um período contra-revolucionário, em reação ao triunfo da Revolução Francesa, durante
o qual a dinastia Bourbon foi restaurada no trono francês e se verificou uma aguda reação conservadora com o
restabelecimento da Igreja Católica como um dos pilares do poder político. O período é em geral dividido em duas
partes: 1º) a primeira restauração francesa (1814-1815), entre a expulsão de Napoleão Bonaparte e o seu regresso
para o Governo dos Cem Dias; e 2º) a segunda restauração francesa (1815-1830), entre a abdicação definitiva de
Napoleão e a Revolução de Julho de 1830 (cf. Maurois, 1950).
99
de sociedade, a sociedade industrial, cujos mecanismos já podem ser conhecidos graças à “ciência
da sociedade”. Com essa admiração pela industrialização, não é mais aos sábios que Saint-Simon
irá devotar o poder, mas aos industriais, palavra que, segundo Petitfils (1977), foi criada pelo
próprio Saint-Simon. Entretanto, para ele, a classe industrial englobava tanto os patrões como os
operários das indústrias e ainda estavam contidos nela os camponeses, os artesãos e os banqueiros.
Para o pensador, todos os que estavam envolvidos direta ou indiretamente na produção de bens
materiais faziam parte da classe dos industriais (ou produtores). Em contraposição a estes, estava a
classe dos ociosos (os “zangões”), composta essencialmente pelos nobres e pelos militares, que não
produziam nada.
Esta divisão que Saint-Simon fazia da estrutura da sociedade pode ser, em parte,
compreendida pelo encantamento que o desenvolvimento da indústria exercia sobre ele, mas,
sobretudo, pela inexpressiva formação da classe operária e seu potencial revolucionário. O que, por
sua vez, nos levaria a questionar a identificação que muitos estudiosos fazem do autor com o
pensamento socialista, especialmente pela sua empolgação com o modelo produtivo nascente e,
ainda, por ele não polarizar, em suas obras, o antagonismo da sociedade entre burgueses e
proletários. Cole corrobora essa interpretação e afirma que
Es muy posible que se objete que ni Fourier ni Saint-Simon pueden
propiamente llamarse “socialistas” en el sentido en que en general se
emplea ahora esta palabra: Saint-Simon porque, aunque exigía con fuerza
una sociedad coletivamente planificada, nunca pensó que el socialismo
implicase una lucha de clases entre patronos, capitalistas y obreros, sino
que más bien consideraba estas dos clases, que reunía bajo el nombre de
los industriales, por tener un interés común en contra de los ociosos, la
clase rica, ociosa, representada en primer lugar por la nobleza y los
militares (1975: p. 44).
Podemos destacar que se encontra no conjunto teórico desenvolvido por Saint-Simon, com
as devidas variações temporais, uma das idéias-força em que se assenta a economia solidária. De
acordo com esta, é necessário a organização coletiva dos agentes produtivos (trabalhadores, patrões
e Estado) para que a economia cresça e a sociedade seja desenvolvida com justiça, e todos, assim
chamados produtores, tenham acesso à riqueza produzida coletivamente.
Entretanto, é totalmente impossível pensar a história do desenvolvimento do socialismo sem
considerar a influência seminal de Saint-Simon e outros como Fourier e Owen, porque, fossem eles
socialistas ou não, é inquestionável que muitas ideias socialistas posteriores tiveram a nítida
influência de suas formulações.
100
Nestes termos, as ideias políticas e sociais de Saint-Simon podem ser organizadas em três
grandes grupos: a “ciência da história”, que trata dos processos e dos fins da humanidade; a
“sociedade industrial”, que discute os meios do progresso e do desenvolvimento; e a “utopia
simonista”, que formula uma concepção e proposta de mudança da ordem social. Façamos uma
brevíssima síntese de seu pensamento:
Ciência da História: Saint-Simon, no conjunto de sua obra, afirma sempre o progresso
constante do humano. De olhos nos resultados da Revolução de 1789, que considerou como uma
realização necessária para destruir as antigas instituições sociais - mesmo que para ele a revolução
carecesse de um princípio unificador -, compreendeu que a história humana passava por um período
de construção e desconstrução incanceláveis, considerando o progresso algo certo. Baseou-se neste
entendimento para formular a sua “ciência da história”.
Saint-Simon estaba seguro de que cada gran etapa constructiva en el
desarrollo de la humanidade había llegado mucho más adelante que las
anteriores. Su atención, como lade muchos filósofos de la história, se
había fijado solamente en el mundo occidentel. (Cole, ibid: p. 47).
Assim, a história ocupa no pensamento saint-simoniano um lugar privilegiado. Ele não
considera a história como uma “biografia do poder”, mas sim uma ciência exata, que permite
descobrir as etapas da evolução da humanidade e, como consequência, prever e criar o futuro.
Assim, o autor atribui um sentido à história: a de um lento processo de industrialização, evidente
através de fases alternadas de ordem e de crise (cf. Cole, 1975 e Buber, 1971). O que nos interessa,
ao demarcar a compreensão de história de Saint-Simon é que, para ele, o progresso da humanidade
é conduzido por forças que agem de modo inevitável, tornando assim o progresso uma constante
que, naquele momento histórico deveria ser conduzido pelos industriais. E, para o autor, o
desenvolvimento da indústria nascente na França o motor de uma transformação que levaria a uma
estrutura renovada e melhorada da sociedade.
Nesta perspectiva, a Revolução Francesa, “época ao mesmo tempo digna
de horror e de pena”, não foi um acidente. Provocada por um movimento
profundo, de caráter sócio-econômico, ela iniciou uma nova era, que
conduziu à sociedade industrial. E Saint-Simon conclui: “A idade de ouro
do gênero humano não passou, ela está por vir, está na perfeição da
ordem social (Petitfils, ibid: p. 56).
Sociedade Industrial: Para compreender o pensamento de Saint-Simon, é central analisar o
seu conceito muito particular de indústria e de industrial, que é base deveras importante para todo o
seu sistema.
101
Diferente do sentido que é hoje predominante, nele o termo “indústria” não indica
exclusivamente a produção no chão de fábrica, ligada à mecanização, mas todas as formas de
produção material: agrícola, artesanal, manufatureira e comercial. Seguindo este entendimento, os
industriais não são exclusivamente os proprietários dos meios de produção, mas todos os que
concorrem para o enriquecimento material do país. Assim, o agricultor, o artesão, o fabricante, o
comerciante são industriais. Estes, por sua vez, fazem parte de um grupo ainda mais importante no
universo analítico de Saint-Simon, que são os “produtores”. O grupo dos produtores ainda aglutina
os sábios e os artistas que, pelos seus trabalhos, participam igualmente da ação produtiva. É bem
verdade que existe uma diferença enorme na inserção social e entre os níveis de vida dos que
compõe a classe dos produtores, mas isso, para Saint-Simon, não os impede de fazer parte do
mesmo grupo social.
Saint-Simon insiste constantemente en que la sociedad tiene que ser
organizada para el bienestar de los pobres; pero desconfia profundamente
del “gobierno del populacho”, que supone el gobierno de la ignorância
sobre el del saber... Quería que gobernase el saber; insistia en que los
guías naturales de los trabajadores pobres son los grandes industriales,
sobre todo los banqueros, que proporcionan crédito a la industria. No le
cabía duda de que los grandes industriales, ejerciendo el poder como
dirigentes de la nueva sociedad, actuaríam como tutores de los pobres,
difundiendo la capacidad de compra y mejorando de este modo el nível
general de bienestar (Cole, ibid: p 49-50).
Oposta aos produtores encontra-se a classe dos “ociosos”, detentores das terras, do capital e
grande parte dos meios de produção, que vivem de suas rendas. Entre os “ociosos”, Saint-Simon
coloca os aristocratas, os proprietários de terras, os militares, os sacerdotes e os legisladores. Assim,
para ele, a oposição fundamental não se colocava entre patrões e operários, mas entre os que ele
chamava de zangões (os ociosos) e as abelhas (os trabalhadores).
Podemos afirmar que a visão do autor é marcada profundamente por sua época. A França, no
início do século XIX, desconhecia o fenômeno da grande indústria e a divisão social que ela iria
provocar imensamente. Nestes termos, o autor insiste na homogeneidade do bloco industrial: “A
indústria é uma unidade. Todos os seus membros estão reunidos pelos interesses gerais da
produção” (Cf. Saint-Simon, 2002). Nesta obra, Saint-Simon ainda ressalta que a classe dirigente
prejudica a prosperidade da nação, ao privar os “produtores” do status legítimo que deveriam ter.
Assim, o autor afirma que as instituições políticas são pouco importantes em comparação com a
estrutura econômica. Entretanto, ao longo da produção intelectual do autor, este reconhece pouco a
pouco que o proletariado constitui um grupo social com características próprias, e começa a
102
observar as tensões crescentes entre patrões e empregados, mas considera-as conflitos secundários.
Em Du système industriel (1820-1822), Saint-Simon dá mais um passo em direção ao proletariado,
admitindo que a harmonia não nascerá espontaneamente da sociedade industrial. E por fim, em Le
nouveau christianisme (1825), na sua busca de compreender o proletariado, ele terminará confiando
a este o futuro industrial (Cf. Petitfils, ibid).
Utopia simonista: Como para Saint-Simon o sistema industrial é a forma acabada da
sociedade futura, o cimento que une a construção dessa sociedade é a participação e a cooperação
pacíficas. Assim, a tomada do poder, pela classe dos industriais, seria pacífica, em consequência da
compreensão destes do seu papel e da sua missão. Há no autor um claro otimismo quanto à
passividade da aristocracia nesse processo de constituição da sociedade industrial, e, sobretudo,
uma excessiva confiança na razão, que é, para ele, necessariamente o fundamento dessas
transformações. Buber corrobora nosso entendimento quando afirma que: “Encontramos em SaintSimon o otimismo racionalista dos grandes pensadores do século precedente, todos convencidos de
que a verdade se imporia sozinha e seria suficiente para mobilizar as energias” (1971: p. 29). Nesse
caminho, podemos afirmar que Saint-Simon é legatário e herdeiro do Iluminismo.
Outro aspecto importante da utopia saint-simoniana encontra-se caracterizado pela supressão
da esfera de poder na sociedade. As mudanças propostas por Saint-Simon não almejam apenas a
substituição de uma classe por outra à frente da organização da sociedade – sai a aristocracia e
entram os industriais. Ao contrário, essas mudanças implicariam no desaparecimento do próprio
poder, pois, para o autor, a sociedade industrial marcará o fim das lutas sociais e o início de uma era
de concórdia universal. “A política se torna a ciência das coisas, isto é, a que tem por objetivo a
ordem das coisas mais favorável a todos os gêneros de produção” (Petitfils, ibid, p. 59). Assim, a
ordem social se instauraria sob o signo do sistema industrial, no qual o mundo estaria voltado
exclusivamente para a produção. Uma consequência dessa nova ordem de paz social, tornando-se
causa e efeito da supressão do núcleo do poder na sociedade – e isto é central na elaboração saintsimoniana – é a redução ao mínimo do Estado, que acabaria por se dissolver na totalidade do corpo
social. A formulação célebre de Saint-Simon: “a administração das coisas substituirá o governo dos
homens” – aliás retomada por Marx e Engels -, crava, para o autor, o desaparecimento do Estado.
A esfera da política, por sua vez, será constituída por uma “constituição industrial”. Os
“conselhos da indústria” organizarão os diferentes ramos da produção e, ao invés do sistema
legislativo clássico, Saint-Simon cria uma estrutura de três câmaras: a câmara de invenção, formada
de engenheiros, artistas e escritores, que seria responsável pela redação dos projetos industriais; a
câmara de exame, composta por matemáticos, fisiólogos e físicos, encarregados de examinar esses
projetos; e finalmente a câmara de execução, na qual os chefes de empresa teriam o papel de
103
supervisionar a aplicação dos planos e programas (Cf. Petitfils, ibid). Na nossa compreensão, essa
estrutura proposta por Saint-Simon para reger a dinâmica política da sociedade futura, apesar de
baseada em conselhos, nada tem de democrática ou de popular, pois apenas substitui a antiga elite
aristocrata “ociosa” por uma nova elite produtora, centrada nos industriais detentores dos meios de
produção, nos técnicos detentores do conhecimento e nos banqueiros detentores do capital.
Apesar de toda a sua convicção sobre a necessidade de uma “Ciência do Homem”, que
substituiria a teologia e as metafísicas do “irreal”, no final de sua vida Saint-Simon não afirma mais
a ciência como suficiente, por si mesma, para dar o impulso para a realização de uma grande obra
fraterna e coletiva. Para o autor, falta uma mística capaz de pôr em movimento a roda da sociedade
futura. Assim, ele cria uma “religião de amor” que tem por finalidade reunir a todos numa mesma fé
criadora, desenvolvendo um novo cristianismo, adaptado à sua moral industrial. (Cf. Buber, ibid,
Cole, ibid e Petitfils, ibid). Este é o tema de seu último trabalho, Le Nouveau Christianisme, que foi
publicado logo após a sua morte, ocorrida a 19 de maio de 1825.
2. 2. 2. Charles Fourier
Dentre todos os denominados de socialistas utópicos, Charles Fourier foi sem dúvida o que
mais deve ser classificado como tal. Com um sistema impraticável, merecendo a qualificação de
utópico, sua produção era povoada de fantasmas estranhos e insensatos que encantarão os
surrealistas por sua incoerência e seu permanente apelo à loucura. É no mundo imaginário,
totalmente diferente do nosso, que devemos mergulhar - um mundo “às direitas”, contraposto ao
mundo “às avessas” da realidade (Cf. Cole, ibid) - para compreender e sistematizar o pensamento
de Charles Fourier.
Sua produção teórica é considerada confusa, com uma retórica pesada e cheia de
neologismos. “Com exceção de umas poucas páginas vivas e agradáveis, suas obras são lidas com
dificuldade, e suportam tranquilamente a podadura dos antologistas” (Petitfils, ibid: p.92). Suas
publicações mais expressivas são: Traité de l'association domestique agricole (1822); sete anos
depois publica Le nouveau monde industrial et sociétaire (1829) e, entre 1835 e 1836, lança La
fausse industrie, morcelée, mensongère et l'antidote, l'industrie naturalle, combinée, attrayante,
véridique, donnant quadruple production. A essa obra teórica somam-se diversos artigos publicados
em Le Phalanstère e La Phalange e estudos não publicados em vida, notadamente o famoso livro
do Nouveau monde amoureux, guardados por seus discípulos e só publicados, como livro, em 1967
(Cf. Petitfils, ibid).
A partir de seus questionamentos sobre as consequências da Revolução Francesa, Fourier
passa a defender, na França, a ideia de implantação de comunidades auto-dirigidas destinadas à
104
agricultura. Na visão de Fourier, a Revolução Francesa teve como preocupação básica as liberdades
políticas, não trazendo alternativas coerentes e práticas para os problemas sociais das classes menos
favorecidas, que continuaram sem conhecer o sentido da liberdade. Como alternativa, e tentativa de
tirar da marginalidade esta significativa parcela da sociedade, Fourier sugeriu a criação daquelas
comunidades auto-gestionadas, que denominou Falanstérios.
Fourier idealiza uma sociedade constituída por fazendas coletivas agroindustriais - os
falanstérios - nas quais todos desempenhariam papéis importantes com o objetivo do bem estar
comum da comunidade. A divisão da riqueza se daria de acordo com a quantidade e qualidade do
trabalho de cada indivíduo. Os falanstérios, além de pretender ser solução aos problemas sociais,
buscavam também fazer do trabalho uma atividade atraente, e corrigir os erros das atividades
agrícolas na França. Fourier defendia o fim das repressões e o tratamento igualitário como os
fatores que levariam uma sociedade ao crescimento e desenvolvimento.
As ideias de Fourier foram difundidas também nos Estados Unidos, onde se viram
operacionalizadas após sua morte. Entre 1843 e 1853, foram criados em território norte-americano
mais de 40 falanstérios.
2. 2. 3. Robert Owen
Robert Owen nasceu em 1771, em Newtown, Montgomeryshire (País de Gales). Ele
transformou-se em um dos mais importantes socialistas utópicos, mediante a criação de várias
comunidades cooperativas industriais e mediante sua influência, nos anos de 1830, sobre o nascente
movimento sindical inglês.
A Inglaterra, nesse período, conhecia uma prosperidade econômica sem precedentes. A
Revolução Industrial provocou grandes modificações na fabricação de tecidos, e o jovem Owen
soube aproveitar-se de seus conhecimentos técnicos e comerciais para fazer fortuna. Criou em New
Lanark, Lanarkshire (Escócia), uma fiação de algodão, na qual trabalhava mil e oitocentos
operários, dos quais, mais ou menos, quinhentos eram crianças, e começou a pôr em prática suas
ideias, que já vinham sendo desenvolvidas há alguns anos.
Sua contribuição nasceu da própria experiência em sua fábrica de fios, onde observou que a
maioria das pessoas trabalhava e vivia em péssimas condições de higiene e moradia. Assim,
instaurou uma comunidade inspirada na cooperação: melhorou as casas, criou um armazém em que
se podiam comprar mercadorias a preço módico, promoveu o estrito controle das bebidas alcoólicas
reduzindo o vício e o crime e fundou a primeira escola maternal britânica (1816), o que seriam hoje
as creches e pré-escolas. Montou uma fiação no centro da uma comunidade operária (1817), com
105
Jeremy Bentham (1748-1832) e o William Allen (1770-1843) e promoveu a organização de serviços
comunitários de educação, saúde e assistência. A comunidade passou, então, a se autogerir. No lugar
do dinheiro, circulavam vales correspondentes ao número de horas trabalhadas (Cf. Petitfils, ibid).
Essas ações fizeram repercutir internacionalmente a sua reputação. De fato, rapidamente ele
racionalizara a produção dos fios, aumentara a produtividade e os salários e reduzira a jornada de
trabalho. Com justiça, foi considerado um reformador social e moral, combatendo o “alcoolismo”, o
“roubo”, o “vício”, a “imoralidade” e conseguiu evitar que os seus empregados fossem explorados
pelo comércio local, organizando diretamente a venda, a preços de atacado, de produtos
alimentícios e vestuário. Assim, pregou a formação de cidades-cooperativas, ou comunidades
autônomas de trabalhadores, como forma de amenizar a questão social. Defendeu a criação de uma
sociedade auto-dirigida, que se organizaria através de colônias cooperativas objetivando, com isso,
o fim permanente da propriedade privada dos meios de produção (Cf. Buber, ibid).
Essas experiências foram o substrato suficiente para Owen desenvolver, ainda mais, suas
ideias de reforma social. Assim, o que ele conseguiu fazer em uma só empresa, propôs para o
governo, com sua estrutura, realizar em todo o país.
Em 1815, Owen voltou-se para o Estado, para solicitar-lhe que
contribuísse para a melhoria da sorte da classe operária. Seu projeto de lei
sobre o trabalho das crianças só em 1819 foi aprovado pelo Parlamento,
mas com tantas emendas que seu autor teve de renegá-lo. (...) Redigiu o
seu Relatório à Comissão de Assistência aos Operários Pobres (1817),
que era um plano completo de reorganização da sociedade sobre bases
cooperativistas. Em lugar da assistência aos pobres que consumiria
recursos enormes do Tesouro, o industrial filantropo preconizava a
criação de aldeias de oitocentos a mil e duzentos habitantes, reagrupando
os desempregados e dando-lhes tarefas agrícolas e industriais (Petitfils,
ibid: p. 77).
Outro ponto importante de seu pensamento eram as duras críticas que fazia à rígida
separação entre a indústria e a vida nos campos. Para ele, a melhor forma de organização
cooperativa era centrada em grandes colônias agrícolas, dotadas de “apêndices industriais”, que
combinavam harmoniosamente os esforços solidários de seus membros, visto que o trabalhador
deveria ser ao mesmo tempo camponês e operário. Entretanto, não há em Owen nenhuma exaltação
idílica ao trabalho agrário, pois este era, entre todos os utópicos, o que conhecia melhor o
desenvolvimento industrial e suas consequências. Segundo Teixeira:
Em 1824 transferiu-se para os Estados Unidos, onde adquiriu terras e
106
fundou a colônia de New Harmony, para pôr em prática as suas idéias.
Essa fase corresponde, na trajetória de Owen, ao que seus biógrafos
denominam de “comunismo agrário”. Tal como os socialistas utópicos
franceses, revela, nessa ocasião, nítida preferência pela agricultura. Seu
objetivo, no entanto, era dissolver a grande indústria e retornar à velha
indústria rural. As comunidades de Owen são assim nitidamente
diferentes dos falanstérios de Fourier, não apenas por serem
exclusivamente agrárias, mas principalmente porque eliminam a
propriedade privada (ibid: p. 97-98).
No período que esteve fora do país, as suas ideias propagaram-se muito na Grã-Bretanha e,
em 1826, alguns trabalhadores e intelectuais, inspirados nelas, incentivam várias comunidades autogestionadas.
Os admiradores de Owen, como Wiilliam Thompson, William Pare,
Benjamin Warden, William Lovett e George Mudie, haviam estimulado,
espontaneamente, a formação de sociedades cooperativas. Por falta de
meios, estas acabaram no comércio a varejo e, pouco a pouco,
capitalizando os lucros obtidos, formaram sociedades de produção (Buber,
ibid: p. 32).
Owen acolheu com desconfiança esse movimento independente de artesãos e pequenos
comerciantes. Entretanto, depois de muito negar essa experiência, concordou em avaliar o
movimento e começou a perceber que era um novo campo no qual se inseria: o do movimento
sindical e trabalhista nascente. “Owen voltou-se então para o mundo sindical, na esperança de
transformar os trade-unions que se constituíam espontaneamente na Grã-Bretanha em
agrupamentos produtivos e auto-administrados, destinados a substituir o Estado” (Petitfils, ibid: p.
82).
Em março de 1830, é fundado, por um oweniano irlandês, John Doherty(1798-1854), um
órgão de ligação entre as diferentes profissões, o United Trades’ Cooperative Journal. Doherty
também fundou, em julho do mesmo ano, em Manchester, o primeiro sindicato geral reunindo
várias seções locais de ofício, a National Association of United Trades for the Protection of Labour,
que após dois anos, em 1832, dividiu-se devido às divergências internas. Entretanto, devemos
destacar a importância da criação dessa associação para a organização sindical na Inglaterra.
Com essa estreita relação entre o owenismo e o movimento sindical, não foi surpresa a
adesão às ideias de Owen do sindicato da construção, que agrupava arquitetos e operários. Em
setembro de 1833, este sindicato transforma-se em Corporação Nacional dos Construtores e adotou
107
uma carta inspirada no owenismo.
Nascia em Londres uma vasta confederação sindical oweniana, que
tomou, pouco mais tarde, o nome de Grand National Consolidated
Trades Union, e à qual se filiaram nada menos de quinhentos mil adeptos.
A carta constitutiva do movimento precisava que o objetivo final era
“estabelecer os direitos supremos de trabalho e da humanidade” e que, em
seguida, os militantes deveriam ajudar-se mutuamente “com o objetivo de
criar um novo estado de coisas”. Ao que parece o sindicato deveria
converter os trabalhadores ao socialismo e, numa segunda etapa,
transformar-se em Câmara das Profissões, que substituiria, espontânea e
pacificamente, a Câmara dos Comuns (Petitfils, ibid: p. 83).
Nessa formulação de Owen, a partir de Petitfils, fica evidente que ele rejeita claramente a
revolução operária e desconhece as contradições da luta de classes. Segundo Cole (1975), seu
pacifismo integral tinha origem na negação do livre arbítrio e especulava com o poder da razão. Os
homens não eram responsáveis pelo seu destino, por que então pregar o ódio e a violência? A
resposta de Owen a esta questão é límpida: “É preciso converter pacificamente esses ignorantes,
fazendo com que descubram a verdadeira “ciência da sociedade”, o que não deixarão de fazer 'sob o
efeito de uma influência moral irresistível'” (Owen apud Petitfils, ibid: p. 83).
Todavia, é necessário demarcar que o encontro entre o owenismo e o movimento operário,
que estava naquele momento em processo de formação, foi um conveniente acidente. O
desenvolvimento do Estado inglês e suas parcas ações na esfera social – a miséria em que se
encontrava então a população operária, a atitude exploradora das oligarquias detentoras do dinheiro
e da burguesia existente – tornavam impossível essa “revolução pela razão” pretendida por Owen. A
grande maioria das organizações operárias compreendeu logo o caráter ilusório e ineficaz dessa
compreensão de “revolução” e partiu para outras alternativas na busca de melhores condições de
trabalho e vida.
A partir de 1836, Owen começa a redigir o que é considerado o seu mais importante
trabalho: Livro do Novo Mundo Moral (1836-1845), que tipificava seu credo moral e pedagógico
para o desenvolvimento do indivíduo e da humanidade. Tornou-se espírita e transformou em 1839 o
seu partido - “Associação de Todas as Classes e Todas as Nações” - em uma seita que adotaria o
nome de “Sociedade para a Comunidade Universal dos Adeptos da Religião Racional”. Morreu em
sua cidade natal, em novembro de 1859, convencido de ter solucionado todas as dificuldades do
mundo.
Além dos autores discutidos anteriormente (os socialistas utópicos), é importante, para a
108
análise dos fundamentos históricos socialistas que vem sendo vinculados por diversos autores à
economia solidária, discutir ainda, nos marcos deste ítem, a contribuição do revolucionário francês
Proudhon, e sua a herança anárquico-socialista.
2. 2. 4. Pierre-Joseph Proudhon
Filho de um tanoeiro e de uma cozinheira, Pierre-Joseph Proudhon nasceu em Besançon
(França), em janeiro de 1809, e morreu em janeiro de 1865 aos 56 anos. Publica em 1839 a sua
primeira obra conhecida, De la Célébration du Dimanche. Mas é o panfleto Qu’est-ce que la
Proprieté? (1840) que o introduz no debate social e nas polêmicas sobre a sociedade - segundo
Gurvitch, este é o texto “que o celebriza em todo o mundo” (1983, p. 10). Marx, por seu turno, na
sua ácida crítica à Proudhon, na Miséria da Filosofia (1847), afirma:
O senhor Proudhon tem a infelicidade de ser singularmente desconhecido
na Europa. Na França, tem o direito de ser um mau economista, porque
tem fama de ser um bom filósofo alemão. Na Alemanha, tem o direito de
ser um mau filósofo, porque tem fama de ser um dos mais fortes
economistas franceses (Marx, 1978: Prólogo).
É evidente que este desconhecimento a que se refere Marx diz respeito ao conteúdo e à
qualidade dos trabalhos de Proudhon - que não impediram a popularização das suas ideias e
concepções gerais inclusive no movimento operário, no qual algumas tendências o reverenciaram
por largas décadas E observe-se que esta duradoura influência de Proudhon constituiu-se a despeito
das duras críticas que lhe foram dirigidas a partir de Marx e da tradição marxista – descontando-se,
ainda, os confrontos ídeo-políticos que tiveram por locus a Primeira Internacional.
Em O que é a propriedade?, encontra-se a famosa retomada proudhoniana da instituição
propriedade: “a propriedade é um roubo”. Entretanto, o que está no seu horizonte com esta
definição é o fato de que a propriedade torna possível a apropriação do trabalho de outros,
apropriação essa que se dá por meio do juro - portanto, o seu objetivo não é o fim da propriedade,
mas sim a abolição do juro capitalista (Cf. Teixeira, ibid). Fica ainda mais evidente que Proudhon
não deseja o fim da propriedade capitalista quando conjugamos essa formulação à sua compreensão
de moral e família. De acordo com Cole (1975), no pensamento de Proudhon o central não era a
“associação”, mas sim a família. A sociedade, que para ele se distingue por completo do Estado e do
governo, é essencialmente um agrupamento de famílias. Considerava a família como um grupo
patriarcal formado sob a centralidade do homem, no qual o pai era a cabeça da família. E era, a
unidade familiar, o ponto de apoio para a construção da solidariedade intra-familiar e na sociedade.
Assim, ser contra a propriedade é um ataque frontal, segundo Proudhon, à manutenção da herança
109
como fios de solidariedade geracional entre as famílias. Utilizamos-nos de Cole para aprofundar
essa argumentação:
Muy unido a sus padres, estaba escandalizado por los ataques de algunos
de los saint-simonianos contra las instituiciones del matrinonio y de la
vida de família, y no menos por su proyeto de acabar com la herencia, la
cual consideraba como íntimamente unida a la solidariedad del grupo
familiar. Aunque en su expresíon más famosa define la propriedad como
um “robo”, no era contrario a la propriedad misma, sino sólo a lo que
consideraba sus perversiones bajo arreglos institucionales injustos (ibid:
p. 206).
Em 1844, Proudhon conhece Marx, em Paris. No início de 1847, Proudhon decide
abandonar o seu modesto emprego em Lyon para se tornar jornalista em Paris. Já no processo da
revolução, ele é eleito, em 8 de junho de 1848, deputado à Assembleia Nacional, tornando-se um
representante do povo (Cf. Gurvitch, ibid). Participa ativamente da Revolução de 1848, no qual se
coloca devotamente ao lado dos revolucionários. Em 31 de julho de 1848 faz um discurso feroz,
enfrentando toda a Assembleia Nacional, discurso em que coloca, pela primeira vez, a oposição
entre burguesia e proletariado: “A esperança de levar a cabo pacificamente (...) a abolição do
proletariado é uma utopia. Sou do Partido do Trabalho contra o partido do Capital” (Proudhon apud
Gurvitch, ibid: p. 12). Toda a sua atuação no período da revolução é reconhecida por vários autores,
inclusive o próprio Marx que, em 1865, logo após a morte de Proudhon, escreve:
A sua atitude na atitude na Assembléia Nacional só merece elogios [...].
Depois da insurreição de junho, foi um ato de grande coragem. Além
disso, teve como feliz conseqüência o facto de Thiers, na sua resposta às
propostas de Proudhon (publicada em forma de livro), revelar frágil
pedestal sobre que se erguia o pilar intelectual da burguesia francesa
(Marx apud Gurvitch, ibid: p. 12).
Conforme os interesses desta tese, nos ocuparemos brevemente de algumas partes centrais
do seu pensamento.
Utopia em Proudhon: Proudhon é um autor que se afirma negando a utopia e a formulação
de sistemas fechados sobre a sociedade. Tem, deveras, repugnância às utopias e às formulações
absolutas da realidade58. Buber (1971), quando analisa essa característica de Proudhon, sustenta que
ele, apesar de todas as suas incursões históricas, não era um pensador histórico, mas um crítico
58
Cumpre notar que Marx e Engels não situam Proudhon como um socialista utópico – de fato, no Manifesto do
partido comunista, ele é referido como representante do “socialismo conservador ou burguês”. De qualquer modo,
parece-nos absolutamente indispensável, nesta tese, este excurso sobre Proudhon, dada a sua indiscutível influência,
em nosso entender, sobre as ideias da economia solidária.
110
social e nisso estava sua força e sua limitação. O autor ainda observa que, para Proudhon, “a
compreensão dos erros contidos na realidade social constitui a premissa gnosiológica que o leva a
encontrar o caminho” (id, p. 39) e que, de Hegel, Proudhon tomou apenas o formalismo,
abandonando as formulações de tese e antítese.
É importante destacar que apesar de Proudhon não querer voltar aos sistemas utópicos, e de
se opor aos princípios centrais desses sistemas, continuou, não propositadamente, com a linha
evolutiva iniciada por eles. O que mais amedrontava o socialista francês era a ideia de que pudesse,
ele mesmo, adicionar um novo sistema aos anteriores (Cf. Buber, ibid; Cole, ibid; Gurvitch, ibid).
“Não tenho nenhum sistema, não quero nenhum, rejeito terminantemente essa insinuação. O
sistema da humanidade só será conhecido no final da humanidade (...). O que me importa é
conhecer o caminho e, se me for possível, desbravá-lo” (Proudhon apud Buber, ibid, p. 38).
Poder e Estado: O fio evolutivo que liga Proudhon aos sistemas utópicos comparece na
seguinte exigência do autor, que ele apanha em Saint-Simon: um regime social baseado na
economia e determinado pela sua organização. Mas, diferente de Saint-Simon, que partia da
reforma do Estado, Proudhon parte da mudança da sociedade. Ao analisar esse debate, Buber
escreve que, para Proudhon, “só se pode lograr uma verdadeira reforma na sociedade, partindo de
uma modificação radical das relações entre a ordem social e a política” (1971: p. 41). Assim, não é
mais o caso de substituir uma formação política por outra, mas de substituir essa constituição
política imposta à sociedade por uma organização proveniente da própria sociedade. Nestes termos,
Proudhon conclama à destruição de formas e instituições sociais, como o Estado, que obstaculizam
o amplo desenvolvimento dos indivíduos e grupos sociais para o progresso social e econômico. “A
causa primordial de todas as irregularidades que afligem a sociedade, da opressão dos cidadãos e da
ruína das nações, reside na centralização excessiva e hierárquica dos poderes públicos (...). É
preciso acabar o quanto antes com esse monstruoso parasitismo” (Proudhon apud Buber, ibid: p.
41).
A nova organização social teria que surgir da relação entre os cidadãos e a estrutura
econômica e se afirmaria na negação da política, do poder e do Estado. Mas Proudhon preconiza a
manutenção de um sistema legislativo que garantiria as bases essenciais de seu sistema reformado
de propriedade e de seu sistema de crédito sem juros. Consequentemente, no nosso entendimento,
não concebia a aniquilação total do Estado, pois mantinha a necessidade de uma base legal e
jurídica59 para a nova sociedade. “El Estado al que se oponía era el que llamaba Estado de la
'política' en oposición a la estructura constitucional requerida para proporcionar una base adecuada
59
Proudhon, em sua obra Da Justiça na Revolução e na Igreja (1858), formula um conceito particular: a “justiça
recíproca”, baseada na relação entre desigualdade e justiça, pois, para ele, trabalhos desiguais merecem retribuições
desiguais, isto baseado no princípio da “justiça recíproca”.
111
a la organización del trabajo” (Cole, 1975: p. 213).
Restringir o Estado – essa ordem estranha à sociedade – ao exercício exclusivo das funções
que a própria sociedade não possa desenvolver é uma das ideias-força do pensamento de Proudhon.
Pois, para ele, deve-se transferir para as mãos da própria “sociedade trabalhadora”, que criará os
seus próprios órgãos, a direção dos negócios,. “A delimitação da função do Estado é questão de vida
ou morte para a liberdade, tanto coletiva como individual” (Proudhon apud Gurvitch, 1983).
Federalismo, mutualismo e socialismo: No curso da evolução do pensamento de Proudhon,
o individualismo – a despeito de algumas defesas em favor de uma propriedade individual e de um
indivíduo em “dependência orgânica” – retrocede e dá lugar a uma concepção em que as relações de
tensão e os conflitos entre o indivíduo e a totalidade se equilibram através do grupo. São as relações
em comunidade, ou associação, que parametram uma nova ordem social. Dessa forma, afirma
Buber, “seu anticentralismo se converte cada vez mais em comunalismo e federalismo” (1971: p.
42). Em 1860, Proudhon escreve: “A grande centralização deve desaparecer, substituída por
instituições federalistas e por costumes comunais”. Buber chama a atenção: nesta formulação
proudhoniana estão presentes elementos de mudança e conservação em face da ordem social atual.
“É notável, aqui, a combinação que ele faz das ‘instituições’ que pretende criar e das formas de
comunidade, ‘os costumes’ que devem ser conservados” (ibid: p. 42).
O sistema federativo60 é para Proudhon a síntese entre a sociedade como um todo e as mais
variadas associações. “O sistema federativo é para ele a realização dos equilíbrios que procurava
entre a unidade da sociedade global e a multiplicidade dos agrupamentos particulares, entre os
grupos e os indivíduos, entre a autoridade e a liberdade” (Gurvitch, 1983: p. 54). Mas, para o
Proudhon, o verdadeiro problema para o federalismo não é o político, ou seja, a nova organização
de tomada de decisão política da sociedade, mas o econômico, pois o direito econômico é a base do
direito federativo e de toda ordem política. As dificuldades encontradas na organização econômica
da federação se fundam em duas questões centrais: se o trabalho, por si mesmo, pode financiar as
empresas como atualmente o faz o capital, e se a propriedade e a direção das empresas podem ser
coletivizadas. A solução apontada por Proudhon é o mutualismo em sua forma madura.
Existe mutualidade, reciprocidade, quando numa indústria todos os
trabalhadores, ao invés de trabalharem para um empresário que lhes paga,
ficando com o seu produto, trabalham uns para os outros, fabricando um
produto comum, cujos lucros dividem entre si. Estendamos, agora, o
princípio da mutualidade que une o trabalho de cada grupo às associações
60
De acordo com Gurvitch, Proudhon não é um federalista no verdadeiro sentido da palavra, mas confederalista. A
diferença reside em que, na confederação, há a eliminação do poder central e sua substituição pelos poderes particulares
dos agrupamentos sociais. (Cf. Gurvitch, 1983).
112
de trabalho concebidas como unidades, e teremos criado uma forma de
civilização que, de qualquer ponto de vista, político, econômico ou
estético, se distinguirá totalmente das civilizações anteriores (Proudhon
apud Buber, 1971: p. 44).
Dessa concepção, Proudhon extrai a seguinte máxima: “Todos associados e todos livres”.
Mas, para que isso possa acontecer, é preciso que a associação não seja imposta - pelo contrário, “os
homens só devem associar-se às cooperativas de trabalhadores como rebanhos de produção quando
as exigências da produção, o barateamento dos produtos, as necessidades de consumo e a segurança
dos próprios produtores o requeiram” (Proudhon apud Buber, ibid: p. 44).
Após estas considerações sobre as concepções que fundamentaram algumas das mais
importantes formulações iniciais do socialismo moderno, podemos destacar alguns temas que
sempre estiveram no centro das preocupações destes autores: a sociedade libertária, o ideal
comunitário, a associação ou autogestão, a aspiração a uma nova espiritualidade e a criação de uma
nova ordem social. É importante destacar que estas são até hoje – aliadas a outros temas, que só se
puseram no cenário nos últimos anos, como a preservação do ambiente e as preocupações
climáticas – questões centrais que norteiam as organizações socialistas e diversos grupos com
preocupações humanistas.
Este é, portanto, o fio condutor que liga algumas organizações sociais, intelectuais e
militantes da cena contemporânea aos pensadores libertários, utópicos ou não, dos séculos XVIII e
XIX. Tais ligações podem ser verificadas, em um leque muito amplo e diversificado, nas
publicações sobre a chamada economia solidária ou economia social. Dessa forma, passaremos a
analisar a economia solidária e as razões por que autores como Paul Singer reivindicam esta como
herdeira das propostas socialistas modernas.
2. 3. Ideias fundamentais da economia solidária
O estudo da perspectiva hegemônica hoje na noção de economia solidária nos remete a
debater, essencialmente, com um dos pioneiros na atualidade sobre o tema - o economista Paul
Singer. Ele é reconhecido como o maior intelectual inspirador e elaborador dessa proposta sócioeconômica de alternativa para o Brasil nos dias correntes. Tal primazia e influência resultaram na
criação, a partir de 2003, início do governo Lula, da Secretaria Nacional de Economia Solidária SENAES, da qual Singer é o titular.
De acordo com Singer (2000), as cooperativas são partes de um projeto de organização
sócio-econômica – ou, ainda, da economia solidária -, orientada por princípios opostos aos do
113
laissez-faire61, visto que propõe, em lugar da livre concorrência, a associação; em lugar da autoregulação dos mercados, a sua limitação mediante a estruturação de relações econômicas solidárias
entre produtores e consumidores.
Conforme Singer, a economia solidária, de um modo em geral, está alicerçada em três
pressupostos – fundamentos – necessários para operar nos marcos de uma organização solidária: a
regulação econômica, a participação nos lucros e a gestão do trabalho.
Partindo desses três pressupostos, Singer (2000) argumenta que, no processo econômico
capitalista, nos termos liberais, a regulação da economia é regida pela livre concorrência no
mercado mediada, pelo movimento da competitividade62, gerando por sua vez “ganhadores” que
acumulam mais vantagens e “perdedores” que acumulam mais desvantagens para as competições
futuras - o que produz um montante de desigualdade crescente. Em contraposição a essa forma de
organização econômica, Singer propõe:
Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade
entre todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse solidária
em vez de competitiva. Isso significa que os participantes na atividade
econômica deveriam cooperar entre si em vez de competir (2002: p. 09).
Nestes termos, a solidariedade na economia só pode ser realizada mediante organização de
supostos iguais, que se vinculam entre si através da associação, em contraposição ao contrato entre
desiguais, isto é, patrões e trabalhadores. Segundo o autor, é dessa maneira que a igualdade se
manifesta como pressuposto da solidariedade, pois o capitalismo, como modo de produção desigual,
funda-se no direito à propriedade privada aplicada ao capital e à liberdade individual, enquanto que,
nas cooperativas, os trabalhadores proprietários organizam-se como “outro modo de produção” 63,
tendo seus princípios baseados na propriedade coletiva ou associada do capital e também na
liberdade individual. Dessa forma, é produzida uma classe de trabalhadores que são possuidores de
capital, tendo como resultado “natural”64 a solidariedade e a igualdade na economia.
O segundo fundamento da economia solidária seria a igual repartição dos ganhos do lucro da
61
O laissez faire, componente central da formulação teórica do liberalismo clássico de Adam Smith e David Ricardo,
fundamenta a posição econômica do “livre mercado”.
62
Cabe ressaltar que a economia capitalista atual não é competitiva na maior parte dos seus mercados, sendo dominada
por oligopólios. A livre concorrência, segundo o autor, expressar-se-ia de modo efetivo no comércio e no setor de
serviços (Cf. Singer, 2000).
63
Termo utilizado por Singer (2000) na argumentação de que a economia solidária e as cooperativas de trabalho
formariam, conjuntamente, um outro modo de produção, diferenciado do modo de produção capitalista.
64
Esse entendimento obscurece as construções sócio-históricas da relação capital e trabalho, e, por conseguinte,
naturaliza e eterniza processos que são fundamentalmente resultantes sociais.
114
produção. Em uma empresa capitalista, os trabalhadores recebem salários referentes ao pagamento
da venda da sua força de trabalho, sendo eles desiguais e sujeitos a uma variação determinada pela
oferta e demanda de força de trabalho e pelo tipo de trabalho, de acordo com o mercado. Na
empresa solidária, segundo Singer (2000), os sócios não recebem salários, mas retiradas, que
variam conforme a receita obtida. Estes decidem coletivamente, em assembleia, se as retiradas
devem ser iguais ou diferenciadas para cada sócio. Há também a repartição do excedente anual que
é referente às sobras de ganhos, que na sua maior parte deve ser posta em fundos de investimentos
da empresa solidária - o resto é distribuído aos associados por algum critério decidido pela maioria,
podendo ser por igual, pelo tamanho da retirada etc.
O terceiro fundamento refere-se à gestão e organização do trabalho, que, para o autor, seria
talvez a principal diferença entre a economia capitalista e a economia solidária. Nas empresas
capitalistas, o modelo utilizado de administração é o da hetero-gestão, operado mediante uma
distribuição funcional e hierárquica, na qual as informações sobre o processo de trabalho,
provenientes dos trabalhadores na base da produção, seguem para os supervisores e chefes,
enquanto que as decisões e ordens são geradas nos cargos superiores e se aplicam na base.
O autor entende que na economia solidária se pratica a gestão democrática do trabalho, a
partir da autogestão dos trabalhadores que, por sua vez, decidem o funcionamento da empresa em
assembleias de associados. Entretanto, isso só ocorre em empresas pequenas, pois tudo pode ser
discutido na assembléia; em grandes associações ou empresas, são escolhidos delegados
representantes de setores ou departamentos, que se reúnem para deliberar em nome de todos. Nas
palavras do autor:
Em empresas solidárias de grandes dimensões, estabelecem hierarquias
de coordenadores, encarregados ou gestores, cujo funcionamento é o
oposto do de suas congêneres capitalistas. As ordens e instruções devem
fluir de baixo para cima e as demandas e informações de cima para baixo.
(...) A autoridade maior é a assembléia de todos os sócios, que deve
adotar as diretrizes a serem cumpridas pelos níveis intermediários e altos
da administração” (Singer, 2002: p. 18).
Partindo dessa compreensão, a autogestão se apresentaria como o grande diferencial
democrático e participativo no processo de gerência e gestão da empresa solidária, que demarcaria,
segundo Singer (2002), um potencial essencialmente revolucionário e questionador do modo de
produção capitalista.
Para a análise que se pretende realizar, devemos destacar também a discussão empreendida
115
por Singer (2000, 2001 e 2002) sobre as cooperativas e a alternativa não-capitalista, posto que, para
o autor, as cooperativas contemporâneas têm berço na doutrina socialista do século XIX e
continuam alimentando o germe da alternativa socialista nos tempos atuais. Portanto, o autor
entende as cooperativas como um modo de produção e distribuição que é reatualizado
temporalmente a partir da necessidade de inserção dos trabalhadores na economia e na busca de
postos de trabalho, em contraposição ao modo de produção capitalista.
A economia solidária, de acordo com o autor, resgata a unidade do processo de produção,
onde os trabalhadores seriam os proprietários dos meios de produção, que utilizam para a realização
do trabalho, e desenvolveriam a socialização destes meios a partir do “trabalho em associação”.
Disto resultaria uma síntese entre o modo de produção simples de mercadoria e o capitalismo em
seu estágio atual. Nestes termos, para iluminar a compreensão que está posta na atualidade sobre as
cooperativas, o autor sustenta a importância da auto-organização do trabalho como alternativa de
superação do capitalismo e como uma marca predominantemente socialista. Para Singer,
A economia solidária e as cooperativas surgem como modo de produção e
distribuição alternativo ao capitalismo (...). A economia solidária casa o
princípio da unidade entre posse e uso dos meios de produção e
distribuição (da produção simples de mercadorias) com o princípio da
socialização destes meios (do capitalismo). (...) O modo solidário de
produção e distribuição parece à primeira vista um híbrido entre o
capitalismo e a pequena produção de mercadorias. Mas, na realidade, ele
constitui uma síntese que supera ambos (Singer, 2000: p. 13; destaque do
autor).
Para o autor, essa possibilidade de superação se expressa na materialização de princípios
distintos e opostos aos da economia capitalista, sendo estes praticados, por exemplo, em uma
cooperativa de produção - tais como: “posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as
utilizam para produzir; gestão democrática da empresa; repartição da receita líquida entre os
cooperadores” (Singer, ibid: p.13). Com essa lógica organizacional e de funcionamento, as
experiências auto-gestionadas concretizariam formas reais de organização do trabalho nãocapitalista, orientadas por princípios do legado socialista e de auto-organização dos trabalhadores.
Essa perspectiva alimenta-se da afirmação de que, “para compreender a lógica da
economia solidária, é fundamental considerar a crítica operária e socialista ao capitalismo”
(Singer, ibid: p. 14), pois são nestas bases que se assenta o estímulo ao desenvolvimento das
cooperativas e da associação do trabalho.
Segundo Singer (2000), as experiências de organização das cooperativas e empresas
116
autogestionárias não são uma criação ideal de alguns intelectuais que pensam modelos de
organização da economia e da sociedade, mas formas materializadas de luta da classe operária
desde o advento das contradições capitalistas como substrato para a luta de classes.
Conforme Singer, os primeiros teóricos e as experiências iniciais da economia social
(embora Singer tome esta expressão como sinônimo de economia solidária, é a esta que ele se refere
na maioria dos seus textos) aparecem no início do século XIX, em reação à brutalidade da
revolução industrial. Diante do pensamento liberal, o socialismo utópico de Saint-Simon esboça a
visão de um sistema industrial cujo objetivo seria buscar o melhor bem-estar possível às classes
trabalhadoras unidas em associações de cidadãos, com a redistribuição equitativa das riquezas posta
como competência do Estado. À mesma época, Fourier inventaria o falanstério, onde a repartição
dos bens se dá segundo o trabalho entregue, o capital empregado e o talento, a partir da autogestão.
Owen requisita o apoio do Estado para organizar colônias (cooperativas agrícolas e comunidades
cooperativas urbanas), destacando a cooperação e os circuitos fechados produtivos como forma de
construção social. Proudhon, como crítico radical da propriedade privada, será o precursor de um
sistema de círculos de ajuda mútua, no qual o dinheiro é substituído por "certificados de
circulação", e no quais as sociedades trocam serviços; no entanto, recusa qualquer intervenção do
Estado e afirma que depende da sociedade a administração da economia, a partir do mutualismo e
do federalismo.
Mesmo com o desenvolvimento das ideias e perspectivas políticas de vários autores
socialistas do século XIX - os utópicos -, o diferencial da economia solidária na atualidade, segundo
Singer, se expressa com a luta organizada dos trabalhadores e o desenvolvimento de experiências ao
longo da história do movimento operário, buscando reatualizar as possibilidades de superação do
capitalismo. Nestes termos, Singer destaca a primeira cooperativa moderna formada na Inglaterra,
em 1844, pelos 28 tecelões de Rochdale, em Manchester. A organização criada estabeleceu uma
carta de princípios que, segundo o autor, até hoje inspira o cooperativismo e sua legislação em nível
mundial. Assim, Singer afirma a importância de experiências que apontaram, já naquele momento
histórico, uma alternativa de organização ao sistema capitalista. Portanto, para ele (ibid), o que
fortalece hoje a organização da economia solidária seria o seu processo contínuo de movimento
articulado às lutas dos trabalhadores contra o capitalismo. Pensa Singer que a economia solidária
não poderia preceder o capitalismo industrial, “mas o acompanha como uma sombra, em toda sua
evolução” (ibid: p. 14).
Singer (ibid) afirma ainda que, na luta travada entre capital e trabalho, a principal crítica do
movimento operário e socialista ao capitalismo é a ditadura do capital na empresa, o poder ilimitado
que o direito de propriedade proporciona ao dono dos meios de produção e, por conseguinte, seus
117
efeitos fora da empresa – a crescente desigualdade social. Segundo o autor, uma classe aumenta sua
riqueza através da acumulação de capital e a outra, por sua vez, ganha apenas o necessário para a
reprodução de sua força de trabalho. Esta relação ainda resulta, na produção em larga escala, numa
gama de trabalhadores excedentes – desempregados.
A ditadura do capital na empresa faz com que : a) qualquer trabalhador
deve obediência irrestrita às ordens emanadas do dono ou de quem age em
seu nome; b) todo fruto do trabalho coletivo seja propriedade do
capitalista, em cujo benefício todos os esforços devem ser envidados; c) o
trabalhador só faça jus ao salário previsto contratualmente e seus direitos
legais. (...) Dada a tendência estrutural do capitalismo de desempregar,
excluir e empobrecer parte da classe trabalhadora, a sociedade tende a se
polarizar entre uma elite endinheirada e uma massa de pobres que
dependem da venda de sua força de trabalho para ganhar a vida mas não
encontram quem a compre, ao salário modal vigente (Singer, ibid: p. 14).
Esta citação do autor evidencia aspectos centrais do sistema capitalista, que, entretanto, não
devem – em nosso entender - ser tomados na sua generalidade ou destacadas das suas
determinações históricas. Para a correta compreensão do modo de produção e reprodução do
capital é fundamental não só a contextualização histórica, mas, sobretudo, a particularização do
momento
predominante
do
desenvolvimento
capitalista.
Assim,
entendemos
que
os
empreendimentos de economia solidária, mesmo orientados por princípios e por pressupostos
diferentes aos das empresas claramente capitalistas, devem ser analisados no contexto atual de
reestruturação do capital. As mudanças decorrentes deste processo redefinem papeis e funções do
trabalho e do capital e colocam grande parte das organizações auto-gestionárias em contado direto
com os ciclos de valorização do capital, ainda que embaladas na panaceia contemporânea que
reifica o trabalho cooperado, a autogestão e o empreendedorismo.
Um dos principais desafios para aqueles que analisam a economia solidária no Brasil é sua
definição conceitual e a delimitação de um conjunto de atributos e práticas que a caracterizem porque tudo que relaciona uma atividade com fins econômicos a supostos princípios ou benefícios
na esfera social vem sendo classificado como economia solidária. Diante dessa imprecisão, de
forma, de conteúdo e de conceito sobre o tema, dialoguemos novamente com Singer.
Há, para o autor, uma indiscutível afinidade entre as classes trabalhadoras e os princípios
que regem a economia solidária. Nos termos de Singer: “Nem todos os trabalhadores rejeitam o
capitalismo, mas a maioria deles o faz e por isso, quando se associa para produzir, comprar ou
vender ou consumir, o faz sob formas solidárias” (2000: p. 15). Sumariando a formulação de Singer,
118
a construção da economia solidária tem sido, em muitos países e ao longo de muitas gerações, uma
das principais formas de luta contra o capitalismo, ao lado da ação de sindicatos e partidos por
direitos políticos e sociais.
Considerando a economia solidária o conjunto de atividades econômicas – de produção,
distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas sob a forma de autogestão, de acordo com
Singer (2000, 2001 e 2002), e segundo o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária
– SIES/SENAES (Brasil, 2004), os principais atributos da economia solidária são:
a) Cooperação: materializada na existência de interesses e objetivos comuns, na união dos
esforços e capacidades, na propriedade coletiva de bens, na partilha dos resultados e na
responsabilidade solidária sobre os possíveis ônus. Envolve diversos tipos de organização coletiva:
empresas autogestionárias ou recuperadas (assumida por trabalhadores); associações comunitárias
de produção; redes de produção, comercialização e consumo; grupos informais produtivos de
segmentos específicos (mulheres, jovens etc.); clubes de trocas etc. Na maioria dos casos, essas
organizações coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares.
b) Autogestão: os participantes das organizações exercitam as práticas participativas de
autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos,
da direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e interesses etc. Os apoios externos, de
assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não devem substituir nem impedir o
protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação.
c) Dimensão econômica: é uma das bases de motivação da agregação de esforços e recursos
pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito, comercialização e
consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de
eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais.
d) Solidariedade: o caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso em diferentes
dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; nas oportunidades que levam ao
desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições de vida dos participantes; nas
relações que se estabelecem com o meio ambiente, expressando o compromisso com um meio
ambiente saudável; nas relações que se estabelecem com a comunidade local; na participação ativa
nos processos de desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e nacional; nas relações
com os outros movimentos sociais e populares de caráter emancipatório; na preocupação com o
bem estar dos trabalhadores e consumidores e no respeito aos direitos dos trabalhadores.
e) Participação: é outra base de motivação da conjugação de sujeitos para o trabalho,
119
desenvolvendo um processo educacional de formação e organização de uma nova cultura política.
Envolve um conjunto de elementos de natureza pedagógica, relacionados aos interesses e objetivos
dos grupos envolvidos.
No nosso entendimento, todo o conjunto de proposições da economia solidária – embasado
nos atributos que acabamos de sumariar - está encharcado de problemas centrais de natureza
política. Por isso, passamos a analisar alguns pontos problemáticos dessas formulações, já
anunciando que nossa concepção teórica colide frontalmente com seus pressupostos.
A concepção dominante sobre a economia solidária, que é marcada pela produção teórica de
Singer (em diversos títulos), expressa um claro conteúdo eclético e polimorfo – influenciada
nitidamente por ideias socialistas utópicas, socialistas marxistas, anarquistas, social-democratas e
reformistas em geral. A diversidade que compõe o conjunto das atividades da economia solidária é
proporcionalmente difícil de se caracterizar. Essas questões, se fossem de ordem exclusivamente
intelectiva, não seriam um problema. Entretanto, como tal concepção é elaborada para fundamentar
supostas práticas sociais não-capitalistas (e, por vezes, pretensas alternativas de luta anticapitalista), carece de uma formulação saturada de determinações da realidade social.
Para nós, neste trato de Singer à economia solidária – centrado no trabalho e no trabalhador está contido um modo superficial de analisar os processos históricos e contemporâneos de
transformação da sociedade capitalista, em particular a reestruturação da esfera produtiva, as
relações de trabalho e a ofensiva do capital. São, assim, isolados determinantes históricos e políticos
fundamentais, que envolvem a participação de outros sujeitos centrais na esfera de organização da
sociedade – em especial, o Estado e o capital – , fragmentando a realidade social, que só pode ser
pretensamente conhecida na medida em que nos defrontamos com ela como uma totalidade. Isto é
facilmente perceptível quando identificamos, na formulação de diversos autores, em especial de
Singer (2001), a articulação da economia solidária à necessidade contemporânea de combate ao
desemprego. Aqui, é considerada apenas a epiderme do fenômeno da reestruturação produtiva, que
é o desemprego. Não são identificados outros fatores que aí estão envolvidos – como a contrareforma do Estado e seu postulado neoliberal e, sobretudo, as necessidades do capital no estágio
atual de desenvolvimento capitalista.
À base das considerações analíticas sobre o capitalismo contemporâneo, desenvolvidas no
início deste capítulo, podemos afirmar que o atual padrão de acumulação põe em movimento um
renovado processo de organização do trabalho, cuja finalidade essencial é a intensificação das
condições de exploração da força de trabalho, principalmente nos contextos de crise. Tal processo,
no que diz respeito à produção de valor, vem incorporando modalidades de trabalho que
120
aparentemente seriam formas autônomas e independentes de trabalho. São estas formas, sobretudo,
que vêm sendo absorvidas pela esfera da economia solidária.
Queremos afirmar, assim, que o conteúdo efetivo das formulações da economia solidária
paira apenas na aparência de fenômenos próprios da reestruturação capitalista e da dinâmica
reificada da vida social. O que, por outro lado, expressa que tais fenômenos estão se processando e
têm suas bases na existência real, impondo-nos a busca por um rigor analítico, à luz da crítica
radical e ontológica do sistema capitalista - e não limitarmos somente às “construções ideais” que se
autonomizam frente à realidade. É com a clara consciência disto que enumeraremos, brevemente,
algumas das debilidades da concepção de economia solidária.
a) Sua origem. Apesar de temas como autogestão, auto-organização dos trabalhadores, sociedade de
produtores livres, justiça social, entre outros, estarem vinculados historicamente às origens do
socialismo moderno do século XIX, o conceito de economia solidária é cunhado na atualidade, nas
duas últimas décadas do século XX, sob a marca da solidariedade indiferenciada transclassista,
resultante dos processos de “desresponsabilização do Estado” (contra-reforma do Estado) e das
transformações do capitalismo e das estratégias do capital no domínio de seu controle sobre o
trabalho.
b) Sua composição. A primeira pergunta seria: quais os grupos, entidades, segmentos e também
quais as práticas econômicas e sociais que compõem efetivamente a economia solidária? A marca
da sua origem aponta que, no Brasil, sua caracterização é a mais diversa possível: desde os
moradores de uma comunidade popular que criam uma cooperativa de serviços de limpeza até
patrões e trabalhadores de uma fábrica à beira da falência que se associam e dirigem-na de modo
“autogestionário”. Destacamos, assim, que se tal proposta se vincula ao projeto emancipatório em
alternativa ao capitalismo, como ampara em seu conteúdo formas de associação tão diferentes e
com conteúdos tão díspares, congregando, em suposto consenso de interesses, parcelas da classe
capitalista e trabalhadora. A economia solidária aglutina também, no mesmo bojo, organizações
formais e informais, de representação de trabalhadores ou patronal, associações de interesses
sociais, econômicos e políticos, indivíduos comuns, e experiências ligadas ao poder estatal.
c) Seu conteúdo. O conceito de economia solidária, como vem sendo difundido e trabalhado pelos
teóricos em geral, e pelos diversos segmentos da sociedade civil, obscurece, ainda mais, a
contradição fundamental das relações sociais no capitalismo. As classes sociais fundamentais, a
partir do referencial solidário, desreferenciam o conteúdo central da exploração, qual seja: produção
coletiva e apropriação privada da riqueza. Assim, o enfoque central da economia solidária destinase a discutir a gestão do trabalho, a regulação econômica, ignorando mediações fundamentais do
121
modo de produção capitalista, particularmente do seu estágio atual de desenvolvimento.
Tais debilidades apresentam um componente inegavelmente mistificador das relações que
mediam o capital, enquanto força social em busca de se expandir, e o trabalho, enquanto
componente medular do processo de valorização. Ressaltamos também que este conceito se reveste,
na atualidade, muito mais da condição de constructo ideal que não esclarece em essência as
relações de trabalho, de produção e de organização do trabalho.
Transversal ao debate do trabalho, há um outro núcleo-força que torna a economia solidária
muito atraente, principalmente para diversos setores progressistas e de esquerda (sem prejuízo da
compatibilidade desse núcleo-força com o ideário liberal e neoliberal). No seio das várias
elaborações teóricas sobre o tema, como também na de Singer, existe um conjunto de conceitos que
são considerados atributos importantíssimos da economia solidária e que já foram anunciados por
nós anteriormente. Os conceitos são: autogestão, cooperação, desenvolvimento econômico,
participação, democracia, mutualismo e solidariedade. Esses são conceitos que, em sua maioria,
foram extraídos das ideias do movimento socialista do século XIX, e que, mais tarde, na passagem
do século XIX e início do século XX, foram incorporados por liberais reciclados e pela socialdemocracia europeia, na medida em que foram resignificados e reformados.
Os atuais agentes econômicos e políticos da economia solidária defendem sua existência
como alternativa aos problemas gerados pelo que a OIT (2005) denomina de “impactos sociais da
globalização” e a situam vinculada a um projeto societário de superação capitalista.
Se é legítimo extrair das formulações de Singer – e acreditamos que o seja, especialmente
considerando as notações contidas em Singer (2000) – a tese segundo a qual a auto-organização
dos trabalhadores, presente nas cooperativas, é um legado socialista de luta operária contra o
modo de produção capitalista, julgamos que ela pode ser tergiversada e manipulada de forma a
tornar-se extremamente funcional ao atual desenvolvimento capitalista. De fato, na medida em que
o trabalhador acreditar que exerce uma atividade sem comando externo, exclusivamente para
atender às suas necessidades, pode-se construir uma nova mistificação que obscurece a relação entre
o trabalhador e o produto do trabalho. A partir daquela tese, pode-se pulverizar os sujeitos e levar a
que estes não reconheçam mais as características que os identificam como trabalhadores ou, ainda,
pode-se levá-los a se identificarem com o capital, já que seriam supostamente seus próprios patrões
- aqui se alterariam relações centrais, como a identidade com o trabalho, que sempre foi importante
para construir e consolidar a solidariedade de classe.
Esta tese de Singer (2000) – a economia solidária e as cooperativas nascem das teorias
socialistas e operárias do século XIX – legitima a construção de experiências alternativas ao
122
capitalismo na luta de classes do tempo presente. Entretanto, pensamos ser fundamental resgatar o
papel dos partidos de massa na vanguarda da luta de classes, e na luta por trabalho, ultrapassando a
ações apenas corporativas, e garantindo um horizonte de luta universalizante. Ao invés de estimular
a criação de cooperativas que, na grande maioria, não conseguem sobreviver sem transitar pelos
mecanismos de mercado e, muitas vezes, são elas unidades de produção contratadas diretamente
pelo grande capital, devemos questionar qual o papel que elas têm no momento atual capitalista.
Desse modo, o nosso entendimento se contrapõe ao do autor, visto que, para nós, o que vem
desenvolvendo a organização de cooperativas, e empreendimentos de economia solidária são as
funções que estes estão exercendo no processo de produção capitalista e na minimização dos
impactos do desemprego e da pobreza. Tais funções adquirem novas roupagens porque ainda
aliadas a um forte apelo ideológico, supostamente socialista, que por sua vez expressa a construção
mistificada de estratégias de acumulação capitalista.
Para nós, entender a economia solidária e as várias atividades que se desenvolvem no Brasil
sob esse selo, ou seja, como forma de luta anticapitalista, é menosprezar e desconhecer a dinâmica
própria do capitalismo, o que, por sua vez, leva também a ignorar a tendência imanente do
capitalismo de revolucionar constantemente o trabalho e as modalidades produtivas. A luta de
classes assume novas formas, posto que as forças sociais em disputa recompõem-se em bases
renovadas. O momento atual do capitalismo - o neoliberalismo, a financeirização da economia
mundial, a reestruturação produtiva e as modalidades de trabalho dela resultantes - demanda uma
leitura precisa das formas de organização da sociedade burguesa consolidada e madura. Tal análise
busca desvendar o real movimento da luta de classes, as saídas encontradas pelo capital para superar
suas crises orgânicas e as estratégias utilizadas para instrumentalizar, subsumir e mercantilizar
quaisquer formas alternativas de realização do trabalho dentro do sistema capitalista
contemporâneo.
2. 4. A economia solidária no Brasil
No Brasil dos dias atuais, considerados o quadro político, as mudanças no mundo do
trabalho e as estratégias do capital na sociedade brasileira contemporânea, a economia solidária vem
ganhando atenções e polarizando muito do debate acerca das estratégias de combate ao desemprego,
geração de emprego e renda, e, sobretudo, das ações políticas de combate à chamada
“vulnerabilidade social”.
A economia solidária compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais
organizadas sob a forma de cooperativas, associações, empresas autogestionárias, redes de
123
cooperação, complexos cooperativos, entre outros, que realizam atividades de produção de bens,
prestação de serviços, finanças, trocas, comércio e consumo - batizadas todas, nos últimos anos,
pela SENAES de “empreendimentos de economia solidária” – EES.
A amplitude de temas, experiências e ações que cerca esse amálgama denominado de
economia solidária possibilita, na mesma medida, uma diversidade de debates, análises e
proposições sobre e para a economia solidária. Existe hoje um número muito amplo e muito
diferenciado – se considerarmos as vinculações teóricas e políticas – de autores 65, estudiosos,
profissionais, grupos, organizações e partidos que vêm produzindo intelectualmente e criando
atividades que desenvolvem a economia solidária. E ainda devemos destacar a inserção do Estado
brasileiro neste quadro, como formulador de políticas e indutor de ações de interesse deste
segmento.
O debate sobre a economia solidária surge amplamente mobilizado por diversos segmentos
da sociedade civil, e recentemente pelo Estado, com uma variedade de objetivos e interesses. Esse
setor vem se desenvolvendo no Brasil desde os últimos anos do século passado, enquanto um tipo
de resposta de parte da sociedade civil às mudanças nas relações de trabalho, ao desemprego, e à
ampliação da pobreza. É importante assinalar que já na década de 1990 se observa o surgimento, e a
multiplicação, de organizações e entidades que apoiam, assessoram, agregam, articulam e fomentam
todo tipo de empreendimento associativo e cooperativo. Em 1991, são promovidas assessorias
sindicais e populares que deram suporte aos trabalhadores para que estes assumissem algumas
empresas falidas ou entrassem em parceria no capital de investimentos de outras empresas com
dificuldades de se manter no mercado; passados três anos, várias instituições autogestionárias
criaram (1994) a Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas Autogestionárias e de
Participação Acionária – ANTEAG.
Outro agente de grande participação no desenvolvimento prático e ideopolítico da economia
solidária – com a criação de cooperativas e associações de trabalhadores – foi o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, que, através da luta dos trabalhadores do campo, ocuparam
terras e assentaram milhares de famílias. Para desenvolver economicamente a produção agrícola
familiar e comercial, foram organizadas diversas cooperativas e capacitados vários técnicos em
cooperativismo.
O meio acadêmico também se mobiliza em torno da discussão da economia solidária e cria,
65
Como dissemos, a produção no campo da economia solidária é muito ampla, mas podemos sinalizar algumas das
mais importantes no âmbito acadêmico: Arrouyo e Schuch (2006), Gaiger (2004), Rech (2000), Singer e Souza
(2000) e Singer (1998, 2000, 2001 e 2002). A repercussão deste debate é tal que já propiciou uma análise
comparativa França/Brasil (Filho e Laville, 2004); e não se esqueça os trabalhos de abrangência internacional
patrocinados pelo influente sociológico português Boaventura Santos (2002).
124
em 1990, a Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares – Rede
Universitária de ITCPs, que tem como objetivo assessorar camadas pobres da população na
formação, capacitação e inserção de cooperativas de diversos ramos no mercado de trabalho. Estas
ITCPs estão articuladas entre si formando uma rede, integrada à UNITRABALHO – fundação
voltada à assessoria e estudos do movimento operário no Brasil –, hoje Rede Interuniversitária de
Estudos e Pesquisas sobre o Mundo do Trabalho. Também são diversas as entidades sociais
responsáveis pela difusão da economia solidária, em destaque a Cáritas (órgão da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB), a Federação das Cooperativas de Trabalho –
FETRABALHO e a Fundação de Órgãos para a Assistência Social e Educação – FASE, no Rio de
Janeiro.
Os sindicatos, até meados da década de 1990, adotavam uma postura de resistência a este
tipo de atividade, por entender que ficariam enfraquecidos. Mas esta resistência foi
progressivamente quebrada e a maioria deles já apoiam abertamente os EES. Hoje, vários sindicatos
se empenham na formação e articulação de grupos visando à criação de cooperativas habitacionais,
de trabalho ou de serviços. Dentre as entidades do movimento sindical, destaque-se a Unisol, do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e a Agência de Desenvolvimento Solidário – ADS, da Central
Única dos Trabalhadores – CUT.
Atualmente, a economia solidária faz parte da agenda do Estado através da implantação de
políticas governamentais (municipais, estaduais e nacional) voltadas ao seu desenvolvimento. O
governo federal criou em 2003, como já indicamos, no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego, a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES. No mesmo ano, também foi
criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária e a Rede de Gestores Públicos de Economia
Solidária. A SENAES tem, entre seus objetivos, favorecer o desenvolvimento e divulgação da
economia solidária. O Programa Economia Solidária em Desenvolvimento (criado em 2003 e
implantado a partir de 2004, consta no do Plano Plurianual 2004-2007 e 2008-2011 do Governo
Federal) realizou um amplo mapeamento da economia solidária no Brasil, na tentativa de catalogar
todos os EES e as Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento. Com base nesse mapeamento foi
constituído o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SIES, composto por uma
base nacional e por bases locais de informações, que proporcionam visibilidade à economia
solidária e oferecem subsídios nos processos de formulação de políticas públicas.
Não é nosso objetivo fazer uma análise e avaliação do programa do governo federal para a
economia solidária. Todavia, sendo o Estado, em todas as suas instâncias, historicamente o maior
empregador dos assistentes sociais, parece-nos importante identificar quais são as particularidades
dessa política pública que estão impactando as demandas profissionais para o Serviço Social e quais
125
são os vetores dessa política que vêm estreitando a relação entre o Serviço Social e a economia
solidária. Por isto, buscamos traçar eixos centrais que caracterizam a política pública de economia
solidária, a partir do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento do MTE/SENAES.
O Programa Economia Solidária em Desenvolvimento marcou a introdução de políticas
públicas especificas para a economia solidária em âmbito nacional, em um contexto de novas
ofensivas do capital, exigindo respostas do Estado cada vez mais flexíveis no campo do trabalho e
da pobreza.
Novas realidades do mundo do trabalho demandam do poder público
respostas para relações de trabalho distintas do emprego assalariado. Foi
neste contexto, e a partir das demandas do próprio movimento da
economia solidária, que o Governo Federal, por meio de seu Ministério
do Trabalho e Emprego, assumiu o desafio de implementar políticas
que
estendam
ações de
inclusão,
proteção
e fomento
aos
trabalhadores/as que participam das demais formas de organização do
mundo do trabalho entre elas, as iniciativas de economia solidária. Ao
constituírem um modo de produção alternativo ao capitalismo, onde os
próprios trabalhadores/as assumem coletivamente a gestão de seus
empreendimentos econômicos, as iniciativas de economia solidária vêm
apontando para soluções mais definitivas à falta de trabalho e renda.
E foi para apoiar o seu fortalecimento e expansão que se construiu o
Programa Economia Solidária em Desenvolvimento (MTE/SENAES,
2008; negritos nosso).
Em 2004, as ações de economia solidária, sob responsabilidade da SENAES/MTE, passaram
a contar com orçamento próprio, a partir da inclusão do programa no Plano Pluri-Anual – PPA do
governo federal. O programa incorpora demandas da sociedade civil e iniciativas do governo para
economia solidária e são definidas ações e prioridades articuladas à plataforma do Fórum Brasileiro
de Economia Solidária – FBES e às resoluções da I Conferência Nacional de Economia Solidária –
CONAES (2006) e do Conselho Nacional de Economia Solidária – CNES.
Na proposta do PPA 2008-2011, o programa incorporou, de modo mais definido, várias
linhas de ação, com destaque para:
•
•
•
•
•
a organização da comercialização dos produtos e serviços da economia solidária;
a formação e assistência técnica aos empreendimentos econômicos solidários e suas redes de
cooperação;
o fomento às finanças solidárias, sob a forma de bancos comunitários e fundos rotativos
solidários;
a elaboração de conhecimentos e tecnologias sociais apropriadas à economia solidária;
e a elaboração de um marco jurídico que, segundo o programa, regulamentará o direito ao
126
trabalho associado.
Mas a principal linha de ação é a estruturação de uma política pública voltada à
economia solidária, com o estímulo à institucionalização de políticas nas três esferas; a formação
de formadores/as e gestores públicos; a construção de uma estratégia de desenvolvimento local
tendo a economia solidária como eixo, a partir da atuação de uma rede de agentes de
desenvolvimento solidário espalhados pelo Brasil; e o mapeamento da economia solidária, para
ampliar e atualizar a base do Sistema de Informações em Economia Solidária – SIES.
As diretrizes dessa política capilarizam-se em outros setores do governo, como os
ministérios da Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, e ainda no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, que também vêm desenvolvendo ações no campo da economia solidária. Por
exemplo, o BNDES criou uma linha de financiamento permanente para entidades de assessoria aos
EES e para a recuperação de empresas falidas que venham a ser administradas pelos próprios
trabalhadores.
Na condição de política pública, a economia solidária gera uma demanda diversificada nas
áreas de financiamento; gestão de políticas; gestão de negócios; capacitação técnica; comércio e
logística; pesquisa e metodologias sociais de cooperação, associação e autogestão; desenvolvimento
local e assessoria jurídica, contábil e administrativa. Tais demandas vêm se ramificando nas práticas
profissionais e já constituem eixos específicos de formação e qualificação - e isso também acontece
no Serviço Social (cf. CFESS, 2005).
Afirmamos anteriormente que a economia solidária é muito heterogênea e conta com a
participação de diversos agentes na sua promoção. Mas qual é a realidade da economia solidária no
Brasil? E possível mensurar, agrupar, determinar a origem e a inserção econômica desses
empreendimentos? Mesmo considerando que esta é uma tarefa que equaliza atividades sociais e
econômicas com vinculações e relações sociais muito distintas, esboçamos, a partir das fontes
disponíveis, uma radiografia da economia solidária brasileira.
A economia solidária – ES no Brasil, a partir de dados do Sistema Nacional de Informações
em Economia Solidária – SIES (base de dados até o ano de 2007) do Ministério de Trabalho e
Emprego, é formada de 21.859 “empreendimentos”, dos quais, cerca de 49%, foram criados
somente de 2001 a 2007. E reúne um total de 1.687.496 participantes - destes, 37% são mulheres e
63% homens. Mais de 1 milhão e meio de pessoas participa de atividades de economia solidária no
país, número em significativo crescimento, e nos possibilita afirmar que a ES tem hoje uma
representatividade consistente, a partir do número de envolvidos. Mas onde estão localizados os
127
EES? Podemos ver, na tabela 02, que 43,5% deles atuam no nordeste brasileiro, e apenas 10,1%
encontram-se na região centro-oeste.
TABELA 02 – Quantidade segundo região, até 2007
REGIÃO
QUANTIDADE
Norte
2656
Nordeste
9498
Sudeste
3912
Sul
3583
Centro-Oeste
2210
TOTAL
21859
(%)
12,1
43,5
17,9
16,4
10,1
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
Uma informação que nos chama atenção nessa tabela é que a região sudeste, que apresenta a
maior densidade populacional do país, a maior taxa de industrialização e é responsável por mais de
50% do produto interno bruto/PIB nacional, tem apenas 17,9% dos EES e envolve apenas 3912
pessoas. Significa dizer que, mesmo em significativo crescimento, os EES têm baixíssimo impacto
na composição da riqueza e na atividade econômica nacional (quase o mesmo vale para a situação
da região sul). De outro lado, norte, nordeste e centro-oeste, as regiões mais pobres, concentram
juntas 65,7% de toda a atividade de economia solidária, o que indica a concentração dos
empreendimentos em regiões predominantemente pauperizadas.
O modo de organização predominante é o sistema de associação, com 51,8%, seguido por
grupos informais, 36, 5%. Apenas 9,7% do empreendimentos organizam-se em cooperativas,
conforme a tabela 03.
TABELA 03 - Forma de organização
FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
QUANTIDADE
Grupo informal
7978
Associação
11326
Cooperativa
2115
Sociedade mercantil por cotas de
54
responsabilidade limitada
Sociedade mercantil em nome coletivo
56
Sociedade mercantil de capital e indústria
192
Outra
138
TOTAL
21859
(%)
36,5
51,8
9,7
0,2
0,3
0,9
0,6
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
Note-se que as formas de organização predominantes (associação e grupo informal) não
esclarecem absolutamente nada sobre esses EES. As associações e grupos informais podem ser os
mais diversos e com vinculações as mais distintas. E ratifica a nossa percepção analítica inicial
sobre como é difícil definir o conjunto das atividades de economia solidária. Vemos ainda que as
sociedades mercantis, 1,8% juntas, são também consideradas modalidades de organização de
128
economia solidária, o que implica, como já antes anunciado, que empresas com nítidas diretrizes
capitalistas fazem parte do leque da economia solidária. De acordo com a tabela 04, a seguir, 30,9%
afirmaram que a motivação para a criação do EES foi este ser uma alternativa ao desemprego,
sendo esta a maior motivação; a possibilidade da atividade associativa gerar maiores ganhos ficou
em segundo lugar, indicada por 15,3%; apenas 7,2% dos informantes apontaram o fato de serem
donos do seu próprio negócio como sua maior motivação.
TABELA 04 - O que motivou a criação dos empreendimentos
MOTIVOS
QUANTIDADE
1. Uma alternativa ao desemprego
6.746
2. Obtenção de maiores ganhos em um empreendimento associativo
3.339
3. Uma fonte complementar de renda para os(as) associados(as)
3.060
5. Condição exigida para ter acesso a financiamentos e outros apoios
2870
4. Desenvolvimento de uma atividade onde todos são donos
1.571
8. Desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades
1128
9. Alternativa organizativa e de qualificação
961
7. Motivação social, filantrópica ou religiosa
864
6. Recuperação por trabalhadores de empresa privada que faliu
89
10. Outro. Qual?
772
Não respondeu.
459
TOTAL
21859
(%)
30,9
15,3
14
13,1
7,2
5,2
4,4
3,9
0,4
3,5
2,1
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
O maior motivo que vem justificando a expansão dos EES's é, como se indicou, o
desemprego. Mas se, por um lado, esta é a justificativa dos governos, das organizações patronais e
dos sindicatos, as informações colhidas podem revelar – e este é o nosso entendimento - que já está
enraizada também, na visão dos próprios “empreendedores”, a noção de que são necessárias formas
alternativas de trabalho, vista a carência de empregos estáveis, formais e com garantias trabalhistas.
Se somarmos esses aos 14% que dizem ser a atividade de economia solidária uma fonte
complementar de renda para os associados, é flagrante o descontentamento e as dificuldades
econômicas pelo qual vem passando os trabalhadores na sua inserção, ou não, no mercado de
trabalho. Isso se traduz também quando observamos as áreas de atuação dos EES's (tabela 01,
anexo), posto que 48,3% deles atuam exclusivamente na zona rural, 34,6% em zona urbana e 17,1%
tem atuação tanto na rural como urbana. Essa maioria de atividades de economia solidária no meio
rural poderia talvez explicar-se pelo crescimento no país do setor agroexportador (o agrobusiness).
Entretanto, quando analisamos as atividades econômicas que mais aparecem nos EES's (tabela 02,
anexo), verificamos que a maioria são atividades de serviços ligadas à agricultura, no cultivo de
lavouras temporárias, hortaliças, legumes e outros produtos da horticultura. Apenas 1253
“empreendimentos”, cerca de 5,7%, afirmaram cultivar cereais para grãos. A fabricação de artefatos
a partir de tecidos, madeira, palha, cortiça e material trançado – itens conhecidos popularmente
como artesanato - também é uma das maiores atividades econômicas desenvolvidas. Explica, no
129
nosso entendimento, a baixa viabilidade econômica deles.
A dificuldade de manter-se e conseguir uma arrecadação mínima mensal é outro desafio dos
EES's. O faturamento médio mensal dessas atividades vem mostrando o nível de pobreza a que
estão submetidos. A maioria dos EES's (quase um terço deles) têm faturamento mensal igual a zero
(R$ 0,00), cerca de 29,9% (cf. infra, tabela 5) - o que nos parece ou escandaloso ou enganador. Dito
de outra forma: ou podemos entender dessa informação que quase 1/3 (um terço) das atividades de
economia solidária no país vivem um grau de exploração tremenda, na qual mesmo os envolvidos
que estão trabalhando não são pagos pela sua força de trabalho; ou esses EES, mesmo constituídos,
não têm nenhuma inserção no mercado, e não são, portanto, alternativa de renda e de solidariedade
econômica. Vejamos os dados da tabela 05.
TABELA 05 – Faturamento médio mensal dos EES
FAIXA DE FATURAMENTO
Nº DE EES
Até R$ 1.000,00
3.628
de R$ 1.001,00 a R$ 5.000,00
5.412
de R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00
2.031
de R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00
2.789
de R$ 50.001,00 a R$ 100.000,00
522
Mais de R$ 100.000,00
723
Faturamento mensal igual a R$ 0,00
6533
Não declararam faturamento
221
TOTAL
21859
(%)
16,6
24,7
9,3
12,8
2,4
3,3
29,9
1
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
Dos 68,9% que declararam ter algum faturamento mensal, cerca de 9.040 (nove mil e
quarenta) “empreendimentos”, a grande maioria, 59,9%, chegam a faturar, no máximo, R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mensais. A pergunta que nos instiga é: quando for retirado do faturamento as
parcelas destinadas aos custos com matérias-prima, instrumentos e infra-estrutura e outros, o que
resta para a repartição mensal entre os associados? O acesso à renda, nesses “empreendimentos”,
pode ser considerado uma forma insignificante de distribuição de renda por via do trabalho, por isso
comparável apenas com a condição de desemprego. Os problemas da inserção no mercado, da
viabilidade econômica e da renda para as atividades de economia solidária não podem ser
atribuídos, como fazem geralmente os economistas, aos elementos internos do mercado – dinâmica
de oferta e procura, qualificação do trabalho e dos produtos, instabilidade dos preços etc. No
capitalismo dos monopólios, não é a ação do capitalista individual, e neste caso do grupo solidário,
que determina seu desempenho econômico. As empresas monopolistas controlam a amplitude da
economia mundial e, em particular, do comércio mundial. As atividades econômicas que têm
rentabilidade real ou são incorporadas ou são destruídas pelos grandes conglomerados.
130
Na particularidade brasileira, uma das grandes dificuldades encontradas pelos EES's reside
na comercialização de produtos e de serviços. Mais da metade dos grupos, 61,3%, têm essa
dificuldade (tabela 03, anexo) e constituem-se, neles mesmos, os vínculos para oferta dos produtos
e serviços. Mais da metade vende, diretamente ao consumidor, seus produtos e serviços (tabela 04,
anexo). Apenas 88, cerca de 0,4% “empreendimentos”, dos 21.859 pesquisados, afirmaram que têm
na troca com outras atividades solidárias sua principal forma de circulação. Essa realidade repõe, de
fato como ela é, a realidade da economia solidária e sua relação com o mercado capitalista
constituído. Umas das grandes premissas da economia solidária é a constituição, entre suas
atividades, de uma rede autônoma de produção, circulação e consumo solidário. Seria por esse
mecanismo que as cooperativas, associações e diversos outros grupos poderiam se organizar e
constituir uma suposta economia diferente da forma hegemônica. O que nos informam os números é
a expressão concreta da incapacidade de qualquer outro modo de produção coexistir com o
capitalismo, sem ser por ele destruído ou refuncionalizado - dessa forma, deixa de ser outra
economia para ser uma variação da mesma. E ainda cai por terra a perspectiva do socialismo
possível (Nove,1989; Amim e Houtart 2003; Santos, 2005), que muitos militantes da economia
solidária e de movimentos chamados alteromundistas defendem.
Quando se trata de investigar no mundo atual locais, culturas, sociabilidades ou formas de
produção social nas quais o capitalismo ainda não incide ou domina, são poucos os exemplos que
podemos encontrar – mas elas existem. Por exemplo, algumas comunidades isoladas em partes
específicas do mundo, ou regiões paupérrimas, nas quais o capitalismo chegou apenas como
manifestação ideo-cultural e não o capital como relação social. Contudo, essa constatação nos
impede de afirmar que o capitalismo não é a forma social predominante, e muito menos, que
coexistam, ainda hoje, modos de produção, com algum impacto econômico, diferentes do
hegemônico.
A economia solidária, como já mencionamos, envolve um conjunto de grupos sociais, os
mais distintos, que vêm investindo e apoiando os EES's. Assim, pudemos observar que 72,67% dos
“empreendimentos” tiveram algum tipo de apoio, assessoria ou capacitação para criação e
desenvolvimento do grupo (tabela 05, anexo). E, neste ponto, o Estado – através dos mais diversos
agentes governamentais – foi o maior incentivador, colaborando diretamente, de alguma forma, com
8.915 EES. Mas também ONG's, grupos comunitários, entidades patronais, sindicatos, organizações
religiosas e redes universitárias são responsáveis por apoiar a economia solidária, conforme a tabela
06, a seguir. Essa realidade exprime a heterogeneidade do que é a economia solidária e suas
entidades colaboradoras.
TABELA 06 – Quem forneceu o apoio aos ESS's? (múltipla escolha)
131
ENTIDADES QUE FORNECERAM APOIO
Órgãos governamentais.
ONGs, OSCIPs, Igrejas, associações e conselhos comunitários, etc.
Sistema “S” (Sebrae, Sescoop, etc).
Movimento Sindical (Central, Sindicato, Federação).
Outra.
Universidades, incubadoras, Unitrabalho.
Cooperativas de técnicos(as).
TOTAL
8.915
5.097
4.466
2.534
1.559
1.201
663
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
Ao longo dos nossos estudos sobre a economia solidária, sempre nos pareceu evidente que a
construção dessa suposta outra economia (cf Singer, 2009) tem um núcleo de força que está ligado
a valores de natureza ideológica e natureza prática. Formas teóricas e políticas - tais como:
participação, democracia, coletividade, cooperação - seriam o diferencial desse modo de se fazer
economia. E este, por sua vez, teria grande impacto nas organizações da sociedade com claras
inspirações de esquerda. No nosso entendimento, isso seria responsável pela boa receptividade que
a economia solidária tem nesses ambientes. Os dados da pesquisa da SENAES apontam que os
EES's são formas constituídas diferenciadas de gestão e administração do “empreendimento”. A
maioria informou que cotidianamente os “sócios” participam das decisões e têm acesso à prestação
de contas de modo coletivo, em assembleia. Mas ainda há aqueles – pouquíssimos – em que não
existe participação dos sócios nas decisões. Podemos verificar todas as modalidades de participação
na tabela 07 seguinte.
TABELA 07 - Quais as formas de participação dos sócios nas decisões (múltipla escolha)
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
TOTAL
Participação nas decisões cotidianas do empreendimento
14.555
Prestação de contas aos sócios em assembleia geral/ reunião do coletivo de sócios
13.111
Eleição da diretoria em assembleia geral/ reunião do coletivo de sócios
13.051
Acesso aos registros e informações do empreendimento
12.847
Decisão sobre destino das sobras e fundos em assembleia geral/ reunião do coletivo de sócios
10.529
Plano de trabalho definido em assembleia geral/ reunião do coletivo de sócios
9.029
Contratações e remunerações definidas em assembleia geral/ reunião do coletivo de sócios
2.881
Não existe
440
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
Essas características das atividades de economia solidária, dentre outras, revelam aspectos
da sua proposta política. A participação, a organização democrática e a socialização dos ganhos
(inclusive das perdas) representam uma possibilidade de ser diferente das empresas capitalistas
regulares. Todavia, são modalidades de gestão e distribuição que não rompem, apenas requalificam,
as formas elásticas da organização capitalista. A partir dessas diretrizes, a proposta política da
economia solidária se retroalimenta, ainda, na sua relação com os movimentos sociais e populares.
132
A maioria dos EES's, algo em torno de 57,7%, afirmam que têm relação ou participam de
movimentos sociais e movimentos populares (tabela 06, anexo). E quais são as vinculações e
origens desses movimentos? Dos “empreendimentos” que disseram ter alguma relação com
movimentos, a maioria deles relaciona-se com o movimento comunitário, cerca de 6.074. O
segundo mais indicado é o movimento sindical, 5.680, e o terceiro o movimento de luta pela terra e
agricultura familiar, 4.646, conforme tabela 08, a seguir.
TABELA 08 – Que tipo de movimento social e popular os EES tem relação (múltipla escolha)
TIPOS DE MOVIMENTO
TOTAL
Movimento comunitário
6.074
Movimento sindical urbano ou rural
5.680
Movimento de luta pela terra e agricultura familiar
4.646
Movimento ambientalista
2.812
Movimento de luta por moradia
1.667
Religioso ou pastoral
1.350
Movimento pela igualdade racial
997
Mulheres / gênero
970
Outro movimento. Qual?
954
Movimento de ameaçados ou atingidos por barragens
421
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
Ser a relação com esses movimentos sociais (comunitário, sindical rural e luta pela terra) a
de maior expressão dentre os EES é perfeitamente explicável quando consideramos que a maioria
deles desenvolvem suas atividades em localidades rurais.
A diretriz política progressista e democrática que percebemos nesse núcleo dos EES, se por
um lado demonstra os elementos que encantam e seduzem os defensores da economia solidária, por
outro funciona como um manto que encobre e autonomiza a economia solidária do contexto real
que determina as relações sociais, políticas e econômicas na sociedade capitalista. É desenvolvido
um processo típico de reificação (Lukács, 1975), no qual os supostos tributos sociais da economia
solidária justificariam a carência, que ela contém, de formas de trabalho seguras e acesso
quantitativo à renda - o que pode ser denominado, no nosso entendimento, modalidades de trabalho
pobre destinadas a pobres. É flagrante a condição destituída de direitos sociais e garantias derivadas
do trabalho nos EES. A partir dos dados da tabela 13, vemos que mais da metade (cerca de 56%)
das organizações de trabalho solidário não têm nenhum benefício, garantias e direitos para os seus
membros. E dentre aquelas que afirmam ter algum benefício, o mais indicado (13,8 %) é a
“qualificação social e profissional”66, sendo esta uma das formas clássicas do capitalismo lidar com
a questão do desemprego. Apenas 2,8% têm descanso semanal remunerado, 2,4% têm férias
remuneradas e 2,2% recebem gratificação natalina, o popular 13º salário. Segue abaixo a tabela 09,
66
Sobre a denominada qualificação social, não conseguimos nenhuma informação, junto à pesquisa, que explicasse do
que se trata.
133
com a explicitação desses dados.
TABELA 09 - Quais os benefícios, garantias e direitos para sócios que trabalham nos
empreendimentos
BENEFÍCIOS, GARANTIAS E DIREITOS
TOTAL
(%)
Não existem
12.230
56
Qualificação social e profissional
3.015
13,8
Equipamentos de segurança
1.091
5
Descanso semanal remunerado
615
2,8
Férias remuneradas
535
2,4
Gratificação natalina
480
2,2
Comissão de prevenção de acidentes no trabalho
219
1
Outro
844
3,9
Não informaram
2830
12,9
TOTAL
21859
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
As condições de trabalho nos EES são, sem nenhuma dúvida, expressão característica da
onda de flexibilização imposta pelo capitalismo contemporâneo. E revelam a degradação do
trabalho pela qual vem passando essas modalidades de trabalho. Os direitos do trabalho sofrem
ataques constantes, e os “empreendimentos de economia solidária” são expressão disso. O resultado
imediato é a precarização do emprego formal e o incentivo ao auto-emprego e a informalidade. A
sociedade é impregnada de estímulos culturais e reificados que fundam uma cultura do emprego por
conta própria – sejam estas experiências as mais diversas: uma pequena empresa, a informalidade
ou cooperativas. Tal cultura está fortemente ligada à crítica neoliberal da suposta tutela do Estado
protecionista, que, segundo Hayek (1990), cria e estimula os indivíduos ao Caminho da Servidão. A
tendência individualista de saídas alternativas à redução do emprego formal e as estratégias
capitalistas de saída da crise põem demandas renovadas ao Estado no que tange ao combate à
pobreza e estratégias de geração de renda.
A radiografia da economia solidária no Brasil, que traçamos aqui, nos permitiu debruçar
intimamente sobre as particularidades que compõem esse fenômeno social que vem se destacando
no cenário do país nas duas últimas décadas. Este fenômeno está relacionado a um sistemático
deslocamento político-social do Estado brasileiro nesse período, afastando-o dos anseios
democráticos e sociais que resultaram na constituição de 1988.
Operando as orientações do programa de contra-reformas neoliberais, para atender aos
propósitos do capital monopolista, a ação do Estado – que incide sobre o trabalho, o emprego e a
seguridade social - é fundamentalmente marcada pela desregulamentação dos direitos do trabalho
(Lei do Contrato Temporário de Trabalho e sobre a Jornada de Trabalho Flexível - Lei 9.601 de
21/01/98) E conta, ainda, com o ataque sistemático aos direitos gerados pela inserção no trabalho
134
(previdência social), que pode ser verificado nas Reformas da Previdência de 1998, 2002 e 2003.
Esse panorama de mudanças encontra-se especialmente atualizado no protagonismo do
Estado enquanto garantidor de transferência de renda para o capital, o que marca uma nova inflexão
na atuação do Estado no contexto das crescentes informalização e precarização do trabalho no
Brasil. Neste sentido, localizamos na criação, desde o início do primeiro governo Lula (2003), da
Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES um importante marco que esclarece a agenda
do trabalho e geração de renda do Estado brasileiro, com enfoque complementar na economia
solidária, bem como dos impactos da inserção subordinada do país na lógica atual da acumulação
capitalista.
Assim, se ao longo dos anos 1970 e 1980 as estratégias brasileiras de estímulo ao trabalho
centravam-se no investimento voltado à criação de postos de emprego formal, na década de 1990,
com o crescimento das experiências de economia solidária, e muito mais nos últimos 10 anos, as
estratégias estatais para o trabalho incorporam também atividades diversas ao emprego formal,
especialmente atividades de trabalho em economia solidária, que são fortemente marcadas pela
informalidade e a precarização.
Verificamos, pois, que, ao contrário das políticas de estímulo a criação de emprego formal,
através das ações de qualificação, seguro desemprego transitório e estímulos ao crescimento
econômico, a política pública de economia solidária investe em segmentos informais, contribuindo
para que este seja um traço marcante da atuação do Estado brasileiro sobre as demandas de trabalho
reivindicadas pelas camadas populares.
O que denominamos anteriormente de proposta política da economia solidária é o
diferencial que a qualifica e a aproxima a vários grupos sociais, organizações, partidos, sindicatos,
movimentos sociais de marca democrática e alguns de esquerda. Desses, exemplo o Serviço Social
(como prática profissional), vem tendo uma recepção ideo-política e prática de trabalho e pesquisa
na área da economia solidária. Essa relação – Serviço Social e economia solidária -, como ela se
traduz, onde ela pode ser identificada, o que a alimenta e, sobretudo, quais as implicações políticas
e profissionais dela para o Serviço Social serão temas da análise do próximo capítulo.
135
CAPÍTULO III
SERVIÇO SOCIAL
E
ECONOMIA SOLIDÁRIA
136
Neste Capítulo, dedicamo-nos a investigar, especialmente, como o Serviço Social vem
recepcionando a economia solidária, e como este relacionamento comparece no conjunto da sua
produção teórica. Apresentamos, nesta epata, uma significativa sistematização de quais trabalhos
teóricos sobre esta temática vem sendo produzidos nos circuitos do Serviço Social, tanto
acadêmicos quanto das intervenções profissionais, e mapeamos as tendências que estão contidas
nela. Assim, proporcionamos uma análise dessas tendências indicando, particularmente, as
perspectivas de defesa e crítica da economia solidária em face do sistema capitalista.
3.1 A recepção da economia solidária no Serviço Social
Está consolidada, na bibliografia crítica que estuda o Serviço Social e seu surgimento
enquanto prática institucionalizada, a relação estreita entre Serviço Social e questão social – e, neste
acervo analítico, constituiu um marco a sua caracterização como profissão no processo de
reprodução das relações sociais, inserida, pois, na divisão social e técnica do trabalho na sociedade
capitalista.
Assim posto, o Serviço Social tem algumas particularidades no seu exercício profissional. A
mais destacadas delas é, sem dúvidas, a execução de políticas públicas no enfrentamento das
expressões da questão social: o Serviço Social é a profissão que mais vem atuando, histórica e
sistematicamente, com as políticas sociais e, mais recentemente, não apenas como um profissional
executor na ponta delas – vem atuando também na sua elaboração, gestão e avaliação. Constata-se
que desde a sua origem o Serviço Social mantém uma privilegiada relação com as formas históricas
de integração e inserção das classes trabalhadoras na lógica de dominação burguesa, seja pela
construção de consensos via políticas sociais, seja pela ação sócio-educativa de disciplinamento e
controle do trabalho via estratégias de participação social e, ainda, de desenvolvimento de
comunidade. Sua emersão como profissão se deu na idade do capitalismo monopolista, momento de
organização do Estado e das legislações sociais segundo os princípios de regulação social liberal e
consolidação das práticas profissionais de trato às multicausais manifestações da questão social (cf.
Iamamoto e Carvalho, 1994; Netto, 1992 e 1994; Montaño, 2000 e 2002).
No período “clássico” do capitalismo monopolista, situado aproximadamente entre 1890 e
1940 (Mandel, 1982), as contradições econômicas e sociais foram substanciais e a economia
burguesa buscou saídas para manter o seu ciclo de acumulação. A principal característica dessa fase
do capitalismo monopolista é o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle dos mercados.
137
O Estado é utilizado como mecanismo de intervenção extra-econômica, cuja função é assegurar os
grandes lucros e desempenhar funções econômicas como investimentos em setores menos rentáveis
e em empresas com dificuldade de crescimento ou em crise; repassar para aos monopólios os
complexos construídos com fundos públicos, além de outros fatores que os fortalecem em
detrimento dos custeios do Estado. O Estado passa a ter como principal objetivo garantir as
condições necessárias à acumulação e valorização do capital monopolista. Em relação às
contradições sociais oriundas da relação capital e trabalho, o Estado se responsabiliza por controlar
e manter a força de trabalho e por conviver com níveis aceitáveis de organização de luta classista.
Na análise de Netto (1992), o capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria as
condições para que o Estado, por ele capturado, busque legitimação política por meio do jogo
democrático, tornando-se permeável a algumas demandas das classes trabalhadoras, fazendo incidir
nele alguns de seus interesses e suas reivindicações imediatas. Assim, as expressões da questão
social – que, como vimos, passa a ser objeto de intervenção sistemática do Estado, através das
políticas sociais – são tratadas de forma fragmentada e parcializada.
Enquanto intervenção do Estado burguês no capitalismo monopolista, a
política social deve constituir-se necessariamente em políticas sociais: as
sequelas da “questão social” são recordadas como problemáticas
particulares (o desemprego, a fome, a carência habitacional, o acidente de
trabalho, a falta de escolas, a incapacidade física etc.) e assim enfrentadas
(Netto, 1994: p. 28).
O Serviço Social emerge como profissão neste contexto e consolida seu espaço sócioocupacional na idade do capitalismo monopolista. De modo preciso, Netto (1994) nos indica que é
somente na ordem societária comandada pelo monopólio que se gestam as condições históricosociais para que, na divisão social e técnica do trabalho, constitua-se um espaço em que possam
existir práticas profissionais como as do assistente social. “A profissionalização do Serviço Social
não se relaciona decisivamente à ‘evolução da ajuda’, à ‘racionalização da filantropia’ nem à
‘organização da caridade’; vincula-se à dinâmica da ordem monopólica”67. Portanto, é na
consolidação da sociedade burguesa madura que surge o Serviço Social, requisitado pelas demandas
postas pelas modalidades de intervenção do Estado burguês sobre as refrações da questão social,
por meios das políticas sociais. É nesta processualidade histórico-social que se põe o mercado de
trabalho para o assistente social, e este passa a ter a sua ação profissional reconhecida “como um
dos agentes executores das políticas sociais” (Netto, 1992). A profissão adquire concretude
67
Concordamos com o pensamento de Netto na investigação da relação da gênese do Serviço Social com a questão
social: “Em nossa perspectiva, a apreensão da particularidade da gênese histórico-social da profissão nem de longe
se esgota na referência à ‘questão social’ tomada abstratamente; está hipotecada ao concreto tratamento desta num
momento muito específico do processo da sociedade burguesa constituída, aquela do trânsito à idade do monopólio,
isto é, as conexões genéticas do Serviço Social profissional não entretecem com a ‘questão social’, mas com suas
peculiaridades no âmbito da sociedade burguesa fundada na organização monopólica.” (1994: p. 14; itálicos do
original).
138
histórica nos marcos da expansão do capitalismo monopolista, exercitando o seu fazer profissional
sobre as sequelas da questão social.
No Brasil, o Serviço Social emerge na década de 1930, a partir da ação particular de setores
da burguesia que mantinham estreitos laços com a Igreja Católica. A institucionalização e a
legitimação do Serviço Social na particularidade brasileira devem ser compreendidas como mais um
recurso mobilizado pelo Estado e pelo empresariado, com apoio da Igreja, na perspectiva do
enfrentamento da questão social enquanto resultado do desenvolvimento periférico e dependente do
capitalismo brasileiro. Apesar do pensamento social da Igreja católica ser a primeira fundamentação
que norteou a formação dos primeiros assistentes sociais entre nós, com destaque para a influência
europeia franco-belga, Iamamotto (1995) destaca que o surgimento do Serviço Social brasileiro não
pode ser entendido como mera importação de modelos e ideias, pois suas origens estão
profundamente relacionadas com o complexo quadro histórico que caracterizava o país. Na
realidade brasileira, a acumulação capitalista passava das atividades agrárias destinadas à
exportação para o desenvolvimento de um parque industrial nacional que renovava a vinculação da
economia periférica ao mercado mundial68, centrando-se no amadurecimento do mercado de
trabalho nacional. O processo revolucionário em curso no Brasil desde a segunda metade da década
de 1920 vinha exigindo uma rápida recomposição do quadro político, social e econômico. A
repressão policial, peculiar da Primeira República, através da qual fracassara o plano da burguesia
em conter avanço do movimento operário, necessitava de mecanismos mais sólidos para enfrentar
as contradições sociais. As exigências da reprodução social de parcelas crescentes de trabalhadores
aliadas às necessidades de compatibilizar politicamente questões que favoreceriam a
industrialização e a acumulação colocaram para o Estado a necessidade de desenvolver ações
assistenciais como estratégias de regulação e controle dos processos econômicos e sociais. Através
da criação e desenvolvimento de instituições assistenciais estatais, especialmente na década de
1940, o Estado passa a intervir no processo de reprodução das relações sociais, assumindo o papel
de regulador dessas relações, visto que tanto viabilizava diretamente a acumulação capitalista como
ainda atendia algumas demandas sociais das classes trabalhadoras. Dessa forma, a intervenção
profissional junto às manifestações pluricausais da questão social ganha concretude histórica e, na
particularidade brasileira, também assume lugar relevante na execução das políticas sociais
desenvolvidas pelo Estado e, a partir desse momento, tem agora seu desenvolvimento relacionado
com a complexidade da dinâmica estatal e o processo de institucionalização da profissão por via da
operacionalização das políticas sociais.
Na particularidade brasileira, o Estado impulsiona, gradativamente, a profissionalização do
assistente social focada em ações normativas e assistenciais marcadas por forte paternalismo e
68
Para uma análise qualificada desse período da economia brasileira, cf. a obra de Tavares (1975).
139
repressão sob a máscara de um Estado humanitário e benemerente, característico da história da
organização da sociedade brasileira. O assistente social se inscreve, dessa forma, em uma relação de
assalariamento e integra o mercado de trabalho como um dos profissionais reconhecidos pela sua
habilitação para trabalhar com as políticas sociais, com a organização social, com os processos
disciplinadores e sócio-educativos da sociedade e, sobretudo, com o atendimento das mais diversas
sequelas da questão social, o que lhe confere legitimidade social e reconhecimento formal como um
profissional liberal69, mesmo que o caráter não-liberal seja, de fato, a forma predominante do
exercício profissional dos assistentes sociais.
É importante destacar dessa análise que o Serviço Social, enquanto profissão, tem sua base
sócio-ocupacional e seu mercado de trabalho estritamente determinados pelas demandas das classes
dominantes e populares seja por via do Estado, através das políticas sociais, seja pela ação privada
de sujeitos organizados da sociedade civil. Dessa forma, os espaços sócio-ocupacionais dos
assistentes sociais sofrem determinações específicas – tanto de expansão, de contração ou de
alteração – a partir das necessidades do capital em viabilizar a acumulação, como também das
forças sociais populares que tentam imprimir o selo de suas demandas na prestação de bens e
serviços sociais.
Isto posto, é preciso indicar que, na atualidade, o espaço sócio-ocupacional criado pelas
política sociais públicas continua sendo, no Brasil, o campo de maior inserção dos assistentes
sociais, se, neste aspecto, há perfeita continuidade entre o passado e o presente, há, todavia, que
assinalar uma profunda modificação no significado das políticas sociais (cf. o capítulo 1 desta tese),
e uma ampliação de outros espaços resultado dos determinantes históricos contemporâneos.
As mudanças e expansões na base ocupacional dos assistentes sociais na atualidade são
derivadas da totalidade histórica na qual se movem as formas assumidas pelo capital no processo de
revitalização da acumulação no cenário de crise, particularmente sob a hegemonia do capital
financeiro e da rala resistência popular na perda de direitos. As terapias prescritas pelos estrategistas
do capital para reduzir os impactos das crises cíclicas no organismo capitalista sustentam-se no
aprofundamento da exploração do trabalho e destruição dos direitos com ampliação da extração de
trabalho excedente, expansão do monopólio da propriedade territorial e radicalização liberal do
mercado como órgão regulador supremo das relações sociais. O traço que caracterizará essas
alterações, com impactos diretos para a profissão é, nitidamente, a alteração no trato da questão
social, com destacado aprofundamento da privatização e mercantilização do atendimento das
necessidades sociais das camadas trabalhadoras (inseridas ou não no mercado de trabalho). O
fracionamento desse atendimento institui status diferenciados, no qual os que podem pagar têm
acesso, supostamente, a serviços sociais mais amplos e mais qualificados, ficando para os pobres as
69
O Ministério do Trabalho, através da portaria nº 35 de 19/04/1949, reconhece legalmente a profissão de Serviço
Social como profissão liberal.
140
ações sociais públicas e privadas focalizadas e restritivas.
Dessa forma, o espaço sócio-ocupacional não pode ser apreendido apenas a partir das
demandas sociais historicamente consolidadas na profissão, sendo importante perceber que mesmo
naqueles campos de trabalho nos quais incidem a ação profissional a largo prazo é necessário
apreender com distanciamento crítico as novas demandas que neles se põem e em novos espaços
ocupacionais. O significado do trabalho do assistente social nas distintas inserções sócioocupacionais particulariza e dinamiza a nossa prática, especialmente porque as atribuições e
competências que são requeridas adquirem funções e impactos distintos no atendimento das
necessidades sociais. O assistente social, enquanto trabalhador assalariado, sofre muitos dos
constrangimentos que vêm sendo impostos ao conjunto dos trabalhadores, como o desemprego, a
pauperização e a necessidade de vender a sua força de trabalho para manter sua condição de vida - o
que não permite, evidentemente, muita seletividade na escolha do trabalho.
Para caracterizar e analisar melhor essa inserção profissional dos assistentes sociais,
podemos destacar – dentre as mais diversas e criativas possibilidades de trabalho, dada a nossa base
de formação generalista e de profissão legalmente liberal – que a esfera estatal e pública continua a
ser o maior empregador dos assistentes sociais: cerca de 78,16% dos profissionais atuam em âmbito
municipal (49,97%), estadual (24%) e federal (13,19%)70. O segundo maior empregador são as
empresas capitalistas, nomeadas na pesquisa como instituições privadas lucrativas, com 13,19%, e
em terceiro, com cerca de 6,81%, estão as organizações privadas não lucrativas, as fundações
empresariais e as organizações das classes subalternas que, na pesquisa, são chamadas de terceiro
setor (entidades filantrópicas, organizações não-governamentais, associações, cooperativas, dentre
outras).
Esses dados nos permitem afirmar que os assistentes sociais são, na sua grande maioria,
trabalhadores do setor público estatal e atuam substancialmente com a prestação de serviços sociais
públicos na elaboração, gestão, execução e avaliação das políticas sociais. Dessa forma, as
contingências que afetam a estas têm impactos no trabalho profissional. E os serviços sociais
prestados pelas entidades da sociedade civil também ganham novas determinidades, principalmente
ligadas à mistificação que é própria do mal chamado do terceiro setor71.
Postas a criação e a expansão da Política Nacional de Economia Solidária, via
70
71
Os dados que foram utilizados nessa caracterização são parte da pesquisa promovida pelo conjunto CFESS/CRESS
“Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional” publicada em 2005, realizada por
docentes da Universidade Federal de Alagoas. Os dados são de 2004 e as informações foram recolhidas junto aos
assistentes sociais inscritos e com registro ativo nos CRESS's, que à época totalizavam cerca de 61.151 (cf. CFESS,
2005). Esse número sofreu grande alteração, pois dados fornecidos pelo CFESS no evento nacional dos “30 anos do
Congresso da Virada” (São Paulo, outubro de 2009) indicam mais de 85.000 profissionais ativos, tornando o Brasil,
na atualidade, o segundo maior contingente profissional de assistentes sociais mundial, superado apenas pelos EUA.
A pesquisa realizada por Montaño (2002) enfrenta teoricamente essa importante armadilha ideológica do
pensamento neoliberal que tenta substituir o conceito de sociedade civil como campo das lutas de classe pela noção
abstrata de um suposto “terceiro setor”, que seria alternativo ao primeiros e ao segundo setores, respectivamente, o
Estado e o mercado.
141
SENAES/MTE, parece legítimo inferir que este é, sem dúvidas, um espaço privilegiado para
inserção profissional dos assistentes sociais, através das assessorias na criação, apoio ao
desenvolvimento e execução de serviços juntos aos empreendimentos de economia solidária, que
vêm sendo desenvolvidos pelas diversas esferas estatais, segundo diretriz do programa voltada para
o desenvolvimento local a partir de atividades de baixa impacto comercial. Vale também
acrescentar, naquela inferência, a participação dos assistentes sociais nos empreendimentos
solidários, sejam estes promovidos pelas ações dos trabalhadores, como, por exemplo, a Agência de
Desenvolvimento Solidário – ADS da CUT (que conta com assistentes sociais e outros profissionais
nos programas de capacitação solidária para criação de trabalho e geração de renda com recursos do
FAT), sejam pelas ações das fundações empresariais, como o Instituto Ethos (que apoia a criação de
cooperativas de trabalho que atuam na extração de produtos típicos da floresta amazônica e são
transformados em cosméticos e comercializados pela empresa Natura).
A análise dos espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social mostra que a atividade
profissional não tem se configurado como profissão autônoma no exercício de suas atividades, já
que não dispõe do controle das condições materiais, organizacionais e técnicas para o desempenho
do trabalho. As demandas que se lhe dirigem são próprias das necessidades dos interesses das
classes sociais, traduzidas pela correlação de forças possíveis no enfrentamento da questão social na
sociedade capitalista. No entanto, isso não significa dizer que a profissão não disponha de relativa
autonomia, em especial a possibilidade de apresentar propostas de intervenção a partir de seus
conhecimentos técnicos e da sua orientação ético-política. (cf. Iamamoto, 1998). Mas é importante
assinalar que são exatamente as condições – concretas, historicamente determinadas - que
possibilitam ao Serviço Social demarcar as possibilidades do projeto profissional, apontando seus
limites e suas especificidades no interior do processo de reprodução social das condições de vida e
trabalho das classes trabalhadoras e pauperizadas.
Neste mesmo processo, os projetos profissionais assumem as particularidades, por um lado,
decorrentes das demandas que lhe são impostas, e por outro, decorrentes das respostas formuladas
pelos profissionais a tais demandas, que podem estar em sintonia com as propostas ídeo-políticas e
teórico-metodológicas construídas na organização política da categoria em suas várias vertentes. Ou
seja, a inserção profissional e suas possibilidades de intervenção têm um componente teórico,
ideológico e político que pode estar exposto ou não aos profissionais, mas vincula sua prática a um
determinado sistema de reprodução das relações sociais, por via da administração das manifestações
da questão social, produzindo maior ou menor bem-estar e melhoria nas condições de vida e
trabalho dos segmentos subalternos.
Esses elementos de natureza ídeo-política e teórico-metodológica que constituem as práticas
sociais, especialmente as atividades profissionais, parecem-nos ser de grande valia para explicar por
142
que, articuladas às mudanças nos espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais, as atividades
de economia solidária e seu congêneres ideológicos (o voluntariado social, as ações de
responsabilidade social privadas, dentre outras) têm grande recepção no Serviço Social, tanto nos
seus segmentos profissionais, como nos circuitos acadêmicos e de pesquisa. Mas como o foco da
nossa pesquisa é a economia solidária, nos ateremos à incidência desta no Serviço Social. Ou, de
modo mais preciso, como o Serviço Social vem recepcionando e absorvendo o debate teóricoprático da economia solidária e quais vetores ídeo-políticos são fortalecidos ou enfraquecidos no
Serviço Social a partir dessa relação.
Com todo o dinamismo que a economia solidária vem apresentando nos últimos anos (cf. o
capítulo precedente desta tese), hoje a sua discussão atravessa não apenas as entidades específicas
criadas para sua organização, como o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, mas de modo
significativo os ambientes do Serviço Social brasileiro. Mais do que isso, já há nos congressos
profissionais e encontros de pesquisa um interesse documentado, por parte dos assistentes sociais,
sobre o debate da economia solidária. Existem teses, ensaios, artigos, e projetos de pesquisa que
tematizam a economia solidária no Serviço Social. Essa produção vem caracterizando uma
tendência emergente no interior da profissão e vem ampliando cada vez mais as elaborações sobre o
tema, tanto no corpo profissional ligado à prática profissional, quanto nos profissionais vinculados à
academia.
Como afirmamos mais acima, o crescimento desse debate e a preocupação com o
desenvolvimento de atividades de economia social, não está ocorrendo somente no Serviço Social.
Diversos segmentos da sociedade civil e o Estado vêm desenvolvendo ações no âmbito da economia
solidária. Esse setor, como já vimos, vem se ampliando no Brasil, tentando se constituir como
resposta às mudanças nas relações de trabalho, às necessidades de trabalho, ao desemprego, ao
aumento da indevidamente chamada “exclusão social” e, para alguns, uma resposta anticapitalista.
Dessa forma, sua relação com o Serviço Social tem se caracterizado tanto enquanto campo de
trabalho, como campo de articulação ideo-político - e essa relação anuncia uma grande
receptividade das ideias e formulações teórico-práticas da economia solidária.
Para identificar essa recepção nos ambientes do Serviço Social, realizamos uma pesquisa
sistemática na produção teórica do Serviço Social, na qual buscamos: a) quantificar e tipificar o
debate e as análises que vêm ocorrendo no interior da profissão sobre a economia solidária e um
conjunto de temas que lhe são próprios; b) qualificar essa produção e identificar quais aspectos
teóricos e políticos a fundamentam.
O Serviço Social brasileiro, no que se refere à sua produção teórica, tem alguns instrumentos
especiais de divulgação e debates que podem ser divididos em dois campos. No primeiro, de caráter
profissional, podemos destacar os trabalhos produzidos por ocasião dos Congressos Brasileiros de
143
Assistentes Sociais – CBAS's, que mobilizam os profissionais em geral; a revista Inscrita, publicada
semestralmente pelo CFESS desde 1997 e que tem o papel de socializar e fortalecer debates
teóricos e políticos junto ao conjunto profissional, bem como outras publicações específicas
(jornais, coletâneas de textos, documentos) do conjunto CFESS/CRESS's. E um segundo, de caráter
acadêmico – referimo-nos aqui, prioritária mas não exclusivamente, às várias atividades de pesquisa
vinculadas, principalmente, aos programas de pós-graduação da área, cuja produção é sobretudo
apresentada nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS's, nos
periódicos dos programas de pós-graduação, na revista Serviço Social e Sociedade72 e,
especialmente, na produção de teses e dissertações que se transformam, muitas vezes, em livros de
referência da nossa produção teórica. Essa divisão inicial é importante, pois nos permite aferir quais
produções teóricas são resultado das elaborações dos assistentes sociais advindas diretamente do
exercício profissional e quais são fruto de pesquisa ou análises teóricas acadêmicas sobre temas
que, inclusive, incidem no trabalho profissional, mas não o têm como primeiro objetivo.
Escolhemos para a nossa pesquisa, do universo anteriormente apresentado, a produção
teórica do Serviço Social do período de 1998 a 2009, considerando que a partir dessa data são
identificadas as primeiras elaborações sobre a temática pesquisada na profissão, publicada nos anais
dos últimos três CBAS (2001, 2004 e 2007) 73, de caráter profissional, a produção dos dois últimos
ENPESS (2006 e 2008)74, os periódicos de maior expressão e sistematicidade da área de 1998 a
2009 (Serviço Social e Sociedade – editora Cortez; revistas Katalysis – UFSC, Ser Social – UnB,
Praia Vermelha – UFRJ, Em Pauta – UERJ e Serviço Social e Realidade – UNESP/Franca) e as
teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação da área do Serviço Social (1998
2008)75.
Conforme os dados que levantamos, na produção teórica do Serviço Social sobre a economia
solidária e temas correlatos foram identificados 62 trabalhos nos CBAS's, 41 pesquisas nos
ENPESS's, 35 artigos nas revistas e ainda 25 trabalhos, entre teses e dissertações, em 13 PPG's.
Observe-se abaixo o tipo de produção, em quais eventos, seus respectivos trabalhos e o período
pesquisado.
Quadro 01 – Produção teórica do Serviço Social sobre a economia solidária e temas correlatos
72
73
74
75
Serviço Social e Sociedade, apesar de ser uma revista comercial produzida pela editora Cortez (São Paulo), está
consolidada historicamente como importante periódico de divulgação profissional do Serviço Social e de debates
acadêmicos da área e ainda colabora com a divulgação da organização política da categoria.
Neste ano será realizado o 13º CBAS em Brasília, no período de 31 de julho a 05 de agosto de 2010. As propostas
de trabalho para apresentação e debate no evento ainda não estão disponíveis.
O reduzido número de ENPESS’s pesquisado explica-se na medida em que os materiais apresentados nos eventos de
2002 e 2004, quando apresentam materiais referidos à economia solidária, fazem-no considerando tão somente uma
aproximação muito aleatória ao tema.
As informações sobre teses e dissertações foram consultadas a partir do Banco de Teses da CAPES, que é
alimentado sob a responsabilidade dos Programas de Pós-graduação, o que nos parece conferir certa confiabilidade
aos dados, visto que todas as informações dos PPG's são exigidas como parte do processo sistemático de avaliação
coordenado pela CAPES. Cabe destacar ainda que os dados da produção referentes ao ano de 2009 ainda não estão
disponíveis na base de dados consultada, o que determinou 2008 como o ano teto passível de consulta.
144
TIPO DE
PRODUÇÃO
QUANTIDADE DE
EVENTOS
1. Congressos
profissionais
TOTAL DE TRABALHOS
PERÍODO
ANALISADO
10º CBAS - 26
3 CBAS
62
11º CBAS - 19
2001 a 2007
12º CBAS - 17
2. Encontros de
pesquisa
2 ENPESS
41
10º ENPESS - 19
2006 e 2008
11º ENPESS - 22
3. Periódicos
6 Revistas da área
35
1998 a 2009
4. Teses e
dissertações
13 Programas de pósgraduação76
25
1998 a 2008
Fonte: pesquisa direta, 2010.
Este mapeamento geral nos mostrou que há uma ampla e significativa produção teórica sobre
a temática pesquisada nos circuitos, os mais diversos, do Serviço Social, e corroborou uma das
observações que motivaram inicialmente o nosso interesse por esse estudo: o fato de que o universo
profissional vem recepcionando o debate sobre a economia solidária e as temáticas intimamente
relacionadas a ela não apenas no trabalho, ou seja, no exercício profissional dos assistentes sociais,
mas, e substancialmente, nos espaços dedicados ao debate e análise teórica e política do Serviço
Social. Mas esses dados gerais só servem para avaliar e identificar a existência real dessa
incidência; passemos agora a uma análise dos conteúdos dessa produção a partir do tipo de
produção e conceitos teóricos e expressões relevantes.
a) Congressos Profissionais
O primeiro conjunto de produções teóricas analisadas é de caráter profissional e foi
recolhido no universo dos últimos CBAS que correspondem ao período da pesquisa. O 10º CBAS,
realizado em 2001 no Rio de Janeiro/RJ, contou com a apresentação de 784 trabalhos no total, entre
comunicações orais e posteres divididos em 15 sessões temáticas, dos quais foram identificados 26
trabalhos (16 comunicações orais e 10 posteres) que analisam a economia solidária e/ou
modalidades práticas e teóricas inscritas no seu amplo e polimorfo universo. A leitura e
classificação dos trabalhos nos permitiu diagnosticar uma vasta formulação de conceitos presentes
nos trabalhos, com filiações teóricas distintas, como é próprio das ciências sociais, e a partir da
análise desses conceitos, inscritos no contexto de cada produção, identificamos algumas categorias
analíticas, a partir do nosso referencial teórico-metodológico, que são, relativamente, transversais
ao conjunto dos trabalhos. São essas categorias: Estado, questão social, pobreza, desigualdade
social, trabalho, produção de renda, solidariedade, autogestão, cooperativismo, democracia,
76
A informação disponível no Banco de Teses da CAPES indica que, dos 24 Programas de Pós-Graduação existentes
na área de Serviço Social na atualidade, 13 deles têm alguma produção sobre a temática pesquisada.
145
política social e cidadania. O Quadro 02, a seguir, sistematiza os trabalhos analisados do 10º
CBAS.
Quadro 02 – 10º CBAS, Rio de Janeiro, 2001 – Total: 26 trabalhos.
TÍTULO
CÓDIGO77
CONCEITOS CENTRAIS
Auto-organização dos conselhos tutelares: estabelecimento de
uma nova ou antiga ordem?
PO 016 - 1
Auto-organização, paradigma da
complexidade.
“Rede de solidariedade com agentes multiplicadores
associações: a prática do Serviço Social na saúde”.
e PO 053 - 2
Solidariedade, associação, desenvolvimento
social e capacitação.
Crescendo e aprendendo a gerar renda com qualidade de vida.
CO 191 - 3
Exclusão/Inclusão social, cooperativas,
economia solidária, cidadania, qualificação,
qualidade de vida.
O processo participativo na implantação do projeto de reciclagem CO 227 - 4
de resíduos sólidos – Santa Bárbara d'Oeste/SP
Organização comunitária, participação
popular, associação, geração de emprego e
renda, educação ambiental.
As novas articulações do associativismo comunitário frente aos PO 091 - 5
novos contornos da pobreza urbana na região metropolitana do
Rio de Janeiro.
Associativismo, novo padrão de pobreza
urbana, capital econômico, capital escolar,
democracia, revolução político-pedagógico,
desemprego, exclusão social.
Empreendedorismo social e Serviço Social: novas dimensões e CO 334 - 6
perspectivas na formação e prática profissional para o
enfrentamento dos problemas sociais do século XXI.
Empreendedorismo social, terceiro setor,
intervenção profissional, novas demandas
profissionais, liberdade humana, mercado de
trabalho, cidadania e democracia.
Intervenção do Serviço Social no projeto sementes do amanhã – PO 147 - 7
um relato experiência profissional com famílias catadoras do
aterro sanitário de Aurá – 1999/2000.
Desemprego, geração de renda, melhoria da
qualidade de vida, cidadania, exclusão social,
organização política, participação democrática.
Cooperativismo popular: estratégia de sobrevivência e uma nova CO 483 - 8
cultura do trabalho.
Cooperativismo, autogestão, exclusão social,
alternativa de trabalho, cidadania, democracia,
iniciativas econômicas populares e trabalho
profissional.
Um olhar por dentro dos grupos de geração de trabalho e renda.
CO 484 - 9
Promoção e integração ao mercado de
trabalho, vulnerabilidade social, acepção
narrativa, empreendimentos sociais, cidadania.
Cooperativa popular: um processo em construção.
CO 488 - 10
Racionalidade econômica, desigualdade e
exclusão social, desemprego, precarização do
trabalho, cooperação econômica e equidade
social.
Os trabalhadores do lixão de Iguaba Grande/RJ: saúde, trabalho e CO 495 - 11
ambiente em questão.
Exclusão social, cidadania regulada, estruturas
produtivas não tipicamente capitalistas,
trabalho e saúde.
Organização e relações de trabalho na cooperativa de calçados de CO 500 - 12
Canindé-Ceará.
Cooperativismo, indústrias solidárias,
industrialização regional, flexibilização do
trabalho e flexibilização dos direitos do
trabalho.
O cooperativismo popular enquanto alternativa de trabalho e CO 511 - 13
renda.
Mundo do trabalho, desemprego, precarização
do trabalho, alternativas de trabalho e renda,
cooperativismo, gestão e participação
cooperativa.
Cooperativismo e cooperativas de trabalho no âmbito das CO 512 - 14
políticas públicas de geração de trabalho e renda: concepção e
prática.
Solidariedade, associativismo, cooperativismo,
cooperação, legislação, desenvolvimento
econômico, geração de trabalho e renda.
Vítimas do trabalho: rompendo a exclusão e construindo o novo CO 516 - 15
sujeito político.
Desemprego, associação, formação política,
participação, exclusão do trabalho capitalista e
solidariedade dos trabalhadores.
77
O código presente nos quadros da pesquisa indica a referência para localização dos trabalhos, atribuídos pela
comissão científica responsável pela organização dos trabalhos. No Quadro 02 deve ser lido: CO – comunicação
oral, PO – poster.
146
Catadores de caranguejo: a trajetória de um grupo em busca de PO 174 - 16
uma melhor qualidade de vida.
Participação, associação, preservação do meio
ambiente, desemprego e melhoria das
condições de vida.
Panelas de barro: arte capixaba, atividade produtiva e fonte de PO 175 - 17
renda para uma associação.
Associação, participação, gestão
compartilhada, pequenas unidades produtivas,
geração de renda, artesanato.
Cooperativismo: uma estratégia de organização popular.
Desemprego, alternativa de produção não
capitalista, geração de emprego e renda,
cooperativismo, liberdade, pluralidade e
democracia.
PO 180 - 18
A configuração do setor informal da economia, na região PO 189 - 19
metropolitana do Rio de Janeiro, sob o prima dos
empreendimentos informais.
Economia informal, exploração do trabalho,
trabalhador/proprietário, empreendedorismo,
unidades econômicas por conta própria.
Programa resgatando a cidadania no município de São José do CO 528 - 20
Rio Preto – SP.
Geração de renda, solidariedade, cidadania,
cooperativa e combate a desigualdade social.
O trabalho das mulheres e projetos de geração de emprego e CO 531 - 21
renda na área rural: autonomia ou dependência?
Desigualdade de gênero, geração de emprego e
renda, autonomia das mulheres, qualificação e
interação no espaço público.
Gestando uma economia solidária? Empreendimentos de geração CO 556 - 22
de trabalho e renda no Oeste catarinense.
Geração de trabalho e renda, cooperativas,
empreendimentos autogestionários, economia
solidária, exclusão do trabalho, assentamentos
de reforma agrária, sustentabilidade.
Fórum Intermunicipal de Economia Popular Solidária.
Economia popular solidária, geração de
trabalho e renda, construção coletiva, políticas
públicas, alternativa resistência ao capitalismo,
solidariedade e justiça social.
PO 194 - 23
Participação e gestão comunitária dos recursos hídricos no semi- CO 580 - 24
árido nordestino.
Desenvolvimento tecnológico, autosustentabilidade, participação, organização
comunitária, associação e trabalho do
assistente social.
Assentamentos em movimento: a organização do trabalho CO 585 - 25
coletivo como continuidade na história de luta pela terra.
Assentamento rural, sujeitos sociais, luta pela
terra, cooperativismo, trabalho coletivo e
socialização do trabalho.
Cultura e organização social em comunidades ribeirinhas.
Ação comunitária, extensão universitária,
organização coletiva, políticas sociais públicas,
pobreza, exclusão social e cidadania.
PO 199 - 26
Quadro 02 – 10º CBAS, Rio de Janeiro, 2001 – Total: 26 trabalhos.
Fonte: Pesquisa direta nos Anais do 10º CBAS, CFESS, 2001.
No 11º CBAS, realizado em 2004 em Fortaleza/CE, foram apresentados 1.169 trabalhos,
entre comunicações orais e posteres divididos em 17 sessões temáticas. Dentre esses, 19 trabalhos
tinham como discussão a economia solidária e/ou temas correlatos, sendo 16 comunicações orais e
3 posteres. As categorias analíticas que serviram de referencial teórico-metodológico são as mesmas
em todo o trabalho de pesquisa, já anunciadas anteriormente (questão social, pobreza, desigualdade
social, trabalho, produção de renda, solidariedade, autogestão, cooperativismo, democracia, política
social e cidadania). A seguir, o Quadro 03 sistemático referente ao 11º CBAS, com todos os
trabalhos identificados e os respectivos conceitos centrais do texto.
Quadro 03 – 11º CBAS, Fortaleza, 2004 – Total: 19 trabalhos.
147
TÍTULO
CÓDIGO
CONCEITOS CENTRAIS
A Construção da Cidadania no município de São Carlos/SP através Eixo 06 CO - Cidadania, inserção social, cultural, econômica
das ações sócio-educativas com famílias de baixa renda.
1
e política, geração de renda.
Formas de Sobrevivência e Auto-Sustento da População Migrante e Eixo 04 PO Moradora de Rua na Contemporaneidade
2
Auto-sustento, população migrante e de rua,
desemprego, qualificação profissional e
solidariedade.
A particularidade da agricultura familiar no assentamento São Eixo 08 CO - Assentamento rural, economia familiar,
Roque.
3
pluriatividade e trabalho por conta própria.
“Reforma Agrária Solidária”: reflexões acerca do acesso a terra no Eixo 08 PO ceará.
4
Reforma agrária, desenvolvimento econômico
e social sustentável, solidariedade e política
social.
A autonomia como fator de desenvolvimento no cooperativismo de Eixo 11 CO - Trabalho cooperativo, autonomia, associação,
trabalho.
5
trabalho e participação.
A economia solidária e a geração de trabalho e renda: algumas Eixo 11 CO - Desemprego, flexibilização do trabalho,
reflexões.
6
exclusão do trabalho, economia solidária,
geração de trabalho e renda, políticas sociais e
trabalho do assistente social.
A experiência do banco popular de Ipatinga-MG: uma proposta de Eixo 11 CO - Empreendedorismo, desemprego, auto-gestão,
enfrentamento ao desemprego?
7
cooperativas, micro-crédito.
A reinvenção da economia social como campo de alternativas de Eixo 11 CO - Economia social, cooperativas, associações,
ocupação e renda na união-européia, vista a partir de Portugal.
8
alternativas de ocupação e renda, capitalismo e
proteção social pública.
As paneleiras de barro: um exemplo de organização econômica Eixo 11 CO - Associação, gestão comercial, economia
popular na cidade de Vitória-ES.
9
popular, sustentabilidade e cultura capixaba.
Cooperando e reciclando: uma estratégia de inserção de famílias do Eixo 11 CO - Desigualdade e exclusão social, desemprego,
PETI em experiências de ocupação e renda.
10
cooperação econômica, reciclagem e equidade
social.
Coopercriativa: uma experiência de economia popular e autogestão. Eixo 11 CO - Cooperativa, economia popular, autogestão,
11
inclusão/exclusão social e cidadania.
Economia Popular Solidária: rumos de uma alternativa as Eixo 11 CO - Economia
popular
solidária,
nova
transformações no mundo do trabalho e da questão social.
12
racionalidade
econômica,
solidariedade,
desenvolvimento sustentável, alternativa ao
mundo do trabalho e à questão social.
Economia Solidária e cooperativismo popular: experiências da Eixo 11 CO - Economia solidária, alternativa capitalista,
incubadora tecnológica de cooperativas populares da UFJF.
13
autogestão, solidariedade, democracia,
autonomia, participação, exclusão do mercado
de trabalho.
Economia Solidária: uma alternativa que aponta caminhos no Eixo 11 CO - Ocupabilidade e geração de renda, economia
Brasil.
14
solidária, desenvolvimento econômico-social e
inclusão social.
O recurso e o discurso da Solidariedade e do Voluntariado na Eixo 11 CO - Política pública de trabalho, qualificação,
programática da qualificação de jovens.
15
solidariedade, voluntariado, exclusão social e
cidadania participativa.
O retorno ao empreendedorismo econômico solidário na sociedade Eixo 11 CO - Empreendedorismo, desemprego,
brasileira atual.
16
flexibilização do trabalho, população de baixa
renda e economia solidária.
O Serviço Social na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Eixo 11 CO - Extensão universitária, alternativas de trabalho
Populares – ITCP/FURB.
17
e renda, economia solidária, assessoria e
capacitação, trabalho profissional, autogestão e
autonomia.
Os pequenos empreendimentos econômicas como proposta Eixo 11 CO - Economia solidária, cooperativismo, políticas
alternativa par o desemprego no Brasil.
18
públicas de geração de emprego e renda,
mercado de trabalho e desemprego.
Serviço Social, Cooperativismo e Economia Solidária: novas Eixo 11 PO perspectivas;
19
Projeto ético-político, cooperativismo,
economia solidária e popular, resposta popular
e exclusão sócio-econômica e política.
Quadro 03 – 11º CBAS, Fortaleza, 2004 – Total: 19 trabalhos.
Fonte: Pesquisa direta nos Anais do 11º CBAS, CFESS, 2004.
O último congresso analisado foi o 12º CBAS, realizado em Foz do Iguaçu/PR, no ano de
148
2007. Este evento contou com a apresentação de 835 trabalhos no total, entre comunicações orais e
posteres divididos em 13 sessões temáticas, dentre os quais foram identificados 17 trabalhos
pertinentes à nossa pesquisa (13 comunicações orais e 4 pôsteres). A análise das comunicações está
sistematicamente organizada na exposição do Quadro 04, a seguir.
Quadro 04 – 12º CBAS, Foz do Iguaçu, 2007 – Total: 17 trabalhos.
TÍTULO
CÓDIGO78
CONCEITOS CENTRAIS
Enfrentamento e redução da pobreza: a experiência do projeto de
combate à pobreza rural do estado de Sergipe
Eixo: QSTED
CO – 1
Pobreza, participação, meio rural,
desenvolvimento regional e cidadania
O Apelo ao sentimento de Solidariedade como estratégia de Eixo: QSTED
Enfrentamento da Questão Social nos governos FHC e Lula
CO – 2
Solidariedade, questão social, neoliberalismo e
política social.
O cooperativismo como perspectiva de geração de trabalho e Eixo: QSTED
renda em belém: entre a teoria e a prática
CO – 3
Cooperativismo, êxito econômico, alternativa
de geração de renda, trabalho coletivo,
políticas públicas e desenvolvimento local.
Os desafios nas novas relações de trabalho introduzidas pela Eixo: QSTED
economia solidária
CO – 4
Economia solidária, associativismo, terceiro
setor, informalidade e desproteção social.
Empreendedorismo social e Serviço Social – da teoria à prática, Eixo: QSTED
do sonho a realidade: a proposta do modelo casulo sócio- CO – 5
tecnológico
Empreendedorismo social, prática profissional,
Serviço Social, pobreza e empoderamento,
desenvolvimento integrado e sustentável e
democratização e auto-organização social.
Trabalho informal como demanda aos profissionais do Serviço Eixo: QSTED
Social
CO – 6
Trabalho informal, garantia de direitos,
Serviço Social, questão social, economia
popular solidária, associativismo, resistência
de classe, alternativa de trabalho.
Espaço Sócio-Ocupacional do Assistente Social: A Economia Eixo:
Popular Solidária como Alternativa de Trabalho e Renda.
RTESOAS
CO – 7
Economia popular solidária, trabalho, questão
social, alternativa de trabalho e renda, trabalho
profissional e interesses das classes populares.
Empreendedorismo e Empregabilidade: construções ideológicas Eixo: DIAJV
presentes nas políticas de geração de emprego e renda para a CO – 8
juventude na atualidade.
Empreendedorismo, empregabilidade,
juventude, trabalho e inclusão geracional.
A “Empresa de uma pessoa só”: Relação de trabalho ou relação Eixo: QSTED
comercial?
CO – 9
Autonomia, empreendedorismo, trabalho
informa, trabalho assalariado e sociedade
burguesa.
O custo social do trabalho na informalidade
Eixo: QSTED
CO – 10
Trabalho, informalidade, custo social,
flexibilização e exclusão social.
A Inclusão Produtiva na Política de Assistência Social
Eixo: QSTED
CO – 11
Economia solidária, inclusão produtiva,
microcrédito e assistência social e trabalho
profissional.
O empreendedorismo como alternativa ao desemprego: um estudo Eixo: QSTED
crítico do Banco Popular de Ipatinga-MG
CO – 12
Trabalho, empreendedorismo, desemprego,
responsabilização individual e banco popular.
Economia solidária em projetos de responsabilidade social Eixo:
empresarial: novo espaço de atuação para o assistente social
RTESOAS PO
– 13
Economia solidária, responsabilidade social
empresarial, trabalho profissional e
democracia e inclusão social.
78
O Código utilizado no Quadro 04 foi criado a partir dos eixos temáticos do congresso, e devem ser assim lidos:
Eixo: QSTED - Questão Social, Trabalho, Estado e Democracia, Eixo: RTESOAS - Relações de Trabalho e Espaços
Sócio-Ocupacionais do Assistente Social, Eixo: DIAJV - Direitos da Infância, Adolescência, Juventude e Velhice e
Eixo: QUAMA - Questão urbana, agrária, e meio ambiente.
149
Responsabilidade social empresarial: parceria interinstitucional Eixo:
trilhando caminhos para a sustentabilidade social
RTESOAS PO
– 14
Responsabilidade social, sustentabilidade
social, parceria institucional, política social e
práticas sociais sustentáveis.
Uma análise da política de geração de renda voltada para Eixo: QUAMA Desemprego, trabalho, política de emprego e
agricultura familiar: o Programa CDLAF em Ipatinga/MG
CO – 15
renda, agricultura familiar.
Compreendendo as relações entre os catadores e empresas de Eixo: QSTED
reciclagem da cadeia produtiva de transformação dos resíduos PO – 16
sólidos no município de Chapecó
Trabalho, cadeia produtiva, reciclagem e
melhoria das condições de vida e trabalho.
Desvelando os catadores de lixo a luz das transformações Eixo: QSTED
capitalistas
PO – 17
Informalidade, catadores de lixo, Serviço
Social, políticas públicas, trabalho e autoestima.
Quadro 04 – 12º CBAS, Foz do Iguaçu, 2007 – 17 trabalhos.
Fonte: Pesquisa direta nos Anais do 12º CBAS, CFESS, 2007.
b) Encontros de Pesquisa
O segundo conjunto de produções teóricas analisadas são de caráter acadêmico, e foram
colhidas no universo dos dois últimos ENPESS. Para os trabalhos sistematizados dos encontros de
pesquisadores, foi dedicado o mesmo trato teórico-metodológico utilizado nos textos dos
congressos profissionais. O 10º ENPESS, realizado em 2006 no Recife/PE, contou com a
apresentação de 745 trabalhos no total, entre comunicações orais, pôsteres e mesas coordenadas de
Grupos e/ou Redes de pesquisa, divididos em 04 sessões temáticas, dos quais foram identificados
19 trabalhos (12 comunicações orais, 03 posteres e 04 mesas coordenadas) que realizavam reflexões
sobre a temática do nosso estudo. O Quadro 05, a seguir, sistematiza os trabalhos analisados do 10º
ENPESS.
Quadro 05 – 10º ENPESS, Recife, 2006 – Total: 15 trabalhos e 04 grupos de pesquisa.
TÍTULO
CÓDIGO
CONCEITOS CENTRAIS
Aproximações ao Debate Sobre o Cooperativismo na Atualidade
Eixo 03 CO - Cooperativismo, trabalho e organização sócio1
política.
Capitalismo Contemporâneo: as cooperativas sob o comando do Eixo 03 CO - Capitalismo, cooperativas, trabalho,
capital
2
flexibilização e exploração.
A Questão da Solidariedade na Atual Reestruturação das Relações Eixo 03 CO - Solidariedade, reestruturação capitalista,
Capital X Trabalho: cooperativismo e filantropia como elementos
3
cooperativismo e classes sociais.
Economia Solidária em Pernambuco: em busca dos fundamentos.
Eixo 03 CO - Economia solidária, autogestão, democracia,
4
participação e inclusão social.
O Trabalho Voluntário na Órbita da Responsabilidade Social Eixo 03 CO - Trabalho voluntário, exploração, controle e
Empresarial: estratégia de exploração e controle da força de 5
responsabilidade social empresarial.
trabalho
Organização da Produção pesqueira na Amazônia: subsídios para Eixo 03 CO - Produção pesqueira, organização social,
implantação de empreendimentos comunitários em Tabatinga-AM
6
trabalho e políticas públicas.
O Serviço Social no Campo do Trabalho e o Discurso da Eixo 03 CO - Responsabilidade social, trabalho, Serviço
Responsabilidade Social
7
Social, inclusão social.
O Desenvolvimento e as Questões sobre a Economia Solidária Eixo 03 CO - Economia solidária, racionalidade capitalista,
como Alternativa à Racionalidade do Capitalismo
8
alternativa capitalista, gestão democrática,
participação e solidariedade.
Sociabilidade do Trabalho em Economia Solidária: limites de sua Eixo 03 CO - Economia solidária, trabalho, autonomia,
autonomia
9
geração de trabalho e renda.
Associativismo e Terceiro Setor em Juiz de Fora: ideologias e Eixo 3 CO intervenções na política de assistência e no espaço conselhista.
10
Associativismo, terceiro setor, política social e
ideologia.
150
Organização da produção pesqueira na Amazônia: subsídios para a Eixo 3 CO implantação de empreendimentos comunitários em Tabatinga-AM. 11
Produção pesqueira, associação, alternativa de
trabalho e renda, desenvolvimento regional.
Serviço Social e Economia Popular Solidária.
Economia solidária, participação, democracia,
novos sujeitos sociais, autogestão e trabalho
profissional.
Eixo 03 PO 12
Catadores e seletores de material reciclável: sobrevivente da Eixo 03 PO exploração capitalista ou militantes na busca por uma 13
transformação societária?
Catadores de lixo, auto-organização,
cooperação, exploração capitalista e
transformação societária.
Os Sistemas Cooperativistas Brasileiro e Alemão: aspectos Eixo 03 PO comparativos.
14
Cooperativismo, associação internacional,
organização dos trabalhadores e alternativa
capitalista.
A cooperação informal nas Associações de Pequenos Produtores da Oficina de IC Cooperativismo, associação, produção
Agrovila do MST, no assentamento de Restinga – SP.
CO - 15
agrícola, assentamento, inclusão social e
resistência social.
GRUPO DE AVALIAÇÃO E ESTUDO DA POBREZA E DE
POLÍTICAS DIRECIONADAS À POBREZA – GAEPP: a pobreza
e a avaliação de políticas e programas sociais como foco de
construção de conhecimento (UFMA)
Grupo/Rede Linha de pesquisa: Políticas Públicas de
de Pesquisa
geração de emprego e renda com foco na
Mesas coord. economia solidária.
- 01
GRUPO DE ESTUDO, PESQUISA E DEBATE SOBRE SERVIÇO Grupo/Rede
SOCIAL E MOVIMENTO SOCIAL – GSERMS (UFMA)
de Pesquisa
Mesas coord.
- 02
NÚCLEO DE ESTUDO DO TRABALHO – NET (UCSal)
Linha de pesquisa: Função histórica,
tendências atuais e perspectivas do Serviço
Social no âmbito do movimento social na luta
de enfrentamento da questão social. (com
projeto de pesquisa sobre economia solidária)
Grupo/Rede Linha de pesquisa: Economia dos Setores
de Pesquisa
Populares
Mesas coord.
- 03
PROGRAMA DE ESTUDOS DO TRABALHO E REPRODUÇÃO Grupo/Rede Linha de pesquisa: trabalho e economia
SOCIAL - PETRES (UERJ)
de Pesquisa
solidária e popular
Mesas coord.
- 04
Quadro 05 – 10º ENPESS, Recife, 2006 – Total: 15 trabalhos e 04 grupos de pesquisa.
Fonte: Pesquisa direta nos Anais do 10º ENPESS, ABEPSS, 2006.
No 11º ENPESS, realizado em 2008 em São Luís/MA, foram apresentados 852 trabalhos,
entre comunicações orais, pôsteres e mesas coordenadas de Grupos e/ou Redes de pesquisa,
divididos em 04 eixos temáticas gerais. Dentre esses, 22 trabalhos foram selecionadas para a nossa
pesquisa (18 comunicações orais, 03 pôsteres e 01 mesa coordenada). A seguir, o Quadro 06
sistemático referente ao 11º ENPESS, com todos os trabalhos identificados e os respectivos
conceitos centrais identificados nos textos.
Quadro 06 – 11º ENPESS, São Luís, 2008 – Total: 22 trabalhos.
TÍTULO
CÓDIGO79
CONCEITOS CENTRAIS
Avaliação dos impactos socioeconômicos dos Empreendimentos
Solidários em Pernambuco.
79
Eixo QST
CO - 1
Empreendimento econômico solidário,
avaliação, impactos, economia local e
resistência
O Código utilizado no Quadro 06 foi criado a partir dos eixos temáticos do congresso, e devem ser assim lidos:
Eixo: QST - Questão Social e Trabalho e Eixo: PS - Política Social.
151
A responsabilidade social empresarial e o trabalho voluntário: Eixo QST
estratégia de captura da subjetividade do trabalhador
CO - 2
Responsabilidade social empresarial, trabalho
voluntário, solidariedade, tempo livre e
subjetividade
Economia Solidária e Serviço Social: análise de uma relação Eixo QST
crescente
CO - 3
Economia solidária, trabalho, Serviço Social.
Economia Solidária no contexto neoliberal: caracterização das Eixo QST
experiências no estado do maranhão.
CO - 4
Economia solidária, alternativa de
desenvolvimento, mercado de trabalho e
alternativa não capitalista
Trabalho precário e questão social em uma experiência de
desenvolvimento local no nordeste
Eixo QST
CO - 5
Desenvolvimento local, precarização,
empreendedorismo, questão social e proteção
social
“Vida é Trabalho” cooperativismo, trabalho e desemprego.
Eixo QST
CO - 6
Trabalho, desemprego, cooperativismo,
associação, geração de renda e melhoria de
vida
Políticas Sociais e Tecnologias
desenvolvimento sustentável regional
Sociais:
estratégia
de Eixo PS
CO - 7
Política social, desenvolvimento sustentável,
empreendedorismo social, cooperativismo e
renda
Sindicatos, partidos, cooperativas: os instrumentos de lutas dos Eixo QST
proletários sob a análise do marxismo
CO - 8
Pensamento marxista, sindicatos, partidos,
cooperativas e lutas proletárias
O cooperativismo na perspectiva da economia solidária: Eixo QST
evidências locais a partir da COOPAL
CO - 9
Cooperativismo, Economia Solidária,
Agricultura Familiar, Solidariedade e
globalização
Do casulo à borboleta: relações de gênero na economia popular Eixo QST
solidária, uma realidade possível?
CO - 10
Relações de gênero, economia popular
solidária, desenvolvimento solidário e
sustentável
O gênero como questão para a economia solidária: aspectos Eixo QST
revelados pelo estudo de caso acerca da relação entre o CO - 11
movimento feminista e a economia solidária na Paraíba
Gênero, feminismo, trabalho e economia
solidária
Impactos da política municipal de geração de trabalho e renda no Eixo QST
enfrentamento da pobreza entre mulheres em Campina Grande – CO - 12
PB
Gênero, mulher, pobreza, trabalho, políticas
públicas, geração de trabalho e renda e
alternativas de trabalho.
Perfil da economia solidária na cidade do Rio de Janeiro
Eixo QST
CO - 13
Economia Solidária, Cooperativismo Popular e
Trabalho
da Eixo QST
CO - 14
Trabalho, Cooperativismo, economia solidária,
desemprego e resposta segura de trabalho
Perfil social dos
Coopergramacho
trabalhadores
catadores
de
lixo
O empreendedorismo do Banco Popular de Ipatinga – alternativa Eixo QST
de enfrentamento ao desemprego?
CO - 15
Empreendedorismo, política de emprego e
renda, banco popular, solidariedade e crédito
popular
Serviço Social e movimento social no Brasil: um estudo sobre o Eixo QST
movimento dos catadores de materiais recicláveis em Jardim CO - 16
Gramacho – Duque de Caxias (RJ)
Serviço Social, Movimento Social, Catadores
de Materiais Recicláveis, cooperativas,
associação e direitos de cidadania
O trabalho informal em Fortaleza: a falácia da autonomia e Eixo QST
proteção social
CO - 17
Trabalho informal, autonomia, proteção social,
empreendedorismo e geração de renda
Catadores da sobrevivência: estudo do trabalho e das relações de Eixo QST PIC
trabalho entre catadores de materiais recicláveis de rua no CO - 18
município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ em 2008.
Cooperativa, associação, direitos do trabalho,
catadores de material reciclável e alternativa
de trabalho.
Programa de economia solidária e o Serviço Social
Economia popular solidária, Serviço Social,
alternativas de geração de trabalho e renda,
exclusão do mercado de trabalho, participação
e inclusão social
Eixo QST
PO - 19
Assentamento rural Nova Esperança em Olho D’água do Casado Eixo QST
(AL): a pesca artesanal e a sustentabilidade da atividade da PO - 20
piscicultura em tanques-rede.
Meio-ambiente, pesca artesanal, trabalho,
produção local, associação e comercialização
152
O trabalho em domicílio e a flexibilização da produção
Eixo QST PO 21
Trabalho Associativista na região metropolitana de Belém e ré- Grupos de
inserção ao trabalho
Pesquisa e
Mesas coord. 22
Precarização do trabalho, trabalho em
domicílio, trabalhador-empresário,
empreendedorismo e exploração
Trabalho associativista, re-inserção ao
trabalho, geração de renda, desemprego e
direitos do trabalho
Quadro 06 – 11º ENPESS, São Luís, 2008 – Total: 22 trabalhos.
Fonte: Pesquisa direta nos Anais do 11º ENPESS, ABEPSS, 2008.
c) Periódicos
O terceiro conjunto de produções teóricas analisadas é de caráter acadêmico, e foi
selecionado do universo total de 06 Revistas acadêmicas de Programas de Pós-Graduação da área
de Serviço Social, bem conceituados e de relevância no contexto nacional e/ou regional, e dessas,
01 revista é de empresa privada (Serviço Social e Sociedade). No mapeamento realizado, foi
identificado um total de 35 artigos, assim distribuídos: Serviço Social e Sociedade – 10 artigos, dos
quais 04 são resultado de pesquisa e 06 são ensaio teórico; Revista Katalysis – 16 artigos80, dos
quais 03 são resultado de pesquisa e 13 são ensaio teórico, Ser Social – 06 artigos, desses 05 são
resultado de pesquisa e 01 é ensaio teórico, Serviço Social e Realidade – 02 artigos, 01 sendo
resultado de pesquisa e o outro ensaio teórico. Nas revistas Praia Vermelha e Em Pauta não foram
identificados artigos na área da pesquisa, apesar de muitos textos desses periódicos subsidiarem a
análise da economia solidária no capitalismo contemporâneo. O Quadro 07, a seguir, sistematiza os
artigos analisados, destacando autor, título, caráter do artigo e em qual periódico foi localizado.
Quadro 07 – Produção do Serviço Social nos Periódicos, 1998 a 2009 – Total: 35 artigos.
AUTOR
TÍTULO DO ARTIGO
CARÁTER
PERIÓDICO
DO ARTIGO
Maria da Glória Gohn
O novo associativismo e o Terceiro Setor
Ensaio teórico
Serviço Social e Sociedade n.
58 - 1998
Rute Gusmão
A ideologia da Solidariedade
Ensaio teórico
Serviço Social e Sociedade n.
62 - 2000
Jaqueline Oliveira Silva
Políticas públicas municipais de trabalho e
renda na perspectiva da economia solidária
Ensaio teórico
Serviço Social e Sociedade n.
69 - 2002
Elenaldo Celso Teixeira
O papel político das associações
Ensaio teórico
Serviço Social e Sociedade n.
72 - 2002
João Bosco Hora Góis,
Responsabilidade social empresarial e
Aline de Oliveira Santos solidariedade: uma análise dos discursos dos
e Isis Santos Costa
seus autores
Resultado de
pesquisa.
Serviço Social e Sociedade n.
78 - 2004
Maria Del Carmem
Cortizo e Adriana
Lucinda de Oliveira
A economia solidária como espaço de
politização
Ensaio teórico
Serviço Social e Sociedade n.
80 - 2004
Rosangela Nair de
Carvalho Barbosa
O cooperativismo, ocupação e renda em
Portugal
Resultado de
pesquisa
Serviço Social e Sociedade n.
80 - 2004
Raquel de Souza
Gonçalves
Catadores de materiais recicláveis:
trabalhadores fundamentais na cadeia de
reciclagem do país
Resultado de
pesquisa
Serviço Social e Sociedade n.
82 - 2005
80
A revista Katalysis editou em 2008 o seu volume n º. 11, com a temática “Economia Solidária e Autogestão”, com
um total de 12 artigos sobre o assunto.
153
Rafael Mahfoud
Marcoccia
O princípio da subsidiariedade e a participação
popular
Ensaio teórico
Serviço Social e Sociedade n.
86 - 2006
Carla Bronzo Ladeira
Caneiro
Políticas locais de inclusão social, autonomia e
empoderamento: reflexões exploratórias
Resultado de
pesquisa
Serviço Social e Sociedade n.
89 - 2007
Maria Ester Menegasso
Responsabilidade social das empresas: um
desafio para o Serviço Social
Ensaio teórico
Revista Katalysis n. 05 - 2001
Maria Ester Menegasso e Associações de base comunitária de geração de
Valdir Valadão
trabalho e renda: a questão da gestão
Resultado de
pesquisa
Revista Katalysis n. 06 - 2003
Luiz Inácio Germany
Gaiger
A economia solidária e o valor das relações
sociais vinculantes
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Jean Louis Laville
Do século 19 ao século 21: permanência e
transformações da solidariedade em economia
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Vera Herweg Westphal
Diferentes matizes da idéia de solidariedade
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Daniela Neves de Sousa
Reestruturação capitalista e trabalho: notas
críticas acerca da economia solidária
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Joaquim Manuel Croca
Caeiro
Economia social: conceitos, fundamentos e
tipologia
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
João Cláudio Tupinambá Cooperação econômica versus competitividade
Arroyo
social
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Julio Jiménez Escobar e
Alfonso Carlos Morales
Gutiérrez
Terceiro setor e univocidade conceitual:
necessidade e elementos configuradores
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Noëlle M. P. Lechat e
Eronita da Silva
Barcelos
Autogestão: desafios políticos e metodológicos
na incubação de empreendimentos econômicos
solidários
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Henrique André Ramos
Wellen
Contribuição à crítica da ‘economia solidária’
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Maria Eugênia Monteiro Ação coletiva no âmbito da economia solidária
Castanheira e José
e da autogestão
Roberto Pereira
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Maurício Sardá de Faria, Do fetichismo da organização e da tecnologia
Renato Dagnino e
ao mimetismo tecnológico: os labirintos das
Henrique Tahan Novaes fábricas recuperadas
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Alicia Ferreira
Gonçalves
Resultado de
pesquisa
Revista Katalysis, V. 11 n. 01 2008
Ensaio teórico
Revista Katalysis, V. 12 n. 01 2009
Experiências em economia solidária e seus
múltiplos sentidos
Marcelo Kunrath Silva e Solidariedade assimétrica: capital social,
Gerson de Lima Oliveira hierarquia e êxito em um empreendimento de
"economia solidária"
Mari Aparecida Bortoli
Catadores de materiais recicláveis: a construção Resultado de
de novos sujeitos políticos
pesquisa
Revista Katalysis, V. 12 n. 01 2009
Christiane Girard
Ferreira Nunes
Economia Solidária em tempos sombrios
Ser Social n. 5 - 1999
Ensaio teórico
Sandra Mara Rommel de Cooperando na geração de trabalho e cidadania: Resultado de
Almeida
a construção da cidadania de mulheres
pesquisa
trabalhadoras em cooperativas da Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares do RJ
Ser Social n. 5 - 1999
Ademar Bertucci
Economia Solidária: uma estratégia de
Resultado de
sobrevivência, forma de resistência ou caminho pesquisa
para nova cultura do trabalho?
Ser Social n. 13 - 2003
João Samuel de Araújo
O cooperativismo como instrumento produtor e Resultado de
distribuidor de riquezas no mundo do trabalho: pesquisa
relato de experiências.
Ser Social n.13 - 2003
Heloísa Maria Mello
Manso
Desafios à geração de trabalho e renda em
grupos comunitários de base local
Resultado de
pesquisa
Ser Social n. 19 - 2006
Pricila Maia de Andrade
A economia solidária é feminina? A Política
Nacional de Economia Solidária sob o olhar de
gênero
Resultado de
pesquisa
Ser Social V. 10, n. 23 - 2008
154
Elizabeth Regina Negri
Barbosa
As práticas sociais das organizações da
sociedade civil: reflexões
Graziella Aparecida
Pequenos produtores e a cooperação informal
Garcia de Lima e Raquel na Agrovila II do Assentamento “17 de abril”,
Santos Sant'ana
Restinga/SP
Ensaio teórico
Serviço Social e Realidade V.
16, n. 01 - 2007
Resultado de
pesquisa
Serviço Social e Realidade V.
16, n. 01 - 2007
Quadro 07 – Produção do Serviço Social nos Periódicos, 1998 a 2009 – Total: 35 artigos.
Fonte: pesquisa direta, 2010.
d) Teses e Dissertações
O quarto e último grupo de produções teóricas estudadas são as teses e dissertações
produzidas nos marcos dos Programas de Pós-Graduação da área de Serviço Social, coletadas a
partir do Banco de Teses da CAPES, do período de 1998 a 2008. Neste conjunto, foram
identificados 25 trabalhos que pesquisaram e analisaram temas relacionados ao universo da
economia solidária. Deles, 07 são teses, resultados de cursos de doutoramento, e 18 são
dissertações, fruto dos mestrados. Essa produção foi localizada em 13 PPG's de diversas
universidades e regiões do país, assim distribuida: 05 na PUC-SP, 05 na PUC-RS, 03 na UFSC, 02
na UEL, 02 na PUC – RJ, e as demais (UFPB, UERJ, UFRJ, UFF, UnB, UFJF, UFPA e UCPel) com
01 trabalho cada. É correto afirmar, ainda, que há uma produção significativa das temáticas
correlatas à economia solidária, 11 trabalhos, cerca de 44%, que foram realizadas na região sul do
Brasil. A seguir, sistematizamos o Quadro 08 com as informações sobre o autor, o título, o nível do
curso, o PPG e ano do trabalho e as palavras chaves indicadas pelos próprios autores nos resumos e
catalogação das obras.
Quadro 08 – Produção do Serviço Social nas Teses e Dissertações, 1998 a 2008 – Total: 25
trabalhos.
AUTOR(A)
TÍTULO
NÍVEL DO
PROGRAMA
PALAVRAS
CURSO
/ANO
CHAVES
Dalila Maria
Pedrini
Entre laços e nós. Associativismo Doutorado
autogestão - identidade coletiva a
empresa de produção socializada - EAPS
Brusque - Santa Catarina
Serviço Social / Pontifícia
Autogestão;
Universidade Católica e São associativismo;
Paulo – PUC-SP (1998)
identidade coletiva
Roberta Justina
da Costa
Os usuários dos programas de proteção
social: entre os frágeis e inexistentes
direitos sociais e as ações solidárias
Mestrado
Serviço Social /
Universidade Federal da
Paraíba – UFPB (2001)
Programas de
proteção; direitos
sociais e organização
solidária
Cristina Aguiar
Barreto
Economia popular solidária: alternativas
às transformações no mundo do trabalho
Mestrado
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUCRS (2002)
Economia; trabalho e
solidarismo
Ivan Freire
Fonseca.
"Capacitação Solidária: uma análise
Mestrado
crítica da perspectiva de empregabilidade
e empreendedorismo"
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio de Janeiro – PUC-RJ
(2003)
Empregabilidade;
Empreendedorismo e
Formação
Profissional
Jane Cláudia
Jardim Pedó
Economia Popular Solidária: Rumos de
uma alternativa às transformações do
mundo do trabalho e da questão social
Mestrado
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUCRS (2003)
Economia Popular;
trabalho; questão
social e solidariedade
Luciana
Francisco de
Abreu Ronconi
Gestão Social e Economia Solidária:
desafios para o Serviço Social
Mestrado
Serviço Social /
Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC
Serviço Social,
economia solidária e
gestão social
155
(2003)
Adriana Lucinda O processo de empoderamento de
de Oliveira
mulheres trabalhadoras em
empreendimentos de economia solidária
Mestrado
Serviço Social /
Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC
(2004)
Rosângela Nair
de Carvalho
Barbosa
A Economia Solidária como Política
Pública: uma tendência de geração de
renda e ressignificação do trabalho no
Brasil.
Doutorado
Serviço Social / Pontifícia
Economia Solidária;
Universidade Católica e São cooperativismo e
Paulo – PUC-SP (2005)
trabalho
Sandra Regina
Nishimuara
Economia Solidária: a trajetória dos
grupos de geração de renda em Londrina
Mestrado
Serviço Social e Política
Social/ Universidade
Estadual de Londrina –
UEL (2005)
Economia solidária,
exclusão social;
trabalho e renda
Soraya Gama de “Uma aproximação à experiência
Ataíde
autogestionária na cidade de Vitória-ES:
um novo padrão de integração social ou
uma forma de gerir a pobreza?”
Mestrado
Serviço Social /
Universidade Estadual do
Rio de Janeiro – UERJ
(2005)
Trabalho; geração de
renda e autogestão
Maria Tereza
Cândido Gomes
de Menezes
Doutorado
Serviço Social /
Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ
(2006)
Economia solidária;
crítica marxista e
políticas sociais.
Mestrado
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUCRS (2006)
Cooperativismo e
economia popular
solidária.
Economia Solidária: os elementos para
uma crítica marxista
Caroline Goerck Processo de Trabalho na Economia
Popular Solidária: uma forma
diferenciada de organização do trabalho
coletivo
Empoderamento;
gênero; economia
solidária
Josiane
Bortoluzzi.
Experiências associativas de trabalho em Mestrado
Chapecó: resistência ao desemprego ou
produção social alternativa?
Serviço Social /
Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC
(2006)
Desemprego; geração
de trabalho e renda;
associativismo e
alternativa social
Helenara
Silveira
Fagundes
Voluntariado e Solidariedade: da
caridade ao direito
Doutorado
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUCRS (2006)
Voluntariado;
solidariedade e
políticas sociais.
Liliane Moser
Geração de Trabalho, Renda e Inclusão
Social: Vivências de Trabalhadores em
Empreendimentos Econômicos
Solidários - Chapecó/SC
Doutorado
Serviço Social / Pontifícia
Geração de Trabalho
Universidade Católica e São e renda; inclusão
Paulo – PUC-SP (2006)
social e economia
solidária
Soledad
Bech Limites e Possibilidades da Economia Mestrado
Gaivizzo.
Solidária
no
Contexto
das
Transformações do Mundo do Trabalho:
a experiência da incubadora de
cooperativas populares da Universidade
Católica de Pelotas
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUCRS (2006)
Incubadoras
de
Cooperativas
Populares
e
economia solidária
Elizete
Alvarenga
Pereira
Política Social /
Universidade Federal
Fluminense – UFF (2007)
Gênero; mulheres;
economia solidária e
movimentos sociais
Metendo a mão na massa: uma
experiência de economia solidária em
Imbariê
Mestrado
Leile Silvia
Cooperativismo e trabalho: A experiência Mestrado
Cândido Teixeira da cooperativa de reciclagem de lixo
(COOPREC)
Serviço Social / Pontifícia
Cooperativismo;
Universidade Católica e São trabalho e
Paulo – PUC-SP (2007)
desemprego
Maria da
Conceição
Almeida
Vanconcelos
Além da geração de trabalho e renda:
economia solidária e participação de
cooperados/associado em Sergipe
Serviço Social / Pontifícia
Economia solidária;
Universidade Católica de
participação e
São Paulo – PUC-SP (2007) empreendimentos
econômicos
Priscila Maia de
Andrade
A economia solidária é feminina? Análise Mestrado
da Política Nacional de Economia
Solidária sob a perspectiva de gênero
Doutorado
Política Social/
Universidade de Brasília –
UnB (2007)
Gênero; políticas
públicas e economia
solidária
Sílvia Maria de Saúde Mental e Trabalho: a
Mestrado
Oliveira Mendes transversalidade das políticas e o caso de
Juiz de Fora
Serviço Social /
Universidade Federal de
Juiz de Fora – UFJF (2007)
Saúde mental;
trabalho e economia
solidária
Andreia de
Souza Bezerra
Serviço Social /
Universidade Federal do
Desenvolvimento
local, agricultura
Das Reivindicações Sindicais à
Organização Sócio-Produtiva no
Mestrado
156
Município de Moju-Pará
Cláudia Solange Estudo das possibilidades jurídicas para
Hegeto Prochet. formalização dos empreendimentos do
Programa de Economia Solidária de
Londrina
Silvia Neves
Salazar
Mestrado
Trabalho e educação nas práticas de
Doutorado
economia solidária: uma sociabilidade na
perspectiva emancipatória?
Rúben Dário
Autogestão das cooperativas de
Lucas Navarrete habitação e interesse social: os modelos
solidários como alternativa de produção
de moradia e desenvolvimento local
Mestrado
Pará – UFPA (2008)
familiar, cooperação
e associativismo
Serviço Social e Política
Social/ Universidade
Estadual de Londrina –
UEL (2008)
Cooperativismo;
geração de trabalho e
renda e economia
solidária
Serviço Social / Pontifícia
Universidade Católica do
Rio de Janeiro – PUC-RJ
(2008)
Economia solidária;
trabalho; educação e
classes subalternas
Política Social/
Universidade Católica de
Pelotas – UCPel (2008)
Autogestão;
cooperativas e
habitação
Quadro 08 – Produção do Serviço Social nas Teses e Dissertações, 1998 a 2008 – Total: 25
trabalhos.
Fonte: Pesquisa direta no Banco de Teses da CAPES, 2009.
Toda essa extensa apresentação dos dados iniciais coletados na pesquisa possibilitou-nos
quantificar e tipificar o debate e as análises que vêm ocorrendo no interior da profissão sobre a
economia solidária, bem como um conjunto de temas que lhe são próprios, nos mais diversos
instrumentos de debate teórico e ídeo-político do Serviço Social. Nessa primeira fase da nossa
análise construímos, o que nos parece bem importante, uma radiografia da produção teórica que
vem sendo acalentada, debatida, aprofunda, e expandida nos últimos 12 anos, e consolida, no nosso
entendimento, uma ampla recepção, nos ambientes profissionais e acadêmicos do Serviço Social, da
economia solidária e das modalidades teóricas e práticas que caracterizam os polimorfos
empreendimentos solidários e o universo teórico e político que está na base ideológica da economia
solidária.
3.2. O universo teórico e político comum ao Serviço Social e à Economia Solidária
A economia solidária, que surgiu no interior dos movimentos sociais a partir de um conjunto
de iniciativas espontâneas, e que hoje vêm sendo apoiadas e subsidiadas pelas políticas públicas do
governo Lula e pela ação direta de diversos sujeitos envolvidos, constitui-se como uma “corrente”
heterogênea de propostas e experiências concretas que requisitam vários profissionais, militantes e
trabalhadores para execução, divulgação, capacitação e mobilização desse segmento.
No desenvolvimento dos empreendimentos de economia solidária, surgem tentativas de
teorizá-la não apenas como um conjunto de atividades emergentes destinadas a amenizar os efeitos
de problemas sociais, de gerar trabalho e renda, mas como embrião de uma forma de organização
social alternativa ao capitalismo. Para fundamentar essas diversas concepções, os sujeitos se
apropriam das mais diversas tradições teórico-metodológicas e políticas operando, no nosso
entendimento, um verdadeiro ecletismo teórico e uma mistificação ídeo-política, produzindo um
universo analítico problemático sobre a economia solidária que é, evidentemente, resultado da
157
compreensão, anteriormente existente, sobre a sociedade, o Estado, o sistema capitalista e as
relações sociais que derivam desse ordem social e determinam as formas de intervenção na vida
social.
Entre os autores que se destacam como intérpretes desse heterogêneo campo, e que
destacamos na análise que realizamos sobre a economia solidária, Paul Singer diferencia-se pela
tentativa de teorizar a economia solidária com base em alguns conceitos da teoria social marxista,
concebendo-a, especialmente, como uma forma social alternativa ao capitalismo sob a
compreensão, propriamente marxista, de um suposto novo modo de produção. Entretanto, esta
compreensão é apenas uma das formulações que coexistem entre as mais diversas, e por vezes
colidentes, interpretações que partem de diferentes referenciais teóricos e políticos desse fenômeno
social.
Quando buscamos analisar a recepção que a economia solidária goza no debate teórico e
político do Serviço Social, identificamos que a heterogeneidade que caracteriza a própria economia
solidária está presente, em grande medida, nas interpretações e reflexões que foram identificadas no
interior do debate profissional. Assim, nesta etapa da pesquisa, buscamos qualificar a produção
teórica do Serviço Social sobre a economia solidária e o conjunto de temas que a circundam, bem
como identificar quais aspectos teóricos e políticos fundamentam essa produção.
Para analisar o universo problemático comum à economia solidária e ao Serviço Social,
tratamos de buscar, dentre os diversos conceitos e categorias presentes nos trabalhos investigados,
aqueles que, enquanto categorias centrais de análise, nos permitissem dialogar com essa produção,
mostrando as diferenças teóricas existentes e o significado que elas adquirem em relação à defesa,
ou não, das propostas ídeo-políticas e práticas da economia solidária. A partir do referencial teóricometodológico que orienta o nosso estudo – a teoria social marxista –, elegemos algumas categorias
analíticas que são, relativamente, transversais ao conjunto dos trabalhos e que serviram de baliza
teórica para a avaliação do conjunto de concepções e, possivelmente, práticas profissionais que são
por elas fortalecidas e o que elas alimentam no Serviço Social. São essas categorias: questão social,
pobreza, desigualdade social, trabalho, Estado, produção de renda, solidariedade, autogestão,
cooperativismo, democracia, política social e cidadania.
Para efeitos de exposição dos aspectos teóricos e políticos analisados, dividimos a produção
em três grandes tendências que conseguem agrupar a diversidade dos conteúdos, dos temas, das
posições teóricas e do nível de aprofundamento dos trabalhos, construídas em face da posição que
assumem sobre a economia solidária frente à defesa da ordem burguesa, e que doravante
denominamos de: a) tendência de defesa aberta da economia solidária e da ordem capitalista; b)
tendência de defesa direta da economia solidária e indireta da positividade burguesa; c) tendência à
crítica da economia solidária. A produção que consultamos direta e exaustivamente é aquela
158
configurada no material classificado anteriormente por nós como artigos e ensaios publicados nos
periódicos e elaborações apresentadas nos CBAS e nos ENPESS; nem todas as teses e dissertações
arroladas puderam ser examinadas81. Temos consciência de que a não exploração de teses e
dissertações relativiza a validez dos resultados a que chegamos – mas esta limitação foi, para nós,
insuperável.
Cumpre notar, a esta altura, que a partir de teses acadêmicas, foram publicados dois títulos,
sob a forma de livros, que são extremamente expressivos da reflexão mais madura sobre a economia
solidária que se processo no Serviço Social. Trata-se dos trabalhos de Menezes (2007) e Barbosa
(2007) que, bem diferenciadamente, inserem-se na terceira das tendências que enunciamos há
pouco. O ensaio de Menezes, explicitamente inspirado na teoria social de Marx, opera uma crítica
teórica e ídeo-política radical da economia solidária, e algumas das suas contribuições estão
incorporadas à nossa tese. Já o estudo de Barbosa, centrando-se na economia social como política
pública, procura avaliar sua incidência nas ações governamentais voltadas para a geração de renda e
postos de trabalho, concluindo pela sua baixa eficácia.
É preciso explicitar, ainda, que o estudo dos trabalhos selecionados nesta etapa da pesquisa
nos revelou que a heterogeneidade teórica dessa produção implica não somente no ecletismo teórico
e político proveniente da adoção de referenciais teóricos distintos; indica-nos também que essa
diversidade é parte constitutiva dos aspectos polimorfos que caracterizam a economia solidária, e
isto contribui, decisivamente, na amplitude e no conteúdo da produção teórica do Serviço Social
sobre as atividades que se encontram no leque dos empreendimentos solidários.
a) Tendência de defesa aberta da economia solidária e da ordem capitalista.
A primeira tendência que nos dedicamos a analisar comporta, no seu interior, um conjunto de
produções que indicam, de partida, referências teóricas distintas, mas que, na nossa análise,
oferecem o mesmo ponto de chegada: a defesa aberta da economia solidária, colaborando,
diretamente, para a reafirmação da positividade burguesa. Quando se necessita analisar um conjunto
muito diverso de produções, como é o caso, a estratégia de agrupar e buscar captar tendências
predominantes mostra-se uma solução satisfatória para nossos objetivos. Todavia, é importante
destacar que, nesta tendência, podemos encontrar algumas variações à linha predominante, a partir
da presença de algum debate ou autor que não indica uma relação linear entre economia solidária e
afirmação da ordem vigente - mas é, sobretudo, essa apologia o traço distintivo e unificador dos
trabalhos.
81
Quando recolhíamos todo o material (revistas, teses e dissertações, anais e cd's de encontros e congressos) que seria
base para a pesquisa sobre a recepção da economia solidária no Serviço Social, pareceu impossível, no tempo que
dispúnhamos, conseguir cópias de todas as dissertações e teses pertinentes à pesquisa. Por isto, como nos foram
acessível apenas os resumos elaborados pelos autores, não se viabilizou uma análise do conteúdo dessas produções,
o que nos permitiu somente apresentar as suas palavras-chave.
159
Essa tendência parte, segundo a representativa formulação de Silva (2002), de uma
compreensão do mundo contemporâneo enquanto uma sociedade marcada por profundas alterações
sócio-culturais, no qual convivem “no campo produtivo e cultural elementos de pós-modernidade”;
a partir desses elementos, emerge uma nova forma de organização produtiva, calcada em matrizes
de autopromoção e auto-sustentação, no que seria, passa essa tendência, uma relocalização do
mundo do trabalho e uma potencialização das novas “pautas de consumo emergentes na sociedade
pós-moderna”. Na mesma medida em que a sociedade é entendida a partir de elementos
caracterizados como pós-modernos, a percepção sobre o conjunto das relações sociais apresenta o
privilegiamento e a sacralização das ações da sociedade civil em contraposição ao Estado, que
aparece como autoritário, centralizador, mas representante dos interesses de todos os segmentos
sociais, fruto do que seria uma crise do Estado de Bem-Estar Social - esta autora não tem dúvidas
de existe um consenso (bibliográfico) quanto
à existência de uma crise do Estado de Bem-Estar Social, seja quanto à
impossibilidade de suprimento das necessidades sociais por parte do
Estado, seja pelo fato de ter ao longo da história substituído os laços de
solidariedade
social,
ou
simplesmente
pela
impossibilidade
de
sustentação financeira de sua estrutura, que, nas experiências históricas,
tem sido realizada com bases em impostos ou desapropriações (casos da
social-democracia europeia e do socialismo real) (Silva, 2002: p. 122).
Para esta tendência, o Estado aparece como instituição social que, a partir da sua intervenção
sistemática, enfraquece a chamada “rede social de solidariedade” que atua na direção de suprir
algumas debilidades sob o que seria um processo de exclusão social proveniente do
desenvolvimento capitalista. No entanto, na ótica desta tendência, o Estado permanece mantendo
centralidade como gerador de propostas que dão sustentação à vida humana e estimulador de
movimentos criadores de novos atores sociais. O surgimento de renovados movimentos sociais na
cena política, aliada à chamada crise do mundo do trabalho, serve para que esta tendência sustente
que a pós-modernidade, a redefinição das relações capitalistas e o novo formato do Estado apontem
para a inexistência de um sujeito revolucionário, ou classe social, responsável e capaz de mover
uma polarização apta a produzir uma transformação social para além do capitalismo.
O processo de complexificação da realidade traz à tona vários sujeitos,
locais, grupos com potencialidades para gestar e construir relações
democráticas, participativas, equânimes, autônomas, que atuam nos
processos de transformação social, pois não há um sujeito ou lugar
responsável por ela. (Cortizo e Oliveira, 2004: p. 83).
A compreensão de que os diversos movimentos sociais e sujeitos políticos da atualidade têm
papel e potencialidade transformadora da ordem social aparece, sistematicamente, articulada ao
entendimento de que o proletariado não é o sujeito histórico capaz, a partir das condições objetivas
160
que existem na dinâmica contraditória do capitalismo, de promover uma real ruptura com o sistema
de exploração da ordem burguesa. E dessa afirmação infere-se que o papel do Estado na atualidade
passa por fortalecer os diversos e colidentes segmentos sociais da sociedade civil, especialmente, as
camadas mais “vulnerabilizadas”. Se, para essa tendência, o trabalho não é mais a atividade central
que articula os sujeitos sociais e constitui o elemento de solidariedade, surgem propostas
alternativas que se propõem como modalidades de geração de renda, necessárias para combater a
exclusão social.
O crescimento de amplos contingentes populacionais excluídos do
emprego e a vulnerabilidade das relações de trabalho em nossos dias
desafia-nos a inserir o tema no contexto geral de alternativas à pobreza na
perspectiva do state in society, compreendendo que o Estado é permeável
e influenciado pela sociedade à medida que se constitui em uma de suas
partes (Silva, ibid: p. 125).
Mas, se, por um lado, essa tendência torna positivas as alternativas à chamada crise do
trabalho, propondo e incentivando modalidades de geração de renda, por outro a economia solidária
se destaca do conjunto dessas alternativas e se afirma como a melhor alternativa, pois sua
efetivação e multiplicação proporciona o crescimento, na sociedade, de valores supostamente
colidentes com a sociabilidade inaugurada pelo projeto moderno: a economia solidária
desenvolveria, de modo transversal, novos valores que sustentam a constituição de uma nova
cultura pós-moderna. Ao proporcionar desenvolvimento social, ela contribui na ampliação da
cidadania, no fortalecimento dos indivíduos, através do empowerment, e alimenta valores tais como:
democracia, autodeterminação, solidariedade e participação - e este é o traço marcante dessa
tendência.
As iniciativas de economia solidária são espaço de exercício da
democracia, da participação, da efetivação e expansão de direitos, de
vivência da cooperação e solidariedade, de empoderamento, de
politização. […] esses conceitos explicitam a ideia de processo, ou seja, o
empoderamento é fruto de uma trajetória onde interagem, vivenciam,
trocam divergem vários sujeitos. Consiste em uma lógica envolvente,
inclusiva, reflexiva, onde ninguém se empodera sozinho. É sempre uma
dinâmica de ganha-ganha, onde os envolvidos, cada um em seu ritmo,
crescem, refletem, encontram sua irreverência, sua autovalorização
(Cortizo e Oliveira, ibid: p. 83-84).
Esta tendência considera que a economia solidária pode ser responsável pelo
desenvolvimento de uma chamada “nova ética”, alicerçada em valores que, supostamente, destoam
dos valores predominantes da competição, da mercantilização e da não-solidariedade. A questão
social aparece apenas como a expressão da pobreza, da vulnerabilidade social e das carências
161
materiais, furto da “imoralidade” e da “injustiça” do capitalismo, que deve ser resolvida por vias da
afirmação da diversidade pós-moderna, em oposição aos projetos totalizadores da modernidade
(socialismo centralizado e liberalismo). Para isso, a economia solidária é uma forma de corrigir
distorções do capitalismo e construir a outra sociedade possível, colocando a economia na esfera
que ela deveria ocupar - meio de acesso a bens e serviços.
As iniciativas de economia solidária integram o esforço da politização, da
democratização das relações, principalmente por recolocar a economia no
seu lugar de meio, contrapondo a supremacia e a centralidade que a
categoria econômica ganhou no sistema capitalista. O desafio centra-se
em articular os processos de transformação econômica com as esferas
culturais, sociais, políticas históricas e ideológicas. Os processos de
emancipação, de empoderamento, de politização, articulam essas
dimensões de forma interdependente. O acesso a trabalho e renda na
perspectiva da economia solidária é um exemplo. Os trabalhadores
acessam o sustento, a dignidade. Contudo, a construção coletiva do
trabalho, a participação, os processos de educação continuada, o
envolvimento e o desvelamento das questões sociais potencializam os
sujeitos no exercício da cidadania concomitantemente. (Cortizo e
Oliveira, ibid: p. 89).
Nesta tendência comparece um processo que é marcado pelo deslocamento da economia
enquanto a esfera primária da vida social e lhe é atribuído apenas o papel de meio para o
fortalecimento dos indivíduos, visto que, para os trabalhadores da economia solidária, o principal
entrave seria a subalternidade, saindo de uma posição de meros executores, de “simples
obedientes”, para a condição de gestores, responsáveis por todo o processo de execução das
atividades do trabalho, construindo-se na diversidade, buscando elaborar consensos na coletividade,
sem hierarquias, “sem patrão”. A defesa aberta da economia solidária passa, necessariamente, pela
negação da economia capitalista mais pela moralização e julgamento ético e pela sua suposta
estrutura de poder, que mutila os sujeitos, do que pela análise da estrutura objetiva de produção e
das relações sociais que dela derivam, pois ela reproduziria, nessa perspectiva, valores indesejáveis
e negativos, que podem ser superados pela economia solidária e pelo fortalecimento dos sujeitos, da
diversidade indiferenciada e dos indivíduos de modo claramente abstrato.
b) Tendência de defesa direta da economia solidária e indireta da positividade burguesa.
Diversa da primeira, a segunda tendência, apesar da maioria dos textos que a representam
conter uma apologia a economia solidária, expressa, no nosso entendimento, uma defesa indireta da
ordem social vigente, posto que afirma a economia solidária como atividades fundadas em
modalidades de organização de trabalho que são colidentes com o sistema capitalista, subestimando
162
a capacidade que o capital tem de incorporar, ao processo de acumulação, modalidades
aparentemente à margem da produção central capitalista.
Esta perspectiva, em sua esmagadora maioria das suas expressões, situa a sociedade
contemporânea a partir dos processos de reestruturação produtiva pelo quais vem passando o
capitalismo, indicando que essas mudanças têm resultados significativos nas manifestações da
questão social e particularizam o desemprego, a concentração de renda e a exclusão, identificandoos como resultado ampliado dessa reestruturação. Note-se que há, nesta perspectiva, uma clara
referência ao processo de trabalho e à organização produtiva capitalistas como processos que, na
atualidade, ao sofrerem alterações, remetem, necessariamente, à busca de modalidades de trabalho e
renda que enfrentariam esses problemas sociais.
Dessa forma, o papel dos sujeitos políticos, dos movimentos sociais, das entidades de
assessoria e do Estado vai ganhando nova conformação, pois a criação dos empreendimentos
solidários resulta da ação organizada dos indivíduos que, a partir das suas necessidades, se
mobilizam e assumem a responsabilidade pela sua sobrevivência. “Estas alternativas de geração de
trabalho e renda originam-se da própria população excluída, visando a superação do desemprego e
da exclusão social, resultantes da lógica da reprodução capitalista” (CBAS, 2007: Eixo: RTESOAS
CO – 7).
A grande diferença que demarca esta segunda tendência da primeira, já exposta, reside, dessa
forma, na defesa da economia solidária como forma de trabalho que, mesmo nos marcos do
capitalismo, independe da organização capitalista. E, para isto, essa tendência, apesar de indicar a
importância para os empreendimentos solidários de valores que se constroem alternativamente ao
capitalismo, elabora uma crítica não moral e ética dessa sociedade, mas centra-se na crítica às
formas de trabalho predominantes e aponta a economia solidária como alternativa a elas.
Fazem parte destes empreendimentos as experiências de geração de
trabalho e renda protagonizados pelas classes populares, que possuem na
solidariedade o meio norteador de suas ações. Estes empreendimentos são
formados com pouco ou nenhum recurso financeiro e possuem como
“capital” a força de trabalho dos seus integrantes, objetivando gerar
condições de satisfação das necessidades básicas e da melhoria da
qualidade de vida dos participantes […]. Entende-se que o mercado
formal de trabalho diminuiu a sua demanda por mão-de-obra, devido às
diversas transformações que afetaram o mundo do trabalho e, que é
preciso encontrar formas de gerar trabalho e renda. (CBAS, 2004: Eixo 11
CO – 14).
Os séculos XX e XXI são palco de inúmeras transformações no mundo
do trabalho, com suas respectivas implicações sociais e econômicas,
163
decorrentes de um processo histórico. Neste contexto, experiências
populares e solidárias podem ser compreendidas como alternativas de
geração de trabalho e renda, diante das novas manifestações da questão
social. (ENPESS, 2006: Eixo 03 CO - 3)
As produções que compõem essa tendência também apontam para uma análise do Estado
que, ao considerar a crise do mundo do trabalho e a reestruturação produtiva, entende que o Estado
é atingido nesse processo de reestruturação e tem, a partir das políticas neoliberais, sofrido um
processo claro de encolhimento, sendo fundamental para combater a exclusão, o desemprego e as
desigualdades que os segmentos autônomos da sociedade se organizem. Assim, a economia
solidária tem o papel de colaborar com uma nova cultura democrática, solidária e participativa que
não passa necessariamente pelo Estado, mas que necessita de determinados apoios, especialmente
para as camadas populares, para gerar essa autonomia em face da precarização do mercado de
trabalho.
Paralelo à Reestruturação Produtiva, em decorrência da reforma do
Estado, ocorre o processo de minimização das ações no campo social,
deslocando-se para a sociedade civil a responsabilização por estas ações,
através do apelo à solidariedade. Entretanto, considerada a insuficiência
da trama de solidariedade para dar conta de amplas parcelas da população
sob processo de exclusão, o Estado permanece gerando propostas,
visando à sustentação dos indivíduos sociais, principalmente através das
políticas que estabelecem os mínimos sociais (ENPESS, 2008: Eixo QST
CO – 4).
As iniciativas de Economia Popular Solidária partem principalmente dos
próprios trabalhadores excluídos do mercado formal de trabalho.
Entretanto,
torna-se
importante
mencionar
que
as
políticas
governamentais podem oferecer o apoio e a assessoria necessários para
que estas organizações econômicas populares possam construir a sua
autogestão. (CBAS, 2007: Eixo: RTESOAS CO – 7)
É importante destacar que, nesta tendência, a participação mínima do Estado atua,
principalmente, na promoção de políticas sociais pontuais e que ele deve, também por isso,
estimular a criação de empreendimentos solidários e apoiá-los, pois eles são, por um lado, as formas
de geração de renda que podem se constituir em alternativas de trabalho e, por outro, são
modalidades de trabalho que necessitam de assessoria e suporte do Estado, transformando-se em
política pública. Nesta tendência, verificamos, então, a relação mais aproximativa, e em alguns
textos analisados podemos dizer que até orgânicas, entre Serviço Social e economia solidária, visto
que esta seria um espaço sócio-ocupacional importante para a profissão e para fortalecer aspectos
164
democráticos e solidários nas novas relações de trabalho solidárias.
Este trabalho visa propiciar a formação e a capacitação, possibilitando a
implementação de iniciativas produtivas economicamente viáveis,
pautadas na gestão participativa e na construção de relações sociais
solidárias. Portanto, a proposta desse estudo é criar alternativas de
geração de trabalho e renda concreta que possibilite o trabalho, a
autogestão e a cidadania, a fim de enfrentarem o desemprego, a
precarização e as diversas formas de exclusão social (CBAS, 2004: Eixo
08 PO – 4; grifos nosso).
Os empreendimentos de Economia Popular Solidária estão situados
dentro do contexto das novas demandas e espaços ocupacionais dos
assistentes sociais. Sabe-se que o objeto de trabalho profissional do
Serviço Social se dá nas manifestações da questão social e nas relações
sociais que expressam injustiças, exclusão e falta de acesso aos direitos.
Desta forma, a Economia Popular Solidária torna-se um espaço
privilegiado para a ação profissional comprometida com os interesses e
necessidades das classes populares. O Assistente Social chamado a
intervir profissionalmente em uma organização econômica popular
solidária, precisa ter na intencionalidade de sua ação a busca pelo
fortalecimento das experiências e o comprometimento com a autonomia
destes trabalhadores (CBAS, 2004: Eixo 11 CO – 17).
Esta segunda tendência, que denominamos de defesa direta da economia solidária e indireta
da ordem burguesa, apresenta uma proposta de economia solidária que nos permite reconhecer bons
resultados e boas iniciativas que são desenvolvidas, em especial aquelas que se destinam à criação
de condições reais de subsistência para uma grande maioria da população que está em situação de
desemprego e na miséria; nestas modalidades, vê-se a importância desses empreendimentos
solidários. Todavia, ao conferirem a essas experiências atributos econômicos e políticos que, de
partida, estaria deslocados da acumulação capitalista, desenvolvem para a economia solidária, e
evidentemente para as relações de produção e reprodução da ordem burguesa, uma atualizada
mistificação das potencialidades e da funcionalidade que a economia solidária, e os
empreendimentos solidários, vêm assumindo no processo de manutenção da ordem vigente. Na sua
essencialidade, há uma apologia indireta82 da ordem burguesa, pois a crítica que esta tendência
promove às relações precarizadas de trabalho e à desigualdade social própria deste sistema não
atinge os fundamentos das modalidades contemporâneas de fragmentação do trabalho e, muito
menos, a reestruturação capitalista que é fruto da crise do capital. Em outras palavras, a defesa da
economia solidária, apesar de se organizar em contraposição ao processo de trabalho e exclusão
82
Para o esclarecimento da fundamental noção de apologia indireta do capitalismo, cf. Lukács (1968a).
165
capitalistas, é feita sem por em xeque o modo como a ordem burguesa vem atualizando suas formas
de absorver, ideologicamente e realmente, alternativas de trabalho e subsumi-los aos seus interesses.
c) Tendência à crítica da economia solidária.
A terceira e última tendência identificada na análise da produção teórica do Serviço Social
sobre a economia solidária é uma tendência residual, na qual poucos trabalhos podem ser
identificados. Mas, apesar de ser quantitativamente a menor (e comparativamente muito menor),
dispõe, a nosso juízo, da melhor qualificação visto que consegue fundamentar sua crítica aos
aspectos centrais do desenvolvimento do capitalismo na atualidade.
Nesta tendência, a economia solidária é identificada como mais um dos fenômenos ídeopolíticos apropriados pelo capitalismo para submeter as experiências desse campo aos seus
propósitos de valorização e reificação.
A solidariedade é retomada como estratégia ideológica e intensificada nos
marcos das saídas neoliberais hegemônicas em todo o mundo à crise
estrutural do capital, vinculada aos projetos distintos das classes sociais,
ou seja, é funcional ao movimento de recomposição econômica, política e
social do capital em crise, isto é, solidariedade entre classes (ENPESS,
2006: Eixo 03 CO - 3)
O capitalismo contemporâneo, para esta terceira tendência, é marcado pela crise em sua onda
longa de estagnação, o que impõe uma reorganização estrutural das formas objetivas de produção,
com a incorporação de novos padrões e modelos de produção, sob a tônica renovada do capitalismo
dos monopólios. Essa reestruturação capitalista define novas funções para o Estado e desenvolve-se
ideologicamente sob a ofensiva do neoliberalismo. Nesta tendência, há uma tentativa de
interpretação da economia solidária à luz dessa reestruturação ídeo-política capitalista, para, assim,
situá-la como resultado, para atender funcionalmente os interesses atuais da ordem burguesa, da
apropriação de experiências desenvolvidas inicialmente pelos movimentos sociais e meios
populares.
O complexo de reestruturação produtiva, a partir da flexibilização e
desconcentração da produção, utiliza-se cada vez mais da terceirização e
da subcontratação para transferir para as pequenas empresas – e no nosso
estudo em particular para as cooperativas – a produção de mercadorias ou
de produtos semielaborados. Assim, sob o ímpeto do trabalho autônomo,
que faz do trabalhador seu próprio patrão, a organização do trabalho é
levada a limites sempre mais elásticos, por que os trabalhadores são
submetidos a um regime de auto-exploração sob o ideal do trabalho
autônomo. Combinando isto ao debate próprio das cooperativas e da
“economia solidária”, esta assume contornos ainda mais mistificados e
166
mistificadores (ENPESS, 2006: Eixo 03 CO – 2).
Outro vetor que aparece nesta tendência é o de situar a economia solidária no seio da
ampliação das ações do chamado terceiro setor, combinadas ao conjunto de medidas da ofensiva
neoliberal para enfraquecer o Estado e deslocar as disputas que deveriam ser travadas na arena da
sociedade civil. Dessa forma, aparece o chamado terceiro setor como alternativa no trato ao
conjunto de problemas sociais advindos dessa apartação do Estado. O ponto de congruência que
aparece aqui, entre terceiro setor e economia solidária, é o fortalecimento autônomo de formas e de
sujeitos para tratar e resolver suas necessidades no campo externo ao Estado e ao mercado
capitalista. Tal perspectiva é criticada por esta terceira tendência, que indica que a economia
solidária, a partir das novas determinações que incidem sobre a questão social e as modalidades de
intervenção que o Estado (apropriado quase integralmente pelos interesses do grande capital),
representa um deslocamento das funções sociais que Estado assumiu junto às classes subalternas no
período do chamado keynesianismo/fordismo devido aos interesses do capitalismo monopolista em
face da acumulação, e, ainda, como resultado das lutas que foram empreendidas pelos trabalhadores
no período.
Nesta discussão apontam-se tendências referentes a reatualização do
cooperativismo e da filantropia enquanto elementos integrados às
estratégias de afirmação da responsabilidade social na reconfiguração do
atual padrão de produção e trabalho e da reprodução da força-de-trabalho,
assim como da negação da responsabilidade estatal em relação ao direito
à proteção social e garantias trabalhistas, na sociedade brasileira
(ENPESS, 2006: Eixo 03 CO – 3).
Para a tendência à crítica da economia solidária, essas novas funções que são atribuídas ao
Estado têm impacto nas políticas públicas, em especial as políticas sociais que são direcionadas ao
atendimento dos setores populacionais mais pauperizados, enquanto que a solidariedade, o
voluntariado, a economia solidária, e outras ações, são estimuladas para complementar essas
políticas seletivas e focalizadas, sendo que alimentam, centralmente, o protagonismo de segmentos
sociais como alternativas de autogestão e autodeterminação frente à crise. E esse é um ponto
diretamente criticado por esta tendência.
O trabalho voluntário representa, assim, um mecanismo significativo na
materialização da chamada responsabilidade social compartilhada entre
indivíduos e organizações da sociedade e o Estado, nos atendimentos
sociais e controle sobre a pobreza. É intensificado no âmbito das políticas
públicas enquanto mediação de participação, co-responsabilidade ou
contrapartida do usuário, através de ações sociais direcionadas para o
atendimento de necessidades de segmentos mais vulnerabilizados da
167
sociedade, como são exemplares as ações e estratégias de participação
dos usuários implementadas pelo Programa Fome Zero, que tendem a
reatualizar a filantropia e o voluntariado como formas históricas de
“ajuda” aos pobres (ENPESS, 2006: Eixo 03 CO – 3)
No campo do trabalho, esta tendência identifica a economia solidária como resposta da
contra-ofensiva do capital às suas necessidades para alterar as formas de vinculação da força de
trabalho aos fios da produção capitalista e, em particular, atualizar antigas formas de pagamento da
força de trabalho sempre funcionais à maior intensificação do trabalho.
A proliferação de cooperativas na sociedade brasileira, a partir dos anos
1990, com ênfase para as cooperativas de trabalho, em resposta às
necessidades das empresas de subutilizar a força-de-trabalho fora do
contrato formal de trabalho via sub-contratação, ao mesmo tempo em que
contribuem para a informalização das relações de trabalho, como um
mecanismo de redução dos custos da produção, centrada na
superexploração do trabalhador (ENPESS, 2008: Eixo QST CO – 8).
É importante destacar que, nesta tendência, a crítica que é feita a economia solidária não
inviabiliza reconhecer, nos empreendimentos solidários, a sua condição de estratégia de
sobrevivência, no qual os indivíduos que se encontram, rigorosamente, na superpopulação relativa
para o capital desenvolvem ações para suprir suas necessidades básicas e de reprodução.
O cooperativismo inscreve-se no quadro das contradições existentes
nessas ações, como principal alternativa de trabalho para a força de
trabalho disponível egressa dos processos de capacitação, frente a um
mercado de trabalho sem condições de absorvê-la (ENPESS, 2006: Eixo
03 CO – 3).
Esta tendência à crítica da economia solidária, apesar dos poucos textos que a compõem no
nosso estudo, parece-nos ser a que tem buscado caucionar suas análises em um conjunto de
tendências do desenvolvimento capitalista contemporâneo, e realiza, no nosso entendimento, uma
boa análise ao contextualizar a economia solidária como mais uma das formas funcionais ao
processo de acumulação e mistificação próprios do sistema do capital, sem perder os elementos da
contradição desse fenômeno, vista a positividade que ela assume para aqueles que a vivenciam.
Assim, a contribuição desta tendência parece-nos ser imprescindível para uma análise consequente
e comprometida com o mundo do trabalho não somente da crítica da economia solidária, mas
também para uma crítica profícua e mobilizadora da ordem burguesa.
No conjunto dos trabalhos relacionados à economia solidária que examinamos,
independentemente da sua diferencialidade e da sua inserção nas três vertentes que consideramos,
há, porém, um elemento comum: a reivindicação da relação do Serviço Social com a economia
solidária como compatível com o – e, no limite, como consequência necessária dos princípios do –
168
projeto ético-político profissional. Um fragmento de uma dentre as várias comunicações sobre o
tema é extremamente emblemática da receptividade do Serviço Social à economia solidária,
hipotecando aquela relação à recorrência ao projeto ético-político profissional:
As instituições de apoio às organizações da economia solidária tem sido
fundamentais na consolidação dessas experiências; muitas lutam por
democratização, garantia e ampliação dos direitos sociais e por caminhos
alternativos na área da produção. (...) Os profissionais de Serviço Social,
à luz do projeto ético-político da profissão, podem tornar-se
imprescindíveis na organização, gestão e no desenvolvimento das
organizações de economia solidária (CBAS, 2004: Eixo 11 CO – 6;
sublinhados nossos).
Esta relação construída entre os valores e práticas progressistas que estão contidos no
projeto ético-político da profissão e o núcleo que é reivindicado pelas experiências solidárias
(participação, democratização, autogestão, autonomia e fortalecimento dos sujeitos) é uma
articulação possível, na medida que o projeto profissional, enquanto diretriz da prática profissional,
fundamenta-se em valores essenciais para a defesa dos direitos e aponta uma clara posição em
defesa das classes subalternas. Entretanto, o nível da afirmação de princípio de valores não se
identifica nem se expressa, direta e necessariamente, no nível das práticas profissionais – a
autonomia relativa do exercício profissional, o próprio pluralismo do universo profissional, a
diversidade dos horizontes ídeo-políticos dos assistentes sociais possibilita que, na ação
profissional, pautas progressistas sejam apropriadas pelos conservadorismo e neoconservadorismo
que alimentam a ordem social vigente.
Na nossa análise, aproximamo-nos da conclusão segundo a qual o universo teórico e político
comum e dominante entre Serviço Social e economia solidária está sobretudo vinculado ao
conservadorismo e neoconservadorismo cujos lastros não eliminados ainda têm forte peso na
categoria profissional. Assim, o Serviço Social, neste relacionamento com a economia solidária,
introjeta e reproduz modalidades ideológicas do sistema do capital, construindo com a economia
solidária um universo comum problemático que potencializa, não o fortalecimentos dos princípios e
valores contidos no projeto profissional crítico, mas a relativização e o alargamento das suas
fronteiras práticas, o que permite intervenções profissionais as mais diversas e, inclusive, de
filiações teóricas colidentes, malgrado reivindicarem sua pertinência ao nosso projeto ético-político
profissional – e tais filiações, a nosso ver, marcam claramente as duas primeiras tendências
mapeadas na nossa pesquisa.
169
3. 3. Conservadorismo, anticapitalismo romântico e Serviço Social
O tratamento histórico-crítico que o Serviço Social vem realizando sobre o pensamento
conservador, ao longo dos últimos 30 anos, indica a dinamicidade e a atualidade com que esse
incide na produção ídeo-política e teórica do Serviço Social e nos aspectos práticos que
fundamentam um característico sincretismo profissional (Netto, 1992; Iamamoto, 1995; Escorsim,
1997). Se, por um lado, a preocupação com a crítica ao conservadorismo na profissão possibilitou a
apropriação e a consolidação de um referencial teórico vinculado ao marxismo, por outro é somente
quando o pensamento conservador começa a ser questionado, e de certa forma deslocado no campo
profissional na sua dimensão ideo-política, que o Serviço Social brasileiro tem condições de pensarse de modo referenciado historicamente, captando o conjunto das determinações do
desenvolvimento do capitalismo que incidem sobre a sua origem, institucionalização e
consolidação.
Uma análise crítica e histórica do Serviço Social demanda, para além da explicitação ideopolítica do conservadorismo profissional, sobretudo, a crítica dos seus fundamentos teóricos. E
nessa perspectiva Escorsim (1997) aponta que o Movimento de Reconceituação na América Latina,
e particularmente seu trato no Brasil, deu início à denúncia ídeo-política do tradicionalismo
profissional, criando as condições para que fosse realizada, a parir de um complexo conjunto de
fatores, a crítica dos seus fundamentos teóricos. É esta crítica
que encontramos apresentada, no caso do Serviço Social brasileiro, pela
primeira vez, na pesquisa de Iamamoto […] e é nessa crítica que vamos
encontrar, também pela primeira vez, uma referência que, transcendendo
as indicações anteriores da literatura reconceituada acerca do positivismo,
tornar-se-ia, a partir de então, obrigatória na análise do Serviço Social: a
referência às suas genéticas vinculações com o pensamento conservador
(Escorsim, 1997: p. 21-22; itálicos do original).
A relação entre o Serviço Social e o pensamento conservador tornou-se um passo importante
para as análises críticas da profissão, e, sobretudo, uma precondição delas. Todavia, difundiu-se no
meio profissional que “um Serviço Social crítico é função de uma inteira ruptura com o
pensamento conservador” (Escorsim, ibid: p. 30); assim, como afirma a autora, aquela relação “está
posta como um dado” na atualidade (ibid: p. 29), carecendo de investigações que busquem
particularizar as modalidades e expressões atuais do pensamento conservador e das práticas que
alimentam o conservadorismo. Por isto, apresentamos a seguir sintéticas formulações sobre o
pensamento conservador e algumas análises e críticas a ele dedicadas.
170
a) O pensamento conservador
O pensamento conservador é, sem dúvida, um componente histórico e teórico central que
acompanha a conformação da hegemonia burguesa desde a afirmação do seu conteúdo
revolucionário, particularmente o período que segue os eventos revolucionários desde 1789. Esta
noção, no nosso entendimento, inscreve o pensamento conservador num lastro que tem referências
históricas precisas e temporalidade determinável, mesmo que estas determinações sejam um desafio
para aqueles que buscam estudar o conservadorismo. O pensamento conservador “é uma expressão
cultural (obviamente complexa e diferenciada) particular de um tempo e um espaço sócio-históricos
muito precisos: o tempo e o espaço da configuração da sociedade burguesa” (Escorsim, 1997: 43) e
que deve ser entendida a partir de uma rica totalidade de determinações que movimentam tensões e
transformações em todos os aspectos sociais.
É, especialmente, o processo geral da revolução burguesa – no período, aproximadamente,
entre os séculos XVI e XVIII – e particularmente a revolução política (a Revolução Gloriosa
inglesa de 1688 e a Revolução Francesa de 1789) finalizada com a consolidação, já em processo, da
hegemonia econômica da burguesia, que marca o surgimento do pensamento conservador. De modo
inconteste, o político e pensador inglês do século XVIII, Edmund Burke é considerado o fundador
do conservadorismo clássico, em virtude, especialmente, das suas formulações teóricas produzidas
como ataque feroz aos revolucionários franceses, suas ideias e ao processo da própria Revolução
Francesa de 1789. Ele é considerado o primeiro crítico da Revolução Francesa e suas formulações
apresentam os componentes claros do conservadorismo em face do projeto moderno incrustado nos
anseios da Revolução Francesa. Na obra seminal do pensamento conservador 83, Burke discute as
ideias fundamentais que alimentaram o movimento revolucionário, tais como a questão da
igualdade, dos direitos do homem e da soberania popular. Denuncia o que chama de perigos da
democracia abstrata, questiona o racionalismo do movimento que destrói a velha ordem e
deslegitima os valores tradicionais. Em oposição, Burke exalta a virtuosa constituição inglesa que
conseguiu absorver o novo na ordem já tradicional, destaca o espírito da continuidade, da
hierarquia social e da propriedade e da consagração religiosa da autoridade secular. No conjunto
desses aspectos residem os fundamentos conservadores do pensamento de Burke (cf. Kinzo in
Weffort, 1999).
Neste destaque dos principais aspectos do pensamento conservador de Burke, fica evidente
que não há, por parte do autor, uma crítica ao capitalismo ou ao processo de dominação econômica
da burguesia, mas a alguns elementos que compõem o projeto moderno que emerge com a ascensão
política da burguesia.
83
Burke inicia, a partir do processo deflagrado pela Revolução Francesa, uma verdadeira cruzada contra esse
acontecimento histórico sem precedentes. Sua hostilidade à Revolução, que causara entusiasmo entre os ingleses,
inspirou-lhe a produção de sua mais importante obra: Reflexões sobre a revolução em França, publicada em 1790.
(cf. Weffort, 1999).
171
O que Burke repudia vigorosamente não é o desenvolvimento do
capitalismo como tal, mas: 1º) a forma da ação política e 2º) a destruição
das instituições sociais consagradas pela tradição. A forma da ação
política repudiada por Burke é a da revolução burguesa que mobiliza
massas. A instauração de novas instituições segundo uma racionalidade
antitradicionalista (que incorpora o jusnaturalismo) é rechaçada por
Burke. Ou seja: dois dos componentes da cultura moderna é que são
renegados pelo autor das Reflexões (Escorsim, 1997: 49; destaques do
original).
O pensamento conservador clássico de Burke comporta uma tensão que aparece,
nitidamente, na sua recusa aos traços sócio-culturais resultante das transformações impostas pelo
processo de desenvolvimento da moderna sociedade burguesa, sem recusar as novas modalidades
de relações de produção e exploração que se hegemonizam nesse movimento. Dessa forma, “o alvo
de Burke é a Ilustração […] [ele] quer a continuidade do desenvolvimento capitalista sem a ruptura
com as instituições sociais pré-capitalistas (o privilégio da família, as corporações, o protagonismo
público temporal da Igreja, a hierarquia social cristalizada, etc.)” (Escorsim, ibid: p. 50). Devemos
anotar, ainda, o desprezo que o autor demonstra pela Revolução, posto que a considera responsável
pela ruptura com valores e instituições tradicionais, por isso perigosa e desnecessária. Nos termos
de Escorsim, “sinteticamente, poder-se-ia afirmar que Burke deseja o capitalismo sem a
modernidade” (ibid: p. 50).
Para combater os valores centrais da Ilustração 84, o conservadorismo, na sua gênese,
explicitou os seus fundamentos, que permaneceriam basicamente inalterados ao longo de mais de
um século. É após o período de 1848, marcado pelos processos intensamente revolucionários
protagonizados pelos trabalhadores e a consequente reação burguesa a este movimento, que o
pensamento conservador sofre um giro, alterando o seu significado sócio-político, mas sem
modificar o seu papel normativo e prescritivo.
84
A Ilustração - a grosso modo - pode ser tomada como o período se inicia com o Renascimento e encontra seu clímax
na segunda metade do século XVIII. Tem sua demarcação, sobretudo, pela influência do pensamento revolucionário
de Copérnico, Galileu e Bacon na física e na astronomia, fundantes da filosofia moderna, e sua caracterização posta
pelo século das Luzes na França com Voltaire, Diderot, etc. Em outros termos, o movimento dos ilustrados expressa,
no plano das ideias, a constituição, ainda no marco do Ancien Régime, da conquista da hegemonia cultural pela
burguesia revolucionária. Dessa forma, o descobrimento da América, a circunavegação da África e do globo, o
acesso às Índias Orientais e aos mercados chineses, o comércio com as colônias e a expansão das trocas e das
mercadorias revelavam cada vez mais a limitação própria das forças propulsoras da sociedade continuarem
aprisionadas à compreensão de mundo feudal. Rouanet (1987) – cujo pensamento é claramente influenciado por
Habermas – chama-nos atenção para um fato importante, e que aqui incorporamos: exis tem diferenças entre o
Iluminismo e a Ilustração. Para este autor, o Iluminismo designa uma tendência intelectual, não limitada a qualquer
época específica, que combate o mito e o poder a partir da razão (de argumentos racionais). Ou seja, diz respeito a
um projeto sócio-cultural que atravessa vários processos históricos e inaugura um grande projeto racionalista que
está presente desde a Pólis Grega e que perpassa de maneira trans-histórica o longo processo de constituição da
sociedade ocidental. A Ilustração, por sua vez, atualizaria o projeto iluminista, mas este projeto não começou com
aquela, nem se extingue no século XVIII. Pensada, conforme sinalizado anteriormente, como expressão cultural
hegemônica da burguesia em seu processo revolucionário, a Ilustração seria como que um capítulo, um episódio do
projeto iluminista.
172
No século XVIII, o projeto da modernidade toma corpo e seu eixo articulador racionalista
ganha hegemonia – à razão é atribuído um caráter emancipador, donde o conhecimento racional,
pautado na ciência, possibilitaria ao homem o controle tanto da natureza como do processo social.
Este sentido progressista, próprio do capitalismo em ascensão, passou a ser amplamente
questionado entre 1830-1848. Tal período assinala o acirramento das contradições do mundo
burguês, pois são o próprio desenvolvimento do capitalismo e a consolidação da dominação
burguesa que engendram as forças organizativas do movimento operário, emergentes neste
momento de crise.
Marx é categórico neste entendimento quando afirma, n’ O Dezoito Brumário de Napoleão
Bonaparte, que “a burguesia tinha a exata noção do fato de que todas as armas que forjara contra o
feudalismo voltavam seu gume contra ela, que todos os meios de cultura que criara rebelavam-se
contra sua própria civilização, que os deuses que a inventaram a tinham abandonado” (1976, p.255).
Mais ainda, a contradição como elemento posto em movimento na civilização moderna está
expressa em toda a sua amplitude, uma vez que é do seio do desenvolvimento e amadurecimento
burguês que nasce a classe que pode levar à sua ruína. Nas palavras de Marx e Engels, no Manifesto
do Partido Comunista, “a burguesia não só forjou as armas que trazem a morte de si própria, como
também criou os homens que irão empunhar armas: a classe trabalhadora moderna” (1998, p.19).
O antagonismo que se estabelece – ao longo da evolução da sociedade burguesa – entre
progresso e reação, no marco de 1848, ganha um novo aspecto: “as tendências que até então
tomavam a cena de forma extremamente progressista, passam a subordinar-se a um movimento que
inverte todos os fatores de progresso que obviamente continuam a existir, ao transformá-los em
fonte do aumento cada vez maior da alienação humana” (Coutinho, 1972).
Desse modo, explicita-se no plano social e político uma inversão que tem sua gênese no
surgimento antagônico das classes que outrora formavam o Terceiro Estado, na derrubada do
Ancien Régime. Enquanto, no primeiro momento – a revolução para a tomada do poder –, a
burguesia representava objetivamente os interesses da totalidade do povo, voltada que estava ao
combate à reação absolutista-feudal, agora o proletariado surge na história como uma classe
autônoma, capaz de resolver, em sentido progressista, as novas contradições geradas pelo próprio
capitalismo triunfante.
Compreendemos que, para conservar-se na condição de classe dominante, a burguesia nega
os traços progressistas constitutivos da vida moderna ao tornar-se uma classe conservadora,
interessada na perpetuação e na justificação do existente: a burguesia estreita cada vez mais a
margem para uma apreensão objetiva e global da realidade. Resta-lhe, pois, amesquinhar o modelo
de racionalidade pelo qual alcançou suas finalidades, fazendo com que neste momento liberdade e
autonomia apareçam sob forma inteiramente nova. São as relações de troca que passam a expressar
173
a liberdade dos indivíduos, submetendo, assim, todos os homens e seus interesses, desejos e paixões
aos interesses específicos da classe burguesa. Dessa forma, as peculiaridades que inauguram a
modernidade são negadas no próprio processo de modernização.
Logo, neste estágio, o interesse burguês implica em abandonar, em primeiro lugar, a
categoria da razão. Esta assertiva está posta no pensamento Marx e claramente explicitada nas
considerações de Lukács, quando este analisa que, enquanto a burguesia permaneceu como classe
revolucionária, a pesquisa e o conhecimento puderam se desenvolver sem serem embaraçados pelos
limites dos interesses burgueses. Esta liberdade posta ao pensamento é colocada em xeque com a
conversão conservadora da burguesia após 1848 – inicia-se o que Lukács designou como o processo
da decadência ideológica, que surge já quando
a burguesia tinha conquistado poder político na França e Inglaterra. A
partir de então, a luta de classes assumiu, na teoria e na prática, formas
cada vez mais explícitas e ameaçadoras. Ela fez soar o sino fúnebre da
economia científica burguesa. Já não se tratava de saber se este ou aquele
teorema era ou não verdadeiro, mas se, para o capital, ele era útil ou
prejudicial, cômodo ou incômodo, subversivo ou não. No lugar da
pesquisa desinteressada entrou a espadacharia mercenária, no lugar da
pesquisa científica imparcial entrou a má consciência e a má intenção da
apologética (Marx, 1983: p. 17).
Nesse entendimento, quando se torna um discurso apologético ao capitalismo, o pensamento
burguês passa a ocultar as condições de existência dos diversos grupos sociais sob este modo de
produção, impossibilitando a reprodução ideal das mesmas. Assim, para Lukács, a evolução do
pensamento filosófico burguês pode ser pensada a partir de três estágios. O primeiro vai até 1848,
quando se desenvolve a filosofia burguesa clássica; então, no processo revolucionário contra a
sociedade feudal, o pensamento filosófico da época era uma forma aberta para a elaboração de um
saber verdadeiro, científico. Neste estágio, com a burguesia encarnando os ideais de progresso de
toda a sociedade, os seus pensadores sustentavam a plena cognoscibilidade do mundo e mantinham
uma grande independência face às exigências ideológicas de sua própria classe, uma vez que
estavam impelidos pelas próprias necessidades históricas. Logo,
esta independência confere-lhe a possibilidade de uma crítica muito séria:
a crítica que vem do interior, porque se funda sobre a grande missão
histórica da burguesia, e a situação do filósofo é tal que o autoriza a
tomar a posição mais nítida, mais decidida e mais corajosa. E, enfim, por
não ser esta coragem somente uma virtude individual, mas sim, função
precisamente desta relação com sua classe, o filósofo se sente com direito
de criticar de maneira mais radical o menor desvio da missão histórica,
em nome dessa própria missão (Lukács, 1968: p. 32).
174
Por isso, a Hegel é debitado o grande mérito de sintetizar este momento ascendente do
pensamento burguês, uma vez que sua ontologia dialética do ser social liga a ação humana à
legalidade objetiva que dela decorre às suas raízes econômicas.
A partir de 1848, com a entrada autônoma do proletariado – em plano histórico-universal –
na arena política, a burguesia substitui os valores universais da sociedade pelos seus mesquinhos
interesses particulares. Inicia-se, então, para Lukács o segundo estágio evolutivo do pensamento
burguês que se estende até à emergência do imperialismo: o período da decadência ideológica claramente marcado por uma fuga da realidade, com a explicita intencionalidade promover a defesa
da ordem burguesa. Para o autor,
Essa liquidação de todas as tentativas anteriormente realizadas pelos mais
notáveis ideólogos burgueses, no sentido de compreender as verdadeiras
forçar motrizes da sociedade, sem temor das contradições que pudessem
ser esclarecidas; essa fuga num pseudo-história construída a bel prazer,
interpretada superficialmente, deformada em sentido subjetivista e
místico, é a tendência geral da decadência ideológica (1968: p. 52).
Por outro lado, a ruptura que se processa nesta quadra histórica não diz respeito à totalidade
do pensamento anterior, mas sim com a tradição progressista e revolucionária que constitui a
essência desse pensamento. Dessa forma, a dissolução do pensamento hegeliano, como um
importante depositário desta trajetória, representa não apenas o abandono do progresso – uma vez
que é na filosofia clássica alemã que se elabora o mais alto conhecimento filosófico próprio do
mundo burguês –, mas também a necessária decadência e empobrecimento daqueles pensadores que
depois de Hegel deixam de lado, alguns mais outros menos, sobretudo a maioria, inteiramente o seu
conceito de razão.
Nessa perspectiva, tomamos a observação de Coutinho (1972), segundo a qual a dissolução
da filosofia de Hegel segue duas orientações: uma de esquerda: que se manifesta como
desenvolvimento superior do núcleo racional do pensamento hegeliano, uma vez que se volta para o
método hegeliano e não ao seu sistema; e outra de direita: que implica num abandono que
representa objetivamente uma regressão. Neste núcleo – e esta tendência não é arbitrária, pois
encontra apoio no próprio pensamento de Hegel – fortalece-se uma leitura que sanciona o real
porque este está conforme a razão e resgata os elementos conservadores contidos nesse pensamento.
Esta última perspectiva está claramente refletida, no plano da teoria do conhecimento, no
agnosticismo (manifesto no positivismo e no neokantismo) que derrui a crença no poder da razão de
conhecer a essência verdadeira do mundo e da realidade, levando a reflexão a abandonar as grandes
temáticas sócio-históricas.
O terceiro estágio, do qual nos fala Lukács, diz respeito à entrada do capitalismo na sua era
imperialista, ou seja, naquele que é o momento estrutural que agudiza suas contradições. Nesse
175
patamar, o capitalismo assume um perfil significativamente novo em face da sua lógica
concorrencial, uma vez que, como bem sumariado por Netto,
os preços das mercadorias (e serviços) produzidas pelos monopólios
tendem a crescer progressivamente; as taxas de lucro tendem a ser mais
altas nos setores monopolizados; (...) o investimento se concentra nos
setores de maior concorrência, uma vez que a inversão nos monopólios
torna-se progressivamente mais difícil (logo, a taxa de lucro que
determina a opção do investimento se reduz); cresce a tendência a
economizar trabalho vivo, com a introdução de novas tecnologias (1992:
p.17).
Inicia-se um processo renovado de reprodução ideológica da burguesia com o imperialismo,
que culmina com as elaborações teóricas próprias do irracionalismo moderno, que não são, por
agora, objeto da nossa análise. O que importa assinalar dessa análise lukacsiana é que a grande
reacomodação política e ideológica pelo qual passa o pensamento burguês, explicitando os
fundamentos apologéticos e da decadência, inspira uma fratura que repercutirá em uma nova
relação entre o pensamento conservador e o pensamento burguês.
A metamorfose que se opera nessas duas vertentes intelectuais – o pensamento conservador e
o pensamento burguês - aproxima o conservadorismo antiburguês, característico da reação de Burke
aos processos revolucionários na França em 1789, ao conservadorismo antiproletário que vem se
desenvolvendo no seio do pensamento burguês pós-1848. Mas qual seria, inicialmente, o ponto de
contato entre eles? É, precisamente, a recusa veemente à revolução. Assim, o pensamento
conservador, na sua diversidade, desloca-se da posição originária reacionária de recusa às
expressões culturais da burguesia e se massifica, após essa passagem, enquanto umas das
expressões ideológicas da burguesia contra as lutas revolucionárias do proletariado. Em outras
palavras, “se, originalmente, o pensamento conservador é, como vimos, restaurador e antiburguês, na reviravolta referida por Lukács este caráter se transforma: o que tende a se desenvolver
no seu interior, mais que aqueles dois traços, é o seu eixo contra-revolucionário” (Escorsim, ibid:
p. 57; negritos da autora).
A mudança que é operada no conjunto do pensamento conservador altera, substantivamente,
sua função sócio-política: ele deixa de ser uma manifestação ídeo-política contra a burguesia,
tornando-se funcional no ataque desta ao novo sujeito revolucionário, o proletariado. Dessa forma,
o pensamento conservador concentra suas forças para combater e repudiar qualquer revolução e
reatualiza o seu núcleo-força, já que “o pensamento conservador passa a se definir explicitamente
como contra-revolucionário” (Escorsim, ibdi: p. 58). Entretanto, a funcionalidade que o
conservadorismo assume vai implicar em alterações, inclusive, na sua estrutura interna, pois os
traços ideológicos constitutivos da sua estrutura de pensamento serão recombinados e, para isso,
176
subordinados ao positivismo, produzindo uma articulação científico-social85.
O resultado dessa articulação é o positivismo cientificista da segunda metade do século XIX,
cujas bases fundam as modernas ciências sociais (consideradas por Lukács um importante
componente da cultura burguesa do período da decadência). O pensamento conservador volta-se,
nesses termos, para a construção de um conjunto de conhecimentos que buscam controlar e regular
a dinâmica da vida social – mesmo que pelo caminho de reformas limitadas à ordem burguesa – e,
dessa forma, neutralizar a premente ameaça da revolução proletária. Desse processo nasce, no
conjunto das ciências sociais, a sociologia, que é manifestação própria do conservadorismo pós1848 e alimenta a veia da especialização que colide frontalmente com a perspectiva de totalidade,
necessária para analisar e se contrapor teórico e politicamente à ordem burguesa (cf. Netto, 1981).
O fato da ciências sociais burguesas não consigam superar uma
mesquinha especialização é uma verdade, mas as razões não são as
apontadas. Não residem na vastidão da amplitude do saber humano, mas
no modo e na direção de desenvolvimento das ciências sociais modernas.
A decadência da ideologia burguesa operou nelas uma tão intensa
modificação, que não se podem mais relacionar entre si, e o estudo de
uma não serve mais para promover a compreensão da outra. A
especialização mesquinha tornou-se o método das ciências sociais”
(Lukács apud Netto, 1981: p. 122).
O nascimento da sociologia, como disciplina independente e o desenvolvimento da sua
razão miserável (Coutinho, 1972), fez com que o tratamento do problema da sociedade deixasse de
lado a sua base econômica e apartasse a relação orgânica existente entre as questões sociais e as
questões econômicas, constituindo, a partir dessa suposta independência de esferas, o ponto de
partida metodológico da sociologia. E como grande representante do conservadorismo produzido
nesse período, e particularmente sob a marca do cientificismo, Durkheim conjuga a formulação de
um método que ele denomina de adequado para investigar a sociedade, com a elaboração de um
sistema social que busca combater os vetores teóricos e políticos dos fenômenos da crise e da
revolução sociais. Escorsim chama atenção para o fato de, na obra de Durhkeim, “encontramos a
mais clara e consciente abordagem para encontrar alternativas à crise e à revolução numa ótica de
integração social que recupera os valores básicos do conservadorismo” (ibid: p. 62; negrito do
original).
Para Durkheim, são necessárias reformas sociais para enfrentar o problema das questões
sociais, que supõem, previamente, uma reforma moral: a socialização dos indivíduos tem destaque
nas elaborações do autor, que defende a educação como forma de disciplinar o organismo social. E
85
Ao tratar dessa alteração que sofre o pensamento conservador no pós-1848, Escorsim indica também que,
“alinhando-se agora na defesa da ordem burguesa contra a ameaça revolucionário-socialista, ele [o pensamento
conservador] tende tanto a estruturar-se como filosofia social quanto como conhecimento científico-social [...]”
(ibid: p. 60).
177
aliada à sociologia, compõem as propostas fundamentais para superar a crise social e moral da
sociedade moderna. O pensamento conservador de Durkheim objetiva, por um lado, a construção
de uma moralidade que seja capaz de se impor e, consequentemente, ser absorvida pelos indivíduos
para a construção harmônica da ordem social vigente. Dessa forma, o pensamento conservador vai
revelando sua funcionalidade orgânica à ordem burguesa e expõe, de modo mais desenvolvido, suas
novas armas em defesa das relações sociais existentes. Apresentando as regras do seu método
sociológico86, Durkheim mesmo destaca o caráter conservador da sua sociologia, visto que afirma a
imutabilidade da natureza social. Nas palavras do autor:
Nosso método, […], nada tem de revolucionário. Num certo sentido, é até
essencialmente conservador, pois considera os fatos sociais como coisas
cuja natureza, ainda que dócil e maleável, não é modificável à vontade.
Bem mais perigosa é a doutrina que vê neles apenas o produto de
combinações mentais, que um simples artifício dialético pode, num
instante, subverter de cima a baixo!(Durkheim, 1995: XIII).
No movimento para desvendar melhor o pensamento conservador de Durkheim, Löwy
destaca que é o método positivista durkheimiano que permite legitimar, de modo contínuo, devido
seus argumentos científico-naturais, a ordem burguesa. Este conservadorismo fundamental, que
perpassa a toda proposta metodológica de Durkheim, pode ser conciliado “tanto com o
'racionalismo individualista' como com o 'autoritarismo', tanto com o liberalismo como com o
tradicionalismo, ou ainda com uma combinação sui generis dos dois (que é provavelmente a
característica central do pensamento político de Durkheim)” (Löwy, 2007: p. 30; destaques do
original). Assim, o conservadorismo durkheimiano infirma, contundentemente, a possibilidade da
transformação social substantiva, na medida que reclama a necessidade de estabilidade social frente
aos tropeços das crises a partir da integração social e da certeza da invariabilidade das leis sociais.
O traço marcante, indubitavelmente, é a função social que o conservadorismo assume:
este conservadorismo tipifica exemplarmente a maturação plena do
pensamento conservado refuncionalizado – isto é, sem colisões essenciais
com a ordem burguesa. Estamos bem distanciados do apelo restaurador
original do conservadorismo e do confessionalismo de De Bonald; o que
é elementar, agora, é a negação de qualquer possibilidade revolucionária
(Escorsim, ibid: p. 64).
b) Anticapitalismo romântico e conservadorismo
86
É publicada em 1895 a obra de Durkheim As regras do método sociológico, na qual ele expõe o seu método que
orienta, de modo decisivo, a disciplina que estava se formando, a sociologia. Seu ponto de partida, anunciado nesse
texto, considera que, para o estudo da sociedade, “os fatos sociais devem ser tratados como coisas” e determina um
conjunto de regras necessárias para a apreensão imparcial dos fatos sociais.
178
Em total sincronia com o processo da decadência ideológica burguesa, Lukács analisa, a
partir da realidade alemã de finais do século XIX e início do século XX, o romantismo e identifica
um problema central da ideologia e da literatura que passam por ele e o articula, renovadamente, ao
conservadorismo. Compreendendo que o romantismo é, também, um estilo de pensamento que
desenvolve uma defesa, mesmo que não aberta, do capitalismo, buscamos identificar sua
importância e incidência na dinâmica ídeo-política.
O romantismo é, sem dúvidas, um dos conceitos mais difíceis de se definir na cultura
moderna, pois quanto a ele existem inúmeras controvérsias. A multiplicidade de interpretações
dificulta seu estudo, especialmente nas ciências sociais. Se buscarmos uma definição nos manuais
de literatura é possível defini-lo, genericamente, como uma escola literária que apareceu nos finais
do século XVIII na Alemanha, França e Inglaterra, é suplantada, na segunda metade do século XIX,
pelo naturalismo (cf. Manguel, 1997). A própria literatura aponta o surgimento de um chamado neoromantismo (fins do século XIX e inícios do XX), o que mostra uma constante tendência reativa,
característica do romantismo. Não é o caso de tentar buscar várias definições do que é o
romantismo nos ramos especializados do conhecimento. No nosso entendimento teóricometodológico, existe uma sistematização já elaborada por alguns marxistas, nos quais podemos
encontrar boas e seguras, mas nem todas em consonância, análises para entender o que é o
romantismo.
O romantismo, na perspectiva de Michael Löwy (1938), representa um tipo de pensamento
que constitui uma “visão de mundo” que interpreta, mobiliza e projeta elementos ídeo-culturais que
atuam na crítica ou na conformação ao capitalismo. Na análise do autor, o romantismo é uma forma
cultural que se manifesta em vários terrenos e em vários níveis da atividade cultural e que critica a
civilização industrial burguesa em nome de certos valores culturais, sociais, religiosos, morais,
estéticos, do passado pré-capitalista e de certas formas sociais reais ou imaginárias do passado. Para
estudar o romantismo, Löwy elabora uma espécie de “tipo ideal”, aos moldes da proposta
metodológica weberiana, e reúne uma diversidade de pensadores e perspectivas de pensamento em
grupos, formando uma tipologia do romantismo, que vai desde o romantismo reacionário, passando
pelo conservador, entre outros, até o que ele chama de romantismo revolucionário (cf. Löwy e
Sayre, 1995).
Nesta ótica, o autor afirma que “o romantismo é por essência anticapitalista” (ibid: p. 30) e
direciona suas críticas ao modo de vida da moderna sociedade capitalista. Esmiuçando essa
concepção, Löwy observará que a visão romântica é apenas uma modalidade de crítica do mundo
moderno, “cuja especificidade é desenvolver esta crítica do ponto de vista de um sistema de valores
– em referência a um ideal – do passado” (ibid: p. 49). Esse entendimento implica, para o autor, a
necessidade de se distinguir a crítica romântica ao capitalismo das outras formas de anticapitalismo.
179
Para isso, Löwy busca precisar quais são os aspectos da cultura moderna que são enfrentados pela
crítica romântica, aspectos que reproduzimos no seguinte esquema87:
•
o desencantamento do mundo (a que responde com o reencantamento da natureza e com os
mitos);
•
a quantificação e a mecanização do mundo (a que responde com o culto do orgânico, do
natural);
•
a abstração racionalista (a que responde com a valorização das premonições, intuições e
formas de irracionalismo);
•
a dissolução dos vínculos sociais (a que responde com a valorização da comunidade).
Esses são os elementos que o romantismo repudia, e, para eles, aponta alternativas. Mas se
esses são importantes aspectos do pensamento romântico identificados por Löwy
e que o
qualificam como pensamento anticapitalista - e isto é inteiramente verdadeiro -, esses mesmos
aspectos, na medida que são uma crítica a apenas alguns elementos culturais da modernidade, são
apropriados e servem para justificar elementos de conservação da ordem burguesa. Dito de outra
forma: “tudo aquilo que repugna à sensibilidade romântica são os traços da modernidade contra os
quais se estruturou o conservadorismo clássico” (Escorsim, ibid: p. 218). Assim, mesmo
considerando fundamental para o entendimento do romantismo e sua caracterização a análise
cuidadosa e meticulosa de Löwy, que enfatiza principalmente seu conteúdo anticapitalista que busca
rupturas revolucionárias com a ordem burguesa, há que observar que o estudioso subestima os
componentes fundamentalmente conservadores e que oferecem substrato ídeo-político e cultural à
construção de uma crítica inócua à ordem vigente.
De modo divergente à compreensão de Löwy, e obviamente anterior a ele, o grande marxista
húngaro György Lukács (1885), estudando o mesmo fenômeno ídeo-cultural, o romantismo, cunhou
a expressão anticapitalismo romântico, por entender que o romantismo é uma reação ao capitalismo
e que vem se deslocando cada vez mais politicamente para a direita, encontrando-se imerso
fundamentalmente na problemática conservadora.
Na sua análise sobre o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha, Lukács demonstra
como a evolução da sociologia alemã é marcada por um amplo processo de mistificação
subjetivista. Ele destaca que a obra seminal de Tönnies – Comunidade e Sociedade (1887) inaugura a antítese entre “comunidade” e “sociedade”, que irá formar a base da nascente sociologia
alemã. A “antítese entre a sociedade primitiva sem classes e o capitalismo nascido no curso da
evolução político-social” (Lukács, 1981: p. 140), elaborada por Tönnies, introduzirá uma nova
forma de pensar a sociedade, de modo que atualizará diretrizes anteriores do velho romantismo.
Nesta linha, Lukács revela que a polarização construída entre comunidade e sociedade só será
87
O esquema que utilizamos foi organizado por Escorsim na sua investigação sobre os aspectos do conservadorismo
presentes no romantismo de Michael Löwy. (cf. id. ibid: p. 218).
180
possível devido a uma re-elaboração ideológica própria do período da decadência que comparece no
pensamento do autor.
Tudo isso [a sociologia de Tönnies], naturalmente, com uma radical
revisão das ideias fundamentais contidas nas fontes. Em primeiro lugar,
desaparece qualquer economia concreta, ainda que de modo menos
radical que nos posteriores sociólogos alemães. Em segundo, as
formações
sociais
concretamente
históricas
são
volatilizadas
e
convertidas em “essencialidades” meta-históricas. Em terceiro, no lugar
da base econômica objetiva da sociedade, surge também aqui um
princípio subjetivo: a vontade. Em quarto, a objetividade econômicosocial é substituída por um anticapitalismo romântico (Lukács, ibid: p.
140).
A “sociedade” aparece, nessa perspectiva, sendo ela o próprio capitalismo maduro visto à luz
do anticapitalismo romântico, sem nenhuma nostalgia de antigas condições sócio-econômicas
feudais, agora alicerçada numa visão mais liberal. Esta perspectiva formará “a base para uma crítica
da civilização capitalista, embora sublinhando ao mesmo tempo a inevitabilidade e a fatalidade do
capitalismo” (Lukács, ibid: p. 140). No outro polo, Lukács indica que o entendimento de
“comunidade” vai determinar o caráter dessa crítica ao capitalismo. “Trata-se da oposição entre o
que é morto e mecânico, ou seja, a 'sociedade', e o que é orgânico, ou seja, a 'comunidade'” (ibid: p.
140).
O anticapitalismo romântico, apesar de conter no seu núcleo uma reação romântica ao
capitalismo, não produz uma crítica que revele as contradições fundamentais próprias das relações
de produção e reprodução capitalistas; ao contrário, desenvolve uma apreciação mistificadora,
reforçando elementos culturais e políticos conservadores que estão subordinados e/ou subsumidos à
ideologia e à reificação da ordem burguesa. Um dos elementos característicos do anticapitalismo
romântico pode ser encontrado em inúmeras elaborações teóricas como, por exemplo, a falsa
oposição entre Cultura e Civilização. Lukács nos apresenta essa polarização e revela o seu
conteúdo:
Formulada conceptualmente, a antítese entre Kultur e Zivilisation assume
a seguinte forma, objetivamente falsa e enganosa: a Zivilisation, ou seja,
a evolução técnico-econômica, é favorecida pelo capitalismo e progride
continuamente; mas seu processo de afirmação é, em medida crescente,
prejudicial à Kultur (arte, filosofia, vida interior do homem); a oposição
entre ambas se acentua cada vez mais, até determinar uma tensão trágica
e sustentável. Pode-se ver aqui como o dado real do desenvolvimento
capitalista, já registrado por Marx, é deformado em sentido subjetivista e
irracionalista, de modo a conduzir a um anticapitalismo romântico (ibid:
p. 141; itálicos do original).
181
O tratamento da sociedade em oposições aparentemente antagônicas alimenta o
anticapitalismo romântico na sua funcionalidade, pois a crítica à base econômica da civilização
capitalista é promovida deduzindo dela os chamados desvios dos valores sócio-culturais, que
promovem uma cultura de indivíduos desajustados e não orgânicos socialmente. Elimina-se a
objetividade na apreensão da realidade da vida social sob o domínio do capital, dando lugar a uma
vulgata subjetivista de interpretação e percepção da ordem vigente. E eventuais tendências mais
“rebeldes” do anticapitalismo romântico podem ser, a partir dessa falsa polarização, canalizadas
para uma crítica inócua da cultura. Dessa forma, Cultura e Civilização, quando bem entendidas, não
podem ser conceitos antitéticos, pois são determinações da totalidade social da qual a primeira é a
expressão que, contendo todas as atividades humanas, revela o grau do processo pelo qual o homem
consegue ir afastando cada vez mais as barreiras naturais da sua constituição e a segunda indica um
estágio temporal que se realiza após a superação histórica da barbárie (cf. Lukács, 1981).
É evidente que o surpreendente contraste entre o rápido desenvolvimento das forças
materiais de produção e os processos de decadência cultural e de empobrecimento material (em
particular, o fenômeno contemporâneo da pobreza) que se manifestam na sociedade levou, e
continua levando, inúmeros pensadores e intelectuais a fragmentar o campo unitário da civilização
humana, opondo elementos que são, para aqueles, desenvolvidos no capitalismo (a exploração, a
mecanização, a destruição ecológica) a outros componentes sócio-políticos e culturais (a
comunidade, a participação, a democracia, a solidariedade, o retorno à terra) que estariam postos em
perigo por aqueles primeiros elementos, supostamente próprios do sistema capitalista. Está na base
dessa falsa oposição um dado que pressupõe uma generalização a-histórica da formação sóciofuncional desses conceitos. Ou seja, a polarização, que está de partida deslocada historicamente –
mesmo que sejam desenvolvidos análises que remetam à própria evolução da humanidade (por
exemplo: o caso da democracia, que invariavelmente se remete à Grécia clássica num tom sempre
nostálgico) – não consegue, por essa indução antitética, apreender as tendências objetivas e as
particularidades que operam naquela sociedade historicamente determinada. Dessa forma, a
imediata e subjetiva análise do desenvolvimento do capitalismo, porque se coloca inicialmente
questões falsas, remete a elaboração de também igualmente falsas e desistoricizadas soluções. No
caso da reação anticapitalista romântica a solução, em geral, indica uma exaltação de valores
culturais conservadores em face do progresso e da modernidade da ordem burguesa. Lukács nos
indica, todavia, que quanto mais se aprofunda a decadência ídeo-cultural da burguesia e seus
apologistas (como a influência crescente da filosofia da vida de Nietzsche na sociologia e nas
ciências sociais como um todo) promovem uma aproximação dessas falsidades às tendências
retrógradas da época, mais se aprofunda e “energicamente se verifica um retorno ao passado, tanto
mais ahistórica se transforma a problemática da questão” (1981: p. 144).
182
A evolução dessa polarização, que transforma os resultados da industrialização urbana e do
capitalismo em aspectos moralmente negativos e reivindica valores culturais desconectados das
suas reais funções na ordem burguesa, alimenta uma tendência que se renova constantemente: a
polarização abstrata que a filosofia e outras ciências sociais formam entre ter e ser, valorizando uma
suposta essência do indivíduo em contraposição à aparência material das coisas.
E a dialética imanente do desenvolvimento ideológico no após-guerra
implica, como consequência necessária, que a atitude de condenação se
estenda cada vez mais também à Kultur, quer Kultur e Zivilisation sejam
igualmente repudiadas em nome da “alma” (Klages), da “existência
autêntica” (Heidegger), etc (Lukács, ibid: p. 144; destaques do original).
Essa existência autêntica, que passa pela necessária valorização do indivíduo, ocorre “numa
estrutura eterna que se desloca acima da história e implica em um contínuo contraste com a
estrutura social” (ibid: p. 144) e desenvolve, sucessivamente, oposições e polarizações nas quais o
lado positivo indica sempre uma reação à ordem social vigente, mesmo que tal reação advogue
soluções inscritas na estrutura sócio-econômica capitalista. O que conduz a reação romântica a uma
crítica abstrata e funcional, também por isso conservadora. Ao resgatar essa estrutura na evolução
ideológica burguesa, Lukács afirma que “não somente família e contrato (direito abstrato) são
apresentados como termos opostos, mas também as oposições entre mulher e homem, juventude e
velhice, povo e pessoas cultas, refletem a oposição entre comunidade e sociedade. Surge assim todo
um sistema de conceitos abstratamente inflados e opostos entre si” (ibid: p. 144). Na trilha desta
argumentação, podemos indicar também a contemporânea polarização que é feita entre uma
economia solidária e uma economia capitalista, de modo que a solidariedade aparece como
constitutivo diferencial que positiva essa organização econômica, mesmo que ela esteja
completamente inscrita nos processos sócio-culturais do atual desenvolvimento ídeo-econômico do
capitalismo. A solidariedade (ou a participação, a democracia, a relação do homem com a natureza)
não é, em si, uma definição que possa se eximir da devida historicização, e que seja, também ela,
resultado das tendências objetivas e condições subjetivas que operam na processualidade da
totalidade social. Por isso, deduzir uma suposta existência autônoma da economia solidária em face
da base ídeo-política e econômica do capital parece-nos expressão de uma reação tipicamente
anticapitalista romântica. “Essa anti-histórica e arbitrária extensão de conceitos que, em sua origem,
foram extraídos de análises concretas de formações sociais concretas, não só esvazia o significado
dos mesmos, […] mas acentua o seu caráter de anticapitalismo romântico” (Lukács: ibid: p. 144).
De acordo com Lukács, no campo das ideologias burguesas, o período da decadência
comporta não só uma apologia simples e direta do capitalismo (como é o caso de A. Ure, na
economia), mas ainda uma apologia indireta, de matriz romântica e/ou irracionalista (como é o caso
de Max Weber e sua sociologia). O autor observa, sobre essa apologia indireta, própria do
183
romantismo: “a partir da crítica romântica do capitalismo, desenvolve-se uma apologética mais
complicada e pretensiosa, mas não menos mentirosa e eclética, da sociedade burguesa: sua apologia
indireta, sua defesa a partir de seus 'lados maus'” (Lukács, 1968: p. 55). A reação anticapitalista
romântica, se, por um lado opera uma crítica da ordem capitalista, por outro, desenvolve uma real
apologia que, nos termos lukacsianos, indiretamente alimenta os valores culturais, morais,
religiosos e estéticos de conservação da ordem burguesa. Se o antigo anticapitalismo romântico teve
ímpetos reacionários em fase do capitalismo, na atualidade é o conservadorismo, de diversas fontes,
que predomina e dinamiza seu núcleo central.
Como se constata, o pensamento conservador e o anticapitalismo romântico foram, na sua
gênese, legatários de críticas que denunciavam, o primeiro, a chamada “degradação” da ordem
social, o segundo parte das desigualdades que nasciam com a revolucionária ascensão política da
burguesia e o desenvolvimento da industrialização. Resultante do processo de decadência
ideológica, os dois (pensamento conservador e anticapitalismo romântico) sofrem um giro que
altera seu significado, fortalecendo no seu núcleo o vetor-força conservantista e tornando-os,
sistematicamente, funcionais ao capitalismo.
c) Conservadorismo e Serviço Social
A compreensão do Serviço Social e das respostas que os assistentes sociais desenvolvem às
demandas profissionais frente às requisições, cada vez mais atualizadas, das manifestações da
questão social no capitalismo dos monopólios, implica situar algumas marcas que acompanham
historicamente a profissão, e que conferem traços peculiares ao exercício profissional: o
conservadorismo e as modalidades de pensamento que o alimentam no Serviço Social. Se é verdade
que não é possível analisar o Serviço Social e seu desenvolvimento histórico sem confrontá-lo com
as suas genéticas vinculações com o pensamento conservador, não é verdadeiro que a introdução e
evolução de uma perspectiva crítica vinculada ao marxismo no debate teórico do Serviço Social
exorcize por completo o pensamento conservador do seu interior, ou mesmo cancele os elementos
conservadores que se encontram na medula da intervenção profissional. Isto posto, buscamos, na
nossa pesquisa, resgatar algumas indicações que revelam a atualidade do conservadorismo nos
ambientes profissionais.
O estatuto profissional do Serviço Social, a partir das análises de Netto, é investigado sob
uma dupla determinação: as demandas postas socialmente à profissão e as reservas de forças
teóricas e prático-sociais acumuladas pela profissão, capazes ou não de responder a essas demandas
externas. A tese defendida pelo autor é a de que da natureza sócio-profissional do Serviço Social,
posta a carência de um referencial teórico crítico-dialético, emerge um exercício profissional
medularmente sincrético (1992: p.88). Em suas palavras,
184
O sincretismo nos parece ser o fio condutor da afirmação e do
desenvolvimento do Serviço Social como profissão seu núcleo
organizativo e sua norma de atuação. Expressa-se em todas as
manifestações da prática profissional e revela-se em todas as intervenções
do agente profissional como tal. O sincretismo foi um princípio
constitutivo do Serviço Social (ibid: p. 88; grifos nossos).
Para o autor, essa estrutura sincrética da profissão tem três fundamentos objetivos: 1) na
essência mesmo do seu universo problemático original, ou seja, a “questão social” que se
apresentou como núcleo de demandas histórico-sociais; 2) o horizonte de seu exercício profissional,
leia-se o cotidiano; e, 3) a sua modalidade específica de intervenção, centrada na manipulação das
variáveis empíricas.
As demandas que estruturam a requisição profissional advêm, de acordo com Netto, da
multiplicidade problemática engendrada pela questão social, enquanto complexo de problemas e
mazelas intrínsecos à ordem burguesa consolidada e madura - mais expressamente, quando o
ingresso no estágio imperialista leva a questão social a se refratar para além do campo imediato de
antagonismos que a materializava, ou seja, o universo fabril. Tratou-se mesmo de um movimento
correlato, visto que, na medida em que se realiza a expansão monopólica do capital, mais aumenta a
expansão das problemáticas relacionadas à questão social. Neste momento específico, em que as
refrações da questão social são amplificadas e espraiadas em toda a tessitura social, torna-se
possível que seja recortada como um setor legítimo para a intervenção profissional.
É o Estado, que refuncionalizado88 pela classe burguesa, passa a responder de maneira mais
significativa às amplificações das problemáticas relacionadas à questão social e, ao fazê-lo,
manipula as referidas respostas pela via da fragmentação. Por meio das políticas sociais se opera de
maneira extensiva o enfrentamento da questão social, tomada a partir de sua fenomenalidade e
tornada problemas isolados passíveis de tratamento pelas “especializações” da divisão social do
trabalho, como é o caso do Serviço Social. Para os profissionais, dada essa mecânica estabelecida
no jogo institucional, aparece uma ineliminável heterogeneidade de situações, que são formalmente
homogeneizados pelos procedimentos burocrático-administrativos que realizam no âmbito
institucional. Nestes termos,
a problemática que demanda a intervenção operativa do assistente social
se apresenta, em si mesma, como um conjunto sincrético; a sua
fenomenalidade é o sincretismo – deixando na sombra a estrutura
88
Significa mesmo dizer que um componente, mesmo amplo, de legitimação é plenamente suportável pelo Estado
burguês no capitalismo monopolista; e não apenas suportável como necessário para que ele possa desempenhar sua
funcionalidade econômica. Netto assim se expressa: demandas econômico-sociais e políticas imediatas de largas
categorias de trabalhadores e da população podem ser contempladas pelo Estado burguês no capitalismo
monopolista não significa que seja a sua inclinação “natural”, nem que ocorra “normalmente” – o objetivo dos
superlucros é a pedra de toque dos monopólios e do sistema de poder político de que eles se valem; entretanto,
respostas positivas a demandas das classes subalternas podem ser oferecidas na medida exata em que elas mesmas
podem ser refuncionalizadas para os interesses diretos e/ou indireto da maximização dos lucros (1992: p. 25).
185
profunda daquela que é a categoria ontológica central da própria
realidade social, a totalidade89 (ibid: p.91).
O segundo elemento do sincretismo aparece associado a essa heterogeneidade aludida, mas
não pode ser tomado unilateralmente, porque, como o próprio autor destaca, essa problemática
comparece para uma gama de outras profissões. Por isso, ganha relevo o horizonte em que se exerce
a atividade profissional do assistente social, ou seja, as objetivações humanas relativas à esfera do
cotidiano.
Aqui, objetivamente, estamos no campo da análise fundamentalmente lukacsiana sobre esta
esfera, mas derivada para pensar a prática profissional. Esta esfera – o cotidiano – tomada
corretamente, no nosso entendimento, é demonstrada como insuprimível da vida em sociedade, o
que não significa que seja a-histórico, mas que é o locus onde a reprodução do gênero humano se
encontra velada, pois, a superficialidade extensiva é uma de suas determinações fundamentais.
Nesse locus tem-se uma gama de fenômenos que comparecem em cada situação precisa, mas
não se estabelece uma relação que os vincule (Cf. Netto e Carvalho, 1996). Ao mesmo tempo,
determinado historicamente, o cotidiano assume uma funcionalidade específica na sociedade
burguesa, na medida em que, com a complexificação do capitalismo, a reificação típica a essa
ordem tem se universalizado por meio da forma mercadoria e encharcado todas as esferas da vida
dos homens e mulheres. Pelo cotidiano, essa entronização dá-se de forma quase invisível. Em outras
palavras, trata-se mesmo do processo pelo qual, na imediaticidade da vida social, universalizam-se
os processos de alienação que estão implicados na mercadoria, processos que passam a dominar a
totalidade das relações de produção e reprodução90 (Cf. Netto, 1981a).
Logo, o cotidiano, enquanto locus do fazer profissional, coloca para a intervenção
profissional os mesmos condutos da cotidianidade, o que significa que, em sendo a heterogeneidade
ontológica do cotidiano o espaço do encaminhamento técnico e ideológico, ele não favorece
processos de suspensão ou operações de homogeneização. E, dessa forma, a profissão adquire, aí,
uma funcionalidade na medida em que organiza esses componentes heterogêneos, manipulando-os
planejadamente “e ressituando-os no âmbito desta mesma estrutura do cotidiano” (Netto e
Carvalho, 1996: p. 92).
Assim, a modalidade específica de intervenção do Serviço Social, ou seja, a manipulação de
89
90
Vê-se que aqui o autor introduz no debate profissional – agora com um campo mais amplo de determinações na
medida em que está analisando a natureza da profissão e sua forma de realização – a questão da totalidade, tal como
a conceitualizou Lukács. (Cf. Netto, 1992: p.91).
Para Netto, “na idade avançada do monopólio, a organização capitalista da vida social preenche todos os espaços e
permeia todos os interstícios da existência individual: a manipulação desborda a esfera da produção, domina a
circulação e o consumo e articula uma indução comportamental que penetra a totalidade da existência dos agentes
sociais particulares – é o inteiro cotidiano dos indivíduos que se torna administrado, um difuso terrorismo psicosocial se destila de todos os poros da vida e se instila em todas as manifestações anímicas e todas as instâncias que
outrora o indivíduo podia reservar-se como áreas de autonomia (a constelação familiar, a organização doméstica, a
fruição estética, o erotismo, a criação dos imaginários, etc.) convertem-se em limbos programáveis” (Netto, 1981a,
p.81-82).
186
variáveis empíricas de um contexto determinado, casa-se perfeitamente com o aparente sincretismo
que recobre os fenômenos derivados da problemática da questão social. Essa intervenção social,
assim posta e compreendida, só pode demandar um tipo de conhecimento que seja ele mesmo
instrumentalizável. Em outras palavras, o que essa intervenção manipuladora reclama “são
paradigmas explicativos aptos a permitirem um direcionamento de processos sociais tomados
segmentarmente” (Netto, 1992: p. 94). Assim, do sincretismo derivado do espaço sócio-ocupacional
temos um sincretismo que se estende para o âmbito ídeo-teórico 91. Está, pois, aberto o flanco para o
referencial teórico-cultural que funda as ciências sociais particulares, com seu pragmatismo e
empirismo, caucionado na lógica formal-abstrata que interdita a possibilidade de os homens se
reconhecerem como sujeitos históricos pela via das teorias sociais - retroalimentando o
conservadorismo. Netto situa, de modo extremamente apropriado, o debate da decadência
ideológica da burguesia e o limite das “ciências sociais” que se põem nesse lastro como o espelho
da cisão das relações sociais em objetos segmentados tal e como a divisão social do trabalho.
Com base nessas referências, o autor postula a determinação entre o sincretismo e a prática
profissional indiferenciada no Serviço Social. Na ausência de uma concepção teórico-social
matrizada no pensamento crítico-dialético, Netto verifica que a profissionalização altera de modo
significativo a inserção sócio-ocupacional do assistente social, mas fere muito pouco a forma da
estrutura da prática profissional interventiva em relação com a prática filantrópica. Ou seja, mesmo
a profissionalização tendo criado um ator novo, cuja prática é articulada por um sistema de saber e
vinculada a uma rede institucional, a intervenção desse profissional não se altera.
Nesse sentido, para o autor, a estrutura da prática interventiva – no tocante à sua
operacionalidade – reveste-se de uma aparência indiferenciada, que é similar às suas protoformas.
Isso se explica por dois elementos fundamentais e que se processam no movimento mesmo da
realidade, ou seja, extrapolam a prática profissional, quais sejam: “as condições para a intervenção
sobre os fenômenos sociais na sociedade burguesa consolidada e madura e a funcionalidade de seu
Estado no confronto com as refrações da 'questão social'” (Netto, ibid: p. 84).
No primeiro ponto, trata-se de dar ênfase ao movimento da sociedade burguesa que aparece
como imediaticidade e positividade. Esse elemento opera um brutal obscurecimento dos problemas
de fundo que são colocados pelo movimento social real. Nesse sentido, no plano intelectual e
técnico, não se superam as regularidades epidérmicas da ordem burguesa. Em outras palavras,
no plano da articulação teórica, ultrapassa o senso comum com uma
formulação sistemática, entretanto sem desbordar o seu terreno; no plano
da intervenção, clarifica nexos causais e identifica variáveis prioritárias
para a manipulação técnica, desde que a ação que sobre elas vier a incidir
91
Não trabalharemos aqui o “sincretismo cientifico” e o “sincretismo ideológico” abordados pelo autor –concentrarnos-emos no debate da prática indiferenciada, pois ai localizamos o nó que alimenta a relação Serviço Social e
conservadorismo.
187
não vulnerabilize a lógica medular da reprodução das relações sociais
(Netto, ibid: p. 97-98).
No segundo ponto, o caráter mesmo de que se revestem as políticas sociais sob o aparato do
Estado burguês, cuja intervenção tende a ressituar sobre bases mais ampliadas as refrações da
questão social, mas nunca pode promover a sua eversão. Nesse sentido, sendo o desempenho
profissional indissociável das políticas sociais, ou seja, nas condições dadas pelos parâmetros que
balizam a sua operacionalização, “o máximo que se obtém com seu desempenho profissional é uma
racionalização de recursos esforços dirigidos para o enfrentamento das refrações da 'questão social'”
(id, ibid: p. 99).
Dessa forma, os limites apontados pelo autor não são endógenos nem pertinentes apenas ao
exercício do Serviço Social92. Mas aparece como sendo endógeno à profissão, na medida em que a
sua funcionalidade sócio-profissional é demarcada pelo tratamento das refrações da questão social.
Nesses termos, a “especificidade profissional converte-se em incógnita para os assistentes sociais: a
profissionalização permanece um circuito ideal que não se traduz operacionalmente” (id, ibid: p.
100). A mais nítida consequência dessa peculiaridade operatória, ou seja, do sincretismo práticooperatório, é justamente a aparente intervenção indiferenciada do assistente social, e a aparente
polivalência.
É próprio da prática que se toma sincreticamente não somente a sua
translação e aplicação a todo e qualquer campo e/ou âmbito, reiterando
procedimentos
formalizados
abstratamente
e
revelando
a
sua
indiferenciação operatória. Combinando senso comum, bom senso e
conhecimentos extraídos segundo prioridades estabelecidas por via da
inferência teórica ou de vontade burocrático-administrativa; legitimando
a intervenção com um discurso que mescla valorações das mais
diferentes espécies, objetivos políticos e conceitos teóricos; recorrendo a
procedimentos técnicos e a operações ditadas por expedientes
conjunturais; apelando a recursos institucionais e a reservas emergenciais
e episódicas – realizada e pensada a partir desta estrutura heteróclita, a
prática sincrética põe a aparente polivalência. Esta não resulta senão do
sincretismo prático-profissional: nutre-se dele e o expressa em todas as
suas manifestações (Netto, ibid: p.101-102).
Postas essas questões localizamos aqui, no entendimento postulado da prática indiferenciada
e no sincretismo, aquele que seria o nó problemático a que nos referimos anteriormente,
particularmente a relação com a herança conservadora da profissão. Na divisão social e técnica do
trabalho, é fundante da profissão a demanda pela reprodução das relações capitalistas de produção,
ou seja, o Serviço Social nasce com um mandato vinculado, organicamente, às modalidades ídeo92
O autor destaca aqui esse universo como pertinente a todas aquelas profissões que estão envolvidas nas políticas
sociais.
188
políticas e sócio-econômicas da positividade da ordem burguesa. A crítica ao pensamento
conservador e a algumas formas de conservadorismo profissional (especialmente aquele vinculado
ao positivismo e àquelas expressões da moral religiosa e da moral psicologizante), que vem sendo
realizada nos últimos trintas anos pela matriz teórico-metodológica vinculada ao marxismo, abriu
grande espaço para se formular novas análises e novas práticas profissionais; todavia, não eliminou
o conservadorismo do campo profissional, porque esse é um dos cimentos que propicia tessitura à
ordem burguesa, como é constitutivo na prática profissional sincrética e indiferenciada. O Serviço
Social como instituição componente da organização da sociedade não pode fugir a essa realidade.
Iamamoto e Carvalho indicam claramente esta tensão:
Como as classes sociais fundamentais e suas personagens só existem em
relação, pela mútua mediação entre elas, a atuação do Assistente Social é
necessariamente polarizada pelos interesses de tais classes, tendendo a ser
cooptada por aqueles que têm uma posição dominante. Reproduz
também, pela mesma atividade, interesses contrapostos que convivem em
tensão. […] A partir dessa compreensão é que se pode estabelecer uma
estratégia profissional e política para fortalecer as metas do capital ou do
trabalho, mas não se pode excluí-las do contexto da prática profissional
(1994: p. 75).
De acordo com a autora, essa polarização é o que viabiliza, por exemplo, a possibilidade das
estratégias profissionais colocarem-se no horizonte dos interesses das classes trabalhadoras, mas
sem eliminar, do significado e da efetividade da prática profissional, o conteúdo conservantista dos
interesses das classes dominantes. Nestes termos, as respostas que são elaboradas no Serviço Social,
independente da vontade e intenção dos sujeitos profissionais, têm seu resultado intimamente
encharcado de conservadorismo: seu significado sócio-funcional, anteriormente discutido nesta
tese, remete à positivação do sistema sócio-cultural capitalista. Assim, concordamos inteiramente
com Netto (1992) quando afirma que enquanto a demanda que sustenta o Serviço Social existir, o
conservadorismo estará presente na profissão, sempre atualizando-se para responder adequadamente
às requisições que se apresentam; daí as formas neoconservadoras contemporâneas, que já foram
devidamente analisadas (por exemplo, em Santos, 2007) e não iremos reiteradas-las aqui.
Os problemas que são colocados na atualidade pela crise capitalista contemporânea,
especialmente os derivadas da exponenciação da questão social e da aparente ausência (acentuada
pela dissolução do “socialismo real”) de qualquer alternativa fora dos marcos da ordem burguesa,
vêm revelando renovadas causalidades que incidem sobre o pensamento conservador e jogam mais
água no seu moinho. Se não reivindicarmos uma reflexão fundamentada na teoria social embasada
189
numa perspectiva de totalidade, e isso é obviamente uma esfera do combate à ideologia burguesa,
caímos, invariavelmente, ou numa reação anticapitalista romântica que realiza uma apologia
indireta e funcional ao sistema capitalista, ou na defesa aberta da ordem social vigente, por meio da
razão miserável ou do irracionalismo - e dessas duas alternativas, inscritas na positividade
burguesa, o conservadorismo é um traço comum.
190
CONSIDERAÇÕES FINAIS
191
Ao término desta tese, pudemos visualizar, de fato, o risco que corremos desde o início da
nossa pesquisa, se considerarmos que buscamos analisar um processo em pleno desenvolvimento no
Serviço Social, cujas influências e tendências na sociedade estão em aberta circulação. Considero
que existem elementos suficientes para apresentar comprovada uma primeira hipótese que sustentou
animou a pesquisa: a de que há uma grande recepção, no interior do Serviço Social, do conjunto
ídeo-político e prático que caracteriza o movimento de economia solidária no Brasil. Uma economia
solidária cravada de concepções heterogêneas, de experiências e inserções diversificadas, de
sujeitos com posições sociais distintas, mas que, particularmente, cresceu e vem se consolidando a
partir das mudanças regressivas impostas ao trabalho no curso da atual ofensiva do capital.
Remetendo-nos ao movimento da exposição da nossa investigação, consideramos também
que outra de nossas hipóteses bastante fundamentada: a economia solidária não é uma alternativa
econômica anticapitalista. No bojo das grandes alterações que matizam as manifestações da questão
social, e atravessam o mundo contemporâneo, surge, com todas as suas contradições, um tratamento
ao trabalho, ao desemprego e à pobreza, que aponta para um processo de recomposição da ideologia
burguesa com suporte no que seria uma cultura da solidariedade (Mota, 1995). Este ambiente
social se manifesta de formas as mais diferenciadas, mas, sobretudo, no que nos interessa, introduz
no campo do trabalho largas mistificações com interesse em fragilizar a organização dos
trabalhadores, e ainda, arrefecer as suas resistências.
É neste caldo que a economia solidária está inscrita; assim, a sua inviabilidade como
alternativa anticapitalista traduz-se de duas formas: no terreno ídeo-político, é produzida uma
“narrativa lírica” que não se sustenta, pois a sua origem, se inscrita nas modalidades cooperativas e
autogestionárias do campo socialista, revela um deslocamento para o seu inverso, já que expressa,
na atualidade, uma solidariedade que não reflete uma identidade junto às classes trabalhadoras, mas
uma solidariedade indiferenciada, trans-classista e que termina por apagar qualquer rastro das
contradições que incidem nos interesses diametralmente diferenciados dos capitalistas e dos
trabalhadores. Por isso, a economia solidária abriga, no seu interior, organizações de naturezas
jurídicas e institucionais muito diferentes, e, especialmente, de posição de classe opostas, de modo
que o trabalho é autonomizado e tratado apenas sob os aspectos da gestão e da regulação
econômica. Assim, a economia solidária contribui para obscurecer em essência as relações de
trabalho, de produção e de organização do trabalho em que está inserida (cooperativa, associação
etc), particularmente modalidades de contratação da força de trabalho desprovidas de direitos
trabalhistas e subsumidas às atuais exigências da produção capitalista. O chamado “empreendedor”,
no campo da economia solidária, tem que empreender a si mesmo, visto que se processa, neste
192
ponto, uma brutal ideologização da condição de trabalhador, objetivando que este passe a
identificar-se com o capital. O resgate de proposições inscritas no caldo diversificado da tradição
socialista (solidariedade, cooperação, autogestão, mutualismo, utopia, trabalho autônomo etc) é
feito sem saturá-lo de diversas determinações, principalmente, sócio-históricas, produzindo um
constructo político encharcado de anticapitalismo romântico.
No terreno do factual, os empreendimentos de economia solidária revelaram-se atividades de
baixíssimo impacto econômico, pondo radicalmente por terra todas as análises e defesas da
economia solidária enquanto uma modalidade de geração de renda, dado o fato absurdo de que
praticamente 1/3 (um terço) dos empreendimentos de economia solidária existentes no país não
conseguirem, mês a mês, qualquer faturamento - isto demonstra, indubitavelmente, que não existe
nenhum movimento econômico alternativo sendo desenvolvido no interior da economia solidária e
que esta tentativa em afirmar que uma outra economia é possível nos marcos do capitalismo não
vem conseguindo passar de simples ocupação organizativa para parcelas, cada vez maiores, da
superpopulação relativa, com nítidas funções reificadas.
A nosso ver, esta economia solidária é absorvida pelo Serviço Social com todas essas
determinações problemáticas e vem comparecendo em âmbitos muito diversos do circuito
profissional. No campo da sua produção teórica sobre a economia solidária, e as atividades ligadas a
ela – que é o universo particular desta tese – identificamos três tendências (1- tendência de defesa
aberta da economia solidária e da ordem capitalista; 2- tendência de defesa direta da economia
solidária e indireta da positividade burguesa; 3- tendência à crítica da economia solidária) que são
responsáveis pela difusão do conjunto de perspectivas heterogêneas da economia solidária e uma
crítica a ela, no debate profissional. A primeira, ao defender a economia solidária, atrela-a às
necessidades de desenvolvimento de uma etérea sociedade civil no terreno de uma
propositadamente falsa sociedade pós-moderna. A segunda preocupa-se com as mudanças reais das
relações de trabalho e aponta a economia solidária como a melhor alternativa para combater o
desemprego, a pobreza e gerar renda, a despeito das funções ídeo-políticas e econômicas que ela
ocupa no atual processo de acumulação e na ofensiva neoliberal ao trabalho. Por último, a tendência
à crítica da economia solidária atenta para o fato de que esta é apenas a forma imediata, prenhe de
ideologia burguesa, de fenômenos próprios da reificação e da reestruturação capitalistas.
Assim, a nossa análise do conjunto da produção teórica do Serviço Social sobre a economia
solidária permite-nos diagnosticar a predominância de um entendimento, ainda que com elementos
residuais de crítica, que a considera como alternativa possível e necessária para o enfrentamento das
atualizadas manifestações da questão social, especialmente o recurso teórico e político a concepções
não rigorosas e ahistóricas de democracia, solidariedade, participação, autogestão e, note-se, de
economia, para se contrapor ao sistema capitalista, reivindicando, inclusive, a filiação orgânica dos
193
fundamentos da economia solidária ao projeto ético-político profissional. Fica evidente a
centralidade que é conferida, na maior parte da produção teórica do Serviço Social, aos aspectos
contraditórios e mistificados contidos no universo ídeo-político e prático da economia solidária.
Desta forma, o enfrentamento que é produzido na teoria e, possivelmente, na prática do Serviço
Social junto ao movimento e atividades solidárias, inscreve-se, precisamente, nas funções de
administração da questão social e das relações sociais capitalistas na ordem vigente, pois a
economia solidária expressa uma das modalidades atualizadas de conservadorismo e anticapitalismo
romântico que interagem, perfeitamente, com as formas de conservadorismo presentes no terreno da
teoria, da política e da prática do Serviço Social.
Apesar do anticapitalismo romântico conter no seu núcleo uma reação ao capitalismo, não
produz uma crítica que revele os fundamentos da ordem burguesa; ao contrário, desenvolve uma
apreciação mistificadora, reforçando valores culturais, econômicos, sociais e políticos
conservadores que estão subordinados à ideologia própria do sistema capitalista. Apesar da
consolidação de uma determinada direção social estratégica no Serviço Social – o marxismo – , esta
não cancela, nem a heterogeneidade teórica e política existente no conjunto profissional, nem
generaliza seus componentes ídeo-políticos à categoria profissional (Netto, 1996). O que permite,
objetivamente, que setores profissionais vinculem-se ao conservadorismo já existente e promovam
uma crítica, na perspectiva do anticapitalismo romântico, que não colide com os modelos de
intervenção profissional determinados a operar a integração social dos segmentos trabalhadores.
Nesta linha conclusiva, o universo teórico e político comum e dominante entre Serviço
Social e economia solidária está também vinculado ao conservadorismo e ao neoconservadorismo
cujos lastros não eliminados ainda têm forte peso na profissão. O Serviço Social, neste
relacionamento com a economia solidária, incorpora modalidades ideológicas que fortalecem um
certo setor que, ao operar sua crítica à ordem social e implementar intervenções profissionais,
realiza uma apologia indireta à ordem burguesa e uma proposição anticapitalista romântica, como,
por exemplo, a defesa da democracia e do chamado controle social como mecanismo
imprescindível da ruptura com a ordem social do capital, ou ainda, a defesa da cooperação e da
solidariedade abstratas enquanto valores incompatíveis com o capitalismo. Todavia, não podemos
afirmar que a existência da perspectiva que valoriza a economia solidária no Serviço Social cancela
a necessidade, política e profissional, de exercer trabalhos junto a ela, e de mobilizar,
legitimamente, estratégias de sobrevivência que acolham as diversas camadas trabalhadoras
desempregas e pauperizadas. Apesar de identificarmos essa interseção problemática teórica e
política entre Serviço Social e economia solidária, não consideramos que o projeto ético-político
profissional, tal como é integralmente formulado, possa sustentar a perspectiva de solidariedade
transclassista, a democracia como mero procedimento de gestão e a economia que aliena seus
194
determinantes de classe, como a fazem as correntes políticas e práticas que hegemonizam a
economia solidária.
Aqui, uma das contribuições que podemos trazer com a nossa tese é, provavelmente, apontar
que, contraditoriamente, a economia solidária reflete o momento não de resistência e alternativa de
luta dos trabalhadores, mas, ao invés disso, o momento da crise e da desesperança pelo qual vem
passando a classe trabalhadora a partir da reação neoliberal, e assim, vem se agarrando a propostas
de trabalho fora dos circuitos formais e de “salvação” da dominância da economia do capital. Há
mesmo autores que sugerem, a partir de uma perspectiva crítica, que “a difusão da 'economia
solidária' pode ser interpretada como um sintoma do recesso momentâneo da consciência de classe
do proletariado” (Germer, 2006: p. 202). Após as pesquisas realizadas e alguns debates aqui
apontados, entendemos que este é um caminho fecundo de interpretação da economia solidária em
face da classe trabalhadora.
Ao nos confrontarmos, agora, com o todo que representa esta tese, e “desta vez não com uma
representação caótica de um todo, porém com uma rica [pretensa – acréscimo nosso/D.N.]
totalidade de determinações e de relações diversas” (Marx, 1978a: p. 116), deparamo-nos com
algumas eventuais descobertas que enriqueceram e ampliaram nossas formulações iniciais, e
consideramos que podemos oferecer contribuições para entender a economia solidária e o próprio
Serviço Social. Mas este processo indicou também, com efeito prospectivo, o caráter inconcluso
desta tese: se, por um lado, o conjunto de relações entre Serviço Social e economia solidária
desenvolvidas nesta pesquisa mostrou-se de caráter necessariamente introdutório, por outro lado
essas mesmas relações indicaram novas problemáticas de investigação e ajudaram a pontuar alguns
caminhos importantes e necessários para se aprofundar e aglutinar novas determinações ao
conhecimento da economia solidária, do Serviço Social e da dinâmica contemporânea da ordem
social vigente. E este caráter inconcluso pode ser explicado por duas razões: ou porque existiram
temáticas que não foi possível enfrentar nos marcos específicos desta tesa, ou porque tais problemas
puseram-se somente durante e após a pesquisa. Importa-nos dizer, ainda, que identificar tais
lacunas, no nosso entendimento, não invalida ou enfraquece as análises que realizamos nesta
investigação. Assim, podemos sugerir, a seguir, algumas pistas – e é apenas isso o que elas são –
para novas investigações que enriqueceriam o conhecimento sobre o fenômeno da economia
solidária, o debate teórico e prático da profissão e a crítica ao sistema capitalista.
As práticas de economia solidária no Brasil, assim como de algumas outras partes do mundo,
têm no Fórum Social Mundial - FSM um grande espaço de confluência, que concorre para a
tentativa de superação do isolamento em que se encontram, de fato, muitas atividades solidárias e,
ainda, o FSM tem sido um espaço de articulação ídeo-política do movimento. Desde o primeiro
FSM (2001), a economia solidária comparece como um dos eixos centrais das atividades desse
195
evento anual e, por isto, o FSM tornou-se, nos últimos dez anos, um dos mais importantes
instrumentos políticos dinamizadores da economia solidária brasileira - inclusive, foi através desta
articulação que se criou o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES (2003), cujas plenárias
nacionais anuais realizam-se no FSM. Neste mesmo ano, o governo Lula anunciou, também no
FSM, a criação da SENAES/MTE e o nome do seu titular. No ano corrente (2010), patrocinado pelo
FSM, foram realizados o 1º Fórum Social de Economia Solidária e a 1ª Feira Mundial de Economia
Solidária, em Santa Maria/RS, uma semana antes da realização do 10º FSM, em Porto Alegre/RS.
Como o FSM vem servindo de referência para um campo amplo da esquerda mundial, e sua ação
política vem se refletindo nos mais diversos segmentos sociais, a categoria profissional, a partir da
adesão política de vários profissionais ao FSM, inclusive das nossas direções 93, pode também sofrer
influências das diretrizes ídeo-políticas e teóricas que o constituem e, através desta relação, aderir a
várias propositivas que estão nele contidos, especialmente a perspectiva de economia solidária tal
como ela vem sendo formulada. Seria este (o FSM), no nosso entendimento, um dos fios que
proporciona, também, uma relação entre a economia solidária e o Serviço Social - mas como isto
vem ocorrendo, por que meios, e quais as implicações para o Serviço Social são respostas a serem
buscadas mediante outras pesquisas.
Uma outra pista de investigação que nos parece muito importante, e que não exploramos na
nossa tese, é o tratamento da problemática da economia solidária no campo profissional enfrentada
através da análise do neoconservadorismo, que se desenvolve a partir dos falsos postulados “pósmodernos”, decorrentes, substantivamente, das atuais transformações societárias. Observe-se que
nos foi possível apenas mapear, no interior da primeira tendência (defesa aberta da economia
solidária e da ordem capitalista), uma fundamentação e recurso às formulações no campo teórico
da pós-modernidade, sem avançar na análise, no Serviço Social, de tais tendências e relacioná-las,
particularmente, ao campo ídeo-político comum com a economia solidária. Assim, fica o indicativo
da necessidade de investigações que se detenham nestas preocupações.
Indicamos também a importância de se realizar pesquisas sobre as práticas e intervenções do
Serviço Social junto às mais diversas modalidades de economia solidária, no campo da política
pública deste segmento, sobre as assessorias e atividades de apoio que vêm sendo desenvolvidas
pelos assistentes sociais - especialmente porque não há materiais suficientes que nos informem e
analisem estes trabalhos profissionais particulares.
Ao fim deste percurso investigativo, que constitui um momento da nossa vida acadêmica,
julgamos ter consciência dos limites da tese aqui apresentada – decerto, limites que serão mais
precisados e melhor definidos com uma eventual crítica dos que a ela tiverem acesso. Porque
sabemos que o conhecimento é sempre uma produção coletiva, não temos a vã pretensão da auto93
No ano de 2009, o CFESS participou ativamente do 9º FSM e, ainda, organizou uma atividade de debate no evento
(cf. www.cfess.org.br).
196
suficiência intelectual. Mas, igualmente, temos consciência da importância que está contido em
todo esforço subjetivamente honesto e objetivamente rigoroso de contribuir individualmente para a
discussão pública e coletiva da qual pode resultar um conhecimento verdadeiro e útil – e porque foi
assim que nos dedicamos a esta tese, sentimo-nos gratificadas ao chegar a seu termo, sempre
provisório e retificável.
197
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABEPSS. Revista Temporalis. n. 03. Brasília: ABEPSS, 2001.
ABRAMIDES, Maria Beatriz. e CABRAL, Maria do Socorro. A organização política do Serviço
Social e o papel CENEAS/ANAS na virada do Serviço Social brasileiro. CFESS (org.). 30 anos do
Congresso da Virada. Brasília: CFESS, 2009.
ALMEIDA, Sandra Mara Rommel de. Cooperando na geração de trabalho e cidadania: a construção
da cidadania de mulheres trabalhadoras em cooperativas da Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares do RJ. Revista Ser Social. Brasília: UNB, n. 5, 1999.
AMIM, Samir. Más allá del capitalismo senil. Buenos Aires: Paidós, 2003.
AMIM, Samir; HOUTART, François. Mundialização das resistências: o estado das lutas 2003.
São Paulo: Cortez, 2003.
ANDRADE, Priscila Maia de. A economia solidária é feminina? A Política Nacional de Economia
Solidária sob o olhar de gênero. Revista Ser Social. Brasília: UNB, n.23, 2008.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? - ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do
mundo do trabalho. São Paulo: 6ª edição, Cortez, 1999.
_________________. Os Sentidos do Trabalho - Ensaio sobre a afirmação e a negação do
trabalho. São Paulo: 5ª edição, Boitempo, 2001.
ARAÚJO, João Samuel de. O cooperativismo como instrumento produtor e distribuidor de riquezas
no mundo do trabalho: relato de experiências. Revista Ser Social. Brasília: UNB, n.13, 2003.
ARROYO, João Cláudio Tupinambá. Cooperação econômica versus competitividade social.
Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
ARROYO, João Cláudio Tupinambá e SCHUCH, Flávio Camargo. Economia popular e
solidária: a alavanca para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Fundação Perseu
Abramo, 2006.
BARBOSA, Elizabeth Regina Negri. As práticas sociais das organizações da sociedade civil:
reflexões. Revista Serviço Social e Realidade. Franca: UNESP, V. 16, n. 01, 2007.
BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. O cooperativismo, ocupação e renda em Portugal.
Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 80, 2004.
____________________________________. Economia solidária como política pública. S.
Paulo: Cortez, 2007.
BEER, Max. História do Socialismo e das Lutas Sociais. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro,
1944.
BEHRING, Elaine. Política Social no capitalismo tardio. São Paulo: Cortez, 1998.
BEHRING, Elaine e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. São Paulo:
Cortez, 2006.
198
BELLUZZO, Luiz Gonzaga e ALMEIDA, Júlio Gomes de. Depois da queda: a economia
brasileira da crise da dívida aos impasses do real . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
BERTUCCI, Ademar. Economia Solidária: uma estratégia de sobrevivência, forma de resistência ou
caminho para nova cultura do trabalho? Revista Ser Social. Brasília: UNB, n.13, 2003.
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 8ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
BORTOLI, Mari Aparecida, Catadores de materiais recicláveis: a construção de novos sujeitos
políticos. Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 12, n. 01, 2009.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Sistema
Nacional de Informações em Economia Solidária – SIES. Brasília: MTE, 2004.(Termo de
Referência).
BUBER, Martin. O Socialismo Utópico. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971.
CAEIRO, Joaquim Manuel Croca. Economia social: conceitos, fundamentos e tipologia. Revista
Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
CALDWELL, Bruce. Hayek's Challenge: an intellectual biography of F. A. Hayek. Chicago:
Chicago University P, 2004. Disponível em <http://library.uic.edu/> . Acesso em: 16 ago. 2009.
CANEIRO, Carla Bronzo Ladeira. Políticas locais de inclusão social, autonomia e empoderamento:
reflexões exploratórias. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 89, 2007.
CASTANHEIRA, Maria Eugênia Monteiro e PEREIRA, José Roberto. Ação coletiva no âmbito da
economia solidária e da autogestão. Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis:
Editora Vozes, 1998.
CBAS. Conselho Federal de Serviço Social. Anais do 10º Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais. Rio de Janeiro: CFESS, 2001.
CBAS. Conselho Federal de Serviço Social. Anais do 11º Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais. Fortaleza: CFESS, 2004.
CBAS. Conselho Federal de Serviço Social. Anais do 12º Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais. Foz do Iguaçu: CFESS, 2007.
CFESS. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. Brasília: CFESS, 2000.
CFESS (org.). Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional.
Brasília: CFESS, 2005.
CERQUEIRA FILHO, Gilásio. A “questão social” no Brasil: crítica do discurso político. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.
CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez Editora, 5ª edição, 1990.
CHESNAIS, François. Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996.
__________________. et al. Uma nova fase do capitalismo?. São Paulo: Xamã, 2003.
199
__________________.(org.). A finança mundializada. São Paulo: Boitempo, 2005.
COLE, G. D. H.. Historia del Pensamiento Socialista. Los precursores 1789 a 1850. V. I. México:
Fondo de Cultura Económico, 1975.
CORTIZO, Maria Del Carmen e OLIVEIRA, Adriana Lucinda de. A economia solidária como
espaço de politização. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 80, p. 82-93,
2004.
COUTINHO, Carlos Nelson. O estruturalismo e a miséria da razão. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1972.
_______________________. A Democracia como Valor Universal. São Paulo: Editora Ciências
Humanas, 1980.
_______________________. Notas sobre cidadania e modernidade. Revista Praia Vermelha, n. 1.
Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
________________________. Contra a Corrente: ensaios sobre democracia e socialismo. São
Paulo: Cortez Editora, 2000.
DIEESE. O mercado de trabalho no Brasil. São Paulo: Dieese, 2001.
DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Revista Tempo
Social, vol. 15, n. 2. São Paulo: USP, 2003.
DUMÉNIL, Gerard; LÉVY, Dominique. Uma nova fase do capitalismo? Três interpretações
marxistas. In: ________________. Uma nova fase do capitalismo? São Paulo: Xamã, 2003.
DURKHEIM, Emile. Regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
ENPESS. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Anais do 10º Encontro
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social. Recife: CFESS, 2006.
ENPESS. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Anais do 11º Encontro
Nacional de Pesquisadores em Serviço Social. São Luís: CFESS, 2008.
ESCOBAR, Julio Jiménez e GUTIÉRREZ, Alfonso Carlos Morales. Terceiro setor e univocidade
conceitual: necessidade e elementos configuradores. Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V.
11, n. 01, 2008.
ESCORSIM, Leila. O conservadorismo clássico: elementos de caracterização e crítica. Rio de
Janeiro: Escola de Serviço Social/Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997. Tese de
doutoramento.
ESPING-ANDERSEN, Gosta. "As Três Economias Políticas do Welfare State". In: Revista Lua
Nova. n. 24, setembro, 1991.
FARIA, Maurício Sardá de., DAGNINO, Renato e NOVAES, Henrique Tahan. Do fetichismo da
organização e da tecnologia ao mimetismo tecnológico: os labirintos das fábricas recuperadas.
Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica.
Rio de Janeiro: 2ª edição, Zahar Editores, 1976.
200
FILHO, Genauto Carvalho de França e LAVILLE, Jean-Louis.
abordagem internacional. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
Economia Solidária: uma
FIORI, José Luis. Estado do Bem-Estar Social: padrões e crises. In “Coleção Documentos”.
IEA/USP, s/d. Disponível em: <http://www.iea.usp.br/iea/textos/index.html>. Acesso em: 17 dez.
2009.
GAIGER, Luiz Inácio (Org.). Sentidos e Experiências da Economia Solidária no Brasil. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
______________________. A economia solidária e o valor das relações sociais vinculantes.
Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
GOHN, Maria da Glória. O novo associativismo e o Terceiro setor. Revista Serviço Social e
Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 58, 1998.
GÓIS, João Bosco Hora; SANTOS, Aline de Oliveira e COSTA, Isis Santos. Responsabilidade
social empresarial e solidariedade: uma análise dos discursos dos seus autores. Revista Serviço
Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 78, 2004.
GONÇALVES, Alicia Ferreira. Experiências em economia solidária e seus múltiplos sentidos.
Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
GONÇALVES, Alicia Ferreira. Experiências em economia solidária e seus múltiplos sentidos.
Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
GONÇALVES, Raquel de Souza. Catadores de materiais recicláveis: trabalhadores fundamentais na
cadeia de reciclagem do país. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 82, 2005.
GREMER, Claus. A “economia solidária”: uma crítica marxista. Revista Outubro. n. 14. São
Paulo: Alameda, 2006.
GURVITCH, Georges. Proudhon. Lisboa: Edições 70, 1983.
GUSMÃO, Rute. A ideologia da Solidariedade. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo:
Cortez, n. 62, 2000.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
______________ . O novo imperialismo. São Paulo: 2005.
______________. O Neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Loyola, 2008.
HAYEK, F. A. O caminho da servidão. 5ª edição. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990.
HILFERDING, Rudolf. O Capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
HUSSON, Michel. A miséria do capital. Lisboa: Terramar, 1999.
IAMAMOTO, Marilda. Renovação e conservadorismo no serviço social. 3ª edição. São Paulo:
Cortez, 1995.
___________________. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. São Paulo: Cortez, 1998.
201
___________________. A questão social no capitalismo. In: Revista Temporalis. Brasília:
ABEPSS, nº 3, p. 09-32, 2001.
__________________ e CARVALHO, Raul. Relações Sociais e Serviço Social. 9ª edição. São
Paulo: Cortez, 1994.
IANNI. Otávio. A ditadura do grande capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
IBGE. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Principais destaques da evolução do
mercado de trabalho nas regiões metropolitanas abrangidas pela pesquisa (Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) 2003-2008. Rio de Janeiro, 2009.
160p.
IPEA. Presidência da República. Secretaria de Assuntos Estratégicos. Desigualdade e pobreza no
Brasil Metropolitano durante a crise internacional: primeiros resultados. In: Comunicado da
Presidência. n. 25. Brasília, ago. 2009.
KARL, Marx. Miseria de la Filosofía. 6ª. Edição. México: Siglo Veintiuno editores, 1978.
KONDER, Leandro. A Democracia e os Comunistas no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal,
1980.
LAVILLE, Jean Louis. Do século 19 ao século 21: permanência e transformações da solidariedade
em economia. Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
LECHAT, Noëlle M. P. e BARCELOS, Eronita da Silva. Autogestão: desafios políticos e
metodológicos na incubação de empreendimentos econômicos solidários. Revista Katalysis.
Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
LENIN, Vladimir Ilitch. O Imperialismo e os imperialistas. Moscou: Edições Progresso, 1981.
LETHBRIDGE, Tiago. Sem Exagero, Presidente. Revista Exame. Edição 951, ano 43, n. 17, p.
34-39. 09 set. 2009.
LIMA, Graziella Aparecida Garcia de. e SANT'ANA, Raquel Santos. Pequenos produtores e a
cooperação informal na Agrovila II do Assentamento “17 de abril”, Restinga/SP. Revista Serviço
Social e Realidade. Franca: UNESP, V. 16, n. 01, 2007.
LÖWY, Michael. Redenção e utopia. São Paulo: Cia. das Letras, 1989.
_____________. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e
positivismo na sociologia do conhecimento. 9ª edição. São Paulo: Cortez, 2007.
_______________e SAYRE, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contramão da
modernidade. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
LUKÁCS, György. Marxismo e teoria da literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
________________ . El asalto à la razón. México: Grijalbo, 1968a.
________________. Historia y consciência de clase. Colección Instrumentos, nº 01, 2ª edição.
Barcelona: Grijalbo, 1975.
________________. Marx e o problema da decadência ideológica. In. NETTO, José Paulo (org.).
Lukács. Sociologia. São Paulo: Editora Ática, col. “Grandes Cientistas Sociais”, 1981.
202
________________. Socialismo e democratização. Organização, introdução e tradução de Carlos
Nelson Coutinho e José Paulo Netto. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.
LUXEMBURG, Rosa. A Acumulação do Capital. Vol. 1 e 2. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
MACPHERSON, C. B. A Teoria Política do Individualismo Possessivo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1979.
MANDEL, Ernst. O capitalismo tardio. São. Paulo: Abril Cultural, 1982.
______________ . A crise do capital. São Paulo: Ensaio, 1990.
MANGUEL, Alberto. Uma história da literatura. São Paulo: Companhia das letras, 1987.
MARSHALL, Thomas Humphrey. Política Social. Rio de Janeiro: Zarar editores, 1967.
MARX, Karl. O capital. Crítica da economia política. S. Paulo: Abril Cultural, vol. I, livro 1,
1983.
MARX, Karl. O capital. Crítica da economia política. S. Paulo: Abril Cultural, vol. II, livro 1,
1983a.
__________. Miseria de la Filosofia. 6ª. Edição. México: Siglo Veintiuno, 1978.
__________. Introdução à crítica da economia política. In: Marx. São Paulo: Abril cultural, 1978a.
__________. O Dezoito Brumário de Napoleão Bonaparte. In: Textos: Karl Marx e Friedrich
Engels. V. III. São Paulo: Edições Sociais, 1976.
__________ e ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. In. Coleção Leitura. 10ª
edição, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
MANSO, Heloísa Maria Mello. Desafios à geração de trabalho e renda em grupos comunitários de
base local. Revista Ser Social. Brasília: UNB, n.19, 2006.
MARCOCCIA, Rafael Mahfoud. O princípio da subsidiariedade e a participação popular Revista
Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 86, 2006.
MAURO, Frédéric. História Econômica Mundial: 1790-1970. Rio de Janeiro: Zarar editores,
1973.
MAUROIS, André. História da França. São Paulo: Editora Nacional, 1950.
MCLELLAN, David. O Pensamento de Karl Marx. Coimbra: Coimbra editora, 1974.
MENEGASSO, Maria Ester. Responsabilidade social das empresas: um desafio para o Serviço
Social. Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, n. 05, 2001.
MENELEU, José. Desemprego e Luta de Classes: as novas determinidades do conceito marxista de
exército industrial de reserva. In: TEIXEIRA, F. J. S. e OLIVEIRA, M. A. (Orgs.) Neoliberalismo e
Reestruturação Produtiva: as novas determinações do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez,
UECE, 1996.
MENEZES, Maria Thereza. Economia solidária. Rio de Janeiro: Gramma, 2007.
MÉSZÁROS, István. Para além do capital. S. Paulo: UNICAMP/Boitempo, 2002.
203
MOFFIT, Michael. O Dinheiro do Mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
MONTAÑO, Carlos. La Naturaleza del Servicio Social. 2ª edición. São Paulo: Cortez, 2000.
_________________. Terceiro Setor e Questão Social. São Paulo: Cortez, 2002.
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social. São Paulo: Cortez, 1995.
__________________. O Mito da assistência social. São Paulo: Cortez, 2008.
MTE. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Programa Economia Solidária em
Desenvolvimento.
Brasília:
MTE,
2008.
Disponível
em
<http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_default.asp>. Acesso em: 08 jul. 2009.
NETTO, José Paulo (org.). Lukács. Sociologia. São Paulo: Editora Ática, col. “Grandes Cientistas
Sociais”, 1981.
_________________. Capitalismo e reificação. São Paulo: Ciências Humanas, 1981a.
_________________. Resposta à Presença. In: Presença Revista de política e cultura. n. 10. Rio
de Janeiro: CPDC, 1987.
________________. Democracia e Transição Socialista: escritos de teoria e política. Belo
Horizonte: Oficina de Livros, 1990.
________________. Notas sobre marxismo e Serviço Social, suas relações no Brasil e a questão do
seu ensino. In: CADERNOS ABESS. n. 04. São Paulo: Cortez, 1991.
________________. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992.
________________ . Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. S. Paulo: Cortez, 1993.
________________. Ditadura e Serviço Social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64.
4ª edição. São Paulo: Cortez, 1994.
_________________. Transformações societárias e Serviço Social. Revista Serviço Social e
Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 50, p. 87-132, 1996.
_________________. A Construção do Projeto Ético Político do Serviço Social e a crise
contemporânea. Capacitação em Serviço Social e Política Social. Brasília:
Cead/UnB/Abepss/CFESS, módulo 1, 1999.
_________________. Cinco notas a propósito da questão social. Revista Temporalis. Brasília:
ABEPSS, n. 3, p. 51-62, 2001.
_________________. O movimento de Reconceituação – 40 anos depois. Revista Serviço Social e
Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 84, p. 05-20, 2005.
________________. III CBAS: algumas referências para a sua contextualização. CFESS (org.). 30
anos do Congresso da Virada. Brasília: CFESS, 2009.
NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo:
Cortez, 2006.
204
NETTO, José Paulo e CARVALHO, M. B. Cotidiano: conhecimento e crítica. 4ª edição. São
Paulo: Cortez, 1996.
NEVES, Daniela. Reestruturação Capitalista e Trabalho: para a crítica da economia solidária.
Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. (Papers apresentados ao Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social).
______________. Reestruturação capitalista e trabalho: notas críticas acerca da economia solidária.
Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
NOVE, Alec. A economia do socialismo possível. São Paulo: Editora Ática, 1989.
NUNES, Christiane Girard Ferreira. Economia Solidária em tempos sombrios. Revista Ser Social.
Brasília: UNB, n. 5, 1999.
OFFE, Claus. Capitalismo Desorganizado - transformações contemporâneas do trabalho e da
política. São Paulo: Brasiliense, 1995.
OIT. Uma globalização justa: criando oportunidades para todos. Brasília: MTE, Assessoria
Internacional, 2005. 166 p.
OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do anti-valor. Petrópolis: Vozes, 1998.
PASTORE, José. O ‘custo Brasil’ na área trabalhista: propostas para modernização das relações de
trabalho. In: VELLOSO, João Paulo dos Reis (coord.). O Real e o Futuro da Economia. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1995.
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. Questão Social, Serviço Social e direitos de cidadania.
Revista Temporalis. Brasília: ABEPSS, n. 3, p. 51-61, 2001.
PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. S. Paulo: Cia. das Letras, 1991.
QUIROGA, Consuelo (1991). Invasão Positivista no Marxismo: manifestações no ensino da
Metodologia no Serviço Social. São Paulo: Cortez.
PETITFILS, Jean-Christian. Os Socialismos Utópicos. São Paulo: Círculo do Livro, 1977.
RECH, Daniel. Cooperativas: Uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: Fase,
DP&A editora, 2000.
ROSANVALLON, Pierre. A nova questão social. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1998.
ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das letras, 1987.
SAINT-SIMON. A Parábola, In: TEIREIRA, Aloísio. Utópicos, Heréticos e Malditos – os
precursores do pensamento social de nossa época. Rio de Janeiro: Record, 2002.
SALAMA, Pierre. Pobreza e exploração do trabalho na América Latina. S. Paulo: Boitempo,
2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Produzir Para Viver: os caminhos da produção não capitalista.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
__________________________. Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia
participativa. 2ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
205
__________________________. O Fórum Social Mundial: manual de uso. São Paulo: Cortez,
2005.
SANTOS, Joseane Soares. Neoconservadorismo pós-moderno e Serviço Social brasileiro. São
Paulo: Cortez, 2007.
SILVA, Jaqueline Oliveira. Políticas públicas municipais de trabalho e renda na perspectiva da
economia solidária. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 69, 2002.
SILVA, Marcelo Kunrath e OLIVEIRA, Gerson de Lima. Solidariedade assimétrica: capital social,
hierarquia e êxito em um empreendimento de "economia solidária". Revista Katalysis.
Florianópolis: EDUFSC, V. 12, n. 01, 2009.
SINGER, Paul. Reflexões sobre inflação, conflito distributivo e democracia. In: Reis, F. W. e O'
Donnell, G. (org.). A democracia no Brasil: dilemas e perspectivas. São Paulo: Vértice, 1988.
____________ . Uma utopia militante: repensando o socialismo. Petrópolis: Vozes, 1998.
____________. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In. SINGER, Paul e
SOUZA, André R. (org.) A economia solidária no Brasil. São Paulo: Contexto, 2000.
____________. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 4ª edição. São Paulo:
Contexto, 2001.
____________. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.
____________. Seis anos da SENAES. In: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Acontece
SENAES. Boletim informativo. Edição especial. Brasília: MTE. Jun. 2009.
SINGER, Paul & SOUZA, André R. (org.). A economia solidária no Brasil. São Paulo: Contexto,
2000.
SILVA, Jaqueline Oliveira. Políticas Públicas municipais de trabalho e renda na perspectiva da
economia solidária. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 69, p. 121-139,
2002.
SOUZA, Paulo Renato de. Emprego, salário e pobreza. São Paulo: Hucitec, 1980.
STEIN, Rosa. Configuração recente dos programas de transferência de renda na América Latina:
focalização e condicionalidade. In: Boschetti, I. et al. Política Social no Capitalismo: tendências
contemporâneas. São Paulo: Cortez, p 196-219, 2008.
SWEEZY, Paul M. Capitalismo Moderno. Rio de Janeiro: Edições do Graal, 1977.
TAVARES, Maria Augusta. Os fios (in)visíveis da produção capitalista: informalidade e
precarização do trabalho. São Paulo: Cortez, 2004.
TAVARES, Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro:
ensaios de economia brasileira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1975.
TEIXEIRA, Aloisio. Utópicos, Heréticos e Malditos – os precursores do pensamento social de
nossa época. Rio de Janeiro: Record, 2002.
TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O papel político das associações. Revista Serviço Social e Sociedade.
São Paulo: Cortez, n. 72, 2002.
206
TEIXEIRA, Francisco José Soares. Pesando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O
Capital. São Paulo: Ensaio, 1995.
____________________________. Modernidade e crise: reestruturação capitalista ou fim do
capitalismo? In: TEIXEIRA, F. J. S. e OLIVEIRA, M. A. (Orgs.) Neoliberalismo e
Reestruturação Produtiva: as novas determinações do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez,
UECE, 1996.
____________________________. O neoliberalismo em debate. In: TEIXEIRA, F. J. S. e
OLIVEIRA, M. A. (Orgs.) Neoliberalismo e Reestruturação Produtiva: as novas determinações
do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, UECE, 1996b.
____________________________. O Capital e suas formas de produção de mercadorias: rumo ao
fim da economia política. Revista Crítica Marxista. n 10, p. 67-93. São Paulo: Boitempo, jun.
2000.
THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. vols. 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987.
VALADÃO, Valdir e MENEGASSO, Maria Ester. Associações de base comunitária de geração de
trabalho e renda: a questão da gestão. Revista Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, n. 06, 2003.
WEFFORT, Francisco (org.). Os clássicos da política. Vol. 2. São Paulo: Editora Ática, 1999.
WELLEN, Henrique André Ramos. Contribuição à crítica da ‘economia solidária’. Revista
Katalysis. Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
WESTPHAL, Vera Herweg. Diferentes matizes da idéia de solidariedade. Revista Katalysis.
Florianópolis: EDUFSC, V. 11, n. 01, 2008.
WOOD, Ellen. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São
Paulo: Boitempo, 2003.
YAZBEK, Maria Carmelita. Pobreza e exclusão social: expressões da questão social no Brasil.
Revista Temporalis. Brasília: ABEPSS, n. 3, p. 33-40, 2001.
_______________________. Classes subalternas e assistência social. 4ª edição. São Paulo:
Cortez, 2003.
207
ANEXOS
208
ÁREA
Rural
Urbana
Rural e urbana
TOTAL
TABELA 01 - Área de atuação dos ESS
TOTAL
10.513
7.539
3.711
21.763
(%)
48,3
34,6
17,1
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
TABELA 02 - As 50 atividades econômicas que mais aparecem nos ESS:
POSIÇÃO DESCRIÇÃO
TOTAL
1ª
atividades de serviços relacionados com a agricultura
3.066
2ª
cultivo de outros produtos de lavoura temporária
1.722
3ª
fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário
1.401
4ª
cultivo de cereais para grãos
1.253
5ª
cultivo de hortaliças, legumes e outros produtos da horticultura
907
6ª
criação de outros animais
853
7ª
produção mista: lavoura e pecuária
830
fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material
8ª
710
trançado - exceto moveis
9ª
fabricação de farinha de mandioca e derivados
686
confecção de peças do vestuário - exceto roupas intimas, blusas, camisas e
10ª
622
semelhantes
11ª
fabricação de produtos diversos
583
12ª
cultivo de outros produtos de lavoura permanente
531
13ª
reciclagem de sucatas não-metálicas
520
14ª
fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria
512
15ª
fabricação de outros artefatos têxteis, incluindo tecelagem
489
16ª
fabricação de outros produtos alimentícios
464
atividades de serviços relacionados com a pecuária - exceto atividades
17ª
431
veterinárias
comércio varejista de outros produtos alimentícios não especificados
18ª
429
anteriormente e de produtos do fumo
19ª
criação de bovinos
424
20ª
pesca e serviços relacionados
380
21ª
fabricação de acessórios do vestuário
360
22ª
preparação do leite
332
23ª
fabricação de artefatos de cordoaria
302
24ª
fabricação de artigos de tecido de uso doméstico, incluindo tecelagem
284
25ª
criação de aves
275
26ª
outras atividades associativas, não especificadas anteriormente
271
27ª
comércio atacadista de leite e produtos do leite
271
28ª
confecção de roupas intimas, blusas, camisas e semelhantes
255
29ª
outros tipos de comércio varejista
254
30ª
cultivo de cana-de-açúcar
252
31ª
fabricação de artefatos de tapeçaria
210
209
32ª
33ª
34ª
35ª
reciclagem de sucatas metálicas
198
acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis, por terceiros
187
atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias
184
criação de ovinos
179
fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de
36ª
173
qualquer material
37ª
cultivo de café
169
38ª
outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente
164
39ª
confecção de roupas profissionais
161
40ª
processamento, preservação e produção de conservas de frutas
161
41ª
fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos
157
42ª
outros serviços de alimentação
156
43ª
beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz
156
44ª
transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano
155
45ª
cultivo de frutas cítricas
152
46ª
fabricação de produtos do laticínio
151
47ª
beneficiamento, moagem e preparação de outros produtos de origem vegetal
150
outras atividades auxiliares da intermediação financeira, não especificadas
48ª
149
anteriormente
49ª
comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
149
50ª
fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário
141
QUANTIDADE DE EMPREENDIMENTOS QUANTIDADE DE QUESTÕES MARCADAS
15.403
1
4.674
2
1.737
3
TABELA 03 - Os ESS têm encontrado alguma dificuldade na comercialização de produtos
e/ou serviços?
RESPOSTAS
TOTAL
(%)
Sim
13.392
61,3
Não
6.243
28,5
Não se aplica
2224
10,2
TOTAL
21859
100
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
TABELA 04 - Formas de comercialização dos produtos e/ou serviços dos empreendimentos
DESCRIÇÃO DAS FORMAS
ORDEM 1 ORDEM 2 ORDEM 3 TOTAL
Venda direta ao consumidor
12.533
2.524
235
15.292
Venda a revendedores/atacadistas
4.974
3.874
273
9.121
Venda a órgão governamental
432
721
541
1.694
Troca com outros empreendimentos solidários
88
456
317
861
Venda a outros empreendimentos de ES
189
431
411
1.031
Outra. Qual?
679
617
242
1.538
Não se aplica
182
5
16
203
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
210
TABELA 05 - Os empreendimentos tiveram acesso a algum tipo de apoio, assessoria,
assistência ou capacitação?
RESPOSTAS
TOTAL
Sim
15.886
Não
5.973
TOTAL
21.859
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
TABELA 06 - Os empreendimentos têm alguma relação ou participam de movimentos sociais
e populares?
RESPOSTAS
TOTAL
Sim
12.613
Não
9.246
TOTAL
21.859
FONTE: SIES – SENAES/MTE, 2009.
211