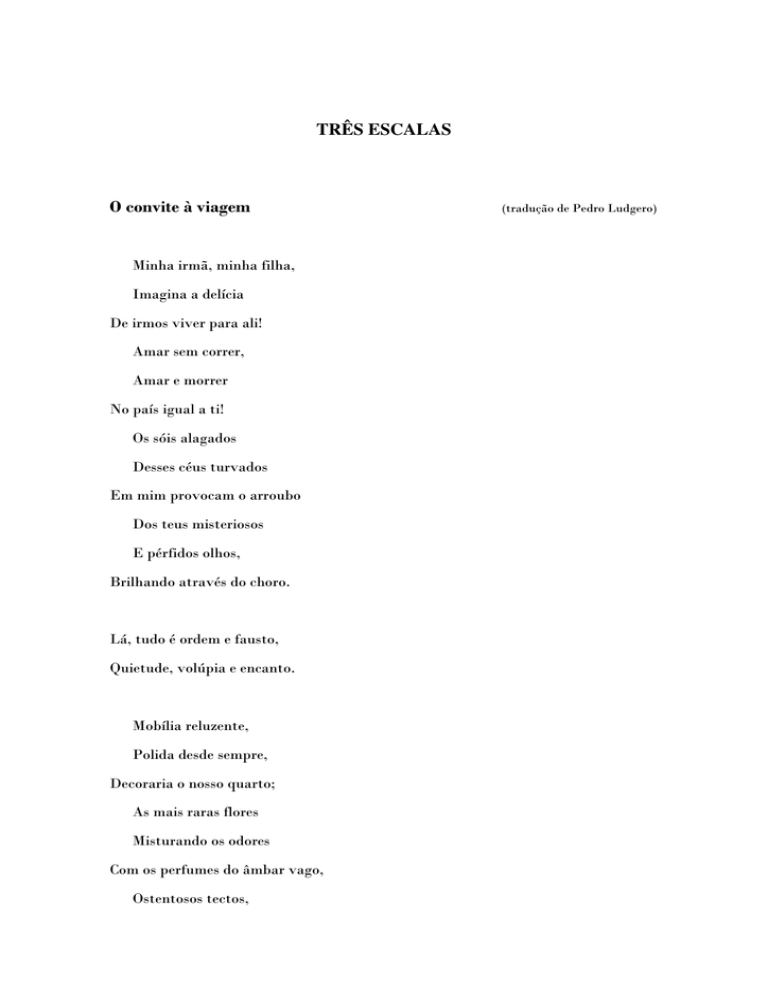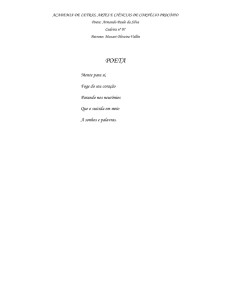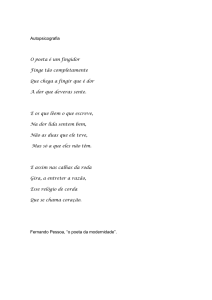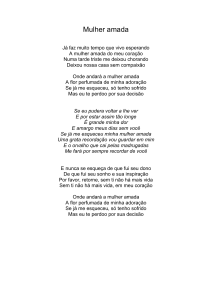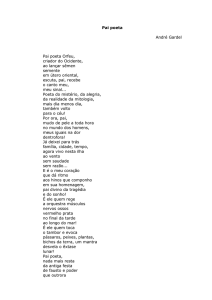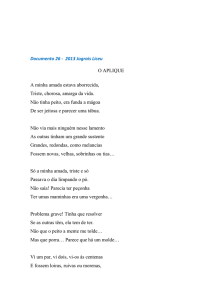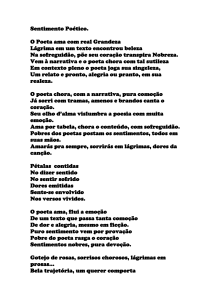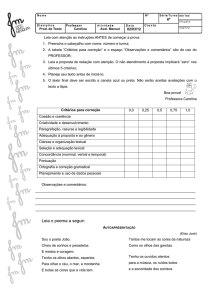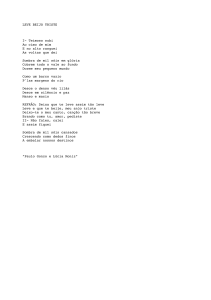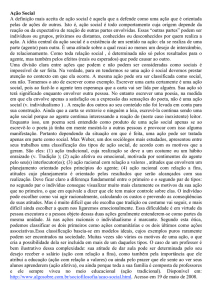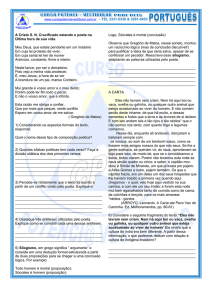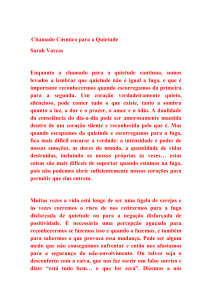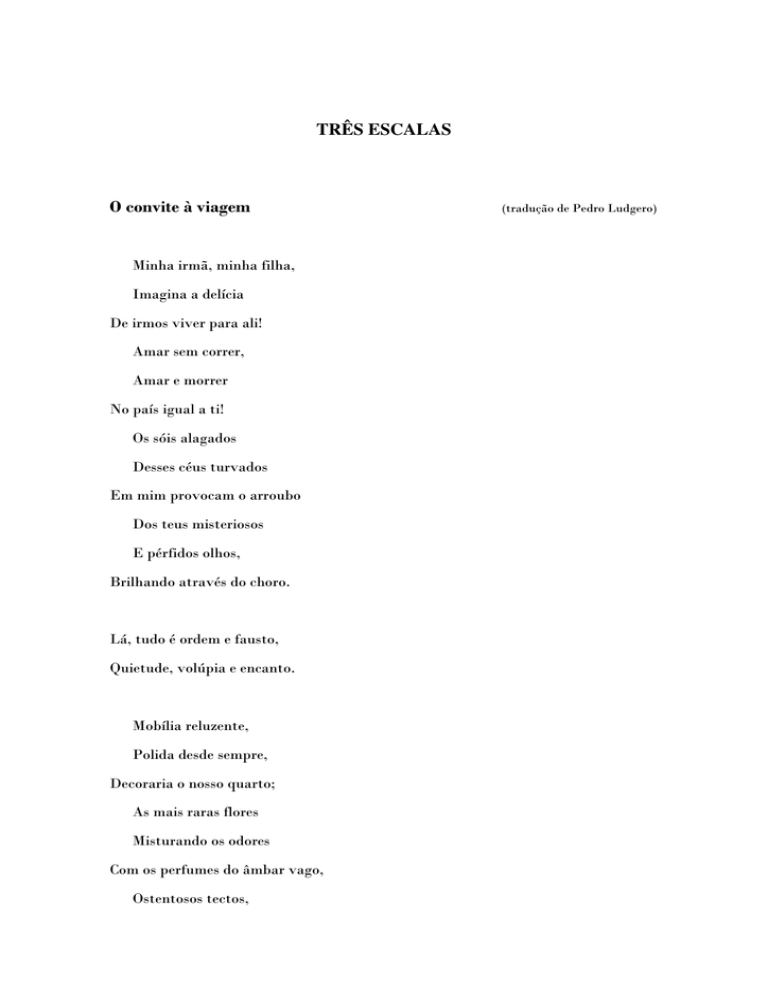
TRÊS ESCALAS
O convite à viagem
Minha irmã, minha filha,
Imagina a delícia
De irmos viver para ali!
Amar sem correr,
Amar e morrer
No país igual a ti!
Os sóis alagados
Desses céus turvados
Em mim provocam o arroubo
Dos teus misteriosos
E pérfidos olhos,
Brilhando através do choro.
Lá, tudo é ordem e fausto,
Quietude, volúpia e encanto.
Mobília reluzente,
Polida desde sempre,
Decoraria o nosso quarto;
As mais raras flores
Misturando os odores
Com os perfumes do âmbar vago,
Ostentosos tectos,
(tradução de Pedro Ludgero)
Profundos espelhos,
O esplendor oriental,
Tudo falaria
À alma em surdina
A sua doce língua natal.
Lá, tudo é ordem e fausto,
Quietude, volúpia e encanto.
Vê nesses riachos
Dormir esses barcos
Cujo humor é vagabundo;
É p'ra cumprir o ensejo
Do teu menor desejo
Que eles vêm do fim do mundo.
– Os sóis declinando
Revestem os campos,
Os canais, toda a cidade,
Com jacinto e ouro.
É o mundo em repouso
Numa quente claridade.
Lá, tudo é ordem e fausto,
Quietude, volúpia e encanto.
Charles Baudelaire
Em geral, a viagem é entendida como uma deslocação essencialmente física
sobre a qual se sedimentam valorações intelectuais que depois constituirão a geologia da
memória. Para os mais aventureiros, a viagem pode mesmo ser magmática – quando o
movimento na distância provoca uma erupção espiritual que altera as coordenadas
psíquicas do próprio viajante.
Na escrita poética, contudo, a viagem é um processo erosivo. Bem o sabia
Charles Baudelaire, autor sensual que, na equação vida-corrosão, sempre ocupou um
lugar mais passivo do que activo.
O seu texto “O convite à viagem”, poema mítico e fundador da modernidade,
parte de uma ideia muito simples e (talvez) indiferente à originalidade: o sujeito lírico
convida a mulher amada a ir viver com ele para um país que a ela mesma se assemelha.
Ou melhor, um país que é a amada e que, de algum modo, constitui um verdadeiro país
de cocanha.
Ora, a ideia de que um poema parte é a ideia que deve orientar a leitura que dele
tentemos fazer. Pois se o homem lança um convite à amada, também o poeta convida o
seu receptor a aventurar-se, não numa, mas num emaranhado inesgotável de viagens (se
o par amoroso é um mundo cabalmente preenchido pelos hemisférios dos dois amantes,
como diria o inglês John Donne, a poesia revela as múltiplas possibilidades de escala
que esse rigoroso planisfério oferece).
A primeira estância do poema é vulcânica. O corpo de uma mulher
(provavelmente inerte e inerme há demasiado tempo) num repente expele, de si mesmo,
a imagem de si como país (local de nascimento, residência, trabalho, emigração,
identidade, cultura, etc.). É todo o poder da irracionalidade erótica que, como todos
sabemos, costuma provocar mais lava espiritual do que sucesso fisiológico.
De facto, aquilo que poderia ser um projecto de viagem no espaço, desde logo se
revolve em travessia no tempo. A ideia de um mundo com dois sóis pertence, sobretudo,
ao imaginário da ficção científica. Ora, todo o aficionado de tal género sabe que, para a
partir da Terra se atingir um planeta iluminado por duas estrelas, é preciso triunfar sobre
uma imensidão de anos-luz, imensidão essa que o tempo de vida de um corpo humano
nunca poderia abranger a não ser através de uma máquina-do-tempo. Assim, mais do
que uma viagem na velocidade (afinal, o poeta pretende amar com calma), o texto
propõe uma viagem no tempo.
Talvez tudo isto seja algo tímido: o poema denuncia a pouca materialidade
daquilo que é afinal um turismo do espírito (“Imagina a delícia”). Mesmo assim, a lava
deixa inevitáveis estragos: os olhos da amada (que, para quem não a ama, não são mais
que dois pontos numa constelação qualquer) aumentam desproporcionalmente, aquecem
desproporcionalmente, brilham na mesma (des)medida, provocam um sistema de
gravitação em torno de si.
A metáfora promove, portanto, a viagem para outra dimensão, ao mesmo tempo
que os corpos dos amantes peregrinam até ao local eleito para poderem estar
fisicamente próximos (no original: “ensemble”), e se tornam mesmo barões trepadores
reunidos na copa incestuosa de uma mesma árvore genealógica (a mulher é irmã e filha
do poeta).
Depois do refrão, o texto entra em processo de sedimentação. O país revela-se
poli par les ans (“polido desde sempre” na nossa tradução), imemorial à maneira do
âmbar, verdadeiro eco do desejo que os amantes têm de prolongar o seu afecto no
tempo. E como sempre acontece numa relação estável, o que aqui se propõe não é tanto
o arroteamento do futuro, mas sim a construção de um passado comum.
A viagem torna-se burguesa. Não é por acaso que o maior movimento descrito
na estância tem a ver com a ascensão social: o lar dos amantes contém mobiliário
refinado, tectos (anacronicamente) ricos, tudo mergulhado no esplendor caro da
ornamentação oriental.
As viagens físicas necessárias para alimentar esse luxo (flores raras importadas
de um destino exótico qualquer, encomendas feitas a países asiáticos) já não se
confundem com os percursos da cronologia (o polimento dos móveis ou a formação
lentíssima do âmbar), separação artificial e dolorosa que de algum modo denuncia o
absurdo da vivência de um tempo presente.
No entanto, este não é um momento de antítese. A celebração lírica prossegue,
tendo sido apenas cerceada por uma ontologia realista. Não é por acaso que a grande
viagem espiritual desta fase é a ilusão de profundidade dada pelos espelhos. O par já só
conhece outra dimensão na contemplação do seu reflexo, e mesmo o colóquio entre a
alma e a sua língua natal (o amor) se faz em segredo. Como sempre acontece na vida
real, ninguém fala abertamente da beleza ou do afecto: tudo isso está latente e implícito
sob a superfície do quotidiano.
Aqui, o poeta parece não habitar propriamente dentro da amada, mas conviver
com ela numa relação epidérmica: o contacto entre os corpos ganha protagonismo. Pela
primeira vez se fala do quarto de dormir, de odores que se misturam, de línguas que são
doces.
E enquanto os amantes fazem os seus corpos exultar (como diria Jacques Brel), a
sedimentação traz-lhes o inevitável envelhecimento. Aliás, a saudade do momento natal
é uma característica da psicologia das pessoas de idade.
Assim, a penúltima estância abre o amor à erosão. A palavra de ordem passa a
ser dormir, o que aglutina em si uma viagem no tempo (ou melhor, na atemporalidade
dos sonhos descrita por Maria Zambrano), ainda uma outra passagem a diferente
dimensão, e o regresso definitivo do corpo após as andanças do dia/da vida.
Não há aqui muitos traços de aspiração espiritual, muito menos de regressões
genealógicas (Platão e Freud estão no desemprego). Continuando o país de cocanha a
ser luxuoso, os materiais ricos também já sofreram os efeitos da erosão: o jacinto e o
ouro que revestem o lugar só têm leitura metafórica.
A féerie já não tem a glória incandescente das primeiras formulações. Fala-se do
fim do mundo, praticamente os antípodas de uma multiplicação solar. E se a amante se
tornou desmesurada imperatriz com um séquito de tripulações prontas a cruzar espaço e
tempo (de novo reunidos) para lhe satisfazerem os caprichos, a verdade é que o poeta
escolheu o adjectivo menor para caracterizar o seu desejo.
Deixamos de ter noção precisa da velocidade (ir até ao fim do mundo demora
tanto ou tão pouco como um pôr-de-sóis?). Enfim, de tudo isto, o que nos fica é a
sensação corporal de um doce e brando calor crepuscular: Baudelaire termina “Les
fleurs du mal” com a expectativa quase infantil de um viajante perante a mais decisiva
das travessias (o perecimento).
Curiosamente, seja qual for a perspectiva poética, toda a escrita desagua no
famigerado refrão: “Là tout n’est qu’ordre et beauté / Luxe, calme et volupté”. Ao que
parece, todos os processos geológicos vão dar à mesma pedra. Não porque o amor seja
sempre a mesma coisa, mas porque ele converte o nascimento, a vida e a morte numa
preciosa precisão.