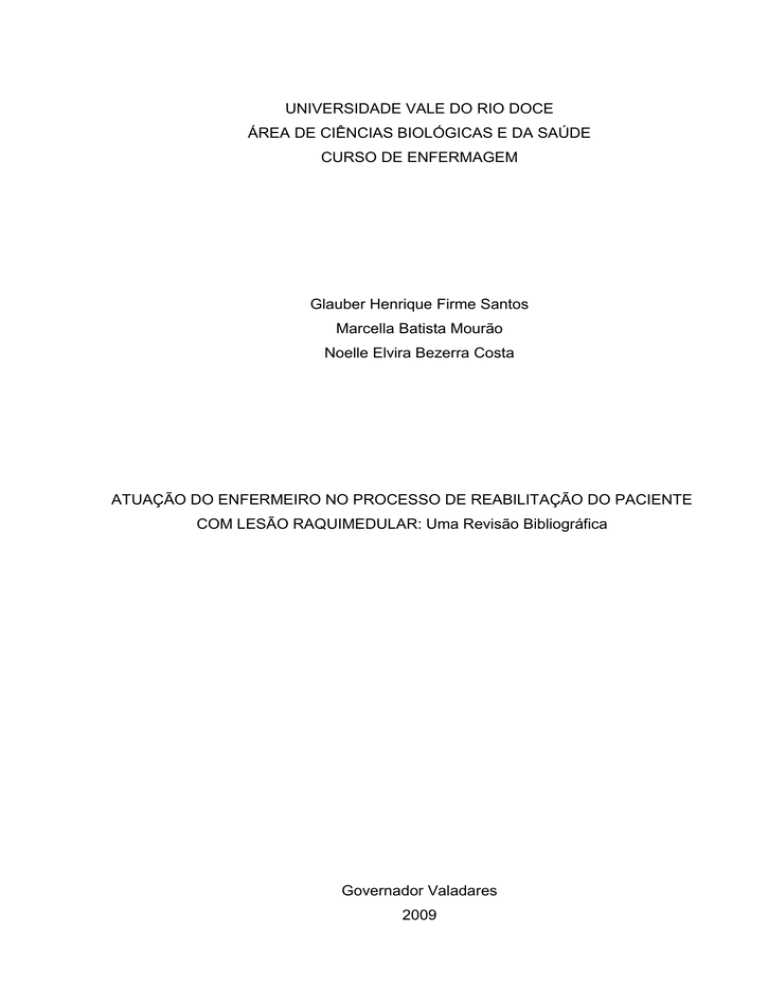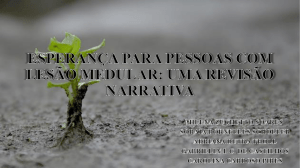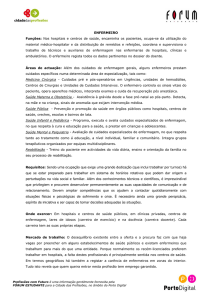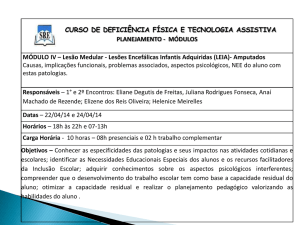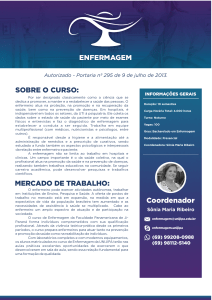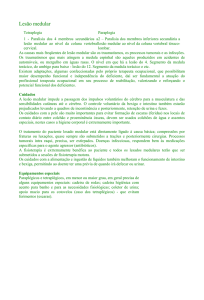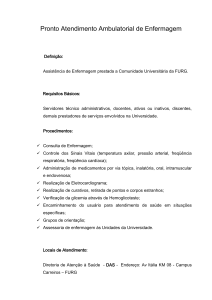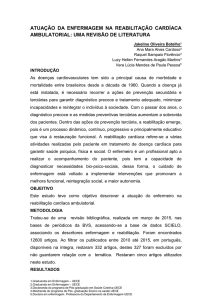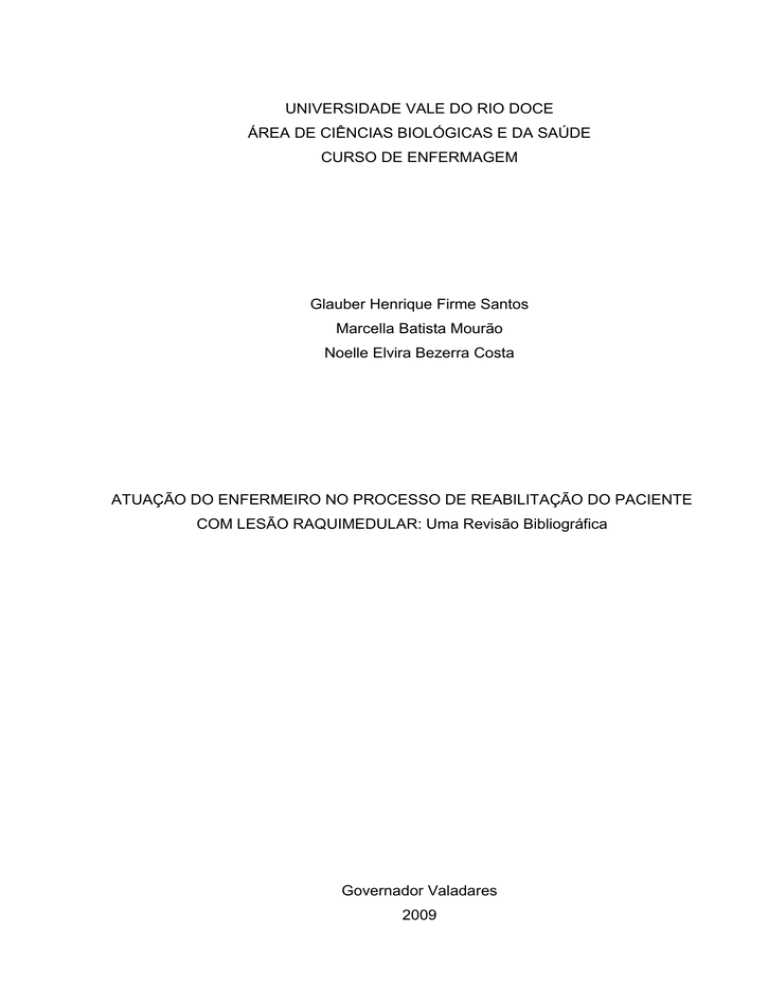
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
CURSO DE ENFERMAGEM
Glauber Henrique Firme Santos
Marcella Batista Mourão
Noelle Elvira Bezerra Costa
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DO PACIENTE
COM LESÃO RAQUIMEDULAR: Uma Revisão Bibliográfica
Governador Valadares
2009
GLAUBER HENRIQUE FIRME SANTOS
MARCELLA BATISTA MOURÃO
NOELLE ELVIRA BEZERRA COSTA
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DO PACIENTE
COM LESÃO RAQUIMEDULAR: Uma Revisão Bibliográfica
Monografia para obtenção do grau de
bacharel em Enfermagem,
apresentada à Faculdade de Ciência
da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce
Orientadora: Débora Moraes Coelho
Governador Valadares
2009
GLAUBER HENRIQUE FIRME SANTOS
MARCELLA BATISTA MOURÃO
NOELLE ELVIRA BEZERRA COSTA
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DO PACIENTE
COM LESÃO RAQUIMEDULAR: Uma Revisão Bibliográfica
Monografia para obtenção do grau de
bacharel em Enfermagem,
apresentada à Faculdade de Ciência
da Saúde da Universidade Vale do
Rio Doce
Governador Valadares, 26 de novembro de 2009.
Banca Examinadora
Profª. Enfª. Débora Moraes Coelho - Orientadora
Universidade Vale do Rio Doce
Profª. Enfª. Clarisse Viana Alves Coelho
Universidade Vale do Rio Doce
Profª. Enfª. Sandra Maria da Silva
Universidade Vale do Rio Doce
Enfª. Aline Valeria de Souza
Hospital São Lucas
Dedicamos àquelas pessoas que acreditaram
em nós, em especial a nossa família que em
tudo nos apoiou, aos amigos da faculdade pela
oportunidade
de
sonharmos
juntos,
aos
professores por compartilhar o conhecimento e
acima de tudo a Deus que é tudo nas nossas
vidas.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus, o nosso Deus, que foi, é e será o nosso abrigo seguro, a
todos os nossos familiares, pais, mães, irmãos e irmãs, avós, tios, primos, amigos,
acima de tudo pela confiança e incentivo que nos deram e por serem o nosso
refúgio.
Aos colegas de faculdade, pela receptividade, pela amizade e acima de tudo por
compartilharem conosco a experiência do aprender.
Aos professores, verdadeiros mestres que tão bem nos prepararam para começar
essa etapa de nossas vidas, por ministrarem tão bem o saber, proporcionando-nos o
conhecimento.
A nossa orientadora Débora M. Coelho, que não hesitou em nos ajudar a construir o
nosso tão difícil e empolgante trabalho.
E a todos que, direta ou indiretamente, ou mesmo no anonimato deixaram sua
parcela de contribuição para a conclusão desse trabalho.
“Quem decidir se colocar como juiz da
verdade e do conhecimento é naufragado
pela gargalhada dos deuses.”
Albert Einstein
RESUMO
O trauma raquimedular é um problema de saúde pública que afeta inteiramente o
meio familiar. Vem crescendo de forma assustadora no Brasil e no mundo, gerando
diversas complicações, principalmente sociais e econômicas. O estudo, de natureza
descritiva, visou detectar quais os principais agravos de saúde que a lesão medular
causa no paciente portador desse trauma, descrever as atividades desenvolvidas
pelo enfermeiro diante do processo de reabilitação desses pacientes e ainda
identificar os diagnósticos de enfermagem segundo diagnóstico de NANDA. Tanto
os problemas de saúde quanto às intervenções e prescrições de enfermagem foram
obtidos de uma ampla lista de artigos, teses de mestrado, periódicos e livros
associados, que foram analisados e descritos no presente trabalho. O trauma
raquimedular independe de idade, gênero, raça, entre outras variáveis, o que facilita
o seu acometimento. Dados revelam que a prevalência é de quatro homens para
uma mulher com idade entre 18 a 35 anos. As principais causas são: acidentes
automobilísticos, perfuração com arma de fogo, mergulho em águas rasas, quedas
em geral, entre outros. Muitos estudos têm sido realizados para o avanço no
tratamento desses pacientes. A enfermagem tem um papel fundamental na
orientação, reabilitação e na aplicação de ações que geram maior qualidade de vida
para esses pacientes e seus familiares.
Palavras-Chaves: Lesão medular. Reabilitação. Atuação da enfermagem.
ABSTRACT
The spinal cord injury is a public health problem that affects entirely the family. It has
been growing at an alarming rate in Brazil and the world, with several complications,
mainly social and economic. The descriptive study aimed to detect the main
grievances of the health issue in spinal cord injury patient with this trauma, describe
the activities undertaken by nurses on the rehabilitation of these patients and identify
the nursing diagnoses of NANDA diagnosis seconds. Both the health problems of
interventions and nursing prescriptions were obtained from a comprehensive list of
articles, masters theses, periodicals and books related, which were analyzed and
reported here. The spinal cord injury depend on age, gender, race and other
variables, which facilitates their involvement. Data show that the prevalence is four
men to one woman aged between 18 and 35 years. The major causes are accidents,
perforation with firearms, diving in shallow waters, decreases in general and others.
Many studies have been done to advance in the treatment of these patients. Nursing
has a key role in guidance, rehabilitation and implementation of actions that generate
higher quality of life for these patients and their families.
Keywords: Spinal cord injury. Rehabilitation. Nursing activities.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 9
2 TRAUMA ................................................................................................................ 12
3 LESÃO MEDULAR ................................................................................................ 14
3.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA MEDULA ESPINHAL ........................................ 15
3.2 TIPOS DE LESÃO MEDULAR ............................................................................ 16
3.3 EPIDEMIOLOGIA ................................................................................................ 20
4 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM DIANTE DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 22
5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E O PAPEL DA ENFERMAGEM ......................... 26
5.1 ÚLCERA POR PRESSÃO ................................................................................... 26
5.2 DISFUNÇÃO INTESTINAL.................................................................................. 29
4.3 DISFUNÇÃO URINÁRIA ..................................................................................... 31
5.4 DISREFLEXIA AUTONÔMICA ............................................................................ 34
5.5 TROMBOSE ........................................................................................................ 36
5.6 EMBOLIA PULMONAR ....................................................................................... 37
5.7 DISTÚRBIOS DO HUMOR.................................................................................. 38
6 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEGUNDO NANDA .................................... 40
7 METODOLOGIA .................................................................................................... 44
8 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 45
REFERENCIAS ......................................................................................................... 47
9
1 INTRODUÇÃO
O termo lesão medular é utilizado para se referir a qualquer tipo de lesão
que ocorre nos elementos neurais que pertencem aos nervos, localizados dentro do
canal da espinha dorsal, o canal medular. A maior parte das lesões medulares
acontece devido a um traumatismo da coluna vertebral. Os traumas podem causar
uma fratura do osso vertebral e acarretar uma compressão medular, ou uma ruptura
dos ligamentos vertebrais com deslocamento dos ossos da coluna e pinçamento da
coluna. O traumatismo também pode causar uma contusão da medula,
acompanhada de edema, com hemorragia ou não, podendo provocar o rompimento
da medula e suas raízes nervosas (RIBAS FILHO, 2002).
A lesão pode ser completa ou incompleta. A lesão é completa quando não
existe movimento voluntário abaixo do nível da lesão, e é incompleta quando há
algum movimento voluntário ou sensação abaixo do nível da lesão. A medula pode
também ser lesada por doenças como, por exemplo, hemorragias, tumores e
infecções por vírus, afirma Brunner (2002).
O aumento do contingente de deficientes físicos, especialmente o dos
portadores de lesão raquimedular, é um fato alarmante no mundo atual. Na maioria
dos casos essas lesões têm origem traumática, como a perfuração por arma de fogo
(PAF), acidente automobilístico e queda, sendo as causas externas mais frequentes
no Brasil (SPOSITO et al., 1986; SANTOS, 1989; FARO, 1991).
Brunner (2002) mostra que a proporção mundial é de 9 a 50 casos por 1
milhão de pessoas, acometendo principalmente jovens com idade entre 18 e 35
anos.
Segundo estudos já realizados observa-se a predominância masculina em
relação ao sexo feminino na proporção de quatro homens lesionados para cada
mulher (OLIVEIRA et al., 1996; DEFINO, 1999; MELLO et al., 2004).
Estudos
realizados
na
Rede
Sarah
(2002)
mostraram
que
as
complicações mais comuns encontradas em pacientes com lesão medular são as
úlceras por pressão, disfunção urinária, disfunção intestinal, disreflexia autonômica,
trombose, embolia pulmonar, distúrbios do humor e autoestima.
Santos
(1989)
estudou
os
aspectos epidemiológicos
do
trauma
raquimedular e apontou a necessidade de preparo mais específico do enfermeiro
10
para assistir esse tipo de população, já que o paciente pode apresentar sequelas
associadas à essa lesão.
Esse trauma é um evento grave, requerendo um planejamento cuidadoso
de reabilitação, pelo qual os pacientes ficam parcialmente ou totalmente
dependentes dos cuidados para executar as atividades diárias de vida (RIBAS
FILHO, 2002).
A reabilitação é um processo dinâmico, orientado para a saúde, que
auxilia um indivíduo que está enfermo ou incapacitado para atingir seu maior nível
possível de funcionamento físico, mental, espiritual, social e econômico. De acordo
com Brunner (2002), o processo de reabilitação ajuda a pessoa a atingir uma
aceitável qualidade de vida com dignidade, autoestima e independência.
De acordo com Faro (1996) a reabilitação faz parte dos cuidados de
enfermagem enquanto um modelo assistencial, bem como uma especialidade.
Conforme Demenech (1989), os esforços da reabilitação devem começar
na fase inicial da lesão medular. A prevenção das complicações é de
responsabilidade da enfermagem, sobretudo do enfermeiro, cujo cuidado físico
assume grande importância. Foram considerados pelos enfermeiros, higiene e o
conforto físico, mudança de decúbito e a reeducação vesical como cuidados
imprescindíveis na prevenção de sequelas físicas no paciente com lesão medular.
Segundo Sposito et al. (1986), os recursos modernos da medicina e o
desenvolvimento de novas técnicas na assistência de enfermagem e fisioterapia,
para esta clientela, têm permitido que um número cada vez maior desses pacientes
consiga superar a fase aguda do trauma raquimedular.
Considerando a gravidade desses casos e a grande dependência dos
cuidados de enfermagem, exigiu-se desenvolver um estudo sobre a atuação do
enfermeiro no processo de reabilitação do paciente com lesão medular, tornando-se
relevante aprofundar conhecimentos que possam contribuir para nortear as ações de
enfermagem, com a finalidade de prestar uma assistência especializada ao paciente
lesado medular, promovendo a recuperação da sua saúde, auxiliando na reabilitação
e prevenindo complicações, possibilitando, assim, que o mesmo reassuma sua
autonomia, com retorno ao seu ambiente social.
O objetivo deste estudo é refletir a atuação da equipe de enfermagem
frente aos problemas causados em pacientes com lesão raquimedular, assim como
as consequências dessa lesão na vida da vítima, com intuito de destacar e
11
descrever as principais atividades desenvolvidas pelo enfermeiro diante do processo
de reabilitação desses pacientes, e ainda identificar os diagnósticos de enfermagem
dos pacientes com lesão traumática, segundo diagnóstico de American Nursing
Diagnosis Association - NANDA (2008).
12
2 TRAUMA
Ribas Filho (2002) define o trauma como uma entidade caracterizada por
alterações estruturais ou desequilíbrio fisiológico do organismo, induzido pela troca
de energia entre os tecidos e o meio. É uma lesão de extensão, intensidade e
gravidade variáveis que pode ser produzida por agentes diversos (físicos, químicos,
psíquicos, etc), e de forma acidental ou intencional, instantânea ou prolongada, em
que o poder do agente agressor supera a resistência encontrada (FERREIRA,
1986).
Atualmente, o trauma está sendo visto como o mal do século,
representando um grande problema de ordem sócioeconômica que acompanha o
homem desde suas origens. É um reflexo da evolução da humanidade e o problema
de saúde mais antigo do qual o homem tem sido vítima. Constitui uma doença
multissistêmica de caráter endêmico na sociedade moderna (FARO, 1996).
Aproximadamente 60 milhões de pessoas sofrem algum tipo de
traumatismo ao ano, contribuindo com uma em cada seis internações hospitalares.
Este fato demonstra que o trauma constitui um dos principais problemas de saúde
pública em todos os países, independente do desenvolvimento sócioeconômico, e
corresponde à terceira causa de mortalidade no mundo, superado apenas pelas
neoplasias e doenças cardiovasculares (HOYT et al., 2003).
Os dados do Brasil (2006), corrobora com os de Hoyt et al. (2003),ao
dizer que
nos países desenvolvidos e no Brasil o trauma representa a terceira
causa de morte, depois das doenças cardiovasculares e neoplasias, onde em 2005,
58.969 adultos entre 20 e 39 anos morreram em decorrência de trauma.
Além dos milhares de indivíduos que morrem devido ao traumatismo,
existem centenas de milhares de sequelados definitivos entre os quais se situam
paraplégicos, tetraplégicos, cegos, amputados, entre outros (BRUNNER, 2002).
Em razão da magnitude dos problemas decorrentes dos eventos
traumáticos, este merece uma atenção especial em todos os níveis de assistência à
saúde, principalmente na reabilitação, sendo também de fundamental importância a
pesquisa em trauma para o avanço do conhecimento e obtenção de melhores
resultados no tratamento dessa devastadora doença, afirma Tonello (1999).
13
A prevenção é a melhor conduta para essa realidade, porém quando ela
ainda não é suficiente ou ainda não houve sensibilização da população e dos
diversos segmentos da sociedade, algumas medidas mostram-se eficazes, como a
criação dos serviços de atendimento pré-hospitalar e o treinamento dos profissionais
da saúde para atuar no processo de reabilitação dos pacientes que adquiriram
algum tipo de sequela (FARO, 1996).
14
3 LESÃO MEDULAR
A lesão medular espinhal (LME) está entre as lesões mais graves que
uma pessoa pode ter como experiência. Os efeitos pessoais e sociais são
profundamente significantes, pois conferem incapacidade permanente a essas
pessoas que são, em sua maioria, adultos e jovens (BRUNNER, 2002).
O trauma raquimedular é uma agressão recebida na medula espinhal e
pode ter uma variedade de etiologia, sendo traumática: infecciosa, tumoral, vascular,
entre outras (BRUNNER, 2002).
A medula pode ser lesada por corpos estranhos ou por processos
relacionados a uma vascularização deficiente, levando à isquemia, hipóxia, edema,
causando danos à mielina e aos axônios, conclui Smeltzer & Bare (1994). Os
mesmos autores afirmam que, frequentemente, as vértebras mais envolvidas são a
5ª e a 7ª cervicais, a 12ª torácica e a 1ª lombar. Tais vértebras são as mais
suscetíveis, pois há uma grande faixa de mobilidade nessas áreas da coluna.
Segundo Staas et al. (1992) e Machado (1993), a agressão traumática na
medula espinhal pode resultar em alterações da função motora, sensitiva e
autonômica, além das psicossomáticas.
A lesão raquimedular, apesar de não se constituir uma doença
propriamente dita, agride fisicamente o corpo e de forma inesperada limita ou
mesmo anula o uso e o controle das funções orgânicas. As perdas da condição
saudável, de papéis e responsabilidades provocam mudanças nos hábitos e no
estilo de vida do indivíduo e exige que o mesmo atribua novos significados à sua
existência, adaptando-se às limitações físicas e às novas condições geradas, afirma
Scramin (2006).
Além de sua gravidade e muitas vezes irreversibilidade, a lesão medular
exige um programa de reabilitação longo e oneroso, que na maioria dos casos não
leva à cura, mas à adaptação do indivíduo à sua nova condição (SANTOS,1989).
15
3.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA MEDULA ESPINHAL
Figura 1 – Foto demonstrativa da coluna vertebral.
Fonte:Rede Sarah, 2009
Estudando a anatomia e a fisiologia da medula espinhal, Machado (1993)
cita que medula significa miolo e indica o que está dentro. A medula espinhal fica
dentro
do
canal
vertebral
e
apresenta
características
macroscópicas
e
microscópicas.
A observação macroscópica da medula espinhal permite identificar que
ela é cilíndrica, ligeiramente achatada ântero posteriormente, tem duas dilatações na
sua extensão (intumescência cervical e lombar), mede aproximadamente 45 cm no
homem adulto. O limite cervical é com o bulbo e termina geralmente no nível da 2ª
vértebra lombar (L2) (MOORE, 2001).
16
Até o 4° mês de gestação a medula ocupa todo o canal vertebral e a
partir daí a medula espinhal passa a crescer mais lentamente que a coluna vertebral,
exigindo que as raízes nervosas se prolonguem até encontrar os respectivos
foramens intervertebrais, formando a calda equina abaixo de L2, define Valença
(2009).
Esta diferença causada entre o tamanho da medula espinhal e a coluna
vertebral determina o afastamento dos segmentos medulares das vértebras
correspondentes, como exemplo: se houver lesão da vértebra torácica 12 (T12), o
seguimento da medula espinhal atingido será a lombar, e se houver lesão de uma
vértebra lombar, somente será afetada a calda eqüina (MOORE, 2001).
A medula espinhal é revestida pelas meninges: Dura - mater, aracnóide e
pia – mater. (MOORE, 2001).
De acordo com Moore (2001), em um corte transversal da medula
espinhal pode se observar a substância branca envolvendo a substância cinzenta.
Esta última tem a forma de uma borboleta e tem como componente mais importante
os neurônios. A sustância branca é repleta de fibras que agrupadas formam os
tactos e fascículos, formando as vias por onde passam os impulsos nervosos.
Portanto, as vias são formadas pelos prolongamentos dos neurônios e podem ser
ascendentes ou descendentes.
A importância do conhecimento das características macroscópicas
adicionado as microscópicas é determinar as consequências que podem resultar de
uma LME em diferentes níveis da Medula espinhal e da coluna vertebral, bem como
direcionar o planejamento da assistência ao paciente (SOUZA, 2001).
Machado (1993) corrobora com Souza (2001), quando enfatiza que o
conhecimento dos aspectos microscópicos é fundamental para a compreensão de
que existe correlação entre a localidade anatômica de uma lesão e o sintoma clínico
observado.
3.2 TIPOS DE LESÃO MEDULAR
Segundo Souza (2001), na avaliação de um paciente com LME, é
importante determinar o nível da lesão óssea (coluna vertebral), o nível da lesão
17
neurológica (medula espinhal), o grau de comprometimento da medula espinhal
(completo ou incompleto) e o tipo de trauma (contuso ou penetrante).
O nível da lesão óssea afetada é determinada de acordo com a altura do
comprometimento da coluna vertebral, que é formada em média, por 33 vértebras
sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 ou 5 coccígeas, onde as
lesões cervicais altas determinam tetraplegia (paralisia dos quatro membros; nas
lesões cervicais baixas, observa-se paralisia dos membros inferiores e das mãos;
nas torácicas, a paralisia é de membros inferiores, como demonstra a figura 2
(REDE SARAH, 2009).
Segundo American Spinal Injury association - ASIA (1996), para avaliar o
nível da lesão óssea, o exame habitualmente utilizado é o RX da coluna espinhal.
Figura 2 – Segmentos nervosos
Fonte: Rede Sarah, 2009.
O nível neurológico é determinado através do exame neurológico que
permite aos médicos classificar a lesão medular de uma pessoa dentro de uma
extensiva variedade de tipos. Isso ajuda a determinar o prognóstico e estado atual
do indivíduo em relação a LME (ASIA, 1996) .
O exame neurológico possui tanto os exames obrigatórios quanto as
medidas opcionais. Os elementos obrigatórios são usados para determinar o nível
18
neurológico sensitivo e motor gerando a contagem de pontos, e caracterizando o
funcionamento sensitivo e motor para determinar se uma lesão é completa ou
incompleta. As medidas opcionais, ainda que não sejam utilizadas na contagem,
podem adicionar dados a uma descrição clínica do paciente (MACHADO, 1993).
O exame tem dois componentes (sensitivo e motor), que são descritos
separadamente. A porção requerida do exame sensitivo é completado, utilizando-se
o teste da chave dos 28 dermátomos no lado direito e esquerdo do corpo. Em cada
um dos pontos da chave dois aspectos da percepção são examinados: sensibilidade
ao toque leve e a agulhada. O teste para a sensibilidade é realizado com uma
agulha descartável e o toque leve é testado com um algodão (ASIA, 1996).
Além do teste bilateral da chave de 28 pontos, o esfíncter anal externo
também é testado para ajudar a determinar se uma lesão é completa ou não.
Opcional, mas extremamente recomendado, é o exame com os elementos opcionais
que incluem a percepção profunda da posição, pressão e dor (MACHADO, 1993).
A porção requerida do exame motor é completada através do teste da
chave muscular dos 10 miótomos (em ambos os lados do corpo). Como no exame
sensitivo, a musculatura externa do esfíncter anal também é testada, para ajudar a
determinar se uma lesão é completa ou não. Outros músculos são frequentemente
testados mas não alteram a contagem de pontos que determinam o nível motor da
lesão ou o grau de lesão. Como garantia, sugere-se que os seguintes músculos
sejam testados: (1) diafragma, (2) deltóide e o (3) tendão do bíceps femoral. (ASIA,
1996)
De acordo com Lianza et al. (2001), uma lesão completa, no plano
transverso, é definida como ausência de função motora e sensitiva nos miótomos e
dermátomos inervados pelos segmentos sacrais da medula. Na lesão incompleta há
preservação da função motora e/ou sensitiva abaixo do nível neurológico, incluindo
os segmentos sacrais.
A American Spiral Injury Association (ASIA, 1996) descreveu uma escala
de
deficiência
para
definição
da
extensão
das
lesões
medulares:
ASIA A - Completa: nenhuma função sensorial ou motora nos segmentos sacrais,
S4-S5.
ASIA B - Incompleta: nenhuma função motora, porém alguma função sensorial é
preservada abaixo do nível neurológico incluindo os segmentos sacrais,S4-S5.
ASIA C - Incompleta: função motora preservada abaixo do nível neurológico e mais
19
da metade dos músculos, chave abaixo do nível neurológico têm grau de força
muscular abaixo de 3.
ASIA D - Incompleta: função motora preservada abaixo do nível neurológico e pelo
menos metade dos músculos, chave abaixo do nível neurológico têm grau de força
muscular maior ou igual a 3.
ASIA E - Normal: funções motora e sensitiva normais .
Para
a
determinação
dos
níveis
neurológicos
e
do
grau
de
comprometimento, o paciente deverá ser submetido ao exame físico com avaliação
detalhada dos miótomos e dermátomos. ASIA (1996) define miótomo por coleção de
fibras musculares inervadas pelo axônio motor dentro de cada raiz, dermátomo
refere-se a área da pele inervada pelo axônio sensório dentro de cada raiz. São 10
miótomos e 28 dermátomos de cada lado do corpo. Em geral este exame é realizado
na primeira avaliação do paciente e repetido frequentemente para comprovação da
estabilidade do nível da lesão.
Souza (2001) afirma que o médico é o responsável por esta avaliação na
maioria das vezes, porém o enfermeiro é capaz de realizá-la após receber
treinamento.
Os termos paraplegia e tetraplegia são utilizados para definir e expressar
a extensão da lesão medular. Onde paraplegia se refere à diminuição ou perda da
função motora e/ou sensitiva dos segmentos torácicos, lombares ou sacrais (porém,
não cervicais), secundários dos elementos neurais dentro do canal vertebral. O
termo é corretamente usado para descrever lesões da cauda equina e do cone
medular, porém não se usa para lesões do plexo lombosacral ou lesões dos nervos
periféricos fora do canal neural. E tetraplegia se refere a diminuição ou perda da
função motora e/ou sensitiva dos segmentos cervicais devido a lesão dos elementos
neurais dentro do canal espinhal. A tetraplegia resulta em diminuição da função dos
braços, bem como no tronco, pernas e órgãos pélvicos, não incluem lesões do plexo
braquial ou dos nervos periféricos fora do canal neural (ASIA, 1996).
O trauma pode ser classificado de acordo com seu mecanismo. Este pode
ser contuso ou penetrante, no qual a transferência de energia e a lesão produzida
são semelhantes em ambos os tipos de trauma. A única diferença é a perfuração da
pele (SOUZA, 2001).
20
O trauma contuso ocorre quando há transferência de energia em uma
superfície corporal extensa, não penetrando a pele. Existem dois tipos de forças
envolvidas no trauma contuso: cisalhamento e compressão. O cisalhamento
acontece quando há uma mudança brusca de velocidade, deslocando uma estrutura
ou parte dela, provocando sua laceração. É mais encontrado na desaceleração
brusca do que na aceleração brusca. A compressão é quando o impacto comprime
uma estrutura ou parte dela sobre outra região provocando a lesão. Esta é
frequentemente associada a mecanismos que formam cavidade temporária
(BRUNNER, 2002).
O trauma penetrante tem como característica a transferência de energia
em uma área concentrada, com isso há pouca dispersão de energia provocando
laceração da pele. Podendo encontrar objetos fixados no trauma penetrante, as
lesões não incluem apenas os tecidos na trajetória do objeto, deve-se suspeitar de
movimentos circulares do objeto penetrante. As lesões provocadas por transferência
de alta energia, por exemplo, arma de fogo, não se resumem apenas na trajetória do
PAF (projétil de arma de fogo), mas também nas estruturas adjacentes que sofreram
um deslocamento temporário (BRUNNER, 2002).
3.3 EPIDEMIOLOGIA
Em um estudo epidemiológico da LME, Faro et al (1996) mostraram que
o número de portadores de lesão medular é um fato alarmante no mundo atual.
No início do século XX, cerca de 95% das pessoas com lesão medular
ocorrida em guerras morriam em poucas semanas devido a infecções do trato
urinário e úlceras de decúbito. Embora a expectativa de vida atual ainda seja mais
baixa do que a da população geral, a taxa de mortalidade decresceu drasticamente
após a II Grande Guerra, de 30% nos anos 60, para 15% e 6% nas décadas de 1970
e 1980 (HARTKOPP et al., 1997).
No Brasil há 130 mil indivíduos portadores de lesão medular e cada ano
esta incidência vem aumentando devido aos acidentes automobilísticos e
principalmente à violência (LIANZA, 1997).
21
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2000)
revelaram pelo censo do ano 2000 um número crescente de indivíduos com
deficiência física, cerca de 24,5 milhões de pessoas, representando 14,5% da
população brasileira. Dados citados por Delfino (1999) relatam cerca de seis a oito
mil casos de lesão medular por ano no país.
Na maioria dos casos, tais lesões têm origem traumática, sendo
ocasionado por perfuração por armas de fogo (PAF), acidente automobilístico e
quedas, como causas externas mais freqüentes. As vítimas desses traumatismos
são predominantemente adultos jovens, com idade variando entre 18 e 35 anos e na
proporção de quatro homens para uma mulher (SPOSITO et al., 1986; SANTOS,
1989; FARO, 1991).
Muitos estudos epidemiológicos têm sido feitos em todo o Brasil. Esses
estudos revelam que as causas do trauma são diferentes em determinadas regiões
do país. Na região centro-oeste observa-se uma maior prevalência nos traumas
raquimedulares causados por acidentes de trânsito, em média 36 a 38 %; cerca de
30 a 32 % ocorreram por perfuração de arma de fogo (PAF); de 12 a 14 % por
quedas e origens não traumáticas, e 8% por mergulho em águas rasas. O estudo
mostrou que 58 % dos pacientes tiveram lesão ao nível torácico, 32 % ao nível
cervical e apenas 10 % ao nível lombar (NOGUEIRA et al., 2002).
Em São Paulo, observa-se uma maior predominância em traumas
raquimedulares ocasionados por arma de fogo (30 a 35 %), 17 a 22 % por quedas
em geral, e 8 a 13 % ocorre por acidentes de trânsito (FARO et al., 1996).
A epidemiologia do trauma em Minas Gerais é diferente, em media 57%
das lesões ocorrem por queda de altura, 25 % ocorrem por acidentes de transito,
10% por projétil de arma de fogo, menos de 10% por outros fatores (OLIVEIRA et
al., 1996).
22
4 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM DIANTE DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO
Para que os pacientes possam ser admitidos em um programa de
reabilitação é imprescindível que estejam clinicamente estáveis, o que possibilita a
internação na unidade de reabilitação, pois o objetivo é a adaptação destes à nova
situação de vida, imposta por sequelas da patologia limitadora de suas funções
motoras (SARAH, 2009).
O paciente é o elemento chave da equipe de reabilitação. Ele é o foco do
esforço da equipe e aquele que determina os resultados finais do processo
(BRUNNER, 1993).
A família é incorporada à equipe e é reconhecida como um sistema
dinâmico que participa como um apoio contínuo, na solução de problemas e aprende
a realizar cuidados contínuos necessários (CAFER, 2009).
O enfermeiro tem papel expressivo junto aos demais profissionais
reabilitadores da equipe, compreendendo uma assistência holística e compartilhada
na qual binômio paciente-família tem o seu papel preservado junto à equipe de
especialistas, papel este definido em sua expressão clínica e acadêmica, o
significado de somar esforços, compartilhar responsabilidades, conhecimento,
reconhecer os limites e enfatizar potencialidades e habilidades (GREVE et al, 1992).
Cafer (2009) comenta que o
enfermeiro reabilitador tem como
compromisso garantir às pessoas com deficiências e incapacidades, assistência nos
vários níveis de complexidade, utilizando métodos e terapêuticas específicos.
Ainda, cabe-lhe subsidiar tecnicamente a implantação de serviços
especializados de enfermagem em reabilitação na busca por melhores condições de
vida, de integração social e na independência para as atividades básicas da vida
diária das pessoas com deficiências, bem como a implementação de assistência
especializada, pautada no binômio indivíduo-família frente às incapacidades
impostas e, para tanto, na qualidade de um educador (CAFER, 2009).
Thomas (1990) e Guerra (2000) citam que o enfermeiro reabilitador tem
competência técnica e atitudinal, oriundas da sua prática assistencial e acadêmica,
para implementar assistência de qualidade às pessoas com deficiência física, seja
em unidades de internação, ambulatórios, domicílio. Estão capacitados para atender
23
aos pacientes com grandes e múltiplas incapacidades decorrentes de lesões
medulares.
O enfermeiro de reabilitação é especialista no cuidado direto à pessoa
com deficiência física e com incapacidade. Esse profissional avalia a condição de
saúde do paciente e ajuda a determinar metas a curto, médio e longo prazo
(DELISA, 1993).
As necessidades dos pacientes são observadas por toda a equipe de
reabilitação, para que as ações sejam direcionadas a cada um e também para se ter
parâmetro para o dimensionamento de pessoal, considerando o tempo gasto para
sua manutenção básica o que, conforme o caso pode exigir por volta de 10 horas
diárias de Enfermagem, a quantidade e a qualidade de assistência exigida
(GUERRA, 2000).
De acordo com Faro (1991), conforme o percurso histórico do enfermeiro
de reabilitação e investigações já realizadas cabe a ele, dentro da sua formação,
avaliar clinicamente, intervir e acompanhar os resultados de pacientes ou pessoas
com deficiências físicas e incapacidades, desde a fase aguda com as seguintes
necessidades e/ou demanda por cuidados:
- no uso de medidas específicas para a promoção da independência;
- no uso de medicamentos;
- no uso de equipamentos e adaptações necessárias à comunicação,
locomoção, alimentação, eliminações, vestuário e higiene corporal, cuidados
dermatológicos, todos eles voltados à reabilitação holística do indivíduo.
Os principais problemas e intervenções de Enfermagem no âmbito da
reabilitação de deficientes físicos, durante a internação, referem-se à manutenção
da integridade física e motora (GREVE et al., 1992).
Assim, o enfermeiro deve implementar um programa preventivo e efetivo
de mudança de decúbito e posicionamento no leito e na cadeira de rodas, com
ênfase para evitar deformidades e/ou úlceras por pressão, sobretudo em membros
inferiores e nas regiões mais comuns como a occiptal, sacra, cotovelos, joelhos e
calcâneos. A periodicidade para a mudança de decúbito varia entre 2 a 4 horas, bem
como os posicionamentos adequados às condições do paciente (MADUREIRA,
2000).
Os pacientes devem ser orientados pela equipe de enfermagem, durante
a internação, sobre a importância do autocuidado, sobretudo quanto à higiene
24
corporal, alimentação e hidratação, estabelecendo conjuntamente metas dentro das
possibilidades do momento (GUERRA, 2000).
Destacam-se também o autocuidado voltado à reeducação das
eliminações vesicais e intestinais segundo condições funcionais, físico-motoras,
sociais e familiares (MADUREIRA, 2000).
Tonello (1999) estabelece programas de treinamento ao binômio
paciente-família (cuidador familiar). Outras orientações pertinentes à esfera biopsicoespiritual são direcionadas à família e ao paciente, estimulando a participação nos
cuidados, reconhecendo os limites e as possibilidades de cada um.
A cada nova internação, o enfermeiro executa o Processo de
Enfermagem que é constituído de exame físico e entrevista, sendo que a partir daí é
realizado o levantamento de dados específicos relacionados à deficiência física e
incapacidades que nortearão as ações da Enfermagem especializada para a
assistência à pessoa com deficiência física (GEORGE,1993).
Durante a entrevista devem ser verificados os hábitos de vida
relacionados à alimentação, hidratação, eliminação urinária e intestinal, bem como o
padrão atual dessas últimas. (MADUREIRA, 2000).
Greve et al. (1992) ressalta que outros dados específicos devem ser
identificados, os quais são relacionados à avaliação uro-dinâmica, conhecimento e
realização de manobras de esvaziamento vesical, intestinal, cateterismo vesical
intermitente – técnica limpa, medicamentos utilizados no momento e habilidades
físico-motoras voltadas à manutenção desses hábitos e atreladas às atividades de
vida diárias (AVDs), vestuário, transferências, posicionamentos no leito e em cadeira
de rodas, além do uso de órteses e verificação da adequação das mesmas.
Por meio do exame físico, observa-se também as condições gerais de
pele e anexos, presença ou não de deformidades. A avaliação de enfermagem
necessita de uma abordagem holística. O estado físico, mental, emocional,
espiritual, social e econômico devem ser considerados no ato da internação
(GEORGE, 1993).
A partir do histórico de enfermagem se estabelecem os problemas
levantados e realiza-se a prescrição de enfermagem para nortear as ações da
equipe
de
enfermagem.
Através
das
anotações
desenvolvimento dos pacientes (GREVE et al.,1992).
que
se
acompanha
o
25
De acordo com Zago (1992) é importante que sejam criadas condições
favoráveis à promoção de independência ao paciente. Deve haver percepção pelo
enfermeiro reabilitador em saber o que o paciente tem condições de realizar
sozinho, mesmo que com dificuldade, e aquilo que há necessidade de auxílio.
Segundo Machado (2003) compete ao enfermeiro especializado em
reabilitação, como todo profissional enfermeiro, supervisionar e orientar toda equipe
de Enfermagem em Reabilitação; realizar escala de folgas e dimensionamento de
pessoal; supervisionar e controlar o Processo de Enfermagem e "Primary Nurse",
para que se cumpra adequadamente conforme princípios da instituição; realizar
avaliação holística do paciente e acompanhamento de seu desenvolvimento na
reabilitação; realizar relacionamento terapêutico; integração dos funcionários entre si
e com os pacientes; intermediador da enfermagem com os demais componentes da
Equipe de reabilitação (fisioterapeuta, fono-audiólogo, terapeuta ocupacional, e
outros).
Por fim, compete ao enfermeiro planejar reuniões de treinamento e
aprimoramento dos funcionários que atuam com reabilitação; atuar em conjunto com
a Educação Continuada para melhoria da assistência prestada; treinar e avaliar
funcionário admitido na equipe de reabilitação; realizar do processo de enfermagem;
avaliar e acompanhar o paciente no que diz respeito à sua evolução na reabilitação;
orientar quanto aos cuidados com alimentação, higiene, eliminações; auto-cuidado à
família e acompanhantes; realizar curativos específicos que requerem atenção
especial (MACHADO, 2003).
26
5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E O PAPEL DA ENFERMAGEM
Os pacientes que sofreram lesão na medula espinhal, na maioria das
vezes se tornam dependentes de cuidados especiais devido às inúmeras
manifestações clínicas e consequências da lesão, e essas manifestações ocorrem
de acordo com o nível e classe da lesão. (BRUNNER, 2002)
A lesão medular espinhal, com as consequentes perdas de motricidade e
sensibilidade, causa uma série de perdas funcionais e incapacidades que precisam
ser
abordadas
de
forma
adequada
para
prevenção
de
complicações
e
incapacidades secundárias, dentre as quais se destacam as úlceras de pressão,
disfunção urinária, doenças gastrointestinais e cardiocirculatórias (NOGUEIRA et al.,
2002).
5.1 ÚLCERA POR PRESSÃO
Úlceras por Pressão ou Escaras de Decúbito são áreas de necrose
localizadas na pele e tecidos subcutâneos decorrentes da falta de oxigenação e
nutrição desses tecidos, provocada pela compressão ao nível das proeminências
ósseas do corpo em pacientes que permanecem acamados e imóveis numa mesma
posição por longos períodos (FARO, 1996).
Nos pacientes com lesão medular ocorre às úlceras por pressão por estes
permanecerem deitados por longos períodos sem poderem se movimentar
espontaneamente, com isso o peso do corpo exerce pressão sobre as
proeminências
ósseas
e,
consequentemente,
a
pele
adquire
coloração
esbranquiçada decorrente da isquemia na área da compressão. Caso essa pressão
não seja periodicamente aliviada, através das mudanças de decúbitos desses
pacientes, a área de coloração esbranquiçada evolui para um estágio de sofrimento
tecidual adquirindo um aspecto cianótico seguido de formação de bolhas que se
rompem facilmente e necrosam, produzindo escaras ou úlceras por pressão
(NOGUEIRA et al., 2002).
27
De acordo com Faro (2006), tais úlceras tendem a aumentar de tamanho
se a região não for protegida adequadamente, sobretudo se não for eliminada a
pressão sobre a área por meio da mudança de posição do paciente. Se essa
compressão for eliminada pela mudança de decúbito do paciente, essa área de
coloração esbranquiçada dará lugar a uma área de coloração avermelhada devido a
hiperemia reativa que ocorre como resposta ao súbito aumento do fluxo de sangue
na região antes comprimida.
Os sintomas ou sinais de alerta que antecedem a formação da escara
são: área cutânea de coloração pálida ou avermelhada, manchas escuras de cor
roxa e bolhas. Quando apalpadas pela primeira vez, essas manchas se apresentam
mornas se comparadas com a pele ao redor, sendo que mais tarde elas tendem a
tornar-se frias caracterizando sinal de desvitalização dos tecidos (SCRAMIN, 2006).
Os primeiros sinais geralmente aparecem nas áreas ao nível de
proeminências ósseas, tais como: região sacra, ísquios, calcâneos, cotovelos,
joelhos, escápulas, região occipital, entre outras. Por esse motivo, nas mudanças de
decúbitos deve-se observar o aspecto e a integridade da pele ao nível dessas áreas
de proeminências ósseas (REDE SARAH, 2009).
São quatro as opções mais comuns para as mudanças de decúbitos
como ventral, dorsal, lateral direito e lateral esquerdo (SCRAMIN, 2006).
É importante ressaltar que as escaras podem desenvolver-se em poucos
dias e progredir rapidamente se não forem tratadas adequadamente. Quando o
tratamento não é adequado frequentemente as escaras infeccionam, crescem em
extensão e profundidade, podendo o processo infeccioso estender-se até ao plano
ósseo tornando a cura muito demorada e extremamente difícil (LESAO MEDULAR,
2009).
A úlcera por pressão pode levar a osteomielite, septicemia e óbito.
Acarreta perdas funcionais e financeiras ao paciente e familiar, bem como
transtornos físicos e psicológicos que impedem a participação dos indivíduos nos
programas de reabilitação e atividades sociais. A prevenção e o tratamento das
úlceras por pressão são mandatórias em qualquer programa de reabilitação. Os
fatores de risco para desenvolvimento da úlcera são espasticidade, deformidades,
anemia e falta de cuidados e orientação (NOGUEIRA et al., 2002).
A manutenção da integridade da pele e de tecidos subjacentes é
fundamental para uma boa reabilitação. Essa é uma responsabilidade da equipe de
28
enfermagem, no entanto, se tratando de lesão da medula espinhal todos os
profissionais da equipe de reabilitação devem estar atentos. As úlceras por pressão
são indicadores da qualidade da assistência dos serviços de saúde, pois a maior
parte delas pode ser prevenida com adoção de medidas adequadas e educação dos
profissionais, pacientes e familiares (NOGUEIRA et al. 2002).
Faro (1996) comentam que a prevenção da úlcera de pressão é feita com
mudanças periódicas de decúbito, que podem ser auxiliadas por camas giratórias,
colchões e assentos especiais para cadeiras de rodas, que não substituem, porém,
as mudanças periódicas de decúbito.
A ausência de sensibilidade nos indivíduos acometidos requer cuidados
especiais, boa nutrição, higiene rigorosa, hidratação cutânea e uso apropriado de
órteses. Na vigência de uma úlcera por pressão, são necessários curativos diários,
liberação de pressão na área acometida, debridamento periódico dos tecidos
necrosados, uso de cremes, antibióticos e cirurgias plásticas (NOGUEIRA et al.
2002).
De acordo com Machado (2009), o enfermeiro durante um processo de
reabilitação deve:
a) observar diariamente a pele do paciente para detectar possíveis áreas
comprometidas;
b) realizar massagem com creme hidratante em região glútea, face posterior
das coxas, pés e artelhos. Evitar massagens nas áreas com manchas
roxas ou bolhas, pois isto indica o início da escara e a massagem nestas
circunstâncias vai causar mais danos que benefícios;
c) fornecer aos pacientes protetores de espuma nas áreas de maior risco
(proeminências ósseas);
d) orientar para que os joelhos sejam mantidos afastados de contato direto
um com o outro;
e) utilizar sempre o colchão de ar do tipo "caixa de ovo inflável" ou o colchão
d'água que apóiam o corpo de forma suave e uniforme, ajustando-o com
perfeição em toda a sua extensão, sem causar pressão excessiva nas
áreas mais vulneráveis;
f) realizar mudança de decúbito no paciente
a cada 2 horas, sendo
conveniente um horário por escrito para se evitar esquecimentos;
g) manter o paciente fora do leito sempre que possível;
29
h) usar técnicas adequadas para transferência do paciente da cama para
cadeira e vice-versa;
i) usar aparelhos como o trapézio ou o lençol do forro da cama para
movimentar;
j) evitar cruzar os membros do paciente para não obstruir o fluxo sanguíneo
desse segmento corporal;
k) exercitar o paciente fazendo movimentos passivos nas articulações das
mãos, braços, pés e pernas. Solicitar orientação e acompanhamento de
fisioterapeuta especializado em lesão medular;
l) oferecer alimentos apetitosos e ricos em proteínas: carnes, frangos,
peixes, leite e seus derivados, vitaminas e sais minerais. Os cardápios
devem alternar carnes vermelhas, frangos e peixes durante a semana.
Solicitar orientação dietética de nutricionista;
m) oferecer liquido ao paciente que deve ingerir aproximadamente 2 litros de
líquidos por dia;
n) manter sempre uma higiene adequada do paciente, a pele deverá ser
limpa no momento que sujar. Evitar água quente e usar um sabonete
suave hidratante para não causar irritação ou ressecamento da pele;
o) manter a cama sempre limpa, seca e os lençóis bem esticados e livres de
resíduos de alimentos;
p) encaminhar o
paciente para
tomar sol por curtos períodos (30 a 40
minutos) preferencialmente no período das 7 às 10 horas da manhã,
nunca em horas de maior intensidade;
q) fornecer muito carinho e amor ao paciente. Não deixá-lo deitado ou
sentado sobre a ferida e observar se as medidas de prevenção
mencionadas estão sendo efetivamente colocadas em prática.
5.2 DISFUNÇÃO INTESTINAL
A lesão medular determina alterações no controle intestinal, onde na
lesão medular de nível mais alto o distúrbio está principalmente relacionado com
tendência a constipação intestinal crônica (prisão de ventre) e na lesão medular
30
mais baixa o distúrbio está relacionado com tendência à incontinência fecal
(eliminação acidental de fezes). Embora na maioria das lesões medulares não seja
possível a recuperação do controle intestinal, um programa de reeducação pode
fazer com que o intestino funcione sempre em um mesmo horário, tornando mais
fáceis as atividades fora de casa (REDE SARAH, 2009).
Essa alteração intestinal ocorre devido à interrupção dos nervos da
medula espinhal. As mensagens advindas da porção retal para o cérebro não
conseguem passar pelo bloqueio na altura da lesão, o que pode resultar em
movimentação intestinal insuficiente e acarretar constipação e impactação fecal. Os
efeitos da imobilidade dessa musculatura variam dependendo do nível e da
extensão da lesão. O mecanismo de esvaziamento intestinal é coordenado pelo
nível medular S2 a S4 e a lesão a este nível deve incapacitar o desenvolvimento da
defecação automática afirma (FARO et al. 1996).
Tonello (1999) recomenda uma alimentação balanceada e uma
hidratação adequada. Três refeições por dia (café da manhã/almoço/jantar) são
recomendadas para que se tenha massa fecal suficientemente volumosa. A ingesta
hídrica (aproximadamente de 2,5 a 3 litros) torna menos consistente o bolo fecal,
facilitando sua eliminação. Quando ocorre constipação, deve-se ingerir mais
líquidos, o que não se restringe somente à água, mas também sucos de frutas,
vitaminas, leite e iogurtes. Devem-se evitar chás e refrigerantes porque são
constipantes e provocam flatulência.
Figueiredo (2004) afirmou que a reabilitação envolve a utilização de
técnicas e ações interdisciplinares, como o esforço conjunto de todos os
profissionais e familiares, dentro e fora das instituições e que deve ter como objetivo
comum a melhora e/ou a reabilitação das funções diminuídas ou perdidas para
preservar a capacidade de viver de cada indivíduo envolvido na ação de cuidar. Na
disfunção intestinal pode utilizar a manobra de Rosing que é a massagem feita
várias vezes no abdômen, no sentido da direita para a esquerda e de baixo para
cima com leve compressão durante 20 a 30 minutos após as refeições.
Durante as manobras, o paciente é orientado a adotar a posição sentada,
e caso o equilíbrio permita, deve ficar inclinado para a frente. Para a prevenção de
lesões cutâneas pode se adaptar espumas no assento sanitário e, por isso, é
aconselhável evitar comadres e urinol. Caso as manobras não funcionem, está
indicada a estimulação retal: introduz-se o dedo, se possível enluvado e lubrificado,
31
suavemente no ânus com movimentos de "vaivém" durante 5 minutos. Caso não
haja êxito com a prática, recomenda-se o supositório de glicerina de acordo com a
prescrição médica (FIGUEIREDO, 2004).
Tanto o enfermeiro como o paciente ou o cuidador devem sempre
observar e registrar o aspecto (cor e odor), o volume aproximado das fezes,
considerando-se também o aspecto do abdômen (TONELLO, 1999).
De acordo com Machado (2009), o enfermeiro durante um processo de
reabilitação deve:
a) orientar o paciente quanto a uma reeducação alimentar;
b) orientar quanto a ingestão de alimentos ricos em fibras, para facilitar o
trânsito intestinal;
c) ofertar de 2,5 a 3 litros de líquido diariamente para melhora do trânsito
intestinal e para a hidratação do paciente;
d) fornecer as refeições ao paciente sempre no mesmo horário para que o
mesmo habitue o intestino quanto às evacuações;
e) levar o paciente ao banheiro todos os dias em um mesmo horário para
habituar o intestino quanto às evacuações;
f) realizar estímulo retal ou supositório de glicerina, caso não haja episódios
de evacuação por mais de três dias;
g) realizar a manobra de Rosing, após as refeições, para estimular a descida
do bolo fecal;
h) anotar aspecto, cor, odor, volume e características das fezes;
i) realizar higiene da região anal após as evacuações.
4.3 DISFUNÇÃO URINÁRIA
O sistema urinário, formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra, é o
responsável pela produção, armazenamento e eliminação da urina. A urina é
produzida pelos rins, sendo conduzida pelos ureteres e armazenada na bexiga, que
é uma bolsa muscular coletora. Quando essa bolsa muscular coletora fica repleta de
urina, esse músculo, por um mecanismo reflexo, se contrai e a urina é eliminada
através da uretra (micção). No momento em que o músculo da bexiga se contrai, o
32
esfíncter da uretra se relaxa para permitir a saída da urina. Este é um processo
fisiológico normal controlado pelo sistema nervoso autônomo que coordena o
funcionamento sinérgico entre a bexiga e a uretra (BRUNNER, 2002).
Figura 3 – Sistema Urinário
Fonte: Rede Sarah, 2009.
Durante o enchimento da bexiga, a musculatura permanece relaxada
para receber e armazenar a urina proveniente dos rins, enquanto o músculo do
esfíncter da uretra permanece contraído para evitar a saída da urina coletada na
bexiga. Por outro lado, quando o músculo da bexiga se contrai para eliminar o seu
conteúdo, o esfíncter da uretra se relaxa para permitir a eliminação da urina. Para
que esse mecanismo automático aconteça normalmente é preciso haver
coordenação nervosa entre o músculo da bexiga e do esfíncter da uretra. Quando
esse mecanismo não ocorre de maneira integrada, acontece o que se chama
dissinergismo vésico-esfincteriano (SPENCER, 1991).
Se os músculos da bexiga e o do esfíncter da uretra se contraírem ao
mesmo tempo, haverá um esforço maior da musculatura da bexiga para tentar
vencer a resistência do esfíncter da uretra. Esse esforço leva, com o tempo, a um
enfraquecimento da parede da bexiga, bem como a formação de divertículos na
parede da bexiga havendo refluxo de urina da bexiga para os rins, colocando em
risco a função renal que é uma grave complicação (BRUNNER, 2002).
O cérebro e os nervos provenientes da medula espinhal são responsáveis
pelo mecanismo coordenado entre a bexiga e o esfíncter uretral, o que possibilita um
33
controle eficaz da urina através do sistema urinário. Um traumatismo de coluna com
lesão medular pode comprometer essa comunicação entre o cérebro e o sistema
urinário, e a eliminação da urina armazenada na bexiga deixará de ser automática, o
que representa um sério problema para o paciente, pois o cérebro e os nervos
provenientes da medula espinhal são responsáveis pelo mecanismo coordenado
entre a bexiga e o esfíncter uretral, o que possibilita um controle eficaz da urina
através do sistema urinário (BRUNNER, 2002).
A bexiga neurogênica varia de acordo com o tipo e o nível da lesão,
causando incontinência urinária, havendo a necessidade de orientações médicas e
cuidados para o esvaziamento adequado. As complicações mais comuns são,
infecções urinárias, cálculos renais e vesicais e fístulas uretro-escrotais. O cuidado
urológico apropriado diminui complicações e permite que o paciente tenha melhor
controle do esvaziamento vesical, facilitando sua reintegração social (GREVE et al.,
1992).
Dependendo do nível da lesão medular, a bexiga pode passar a
apresentar dois tipos de problemas: bexiga espástica e bexiga flácida. A primeira
ocorre quando a bexiga passa a acumular uma quantidade menor de urina do que
antes da lesão medular, e o músculo da bexiga passa a ter contrações involuntárias
com perdas frequentes de urina, sendo mais comum nas lesões medulares acima do
nível sacral (BRUNNER, 2002).
A segunda ocorre quando a bexiga passa a acumular uma quantidade
maior de urina do que antes da lesão medular, porque o músculo da bexiga não se
contrai mais e isso faz com que grande quantidade de urina fique retida, ocorrendo
em maior frequência nas lesões medulares ao nível sacral (abaixo de T12). O
diagnóstico do tipo de bexiga é importante para a definição do tipo de tratamento a
ser instituído em regime de internação hospitalar para reabilitação (LESÃO
MEDULAR, 2009).
De acordo com Machado (2009) o enfermeiro durante um processo de
reabilitação deve:
a) utilizar sondas de demora para esvaziamento da bexiga;
b) limpar ao redor da área onde o cateter penetra no meato uretral (junçãocateter) com água e sabão durante o banho diário, para retirar os resíduos;
c) evitar o uso de talco e sprays na área perineal;
d) evitar a tração sobre o cateter durante a limpeza;
34
e) trocar sondas a cada 7 dias;
f) avaliar sinais de retenção urinária e comunicar ao médico responsável;
g) realizar esvaziamento da bexiga com sonda vesical de alívio de acordo
com a prescrição médica;
h) fornecer variedades de líquidos, de preferência os que promovem a
diurese espontânea;
i) ofertar de 2 a 3 litros de líquidos diariamente;
j) ensinar a família técnicas de estimulação suprapubica, Crede e Valsalva;
k) lavar as mãos antes de manipular a sonda;
l) lavar a bolsa coletora uma vez ao dia, com água e sabão ou água e cloro
(cândida); quando desconectar a bolsa da sonda, bloquear a sonda com
uma gaze estéril, para que a urina não vaze;
m) manter a bolsa coletora sempre abaixo do nível da cama, e não deixar
que ela fique muito cheia, para evitar que a urina retorne para dentro da
bexiga;
n) evitar que a perna do paciente fique apoiada na sonda, porque estará
ocluida, e a urina não sairá da bexiga;
o) observar sempre que não houver urina na bolsa coletora, verificando se
não há dobras ou obstruções no sistema.
5.4 DISREFLEXIA AUTONÔMICA
É uma emergência aguda que ocorre em pacientes com lesão medular
como resultado de respostas autônomas acentuadas aos estímulos que são inócuos
em indivíduos normais (BULECHEK, 1985).
Segundo Rede Sarah (2009), disreflexia autonômica é uma complicação
freqüente nas lesões cervicais e pode ocorrer também nas lesões medulares acima
de T6. Qualquer estímulo que, normalmente, causaria dor e desconforto na pessoa
sem lesão, na pessoa que não sente dor e desconforto por causa de uma lesão
medular pode causar uma crise de disreflexia.
Smeltzer & Bare (1994) afirmam que inúmeros estímulos podem
desencadear esse reflexo, como a distensão vesical, sendo a causa mais comum,
35
estimulação da pele (tátil, dolorosa, térmica), distensão de órgãos viscerais,
especialmente intestino, devido a constipação e impactação e unhas encravadas.
Isso pode ocorrer vários meses depois do trauma tendo maior incidência em
tetraplégicos.
Esse sintoma tem sido uma das principais causas da necessidade de
atendimento médico de pacientes com lesão raquimedular, pois causa desconforto
ao paciente e á família (SOUZA, 2001).
De acordo com Demenech (1994), os sinais e sintomas mais frequentes
de disreflexia autonômica são: cefaléia, pontos brilhantes visuais, visão borrada,
obstrução nasal, frequência cardíaca baixa. Pode ocorrer também manifestações
acima do nível da lesão como arrepios, sudorese e manchas vermelhas na pele. O
tratamento passa a ser emergencial quando ocorre elevação e descontrole da
pressão arterial, sendo o sinal clínico de maior perigo (LESÃO MEDULAR, 2009).
De acordo com Machado (2009), o enfermeiro durante o processo de
reabilitação deve:
a) colocar imediatamente o paciente sentado;
b) registrar pulso e pressão arterial para avaliar a eficácia das intervenções;
c) esvaziar imediatamente a bexiga através de sondagem de alívio;
d) promover lavagem intestinal ou fleetenema, considerando uma possível
constipação como causa do evento;
e) eliminar qualquer outro estímulo que possa se constituir num evento
desencadeador, como objetos injuriando a pele ou uma corrente de ar frio,
bem como roupas e calçados apertados;
f) administrar o tratamento medicamentoso (alfa e beta bloqueador e
miorrelaxante) conforme prescrição médica.
36
5.5 TROMBOSE
Uma complicação comum do LME é a trombose venosa profunda,
relacionada ao imobilismo e a perda dos reflexos vasomotores. O diagnóstico muitas
vezes é clínico, pois pode evoluir de forma silenciosa pela falta de sensibilidade
(GREVE et al, 1992).
Quando o corpo não é movimentado regularmente, existe a possibilidade
de ocorrer o aparecimento de um coágulo de sangue chamado trombo. O trombo
formado na perna pode se desprender e viajar para outras partes do corpo. Se isso
ocorrer, ele passa a ser chamado de êmbolo e um dos lugares mais comuns para
um êmbolo se hospedar é o pulmão - embolia pulmonar (REDE SARAH, 2009).
De acordo com Bulechek (1985), a presença de Trombose Venosa
Profunda (TVP) é avaliada através da mensuração da panturrilha e constatada caso
haja aumento significativo na circunferência desse segmento.
Segundo Rede SARAH (2009), os sinais mais frequentes de trombose
são: panturrilha ou coxa de uma das pernas mais quente e mais edemaciada do que
a outra. Na presença dessas alterações, avaliação médica e tratamento adequado
se fazem necessários.
Conforme Smeltzer & Bare (1994), a terapia com doses baixas de
anticoagulantes é iniciada para evitar a TVP e a embolia pulmonar. É indicado o uso
de meias elásticas, a execução de exercícios fisioterápicos que promovam amplitude
de movimento, uma hidratação adequada e a anulação de estímulos báricos
externos nos membros inferiores decorrentes da flexão dos joelhos enquanto o
paciente está acamado.
Diante dessa grave complicação, impõe-se um diagnóstico e tratamento
precoces, além de uma vigilância cuidadosa e contínua do paciente ainda na fase de
trombose, a fim de ser instituída a terapêutica mais adequada para salvar o paciente
(GREVE et al., 1992).
De acordo com Machado (2009), o enfermeiro durante o processo de
reabilitação deve:
a) manter o paciente em posicionamento adequado no leito com elevação
dos membros inferiores;
37
b) realizar movimentação passiva dos membros do paciente e área afetadas
bem como a panturrilha e áreas edemaciadas;
c) realizar massagem nos membros afetados com o intuito de melhorar a
circulação;
d) orientar ao paciente quanto á importância da utilização de meias elásticas;
e) solicitar exercícios fisioterápicos;
f) orientar ao paciente quanto a uma maior hidratação para melhora da
circulação sanguínea;
g) mensurar e anotar a circunferência da panturrilha diariamente;
h) observar sinal de calor e edema em MMII diariamente.
5.6 EMBOLIA PULMONAR
A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo (trombo), que está fixo
numa veia do corpo, se desprende e vai pela circulação até o pulmão, onde fica
obstruindo a passagem de sangue por uma artéria. A área do pulmão suprida por
essa artéria poderá sofrer alterações com repercussões no organismo da pessoa,
podendo causar sintomas. Às vezes, mais de um trombo pode se deslocar,
acometendo mais de uma artéria (BRUNNER, 2002).
De acordo com Lanza (2001), os principais sintomas de embolia pulmonar
são: encurtamento da respiração ou falta de ar, dor torácica, tosse de aparecimento
súbito seca ou com sangue, ansiedade, febre baixa e batimentos cardíacos
acelerados.
Existem algumas situações que facilitam o aparecimento de tromboses
venosas, que causam as embolias pulmonares. A trombose é o surgimento de um
trombo nas veias. Normalmente ocorre nas pernas, coxas ou quadris. Quando este
trombo se desprende, vai para a circulação e acaba-se trancando numa artéria do
pulmão, podendo ou não causar problemas. Se for pequeno, poderá até não causar
sintomas, mas se for de tamanho razoável, poderá causar dano pulmonar ou, até
mesmo, a morte imediata (LANZA, 2001).
As principais fontes de embolização são as veias profundas da coxa e da
pélvis
acometidas
por
trombose
(GOLDHABER,
2001).
Os
mecanismos
38
responsáveis pela trombose não estão totalmente esclarecidos e a clássica Tríade
de Virchow (estase venosa, lesão endotelial e hipercoagulobilidade) não justificam
todos os mecanismos (KNOBEL, 1999).
A incidência de trombose venosa profunda (TVP) é de 10 a 20% e
tromboembolismo pulmonar (TEP) 4 a 10% em casos de traumatismo raquimedular
e politraum (LANZA, 2001).
A prevenção ocorre através do uso de medicações como anticoagulantes
em doses preventivas em pacientes que ficarão acamados por um longo período. Já
os pacientes com menor comprometimento dos membros, deverão exercitar as
pernas através de exercícios fisioterápicos.
Os indivíduos que quase não se
movimentam têm mais chances de ter um tromboembolismo pulmonar (LANZA,
2001).
De acordo com Machado (2009), o enfermeiro durante o processo de
reabilitação deve:
a) avaliar os sinais vitais do paciente de 6/6 horas;
b) realizar massagem 2 vezes ao dia em pacientes acamados;
c) orientar quanto á importância do uso da meia elástica;
d) administrar medicação anticoagulante de acordo com a prescrição médica;
e) observar e relatar sinas e sintomas sugestivos de embolia pulmonar.
5.7 DISTÚRBIOS DO HUMOR
Muitos indivíduos que sofrem lesão medular, e que como consequência
do trauma adquirem algum tipo de sequela, como a paralisia, seja ela total ou
parcial, apresentam distúrbio de humor. Devido á mudança repentina em sua vida,
muitos não aceitam as novas limitações (MADUREIRA, 2000).
O distúrbios do humor, particularmente a ansiedade e a depressão, são
frequentes em pacientes com lesão medular. A integração precoce em programas
de
reabilitação
e
socialização,
incluindo
atividades
esportivas,
diminui
consideravelmente a incidência desses problemas (REDE SARAH, 2009).
De acordo com Machado (2009), o enfermeiro durante o processo de
reabilitação deve:
39
a) estimular o paciente a expressar seus sentimentos, para atenuar a
ansiedade;
b) oferecer ao paciente e seus familiares um local apropriado para se
encontrarem com os componentes da equipe terapêutica;
c) informar ao paciente sobre o seu estado e suas capacidades,
esclarecendo suas dúvidas.
40
6 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEGUNDO NANDA
O diagnóstico de enfermagem é o momento de análise e interpretação
criteriosa de dados para julgar necessidades, problemas, preocupações e respostas
humanas do cliente. Em todas as profissões o diagnóstico precede a ação. É dessa
forma que os profissionais identificam as necessidades e planejam suas decisões
em relação a determinada situação ( CARPENITTO, 2002).
À enfermagem compete a responsabilidade de diagnosticar respostas
humanas relacionadas à saúde ou a atividades cotidianas. A partir dos problemas
levantados e já conhecidos, o enfermeiro pode prever complicações e agir na
prevenção das mesmas ou no controle, se não for possível evitá-las. O diagnóstico
de enfermagem é domínio da enfermagem, ou seja, trata-se de uma atividade que
os enfermeiros têm qualificação legal para tratar e responsabilizar-se. É base para
planejamento de intervenções e acompanhamento da evolução do estado de saúde
do cliente (CRUZ, 1993).
A Associação Norte Americana dos Diagnósticos de Enfermagem
(NANDA) desenvolveu um sistema de classificação dos diagnósticos que propõe a
universalização dos problemas encontrados nos pacientes pelos enfermeiros e
diante das várias definições surgidas na literatura, afirmando que o diagnóstico de
enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou
da comunidade aos problemas de saúde/processos vitais, reais ou potenciais. O
diagnóstico de enfermagem proporciona seleção das intervenções de enfermagem
visando ao alcançe dos resultados pelos quais a enfermeira é responsável
(CARPENITTO, 2002).
O diagnóstico de enfermagem, quando usado corretamente, torna-se um
facilitador das ações de enfermagem, pois indica quais as intervenções devem ser
realizadas de acordo com as necessidades dos pacientes (CRUZ, 1993).
De acordo com Cafer et al. (2005), McCloskey, (2004) e North American
Nursing Diagnosis Association - NANDA (2008), os diagnósticos de enfermagem
para pacientes com lesão raquimedular são:
a) mobilidade física prejudicada;
b) déficit no autocuidado para banho e higiene;
c) déficit no auto-cuidado pra vestir-se e arrumar-se;
41
d) disfunção sexual;
e) risco para infecção;
f) risco para integridade da pele prejudicada;
g) incontinência urinária;
h) constipação;
i) ansiedade;
j) integridade da pele prejudicada;
k) risco pra disreflexia autonômica;
l) déficit no auto-cuidado pra alimentar-se;
m) déficit de conhecimento;
n) retenção urinária;
o) dor.
Fatores relacionados segundo American Nursing Diagnosis Association –
NANDA (2008):
a) prejuízos sensorioperceptivos;
b) prejuízos neuromusculares;
c) força e resistência diminuída;
d) força, controle e massa muscular diminuídos;
e) dor;
f) prejuízo musculoesquelético;
g) prejuízo perceptivo ou cognitivo;
h) ansiedade grave.
Características
definidoras
segundo
American
Nursing
Diagnosis
Association – NANDA (2008):
a) capacidade limitada para desempenhar as habilidades motoras grossas e
finas;
b) incapacidade de chegar à fonte de água;
c) incapacidade de lavar o corpo ou parte do corpo;
d) incapacidade de pegar artigos para banho;
e) capacidade prejudicada de por/ tirar/ fechar/ obter roupas;
f) incapacidade de colocar roupas na parte superior do corpo.
42
Fatores de risco segundo American Nursing Diagnosis Association – NANDA (2008):
a) exposição a patógenos aumentada;
b) procedimentos invasivos;
c) destruição de tecidos e exposição ambiental aumentada;
d) defesas primárias inadequadas;
e) imibilização física;
f) proeminências esqueléticas;
g) sensibilidade alterada.
Assim, as 26 intervenções da Nursing Interventions Classification (NIC)
apontadas para os diagnósticos de enfermagem mais frequentemente indicados
para o paciente com lesão medular são as seguintes:
a) terapia com exercícios: deambulação;
b) terapia com exercícios: mobilidade articular;
c) posicionamento;
d) banho;
e) assistência no auto-cuidado: banho e higiene;
f) vestir;
g) cuidados com os cabelos;
h) assistência no auto-cuidado: vestir-se/arrumar-se;
i) aconselhamento sexual;
j) controle de infecção;
k) proteção contra infecção;
l) controle de pressão sobre áreas do corpo;
m) prevenção de úlcera de pressão;
n) cuidados na incontinência urinária;
o) controle da constipação/impactação;
p) redução da ansiedade;
q) cuidados com local de incisão;
r) supervisão da pele;
s) cuidados com lesões;
t) controle da disreflexia;
u) alimentação;
v) assistência no auto-cuidado: alimentação;
43
w) ensino: processo da doença;
x) cateterização vesical;
y) cuidados na retenção urinária;
z) controle da dor.
44
7 METODOLOGIA
O presente estudo tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e este tipo de
investigação, segundo SIQUEIRA (2002), precede todo o estudo mais aprofundando
de uma questão científica. Seu principal objetivo é identificar e sistematizar o que já
foi publicado sobre o tema estudado.
Consistem na seleção, leitura e sistematização do material da pesquisa
em pauta.
Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa foi realizada
de forma qualitativa, pois não apresentou rigidez em sua condução. O processo e
seu significado são os focos principais de abordagem, (SIQUEIRA, 2002).
Assim, realizou-se à a partir da leitura e análise das literaturas cientificas:
obras de divulgação em enfermagem, publicações periódicas, indexadas nas bases
de dados, Scientific eletronic library online – Fapesp, SCIELO alem de sites oficiais
como www.bireme.br, www.pucminas.br, do ano de 1996 a 2009.
Os descritores utilizados no momento da busca foram: enfermagem,
reabilitação, lesão medular, processo. Este procedimento possibilitou a explicação
do objetivo da pesquisa e estabeleceu as relações entre as informações cientificas e
o objetivo da pesquisa, bem como a verificação e sua consistência em relação ao
que é apresentado pelos principais teóricos sobre o tema e a delimitação das
contribuições culturais e cientificas desta pesquisa.
O avanço do processo da pesquisa bibliográfica deve ser clara a partir da
leitura:
1.
exploratória sobre o tema, verificando a bibliografia editada a seu
interesse à pesquisa;
2.
seletiva, determinando o material de fato interessante à pesquisa em
função dos objetivos de investigação delineado;
3.
analítico, ordenando e sumariando as informações contidas nas fontes
afim de obter respostas em relação ao tema de pesquisa proposto.
Após a análise iniciou-se a dissertação da pesquisa.
45
8 CONCLUSÃO
Partindo do princípio de que o cuidar do corpo humano exige,
necessariamente, um olhar para a dimensão total do ser, inclusive de sua essência
existencial, torna-se imprescindível, para os profissionais da enfermagem, uma
maior conscientização acerca do importante papel que desempenha ao interferir no
espaço de privacidade das pessoas dependentes de intervenções, como aqueles
que apresentam deficiência física.
E de acordo com a literatura estudada o número de casos de indivíduos
que adquirem como sequela a lesão medular vem crescendo. Os enfermeiros devem
se atualizar diante do tratamento de reabilitação desses pacientes, onde a
reabilitação físico-motora não pode ser entendida como uma complementação ao
tratamento do deficiente físico. Trata-se de um processo de cuidar precoce,
abrangente, holístico enquanto um modelo assistencial, essencialmente educativo.
Por meio da Sistematização da Assistência, o enfermeiro reabilitador
desenvolve um Plano de Cuidados destinados a facilitar a reabilitação, restaurar e
manter níveis saudáveis de vida e evitar complicações.
Através desse estudo conclui-se que o enfermeiro, ao assistir o paciente
com trauma raquemedular, desenvolve um papel fundamental de educador, bem
como de implementador de cuidados, conselheiro e consultor, muitas vezes o
responsável pelo planejamento geral de reabilitação.
O ensino sobre o auto-cuidado deve ser reforçado durante a internação
devido a complexidade das alterações oriundas da lesão medular, pelo qual se sabe
que a reabilitação não visa a cura total do paciente, mas sim uma forma de torná-lo
mais independente para realizar as atividades de vida diária, permitindo a
convivência com a incapacidade de maneira digna e com melhor qualidade de vida.
Conclui-se também que em casos de TRM, deve-se considerar que a
reabilitação tenha início no momento do acidente, pois envolve a aprendizagem do
paciente e da família diante de uma vida completamente diferente. A partir daí, o
maior desafio é a prevenção das complicações ou de incapacidades secundárias
que, se contornadas, melhoram gradativamente o potencial funcional dos pacientes.
Por isso, se faz necessário um planejamento dos cuidados a serem
prestados, ressaltando que as maiores complicações em pacientes lesionados são
46
úlcera de pressão e infecção do trato urinário, que são evitadas a partir do momento
que este paciente seja assistido devidamente, tanto pela equipe de enfermagem
quanto por um parente cuidador.
Os principais problemas e intervenções de Enfermagem no âmbito da
reabilitação de deficientes físicos, durante a internação, se referem à manutenção da
integridade física e motora. Consequentemente à diminuição ou ausência da
mobilidade e sensibilidade, cuidados específicos e de caráter preventivo, são
relevantes ao bem estar do paciente.
A assistência de Enfermagem na reabilitação tem como principais
objetivos auxiliar o paciente a se tornar independente o máximo que puder dentro de
suas condições, promover e incentivar o auto-cuidado através de orientações e
treinamento de situações, preparar o deficiente físico para uma vida social e familiar
da melhor maneira possível e com qualidade.
Com o enfoque na realização das atividades da vida diária (AVD) da
maneira mais independente possível, torna-se necessário que o enfermeiro
reabilitador conheça os hábitos e o estilo de vida do paciente no contexto da família
e da sociedade. Esta atuação compreende o auto-cuidado para a capacidade de
vestir/despir, alimentar-se, fazer higiene pessoal e íntima, prevenir deformidades de
articulação, complicações respiratórias e vasculares.
Por fim, conclui-se que o enfermeiro tem um papel fundamental durante
todo o processo de reabilitação, uma vez que pacientes bem acompanhados por
toda a equipe, desde a fase aguda com um programa de reabilitação integral,
instaurado de forma precoce, tem maiores chances de não ter complicações e uma
vida de maior qualidade.
47
REFERENCIAS
AMERICAN SPINAL INJURY ASSOCIATION - ASIA. International Standards for
Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury. Chicago, 1996.
BRASIL. Ministério da Saúde. Informações em saúde: assistencia em saúde
(2006). Disponível em: < http://www.datasus.gov.br >. Acesso em: 18 mai. 2009.
BRUNNER, L.S.; SUDDARTH, D.S. Princípios e práticas de reabilitação. In:
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Brunner & Suddart: tratado de enfermagem médicocirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1993. p. 181- 207.
BRUNNER, L. S., et al. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico. 9. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
BULECHEK, G.M. Nursing interventions: treatments nursing diagnoses.
Philadelphia: Saunders, 1985.
CAFER,C. R.; BARROS, A. L. B. L. Diagnóstico de enfermagem e proposta de
intervenções para pacientes com lesão medular. Disponível em:<
htp://www.scielo.org.br > Acesso em: 17 fev 2009.
CARPENITTO, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica.
8.ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
Coenen AC, Ryan P, Sutton J. Mapping nursing interventions from a hospital
information system to the Nursing Interventions Classification (NIC). Nurs Diagn
1997; 8(4):145-51
CRUZ, I. C. F. da. Diagnóstico de enfermagem: Estratégia para sua formulação e
validação. São Paulo, 1993. 157p. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo. Disponível em: < http://br.geocites.com/enfermagem
web/avaliacao.htm > Acesso em: 12 set. 2009.
DEFINO, H. L. A. Trauma raquimedular. Medicina, Ribeirão Preto, v.32,n.4, p.388400,out-dez.1999.
48
DELISA, J. A.; BRUCE, M.G. Rehabilitation medicine: principles and practice.
Philadelphia: Lippincott; 1993.
DEMENECH, A.A. Lesado medular - uma ajuda. Enfoque., v.17 n.1, p. 19-25, 1989.
DEMENECH, A. A.; FREIRES, L. M. Disreflexia autonomica: uma emergência ou
näo? Rev. bras. enferm., v. 37, n. ¾, p.247-250, jul./dez. 1994.
FARO, A.C.M. Estudo das alterações da função sexual em homens
paraplégicos. São Paulo, 1991. 98 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo.
FARO, A.C.M., et al. Assistência de enfermagem ao paciente com traumatismo
raquimedular. In: VENTURA, M. de F. et al. Enfermagem ortopédica. São Paulo:
Ícone, 1996. p.175-89.
FARO, A. C. M. Autonomia, dependência e incapacidades: aplicabilidade dos
conceitos na saúde do adulto e do idoso. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto
para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. Fundação
Telefônica. Manual de enfermagem. São Paulo: Ministério da Saúde, 2006. p. 137140.
FERREIRA, A.B.H. Trauma In: Novo Dicionário da língua portuguesa. 2.ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira ,1986.
FIGUEIREDO, N.M.A.; MACHADO, W. O que é reabilitação. In: FIGUEIREDO,
N.M.A.; MACHADO, W.C.A.; TONINI, T. Cuidando de clientes com necessidades
especiais, motora e social. São Paulo: Difusão Enfermagem, 2004. p. 1-2.
GEORGE, J.B. Teorias de enfermagem: fundamentos para a prática profissional.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
GOLDHABER, Z.S. Pulmonary Embolism, In: BRAUNWALD, E; ZIPES, D.P.; LIBBY,
P. [eds]:. Heart Disease a Textbook of Cardiovascular Medicine. 6. ed,
Philadelphia: W.B.Saunders Company, 2001, p.52.
GREVE, J.M.D.A., et al. Clinical fundaments for rehabilitation treatment in a spinal
cord injury. Rev Paul Med., n. 110, p. 78-81, 1992.
49
GREVE, J.M.DA. Fundamentos clínicos do tratamento de reabilitação na lesão
medular. Âmb Hosp., v.67 n.6, p.55-74,1994.
GUERRA, C.I.C.O. Fatores de risco para o desgaste do cuidador familiar de
paciente na fila do transplante cardíaco. [dissertação] São Paulo: Escola de
Enfermagem da USP; 2000.
HARTKOPP, A., et al. Survival and cause of death after traumatic spinal cord injury.
A long-term epidemiological survey from Denmark. Spinal Cord, n. 35, p. 76-85.
1997.
HOYT, D.B.; COIMBRA, R.; WINCHELL, R.J. Tratamento de trauma agudo. In:
Townsend Jr CM, editores. Sabinston tratado de cirurgia: as bases biológicas da
prática cirúrgica moderna. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. p. 339340.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2000:
Características gerais da população. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br >
Acesso em: 09 abr. 2009.
KNOBEL, E.; BARUZZI, A.C. Condutas no Paciente Grave. 2. ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 1999. p.197-210.
LANZA, A. M. EMBOLIA PULMONAR. Disponível em:< htp://www.scielo.org.br >
Acesso em: 12 set. 2009.
LESÃO MEDULAR. Disponível em: < http://www.lesãomedular.com.br > Acesso
em: 14 mai 2009.
LIANZA, S.; CASALIS, M. E.; GREVE, J. M. D.; EICHBERG, R. A lesão medular. In:
LIANZA, S. (Org.). Medicina de Reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;
2001. p. 299-322
LIANZA, S. Órtese de propulsão recíproca modelo Argo - método de avaliação,
tratamento e análise de resultados na reeducação da locomoção em pacientes com
lesão medular [tese]. São Paulo: Faculdade de Ciências Médicas; 1997. Disponível
em:< htp://www.scielo.org.br >. Acesso em: 25 fev. 2009.
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. 2.ed, Belo Horizonte: Atheneu,
1993. cap 15, p.151-162.
50
MACHADO, W.C.A. O papel do enfermeiro no cuidar de clientes portadores de
deficiência. [online]. São Paulo: Entre Amigos – Rede de Informações sobre
Deficiência; [s.d.]. Disponível em: < http://www.entreamigos.com.br/textos/reabili/
opapel.html > Acesso: 19 jun. 2009.
MADUREIRA, N.C.M. O saber-fazer do cuidador familiar da pessoa com
deficiência física: um estudo no pré e trans-reabilitação. [dissertação] São
Paulo: Escola de Enfermagem da USP; 2000.
MCCLOSKEY. J, BULECHEK, G.M. Classificação das intervenções de
enfermagem - NIC. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
MELLO, M. T. et al. Considerações sobre aspectos psicológicos em indivíduos
lesados medulares. In: FREITAS, P. S.; CIDADE, R. E. Educação Física e
Esportes para Deficientes – coletânea. Brasília: INDESP, 2004.
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia orientada para a Clínica. 4. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
NOGUEIRA, P.C.; CALIRI, M.H.L.; SANTOS, C. Fatores de Risco e Medidas
Preventivas para úlcera de pressão no Lesado Medular. Experiência da Equipe d
Enfermagem do HCFMRP – USP. Medicina (Ribeirão Preto), n. 35, p.14-23, 2002.
North American Nursing Diagnosis Association - NANDA. Diagnósticos de
enfermagem da NANDA : definições e classificação 2007-2008. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
OLIVEIRA, P.A.S., et al. Traumatismos da coluna torácica e lombar Avaliação
epidemiológica. Rev. Bras. Ortop., v. 31, n. 9, p. 771-776, Set. 1996.
REDE SARAH de Hospitais de Reabilitação. Mapa da morbidade por causas
externas. Disponível em: < http://www.sarah.br >. Acesso em: 18 ago. 2002.
REDE SARAH de Hospitais de Reabilitação. Mapa da morbidade por causas
externas. Disponível em: < http://www.sarah.br >. Acesso em: 18 mar. 2009.
RIBAS FILHO, J.M.; MALAFAIA, O.; CAMPOS, A.C.L., et al. Estudo da prevalência
dos óbitos por trauma nos principais pronto-socorros de Curitiba no período de abril
de 2001 a abril de 2002. Rev Méd Paraná, v.2, n.60, p.45-48, 2002.
51
SANTOS, L.C.R. dos. Lesão traumática da medula espinhal: estudo retrospectivo
de pacientes internados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo entre 1982-1987.
São Paulo, 1989. 102 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo.
SCRAMIN A.P. Convivendo com a tetraplegia: da necessidade de cuidados à
integralidade no cotidiano de homens com lesão medular cervical [dissertação].
Maringá: Universidade Estadual de Maringá; 2006.
SIQUEIRA, Sueli. O trabalho e a pesquisa científica na construção do
conhecimento. Governador Valadares: UNIVALE, 2002.
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem
médico-cirúrgica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1994. 4v
SOUZA, R.C.; DIAS, A.; SCATENA, M.C.M. Reabilitação: uma análise do conceito.
Nursing., v.34, n.4, p. 26-30, 2001.
SPENCER, A.P. Anatomia humana básica. 2 ed. São Paulo: Manole, 1991.
SPÓSITO, M.M.de M., et al. Paraplegia por lesão medular: estudo epidemiológico
em pacientes atendidos para reabilitação. Rev. Paul. Med., v. 104, n. 4, p. 196-202,
1986.
STAAS JUNIOR, N. E., et al.Reabilitação do paciente com traumatismo
raquimedular. In : DELISA ,J.A. Medicina de reabilitação. São Paulo: Manole
,1992. cap 32. p.735-762.
THOMAS, J.; FLANNERY, J. Education for rehabilitation nursing. Rehabil Nurs.,
v.15, n.2, p.83-85, 1990.
TONELLO, A. S. Aspectos da reeducação intestinal em lesados medulares.
[dissertação]. São Paulo (SP): Escola Paulista de Medicina da UNIFESP; 1999.
VALENÇA, Tatiane Dias Casimiro Valença. Coluna Vertebral. Disponível em: <
http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/traumato/coluna_vert
ebral2.htm > Acesso em: 20 ago 2009.
52
ZAGO, M. M. F. O papel do enfermeiro hospitalar no ensino do paciente. Rev. Esc.
Enferm. USP, v. 26, n.3, p.359-394, 1992.