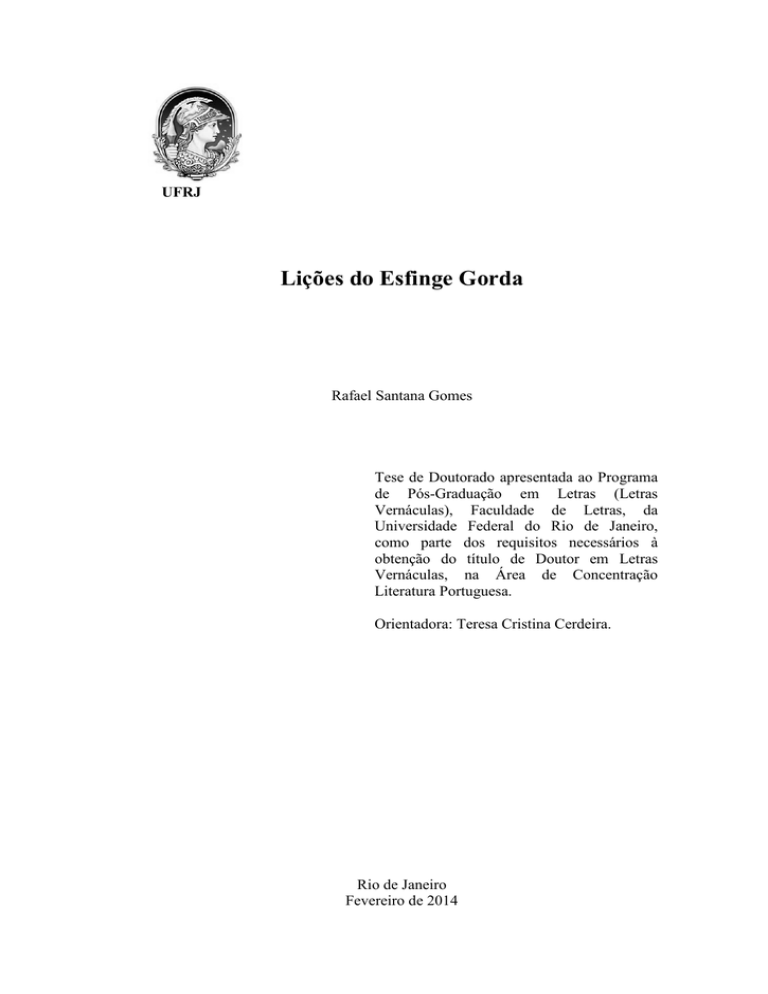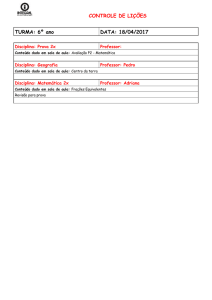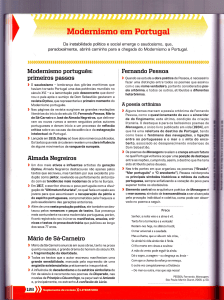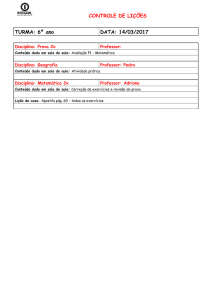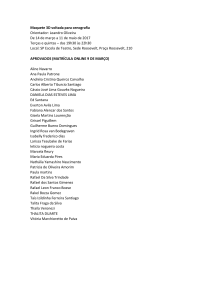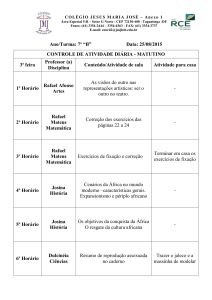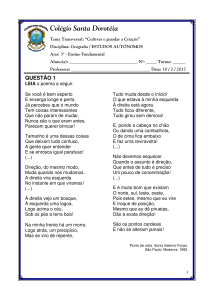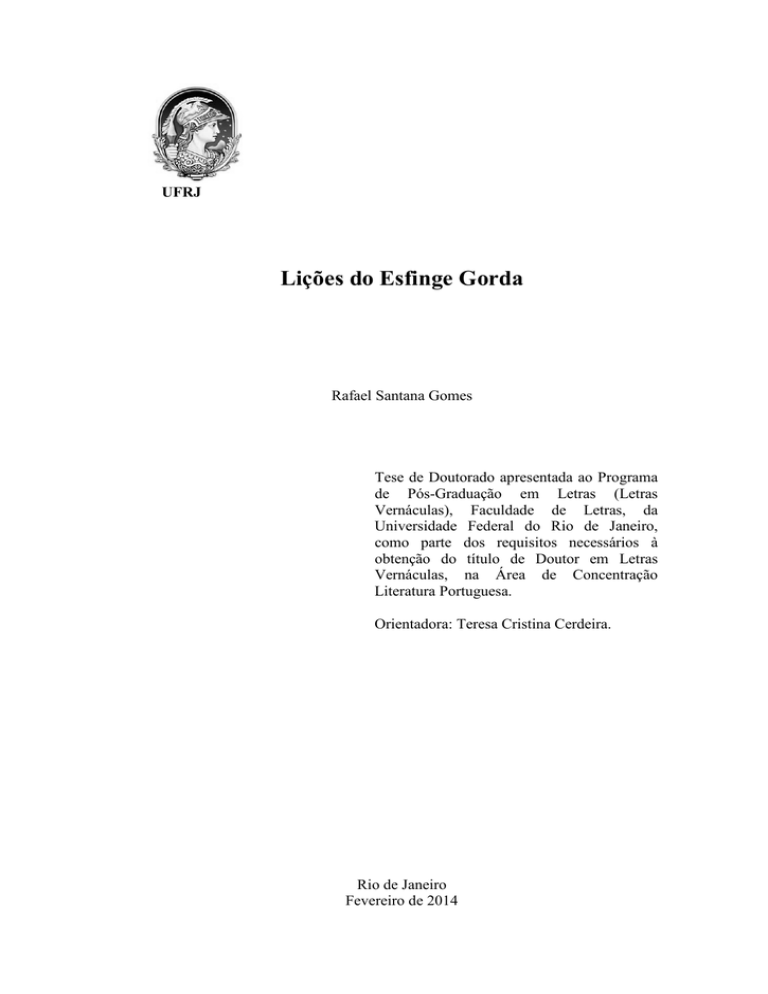
UFRJ
Lições do Esfinge Gorda
Rafael Santana Gomes
Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Letras (Letras
Vernáculas), Faculdade de Letras, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
como parte dos requisitos necessários à
obtenção do título de Doutor em Letras
Vernáculas, na Área de Concentração
Literatura Portuguesa.
Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira.
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2014
Lições do Esfinge Gorda
Gomes, Rafael Santana.
Lições do Esfinge Gorda / Rafael Santana Gomes. – Rio
de Janeiro: UFRJ / Faculdade de Letras, 2014.
xiii, 302 f.; il.; 5 cm.
Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva
Tese (Doutorado) – UFRJ / Faculdade de Letras /
Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas, 2014.
Referências Bibliográficas: f. 303 – 315.
1. Literatura Portuguesa. 2. Narrativa Moderna. 3.
Modernismo Português. 4. Decadentismo. I. Silva, Teresa
Cristina Cerdeira da. II. Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-graduação em
Letras Vernáculas. III. Lições do Esfinge Gorda.
O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – Brasil) e da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
Rafael Santana
3
Lições do Esfinge Gorda
RESUMO
LIÇÕES DO ESFINGE GORDA
Rafael Santana Gomes
Orientadora: Professora Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação
em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras
Vernáculas (Literatura Portuguesa).
A proposta desta tese é a de ler as narrativas Princípio, A Confissão de Lúcio e
Céu em Fogo de Mário de Sá-Carneiro a partir do conceito de educação às
avessas. Ao proclamar a autonomia da arte, a geração de Orpheu rejeitava o
pensamento oitocentista que entrelaça educação e literatura, e que caracteriza o
projeto tanto da estética romântica quanto da realista. Promulgando a ideia da
autorreferencialidade da arte, o Modernismo português – na contramão da grande
tradição do século XIX – rechaça, com veemência, a noção de que o artista seria
aquele que tem uma missão social a cumprir. No entanto, ao produzirem uma
literatura que visava a romper com uma vertente marcadamente engajada por meio
de gestos rebeldes e iconoclastas, os de Orpheu acabaram por propagar o anseio
por uma nova pauta de valores autênticos, contribuindo, a seu modo, para a
renovação das consciências. Herdeiro das reformulações éticas e estéticas do
movimento finissecular – ao qual a sua tertúlia literária declaradamente se filia –,
Mário de Sá-Carneiro constrói na sua obra um mundo onírico e abstrato,
assinalado pela quebra da lógica e da racionalidade científica, propondo, desta
forma, um novo e perverso conceito de educação, que se inscreve no avesso do
modelo anterior.
Palavras-chave: Mário de Sá-Carneiro – decadentismo – modernismo – narrativa
portuguesa do século XX
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2014
Rafael Santana
4
Lições do Esfinge Gorda
ABSTRACT
LESSONS OF THE ESFINGE GORDA
Rafael Santana Gomes
Orientadora: Professora Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva
Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação
em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras
Vernáculas (Literatura Portuguesa).
The aim of this work is to read the narratives Princípio, A Confissão de Lúcio and
Céu em Fogo, by Mário de Sá-Carneiro, from the concept of reverse education. In
proclaiming the autonomy of the art work, the Orpheu Generation was rejecting
the nineteenth-century thought that interweaves education and literature, which
features in the projects of both the romantic and the realist aesthetics. By enacting
the autoreferentiality in art, the Portuguese Modernism – running counter the great
nineteenth-century tradition – casts aside the idea of the social mission of the
artist. However, as the Orpheu artists created a literature meant to break with an
engaged perspective by means of rebel, iconoclastic gestures, they eventually
spread a longing for new authentic values, thus contributing in their own way to
the renewal of the consciousness. Heir of the ethical and aesthetic reformulations
of the late nineteenth century, Mário de Sá-Carneiro shapes an abstract, oneiric
world with no place for logic or scientific rationality, and puts forward a new and
perverse concept of education which operates in the reverse of the former model.
Keywords: Mário de Sá-Carneiro – Decadentism – Modernism – Portuguese
Narrative of the 20th Century
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2014
Rafael Santana
5
Lições do Esfinge Gorda
RESUMÉ
LEÇONS DU ESFINGE GORDA
Rafael Santana Gomes
Orientadora: Professora Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva
Resumé da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação
em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras
Vernáculas (Literatura Portuguesa).
Le but de cette thèse est celui de lire les récits Princípio, A Confissão de
Lúcio et Céu em Fogo de Mário de Sá-Carneiro à partir du concept d’éducation à
l’envers. En proclamant l’autonomie de l’art, la génération d’Orpheu refusait la
pensée dominante au XIXe siècle qui mettait en rapport éducation et littérature, ce
qui avait caractérisé aussi bien le projet romantique que le projet réaliste.
Relançant l’idée de l’auto-référentialité de l’art, le Modernisme portugais – dans
le sens opposé à la grande tradition du XIXe siècle – refuse entièrement la notion
d’un artiste voué à une mission à accomplir. Toutefois, en produisant une
littérature qui visait à renier cette tendance manifestement engagée, par le moyen
de gestes rebelles et iconoclastes, les artistes d’Orpheu ont fini par diffuser le
désir d’une nouvelle ordre du jour de valeurs authentiques, contribuant ainsi, à
leur façon, au renouvellement des consciences. Héritier des ces métamorphoses
éthiques et esthétiques du mouvement fin-de-siècle – que son groupe littéraire
avait assimilé de façon évidente –, Mário de Sá-Carneiro fait naître dans son
œuvre tout un monde onirique et abstrait, marqué par le refus de la logique et de la
rationalité scientifiques, proposant ainsi une conception nouvelle et perverse
d’éducation qui s’inscrit dans l’envers du modèle qui le précédait.
Mots-clés : Mário de Sá-Carneiro – Décadentisme – Modernisme – Narrative
portugaise du XXe siècle
Rio de Janeiro
Fevereiro de 2014
Rafael Santana
6
Lições do Esfinge Gorda
Para Teresa Cristina Cerdeira, leitora e
mestra admirável, que me seduziu a
ponto de desviar-me da rota inicial,
transportando-me a um outro universo
fascinante. Com ela li Sá-Carneiro pela
primeira vez. A ela tudo devo.
Para
José
Carlos
Barcellos
(in
memoriam), base da minha formação.
Para Latuf Isaias Mucci (in memoriam),
mestre e amigo em quem vi
materializado o próprio dandismo.
Rafael Santana
7
Lições do Esfinge Gorda
AGRADEÇO A:
Theresa Abelha,
pela belíssima leitura do meu texto de Qualificação e pelas preciosas sugestões,
que muito contribuíram para o desenvolvimento desta tese;
Monica Figueiredo,
com quem muito aprendi, gozando a cada encontro do pasmo da criança que
diante de si vê revelado um mundo novo;
Luci Ruas,
pelas sugestões de leitura, pelo incentivo à pesquisa, pelas aulas encantadoras;
Edson Rosa,
pelas lições benjaminianas, pelas leituras de Baudelaire, pela partilha do saber;
Ida Alves,
pelos diálogos sobre poesia, pela força das palavras, pelas atitudes motivadoras;
Fernando Monteiro de Barros,
primeiro mestre a confiar no meu trabalho.
Rafael Santana
8
Lições do Esfinge Gorda
SUMÁRIO
ABREVIATURAS..................................................................................................................10
ILUSTRAÇÕES......................................................................................................................11
INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................13
PARTE 1 ÉTICA E ESTÉTICA ...........................................................................................28
CAPÍTULO 1 DE VÊNUS A SALOMÉ: OS CAMINHOS DA ARTE .............................29
1.1
1.2
O NASCIMENTO DE VÊNUS: A BELEZA CLÁSSICA.....................................42
O JARDIM DAS DELÍCIAS: A BELEZA SAGRADA .........................................54
1.3
O VIAJANTE SOBRE O MAR DE NÉVOA: A BELEZA SIMPLES .................61
2.1
TRÂNSITOS ESTÉTICOS: DA POESIA À PROSA E VICE-VERSA ...........91
1.4
SALOMÉ: A BELEZA ERRADA ...........................................................................70
CAPÍTULO 2 OS CAMINHOS DE ORPHEU .....................................................................80
2.2
A DENEGAÇÃO DE UM PROJETO PEDAGÓGICO ........................................98
PARTE 2 AS LIÇÕES DA ESFINGE .............................................................................. 106
CAPÍTULO 3 O MISTÉRIO E OS SORTILÉGIOS ......................................................... 107
3.1
3.2
3.3
O MISTÉRIO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO .................................................. 115
O MISTÉRIO EM A GRANDE SOMBRA ......................................................... 130
O MISTÉRIO EM A ESTRANHA MORTE DO PROFESSOR ANTENA .... 142
CAPÍTULO 4 A TEATRALIZAÇÃO DA MORTE .......................................................... 156
4.1
4.2
4.3
4.4
A MORTE EM PRINCÍPIO ................................................................................. 158
A MORTE EM A CONFISSÃO DE LÚCIO ....................................................... 174
A MORTE EM CÉU EM FOGO ........................................................................... 176
SOBRE AS FIGURAÇÕES DA MORTE ........................................................... 194
CAPÍTULO 5 O EROTISMO E O HOMOEROTISMO.................................................. 207
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
O HOMOEROTISMO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO ................................... 211
O HOMOEROSTIMO EM RESSUREIÇÃO ...................................................... 224
O EROTISMO CITADINO .................................................................................. 229
A HERANÇA BAUDELAIRIANA...................................................................... 231
A SEMIOLOGIA DO ESPAÇO URBANO ........................................................ 237
A RELAÇÃO ERÓTICA COM PARIS ............................................................... 240
CAPÍTULO 6 O DANDY E A FEMME FATALE ............................................................. 252
6.1
O DANDISMO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO ............................................... 262
CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 296
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 302
Rafael Santana
9
Lições do Esfinge Gorda
ABREVIATURAS
PR – Princípio.
CL – A Confissão de Lúcio.
CF – Céu em Fogo.
DI – Dispersão.
IO – Indício de Oiro.
UP – Últimos Poemas.
COL – Correspondência Literária.
Rafael Santana
10
Lições do Esfinge Gorda
ILUSTRAÇÕES
O Nascimento de Vênus
O Jardim das Delícias
O Viajante sobre o Mar de Névoa
41
53
Salomé
60
Rafael Santana
11
69
Lições do Esfinge Gorda
O homem sabe que não deixou a história,
mas a história agora é o vazio, é o vazio
que se realiza, é a liberdade absoluta que
se tornou acontecimento. Esses períodos
são chamados revolucionários. Nesses
momentos, a liberdade pretende se
realizar na forma imediata do tudo é
possível, tudo pode ser feito. Momento
fabuloso para o qual aquele que o
conheceu não pode inteiramente
retornar, pois conheceu a história como a
sua própria história, e sua própria
liberdade como a liberdade universal.
(Blanchot – A Parte do Fogo)
Rafael Santana
12
INTRODUÇÃO
[...] o “fingimento” é, sem dúvida, a mais
alta forma de educação, de libertação e
esclarecimento do espírito enquanto
educador de si próprio e dos outros [... ].
(Jorge de Sena – Poesia I)
Talvez pareça estranho encimar a introdução de um estudo sobre um
artista da geração de Orpheu com estas já tão conhecidas palavras de Jorge de
Sena. Ou talvez não. Ao formular o seu entendimento da poesia, Sena parece dar a
entender que é como se tivesse sido necessário ter existido anteriormente uma
poética do fingimento para que a sua poética do testemunho se postulasse como
tal. Se o testemunho seniano compreende a poesia e a arte como uma espécie de
exercício crítico, ou melhor, como um modo de estar no mundo, de dizer o mundo
e sobretudo de transformar o mundo, o fingimento pessoano – que não deixa de
definir também a poética dos principais escritores de Orpheu – não pressupõe
exatamente o oposto de uma reflexão crítica ou, noutras palavras, uma escrita
autotélica, com os olhos voltados apenas para si mesma. Com extrema lucidez,
Jorge de Sena ensina-nos que o fingimento foi a “mais alta forma de educação, de
libertação e esclarecimento do espírito enquanto educador de si próprio e dos
outros” (1977, p.26, grifo meu). Significativamente, nas palavras de Eduardo
Lourenço, Orpheu foi acima de tudo uma revolução. Melhor dizendo, foi um
movimento literário e um tempo histórico de renovação da linguagem, de
libertação do sujeito e de ascensão de um novo modo de olhar. Instaurando a
poesia – utilizo o termo em sentido etimológico, e por isso mesmo mais amplo, de
criação – como realidade, Orpheu proclamava uma nova educação pela arte.
Pessoa erige a problemática do sujeito cognoscente, relativizando e pluralizando,
através do jogo heteronímico, as diversas formas de conhecer e de apreender o
mundo; Sá-Carneiro rejeita a ordem científica, lógica e cartesiana da sociedade
burguesa, criando na sua literatura um mundo às avessas 1, todo ele onirismo e
Que fique claro que o mundo às avessas de Orpheu, e especialmente o de Sá-Carneiro, nada
tem a ver com o domínio do herói pícaro. Em Sá-Carneiro, o mundo às avessas é o espaço da
abstração e da quebra da lógica, aproximando-se muitíssimo dos pressupostos surrealistas.
1
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
abstração; Almada compõe a sua arte – literatura e artes plásticas – sob o signo da
violência, abalando as bases de um Portugal provinciano e bem comportado.
Orpheu foi portanto uma educação. Mas de que tipo? Como toda
revolução, a educação proposta pelos de Orpheu manifesta-se claramente na
ruptura do modelo anterior, mais especificamente na derrubada da consciência –
propagada de meados do século XVIII até à segunda metade do século XIX – de
que o artista seria aquele que tem uma missão social a cumprir. Ao dizerem não às
utopias artísticas de oitocentos, é como se os poetas de Orpheu se perguntassem:
com que linguagem escrever o século XX em Portugal 2?
Se a sua ideia da autonomia e da autorreferencialidade da arte são de fato
um ponto de partida para pensar o Modernismo português, lembre-se, por outro
lado, que os artistas do grupo, insatisfeitos com a estreiteza da atmosfera sóciopolítico-artístico-cultural do seu país, reuniram-se simbolicamente sob o nome do
mais famoso poeta da mitologia grega como forma de repúdio a um Portugal
retrógrado e provinciano. Afinal, como sinaliza Eduardo Lourenço, “a mitologia
origina a poesia [criação]. O mito tem ao mesmo tempo carácter pedagógico,
serve à educação humana em geral” (2003, p.50). Neste sentido, lembre-se ainda
que o grande intuito dos de Orpheu era precisamente o de alocar a sua nação na
linha das grandes correntes artísticas da Europa cosmopolita e ultracivilizada, o
Com efeito, Mário de Sá-Carneiro é considerado um precursor do Surrealismo em Portugal,
apesar de se ter suicidado em 1916; portanto, oito anos antes do surgimento do Surrealismo
de André Breton.
Retomo aqui o ensaio Escrever Portugal: uma Leitura em Quatro Fragmentos e com um
Diálogo Intertextual, de Jorge Fernandes da Silveira. Partindo de um questionamento de
Luísa de O Primo Basílio, que se perguntava com que linguagem poderia dizer a sua condição
de mulher emparedada diante das convenções do século vitoriano, Jorge Fernandes da
Silveira estende essa pergunta da personagem de Eça de Queirós ao contexto do século XX
português, assinalando que é como se os escritores desse tempo se perguntassem: com que
linguagem escrever o presente? A esse respeito, diz o ensaísta: “Com que linguagem escrever
o presente? Esta, a pergunta que os revolucionários se fazem. Ler o passado para escrever o
presente pode ser uma opção conservadora, se nesse ato de leitura não houver a consciência
de que é na própria escrita em curso que se toparão os possíveis e os impossíveis de
linguagem” (1992, p.126).
2
Rafael Santana
15
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
que não os afastaria portanto do compromisso social, apesar de um ponto de
partida em que a arte se quisesse antes espelho de si própria.
Ao rejeitarem, no plano ético, a pauta de valores que norteou a arte
burguesa do Romantismo ao Realismo, e ao perscrutarem, no plano estético, uma
nova linguagem que desse conta de escrever a modernidade emergente do século
XX, os artistas de Orpheu, repito, pareciam perguntar-se: com que linguagem
escrever Portugal ou para Portugal? Se a postura antipopulista e antidemocrática
de um Fernando Pessoa, por exemplo, fez com que ele proferisse, via Ricardo
Reis, o verso contundente, “Prefiro rosas, meu amor, à pátria” (2006, p.269), isso
não o impediu contudo de um acerto de contas com a nação na sua Mensagem,
fosse ela resgatável só em termos transcendentes. No que se refere a Mário de SáCarneiro, embora ele manifestasse um desdém explícito por Portugal e pelo
imaginário cultural lusófono, toda a sua obra é a mais dolorosa reflexão de um
português que sabe arte e a estima, sendo, por conta disso, extremamente
consciente da própria falência de direcionar aquilo que escreve a um país surdo,
endurecido e medíocre. Quando planeava, por exemplo, a publicação de Céu em
Fogo, Sá-Carneiro pretendia encabeçar esta sua obra com a seguinte epígrafe: “À
gente lúcida”. Ironia extrema, é como ele explica, em carta a Fernando Pessoa,
datada de 21 de janeiro de 1913, as palavras que desejava direcionar aos seus
futuros leitores: “[...] eu penso pôr esta dedicatória no livro: ‘À gente lúcida’ (mas
por ‘ironia’ porque a gente lúcida condenará as minhas narrativas). Receio
entretanto que se lhe possa dar outra interpretação: à gente lúcida, inteligente,
porque só ela pode compreender este livro” (COL, p.741, grifos do autor). Não
obstante diga que somente os inteligentes, isto é, os espíritos hipersensíveis, os
eleitos – vocábulo tão caro a Orpheu – sejam capazes de entender os seus escritos,
Rafael Santana
16
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
fica claro que Sá-Carneiro almejava sobretudo provocar o burguês lepidóptero e
derrubar as suas bases de leitor mediano, mas pretensamente “lúcido” 3.
Com que linguagem escrever para um Portugal provinciano e periférico?
Com que linguagem escrever para o leitor lepidóptero? Eis as perguntas que o
Esfinge Gorda parecia fazer a si mesmo. Claro está que esta linguagem só poderia
ser densa e provocativa, e que toda a temática que ela engendra só poderia estar
circunscrita a um projeto de derrubada da pauta de valores de uma literatura que
se tinha fundado na lucidez, no rigor intelectualista, na objetividade cientificista
de uma mundividência realista. Se o Romantismo e o Realismo se inscrevem
ambos num projeto democrático e humanitário, cantando a desilusão ou fazendo a
denúncia de um mundo que traiu os seus próprios ideais, as estéticas de fim de
século e o Modernismo – herdeiro de algumas das suas propostas – rechaçam
violentamente o projeto educativo da literatura anterior, erigindo no seu lugar um
novo e perverso conceito de educação. No contexto específico do Modernismo
português, a rejeição declarada aos valores éticos da sociedade burguesa expressase esteticamente na formulação de uma nova linguagem que é a do fingimento 4,
gesto paradoxal se, relembrando o argumento seniano, entendermos que o
fingimento será também ele uma educação. Quiçá – diria eu – uma educação às
avessas, se cotejarmos as duas propostas de diversa “pedagogia”.
A esse respeito, assinala Fernando Cabral Martins: “O Modernismo e a obra de Mário de SáCarneiro confirmam, ou exemplificam, a metamorfose da Literatura em teatro. Não só por
recusarem a confessionalidade romântica, mas também pela posição agónica, de luta cultural
e política, de combate antilepidóptero ou anti-Dantas. É que, desde logo, o Modernismo é
propaganda – não é contemporâneo da Grande Guerra por acaso – e dá ao aspecto
doutrinário o primeiro lugar: o seu gesto social é a bofetada no gosto do público [...]” (1997,
p.174).
3
Ressalte-se que o conceito de fingimento não está circunscrito apenas ao poema
Autopsicografia, escrito por Pessoa em 1931, e ao eixo pensar-sentir, mas a toda a tríade
poética de Orpheu. No caso específico de Sá-Carneiro, o exemplo mais claro disso talvez seja a
descrição que Lúcio, narrador-autor da novela A Confissão de Lúcio, empreende ao descrever
o processo de composição artística do poeta Ricardo de Loureiro. Ao compará-lo com a
personagem de Gervásio, diz ele: “Outras vezes também, Ricardo surgia-me com revelações
estrambóticas que lembravam um pouco os snobismos de Gervásio Vila-Nova. Porém, nele,
eu sabia que tudo isso era verdadeiro, sentido. Quando muito, sentido já como literatura” (CL,
p.368, grifos do autor). Cabe acentuar ainda que a consciência da crise da mimèsis caracteriza
a própria literatura finissecular, reflexão que será retomada pelos artistas de Orpheu.
4
Rafael Santana
17
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
Em estudo anterior 5, empreendi uma leitura de A Confissão de Lúcio a
partir do legado do Decadentismo finissecular e de alguns conceitos surgidos no
contexto específico do Modernismo português. O referido estudo respondeu a
algumas das perguntas que ali fazia, suscitando contudo outras reflexões que
agora retomo de forma menos tímida e mais abrangente. Já então apostara na ideia
de que a temática do dandismo aí se manifestava como uma espécie de processo
pedagógico às avessas. Tal como os dandies finisseculares de Huysmans ou de
Oscar Wilde, os dandies de Sá-Carneiro expressam igualmente sua ojeriza à
natureza, à democracia e ao bem comum, propagando toda uma filosofia
transgressora vis-à-vis do modelo oitocentista. No contexto da literatura
finissecular, o dandy apresenta-se tal qual um professor perverso, cujos conceitos
e cujas alocuções aforísticas giram precisamente em torno da desconstrução da
doxa e dos bons valores. Exibindo-se teatralmente como um mestre do paradoxo,
o dandy é por excelência um exímio conversador, que cria conscientemente uma
linguagem muito particular para estabelecer a sua arte do diálogo. Em 1879, o
romancista francês Edmond de Goncourt cunhou o inusitado sintagma écriture
artiste para se referir à escritura requintada, composta sob o signo do artifício e da
rareza. Apropriando-se deste conceito, os estetas fin-de-siècle de pronto
converteram a écriture artiste em sinônimo de écriture-dandy, uma vez que o
dandy é ele próprio uma linguagem que se constrói como teatro de palavras.
Sá-Carneiro, que teve o privilégio de desfrutar da experiência parisiense
num tempo histórico em que as propostas iconoclastas dos estetas finisseculares
ainda reverberavam, mostra-se seduzidíssimo pela figura do dandy ao longo de
toda a sua obra mais significativa, flagrantemente vazada sob o signo do
dandismo. Ora, ao eleger esta figura debochada e ultracivilizada para direcionarse ironicamente a um Portugal lepidóptero e provinciano, é como se Sá-carneiro,
atendendo aos anseios cosmopolitas da sua geração, respondesse o seguinte: é
Erótica e Semiótica Decadentista: uma Leitura de A Confissão de Lúcio, de Mário de SáCarneiro (2010).
5
Rafael Santana
18
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
com esta linguagem ostentatória, pletórica, dispendiosa e provocativa que eu
escrevo para a minha pátria. Se o escritor oitocentista tantas vezes propagou a
utopia de transformar o mundo pela linguagem ao fazer dela seu instrumento de
luta, os artistas de Orpheu, hirperconscientes da crise da mimèsis, buscaram
proclamar uma revolução na linguagem, desconfiando dela enquanto espelho e
enquanto bengalada do homem de bem.
A questão entretanto não para por aí, nem se resolve em simples termos de
oposição. Porque o gesto dos de Orpheu – e a palavra gesto tem o peso do jogo
teatral – é ele próprio paradoxal, já que a revolução com que sonham, menos
política e mais estética, não deixa de ser também ela uma forma de educação,
ainda que, como trato de reiterar, uma educação às avessas.
A insistência na expressão às avessas não é anódina nem se circunscreve à
esfera do despiciendo. À Rebours é o título do livro-paradigma de Huysmans, ou
melhor, é o texto que vem sendo considerado pela crítica como uma espécie de
breviário do Decadentismo e das estéticas fin-de-siècle. Partindo confessamente
do modelo consagrado por Flaubert em L’Éducation Sentimentale, Huysmans
empreende um gesto a um só tempo laudatório e corruptor no seu trabalho
citacional, instituindo uma educação às avessas. Por outras palavras, À Rebours
não deixa ser também um estranho romance de educação, se considerarmos que o
que aí se narra são basicamente os inúmeros esforços de Des Esseintes – dandy
ociosamente entregue à nevrose do novo – em refinar o seus sentidos através de
experiências requintadas e por vezes bizarras. Tomando L’Éducation Sentimentale
como modelo primeiro, J. K. Huysmans erige a posteriori um paradigma
educacional perverso e transgressor, que se inscreve declaradamente no avesso do
anterior. Se a busca de novos prazeres sensoriais se converte, para Des Esseintes,
numa educação de si próprio, o livro que Huysmans lega ao público leitor, e que
relata debochada e aristocraticamente as experiências inusitadas do seu
personagem, acaba por converter-se numa espécie de educação do outro, ainda
Rafael Santana
19
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
que por via do choque. Retomando as provocações de Baudelaire, Huysmans
repensa o lugar do dandismo finissecular, assentado sobretudo na aversão à
natureza, ao senso comum e aos valores canônicos.
Constituindo-se como um mosaico de citações, a cena fin-de-siècle exibe
orgulhosamente o seu sistema de parcerias textuais. Personalidades altivas e
hipersensíveis, os estetas finisseculares elegem como precursoras apenas figuras
afins ao seu temperamento. Oscar Wilde, por exemplo, ele próprio dandy e grande
teorizador do dandismo, evoca o livro de Huysmans no seu The Picture of Dorian
Gray, sem contudo deixar de empreender um gesto de rasura ao recuperar o
modelo original. Ou seja: Huysmans cria o paradigma do dandy solitário, que se
isola voluntariamente numa vivenda campestre por manifestar aversão à chusma
parisiense; Oscar Wilde, por seu turno, cria o modelo do dandy cosmopolita, cujo
exercício é quase sempre o de flanar ao lado de um discípulo mais jovem,
exibindo-lhe pedantemente a filosofia do dandismo. Deste modo, o dandy
wildiano revela-se um exímio conversador, um mestre do paradoxo, e todo o seu
diálogo com o outro apresenta-se sob a forma de uma pedagogia às avessas ou de
uma educação perversa. Curiosamente, é interessante notar que os vocábulos
pedagogo, pedante (uma das características do dandy é o pedantismo) e pederasta
têm a mesma raiz. Pedagogo (paidós + agogé = criança mais condução); pederasta
(paidós + erates = criança mais amante, logo o fascínio amoroso inserido na
educação); pedante (a palavra vem do particípio presente, pedagogaten, do verbo
pedagogare, que significa agir como um pedagogo). Ora, os dandies de Oscar
Wilde são não raro personagens que conjugam esses três vocábulos. Educando a si
mesmo e ao outro avessamente, em oximoro, esta figura heroica da modernidade é
uma espécie de texto subversivo, que se manifesta esteticamente numa écrituredandy.
Com a tese que ora apresento, pretendo investigar fundamentalmente as
reverberações dessa educação às avessas na obra em prosa de Mário de Sá-
Rafael Santana
20
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
Carneiro: Princípio (1912), A Confissão de Lúcio (1914) e Céu em Fogo (1915).
Para tanto, elejo como corpus teórico principal os já clássicos A Ascensão do
Romance de Ian Watt, A Sociologia do Romance de Lucien Goldman e, mais de
perto, A Teoria do Romance de Georg Lukács 6. Como denominador comum das
referidas obras, eu diria que esses três textos fundamentais da sociologia literária
apontam para uma mesma proposição de leitura que é a de compreender o
romance como a história de indivíduos problemáticos, em busca de valores
autênticos num universo degradado, marcado pela reificação dos ideais.
A proposta desta tese desloca conscientemente essa linhagem crítica para a
literatura finissecular e a aventura radical do primeiro Modernismo, já que é ponto
sabido que a proposta de entendimento do gênero romanesco quer nos estudos de
Georg Lukács, quer nos de Lucien Goldman, quer nos de Ian Watt, se volta
sobretudo para a análise da narrativa oitocentista, em que o herói do romance
assinala a aguda consciência do descompasso entre mundo exterior e mundo
interior, isto é, a incompatibilidade entre aquilo que ele presencia no quotidiano
social e aquilo que ele expressa como valores internos.
Nascido no seio da sociedade burguesa, bem o sabemos, o romance não
promove contudo um canto de louvor ao mundo que o concebeu; antes, exercita
uma espécie de denúncia do aviltamento dos valores de uma classe que,
assumindo as rédeas do poder entre fins do século XVIII e início do século XIX,
despontava com a promessa da formação de um mundo mais justo e igualitário. É,
pois, contra o esfacelamento dos projetos utópicos, ou melhor, contra a reificação
dos valores que a sociedade burguesa postulava como autênticos, que o romance
Já que compreendo a literatura sá-carneiriana como uma espécie de educação às avessas,
também não deixo de lado as reflexões de Mikhail Bakhtin – Estética da Criação Verbal –
sobre o romance de aprendizagem. Contudo, cabe frisar que, apesar de manifestarem alguns
traços relacionados ao romance de educação, nenhuma das narrativas de Sá-Carneiro pode
ser lida no sentido estrito desta tipologia romanesca. Segundo Bakhtin, o romance de
aprendizagem está normalmente ligado à ideia da retratação dos pormenores do processo
existencial de uma personagem em formação, isto é, ao relato do seu desenvolvimento físico,
moral, psicológico, estético, social ou político, desde a sua infância ou adolescência, até um
estágio de maior maturidade.
6
Rafael Santana
21
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
oitocentista se erige. Porta-voz de uma denúncia e propagador do desejo de
reforma, quando não de uma revolução, o personagem romanesco – a quem
Lukács chama herói problemático – é aquele que se lança justamente em busca de
valores autênticos num universo degradado, marcado pela perda dos ideais.
Assim, a personagem de romance trava no espaço da ficção uma luta constante
com um mundo alheio a si, avesso aos seus ideais, e clama não exatamente pela
reforma dos valores sociais do seu tempo histórico – ao menos não do que esse
tempo assinala como parâmetro de autenticidade –, mas sim pela efetivação do
que a sociedade prega no discurso, mas não concretiza na prática. Deste modo, o
discurso e a ação do herói problemático opõem-se com veemência a uma
sociedade assinalada pelo descompasso, mais que isso, pelo contrassenso entre
aquilo que é dito e aquilo que é efetivamente praticado.
Ora, a minha aposta é de que os personagens romanescos criados por
Mário de Sá-Carneiro também podem ser lidos a partir do conceito de herói
problemático formulado por Lukács. Entretanto, se o teórico húngaro classifica
este tipo de personagem como aquele que, em desconformidade com o mundo que
o circunda, busca angustiadamente a esfera dos valores autênticos, e se esses
valores, no contexto da sociedade burguesa, resumem-se grosso modo a honra,
respeitabilidade, honestidade, retidão comportamental e caráter conquistado pelo
trabalho, como pensar no sentido da autenticidade para o individuo da
modernidade inaugural do século XX, claramente imbuído de uma ética
antiburguesa, logo em total desacordo com esses mesmos valores? Com efeito,
haverá aqui uma torção a ser imposta ao conceito, já que o escritor modernista
propõe uma pauta de valores avessa à do modelo consagrado pela literatura do
século XIX, promovendo a seu modo, com essa mesma recusa, outro parâmetro de
autenticidade.
Refratário à ideia de que a obra de arte deveria contribuir para o processo
de formação do mundo, o artista iconoclasta do primeiro Modernismo proclama a
Rafael Santana
22
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
autorreferencialidade da arte, rejeitando tudo o que lhe é exterior. Se a narrativa
oitocentista expõe como uma das suas marcas principais o diálogo entre o autor e
o leitor – fato que evidencia uma preocupação “didática” do escritor do século
XIX 7 –, as narrativas das chamadas estéticas finisseculares – movimentos
artísticos a partir dos quais Peter Gay situa o início do Modernismo – rompem
com aquele pacto de leitura em que o narrador levaria o seu narratário a absorver
uma lição educativo-pedagógica a partir daquilo que é enunciado, de modo a
aprender justamente por identificar-se com a trajetória dos personagens.
Insurgindo-se contra esse modelo literário, a narrativa modernista não raramente
se apresenta com estórias que não interessam tanto pelo seu enunciado, senão, e
sobretudo, pela sua enunciação. Como assinala Peter Gay a respeito da produção
romanesca oitocentista, o leitor podia “se concentrar mais na narrativa do que no
narrador. Era essa a diferença mais evidente entre os romancistas tradicionais e
seus sucessores modernistas. Os autores de prosa convencional não chamavam
especial atenção para suas técnicas, algo que os romancistas antissistema faziam”
(2009, p.182-183). Ora, poder-se-ia dizer que o deslocamento do foco de leitura
do enredo para uma espécie de narrador narcísico, bem como a ausência de
didatismo na materialidade do discurso – abolição de expressões consagradas tais
como “caro leitor benévolo” ou “estimada leitora” – tornariam o narratário uma
peça dispensável no constructo da narrativa moderna? Afinal, o destino da
literatura não é sempre o de partir do escritor para o mundo? Noutras palavras, o
exercício da escrita não pressupõe também a presença futura do olhar crítico do
outro? A matéria literária, por mais que o negue, não está sempre vinculada a uma
determinada intencionalidade?
Em Estudos Garrettianos (2010, p.103), Ofélia Paiva Monteiro, por exemplo, assinala que
toda a literatura de Garrett pode ser lida como um projeto declarada e vincadamente
pedagógico (o termo é da própria Ofélia), em que pulula uma evidente preocupação de
educar o leitor, não obstante a modernidade (iconoclasta e desconstrutora) em que a mesma
literatura garrettiana se inscreve.
7
Rafael Santana
23
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
Em Modernismo: o Fascínio da Heresia, Peter Gay assinala que este
movimento literário não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerado
democrático. Com efeito, o Modernismo manifesta um desdém explícito pelo
leitor mediano, que constitui um dos maiores alvos do seu ataque impiedoso.
Declarando o princípio aristocrático da sua arte, os escritores modernistas
dedicam-se à produção de obras extremamente refinadas, incompatíveis com o
gosto do grande público, e dizem destinar as suas produções a uma reduzidíssima
casta de eleitos. Contudo, um dos propósitos do artista modernista reside em
chocar o público “respeitável” da sua época, investindo contra a moral
conservadora e contra o senso comum. Ora, não eram de forma alguma os leitores
de mentalidade complexa e hipersensível, ou seja, aqueles que os artistas
modernistas julgavam os únicos dignos de lerem as suas obras, os que se
escandalizavam com os temas aí propostos, uma vez que o refinamento ia
certamente de par com os valores da vanguarda. Quem de fato se escandalizava
com aquilo que lia era precisamente o burguês lepidóptero – para retomar uma vez
mais o termo cunhado por Sá-Carneiro –, sempre rejeitado pelo discurso do artista
da modernidade. Ora, se o leitor comum não era considerado capaz de adentrar
um universo literário tão intelectualmente sofisticado, e se a literatura do escritor
antiburguês a ele não se endereçava, por que o desejo de escandalizá-lo?
Peter Gay 8 classifica as duas grandes linhas mestras do Modernismo como
sendo a sedução pelo discurso herético e o gosto pelo exame introspectivo de si
próprio. Ora, ser herético implica opor-se ao dogma, em outras palavras, romper
intencionalmente com a esfera dos valores consagrados. Mais largamente, implica
chocar o outro por meio de propostas avessas à moral dominante. Mário de SáCarneiro, diante de um Portugal conservador, de um contexto sócio-econômicocultural medíocre e indiferente à sensibilidade de espírito dos grandes artistas,
investe literariamente contra o senso comum e contra os padrões comportamentais
8
Modernismo: o Fascínio da Heresia: de Baudelaire a Beckett e Mais um Pouco (2009).
Rafael Santana
24
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
de uma sociedade cujos pilares estavam assentados sobretudo na família, na ética
do trabalho e na religião. Insurgindo-se contra a norma, o Esfinge Gorda traz para
o centro da sua literatura, seja ela em poesia ou em prosa, uma ampla galeria de
figuras banidas e/ou marginalizadas pela ideologia: prostitutas, homossexuais,
andróginos, mulheres fatais e dandies ociosos. Eis aí algumas efígies da sua
predileção. No que corresponde aos protagonistas das suas principais obras
romanescas – refiro-me ao volume de contos intitulado Princípio, à novela A
Confissão de Lúcio e ao conjunto de narrativas de Céu em Fogo, poder-se-ia dizer
que todos esses personagens (artistas dotados de inteligência e sensibilidade
extremadas) podem ser considerados, na esteira de Lukács, como heróis
problemáticos, uma vez que, estando em desconformidade com o mundo aviltado
que os circunda, a ele violentamente se opõem, clamando por um universo de
maior autenticidade, com o dado novo, contudo, de que a pauta de valores
autênticos aqui requerida será outra e ler-se-á justamente no avesso do modelo
propagado pela burguesia.
Partindo da lição de Roland Barthes, que nos ensina que não há literatura
sem uma moral da linguagem, esta tese pode ser resumida no seguinte enunciado:
a literatura de Mário de Sá-Carneiro é uma educação às avessas. Assim,
dividirei o texto que apresento em duas partes que buscam dar conta dessa
proposta de leitura.
Na primeira parte (Ética e Estética), que compreende os dois capítulos
iniciais, procurarei mostrar que toda arte, por mais que negue uma vinculação
explícita com o contexto sociocultural do seu tempo – como é o caso declarado do
Modernismo português –, nunca está alheia ao universo que a concebeu.
Empreendendo uma breve excursão pictórico-literária 9 pela História, revisitarei no
primeiro capítulo desta tese algumas telas já consagradas pela tradição ocidental –
Para tanto, utilizo como referências teóricas fundamentais os livros Clássico Anticlássico e
Arte Moderna: do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos, ambos de Giulio Argan.
9
Rafael Santana
25
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
O Nascimento de Vênus de Botticelli, O Jardim das Delícias de Bosch, O
Viajante sobre o Mar de Névoa de Friedrich e Salomé de Gustave Moreau –,
traçando com elas uma viagem conceitual e estilística, e fazendo entrecruzar os
olhares entre literatura e pintura. Cabe assinalar que, com este breve percurso
pictórico-literário que vai da Vênus renascentista à Salomé decadentista, o que
pretendo aduzir é sobretudo a evolução do conceito de Belo e as suas repercussões
na obra de Sá-Carneiro, artista que, na esteira de Baudelaire e dos estetas
finisseculares, confessa desejar o logro da beleza errada. Noutros termos, quero
ler essa beleza errada declaradamente perseguida por Sá-Carneiro como uma
educação às avessas 10. É, pois, a partir das estéticas finisseculares que leio parte
do projeto do Modernismo português e da obra do Esfinge Gorda, uma vez que o
movimento fin-de-siècle é considerado – mais que o epílogo de um período – o
prólogo de outro. Por outras palavras, as estéticas finisseculares abrem a cena de
uma nova modernidade, lançando sobre ela um outro código ético e simbólico.
Saindo dos caminhos da arte global, e adentrando em seguida os domínios
específicos de Orpheu, buscarei apresentar, no segundo capítulo, o trânsito
estético entre poesia e prosa, diga-se, prosa poética, como um fenômeno típico do
fim de século e do Modernismo 11 , e explicar a hipótese aqui levantada – a
literatura de Mário de Sá-Carneiro é uma educação às avessas – a partir da ideia
da denegação de um projeto estético-educativo, problematizando assim o mito de
uma literatura que olha apenas para si própria.
Na segunda parte (As Lições da Esfinge), buscarei ler os temas obsessivos
da escritura sá-carneiriana – o mistério, os sortilégios, a teatralização da morte, o
dandismo, a androginia, a homossexualidade e a femme fatale. Assim é que as
Com esta excursão pictórico-literária, busco mostrar também as marcas da tradição nos
escritos de Sá-Carneiro, pois a beleza errada nada mais é do que uma metamorfose da
tradição, desde Platão a Baudelaire, passando ainda pelas estéticas finisseculares.
10
11 Para tanto, apoio-me nas reflexões desenvolvidas por Octavio Paz em O Arco e a Lira,
muito especialmente no capítulo intitulado A Ambiguidade do Romance.
Rafael Santana
26
Lições do Esfinge Gorda
Introdução
reflexões teóricas de Georges Bataille – O Erotismo –, de Michel Foucault –
História da Sexualidade – e de Philippe Ariès – História da Morte no Ocidente –
revelar-se-ão fundamentais e aparecerão com alguma frequência nos quatro
capítulos que a compõem, já que aí se conjuga todo um imaginário relacionado a
Eros e Thanatos. Como a pesquisa que proponho se centra sobretudo nos ecos do
fim de século na obra em prosa de Mário de Sá-Carneiro, Walter Benjamin será
também um teórico de referência, e os seus escritos sobre Charles Baudelaire e
sobre o conceito de alegoria na modernidade serão recuperados muito
especialmente nas discussões sobre o dandismo e sobre o erotismo citadino. No
que se refere ao estudo do dandismo como educação ou pedagogia às avessas,
utilizarei como fonte teórica principal o já clássico Mentira Romântica e Verdade
Romanesca de René Girard, livro em que o pesquisador francês lança a sua teoria
do desejo triangular, assinalando no dandy a figura do grande mediador.
Outras vozes teórico-críticas também serão obviamente evocadas ao longo
desta tese, como, por exemplo, a de Fernando Cabral Martins com o seu
fundamental O Modernismo em Mário de Sá-Carneiro. Elencar todas as
referências numa introdução seria certamente excessivo e desnecessário, e por isso
os textos virão sempre devidamente citados nos seus respectivos lugares de
reflexão.
Em resumo: a minha hipótese teórica – desenvolvida em leituras críticas –
é a de que os temas trabalhados por Mário de Sá-Carneiro – ousados que são –
constituem uma espécie de primeiro passo para uma mudança de olhar, uma
educação às avessas que, no público leitor, se poderia manifestar através do
choque do inesperado. Por meio de temas iconoclastas e de uma linguagem
inusitada, que rompem com as bases do burguês lepidóptero, é que se inscrevem,
a meu ver, as a um só tempo perturbantes e sedutoras Lições do Esfinge Gorda.
Rafael Santana
27
PARTE 1
ÉTICA E ESTÉTICA
CAPÍTULO 1
DE VÊNUS A SALOMÉ:
OS CAMINHOS DA ARTE
Creio profundamente que toda a arte é
didáctica. Creio que só a arte é didáctica.
(Sophia de Mello Breyner Andresen –
Poemas Escolhidos)
[…] nous devinons dans la littérature la
présence d’un élément qui n’est pas que
littéraire; dans la peinture la présence
d’un élément non pictural [...]. Lorsque la
présence de l’œuvre semble s’imposer [...]
entre en jeu un élément que nous ne
pouvons limiter à l’esthétique 12.
(André Malraux - L’Homme Précaire et la
Littérature)
Em O Demônio da Teoria, Antoine Compagnon pergunta-se o que seria o
suposto saber que o objeto literário oferece ao homem. Para ele, a literatura
clássica – tanto a da Antiguidade como aquela que se desenvolveu ao longo do
que se convencionou chamar Era Clássica – concebeu a escritura como uma
prática que permitia “compreender e regular o comportamento humano e a vida
social” (2006, p.35), para além, é claro, de ser um veículo de deleite, e, diria eu
também, de apologia da Beleza. Prosseguindo com as suas reflexões, Compagnon
afirma ainda que, na Era Burguesa, o Romantismo fez do conhecimento literário
uma experiência individual, fenômeno que não pressupunha contudo uma ruptura
entre literatura e sociedade. Embora não mais relacionada à ideia de um canto
coletivo, essa literatura centrada no indivíduo não perdera a capacidade de
dialogar com o evento social, espécie de eco de uma cultura vitoriana que tornou a
história de seres individuais num modo efetivo de partir do eu para abarcar todo
um grupo. Por outras palavras, o leitor burguês, ao identificar-se com a vida de
criaturas de papel, absorveria os valores que aquele tempo referencialmente
histórico almejava propagar, internalizando, através da leitura, um determinado
genius loci.
12 […] adivinhamos na literatura a presença de um elemento que não é mais que literário; na
pintura a presença de um elemento não pictural [...]. Quando a presença da obra parece
impor-se [...] entra em jogo um elemento que não podemos limitar ao estético. (Trad. minha).
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
Acentuando o papel “didático” – e assumo aqui o peso que esse adjetivo
pode conter, até porque buscarei aliviá-lo posteriormente da sua radicalidade –
que a literatura – e de modo mais amplo a arte – é capaz de exercer, Antoine
Compagnon aponta o quanto a escrita literária foi, ao longo dos séculos, uma
espécie de desencadeadora de ações, fator a que a própria literatura se referiria
com uma certa frequência. Na esteira de René Girard – Mensonge Romantique et
Vérité Romanesque –, Compagnon assinala o caráter mediador do objeto literário,
destacando obras cujos personagens procuram pôr em prática aquilo que leem.
Assim, refere-se a romances como Dom Quixote e Madame Bovary, sinalizando
“a função de aprendizagem atribuída à literatura” (Ibidem). Todavia, adverte por
sua vez o teórico francês: “se a literatura pode ser vista como contribuição à
ideologia dominante, ‘aparelho ideológico do Estado’, ou mesmo propaganda,
pode-se, ao contrário, acentuar sua função subversiva” (Ibidem). Consoante as
suas palavras, tal subversão evidencia-se de forma mais pujante a partir da metade
do século XIX e da voga de Baudelaire.
Ora, seguindo essa reflexão sobre o lugar da educação ou pedagogia do
literário – outro termo a em parte neutralizar posteriormente – poderíamos
argumentar se essa linhagem chamada de subversiva, irreverente à pauta de
valores de uma sociedade, estaria de todo distanciada de uma função éticopedagógica ou mesmo ausente de qualquer fundo “didático”, ainda que,
propositada e expressamente, negue qualquer tipo de vínculo com uma dimensão
que fosse além da autorreferência, modo de radicalizar uma opção pelo
exclusivamente literário, apagando – aparentemente de maneira completa –
qualquer compromisso com aquilo que estivesse para além do estritamente
artístico.
Mário de Sá-Carneiro, artista de Orpheu, grupo que no alvorecer do século
XX português fazia questão de deixar patente a ideia de que a literatura se
divorciava da sociedade, dedica-se à produção de uma arte declaradamente
Rafael Santana
31
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
autocentrada, cujo gozo residiria na contemplação de si própria. Orpheu negava
qualquer tipo de engajamento entre a literatura que produzia e o conjunto social a
que pertencia, chegando Fernando Pessoa a afirmar, de forma categórica, que “O
fim da arte não é ser compreensível, porque a arte não é a propaganda política ou
imoral” (2005, p.434). Ou ainda: “A arte não tem, para o artista, fim social”
(Ibidem), reitera. A assertiva que aponta um comportamento ético radical não
seria contudo mais um gesto, espécie de jogo teatral de que as vanguardas se
serviam para fazer tabula rasa da tradição bem pensante a que sucediam? Por
outras palavras, poderia alguma arte circunscrever-se narcisicamente em si
mesma, abdicando de qualquer coisa outra a que poderíamos chamar de dimensão
histórica, ou política, ou social, ou ainda a que ela manteria com a sua própria
origem?
Em relação a Mário de Sá-Carneiro, a tese que pretendo sustentar é a de
que a sua literatura, que cumpre os valores de Orpheu e, nesse sentido, da
modernidade no que tange à sua autocentralidade estética, em sendo antiburguesa
por excelência no seu propósito de escandalizar um Portugal provinciano,
inscreve-se no que penso ser uma educação às avessas, ou seja, um
posicionamento ético e estético que viria propor, na verdade, uma nova pauta de
valores autênticos, contrários aos do modelo instituído pela doxa. Assim sendo,
compreendo os temas obsessivos da sua produção literária – o dandismo, a
androginia, a mulher fatal, as sexualidades desviadas da esfera da procriação etc. –
como exemplos dessa educação ou pedagogia às avessas, frisando que por
pedagogia se deve entender não exatamente uma tentativa de dogmatização ou de
adestramento do leitor, mas o compromisso com uma nova ética, da qual a arte
nunca escapará, uma vez que ética e estética são conceitos inseparáveis, que
sempre se manifestam em processo de complementaridade. Noutras palavras: para
além da sua necessária capacidade de independência em relação à origem e uma
sobrevida como metamorfose, os valores do tempo histórico a que uma arte
pertence estarão necessariamente expressos e impressos na página escrita, corpo
Rafael Santana
32
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
material que o leitor manuseará livremente, sem nunca contudo dele sair
incólume: o texto, enquanto produto do mundo e, mais que isso, produção no
mundo, carrega consigo uma inevitável moral da linguagem, com que o
destinatário – ciente ou inscientemente – acabará por negociar, à medida que se
entrega ao prazer da leitura.
Para tentar responder às perguntas que me assaltam e defender a tese que
proponho sobre o compromisso de toda arte poética, optarei aqui por uma
incursão pictórico-literária que passará pela Antiguidade, pela Era Clássica e pela
Era Moderna. Sua justificativa está no pressuposto de que as aventuras no campo
das artes possuem certamente vasos comunicantes, e de que por vezes o exemplo
das artes plásticas pode ajudar numa maior evidenciação dos conceitos. Para o
caso, como conceitos ético-pedagógicos, de variadas formas e de diversos
propósitos, de modo explícito ou implícito, sempre se manifestaram no conjunto
das artes de todos os tempos, sendo evidentemente expressos de acordo com os
anseios de cada época. Em reflexões sobre literatura e educação, escreve, por
exemplo, Ernst Curtius:
A Literatura faz parte da “educação”. Por que, e desde quando? Porque os
gregos encontraram num poeta o reflexo do seu passado, de sua existência,
do mundo de seus deuses. Não possuíam nem livros nem castas sacerdotais.
Sua tradição era Homero. Já no século VI era um clássico. Desde então é a
literatura disciplina escolar, e a continuidade da literatura europeia está ligada
à escola [...]. A dignidade, independência e função educadora da poesia
foram estabelecidas por Homero e sua atuação ulterior [...]. Entretanto, o que
os gregos fizeram, os romanos repetiram. No começo da poesia romana surge
Lívio Andrônico (segunda metade do III século). Ele traduz para as escolas a
Odisseia. [...] Mas só Virgílio escreveu uma epopeia nacional romana de
valor universal, que objetiva e formalmente se filia a Homero. Tornou-se um
clássico. A Idade Média adotou, da Antiguidade, a tradicional ligação de
epopeia e escola. Virgílio transformou-se na espinha dorsal do ensino do
latim.
(CURTIUS, 1957, p.38)
Ora, sabemos que tanto gregos quanto romanos viam a literatura como um
instrumento fundamental de educação, isto é, de conhecimento e de transmissão
da tradição cultural. Apesar do anacronismo no uso deste vocábulo, pode-se dizer
que a Idade Média também compreendia a literatura e a arte – que nem sequer
Rafael Santana
33
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
eram tidas como tal – como uma forma de educação vinculada muito
especialmente ao ensino da gramática e da retórica, quando não de uma dimensão
sobrenatural, na sua função de mediadora do divino. Na senda do mundo grecolatino, o Renascimento retoma, com as suas devidas diferenças que dão à arte o
seu lugar de culto à Beleza, a proposta educativa de difusão da tradição cultural.
Em meados do século XVIII, quando de fato se erige um conceito de literatura
semelhante ao que hoje ainda propagamos, artistas como Voltaire e Diderot –
atrelados ambos às correntes pedagógicas do Iluminismo – repensam o lugar da
literatura na educação ao buscar levá-la das elites à comunidade, ideia que não
deixa de adentrar o século XIX 13. E não será por outra razão que com Diderot e
d’Alembert ela fará parte integrante do então novíssimo projeto da Encyclopédie.
A pergunta que não quer tardar seria então: qual será, enfim, a função
“educativa” da literatura e da arte – se é que isso será possível – de princípios do
século XX, daquilo a que chamaríamos a entrada na modernidade enquanto
prevalência do conceito da autonomia da arte 14? Poder-se-ia falar de educação
13 Grosso modo, pode-se dizer que, da Antiguidade Clássica a meados do século XVIII, o
conceito de arte – inclusive o de literatura – que se propagou no Ocidente é muito
abrangente, compreendendo tudo aquilo que podia ser ensinado. Até à Idade Média, o artista
era enxergado como uma espécie de artesão, e o seu trabalho era classificado na mesma
esfera dos ofícios manuais em prol de uma submissão – em larguíssima escala – ao que
André Malraux cunhou como o conceito de “Surnaturel” (In: La Métamorphose des Dieux). É
somente a partir do Renascimento que o artista e a sua produção começam a ser vistos sob
um prisma diferenciado, cujo objeto não era mais os deuses, mas os valores da Beleza (cf.
André Malraux e o conceito de “Irréel”, In: La Métamorphose des Dieux), mas pode-se dizer
que a concepção que hoje ainda temos do artista e da arte na sua independência conceitual
só é efetivamente definida por volta de meados do século XVIII, quando de fato se começa a
pensar a arte a partir de suas particularidades estéticas.
Lembro ainda, uma vez mais, as posições só aparentemente inconciliáveis de André
Malraux, pensador da arte, no que tange ao seu duplo centramento: autonomia e
metamorfose, de um lado, permanência da inscrição no tempo, de outro. Ao afirmar: “Notre
art n’est pas le premier art sans surmonde, c’est le premier dont le surmonde soit le monde
de l’art”(Nossa arte não é a primeira arte sem sobremundo, é a primeira cujo sobremundo é
o mundo da arte – Trad. minha – L’Intemporel, V, p.808) a utilização da palavra “surmonde”,
como analisa J. P. Zarader (2013, p.121), sugere bem que no pensamento de Malraux : “cette
autonomie est plus complexe qu’on ne le pense, que l’œuvre se renvoie peut-être pas, ou pas
toujours, qu’à elle-même, qu’elle est ouverte, de l’intérieur, sur quelque chose qui la dépasse,
l’excède, un dehors qui n’est pas d’ordre spatial mais ontologique”(essa autonomia é mais
complexa do que se pensa, que quiçá a obra não se remete, ou nem sempre, a ela mesma, que
ela é aberta, do interior, a alguma coisa que a sobrepassa, a excede, um exterior que não é de
ordem espacial mas ontológica – Trad. minha).
14
Rafael Santana
34
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
literária em tempos em que a arte se quer antes de tudo voltada para os seu próprio
estatuto de autonomia, em tempos que exacerbaram a sensação do vazio, da perda
de todos os valores?
Evidentemente, não há na literatura inaugural de novecentos uma
preocupação de constituir-se num saber de escola, no sentido restrito de funcionar
como uma espécie de cartilha. Nem creio que Homero, Virgílio ou qualquer dos
autores chamados clássicos tenham composto as suas artes no intuito de que
fossem tomadas como manuais. Creio, sim, que as suas obras dão conta de uma
reflexão sobre a condição humana, por transitarem por diversas áreas do saber, e
que por isso mesmo foram lidas com diferentes propósitos ao longo dos tempos,
dentre eles o educativo. No que concerne especificamente ao Modernismo de
Orpheu, a minha inquietação leva-me a fazer as seguintes perguntas: em que
perspectiva esses artistas interpretam o passado, como encaram as suas
experiências no presente, quais as suas expectativas quanto ao futuro? Qual,
enfim, a noção de mundo que se inscreve no seu texto? A meu ver, a literatura de
Sá-Carneiro e, mais largamente, a da sua geração, também não está alheia a uma
escala de valores que ultrapassam os valores estéticos que ela orgulhosamente
erige como prioridade, a uma outra espécie de pedagogia, ouso dizer, que no seu
caso particular parece inscrever-se na negação à moral e ao senso comum do
tempo histórico em que se situa.
Ao recusarem a relação entre literatura e sociedade, ou melhor, ao
apresentarem um mundo às avessas, os de Orpheu, embora o negassem
formalmente nas suas arrebatadas formulações vanguardistas, contribuíam, sim,
para a renovação das consciências através das suas propostas iconoclastas.
Propagada via sedução da linguagem, essa educação ou pedagogia outra – às
avessas – manifesta-se em Orpheu tanto ética quanto esteticamente. Afinal, como
assinala Antoine Compagnon, “a recusa da dimensão expressiva e referencial [...]
caracteriza o conjunto da estética moderna” (2006, p.102), mas tal rejeição não
Rafael Santana
35
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
passa de mero mito, uma vez que as artes nunca podem desvencilhar-se do
mundo, o que as faz com ele dialogar quer queiram, quer não.
É neste contexto de reflexões sobre o lugar da arte, que visam a recolocar
algumas questões sobre os valores da modernidade, sobre as propostas de Orpheu
e muito especialmente sobre a arte de Sá-Carneiro, que me proponho, através de
breves leituras de telas já consagradas, destacar o Zeitgeist respectivo de cada
tempo histórico nelas recuperado, adentrando posteriormente a questão mais
específica, para o caso, da literatura moderna e do conceito ético-pedagógico que
esta escritura pode vir a apresentar também como projeto intrínseco.
Por meio do quadro O Nascimento de Vênus de Botticelli, busco assinalar
a ética artístico-cultural da Antiguidade e da Era Clássica, sem contudo deixar de
frisar as suas respectivas e devidas diferenças; com O Jardim das Delícias de
Bosch, busco acentuar a ética relacionada à arte medieval; com O Viajante sobre
o Mar de Névoa de Caspar David Friedrich, busco demarcar o conceito éticopedagógico propagado pela arte burguesa; por último, com o quadro Salomé de
Moreau, busco discutir a concepção da arte antiburguesa e corroborar, a partir da
tela do pintor francês, a minha tese sobre uma educação às avessas na literatura
de Mário de Sá-Carneiro, herdeira direta do decadentismo finissecular.
Este retroceder histórico que aqui proponho também se justifica pela
apresentação das marcas de um passado cultural e literário que, embora muitas
vezes negado pelo Modernismo e pelos movimentos de vanguarda na sua ânsia
pela originalidade, está claramente presente no discurso da modernidade inaugural
do século XX como herança metamorfoseada. Por outras palavras, o meu intuito
final é também o de mostrar como o peso da tradição se inscreve na obra de Mário
de Sá-Carneiro, artista que busca ungir os seus escritos com a magia do belo. Ou
seja, mostrar em que medida o belo modernista de Orpheu, relativizado, dialoga
com toda uma tradição anterior. Se, para o artista modernista, o belo não tem
exatamente uma face clássica (no sentido de um discurso apolíneo e/ou racional)
Rafael Santana
36
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
ou mesmo popular (no sentido de uma alocução democrática e igualitária), o
conceito de beleza em que se inscreve a sua arte não deixa de entrever as marcas
de uma tradição que, embora por vezes negada, lá está, ainda que rasurada. No
que concerne a Mário de Sá-Carneiro, herdeiro declarado das estéticas
finisseculares, o belo assume uma importância-mor na sua literatura 15. Em carta a
Fernando Pessoa, datada de 24 de agosto de 1915, ele assinala:
Para mim basta-me a beleza – e mesmo a errada, fundamentalmente errada.
Mas beleza retumbante de destaque e brilho, infinita de espelhos, convulsa de
mil cores – muito verniz e muito ouro: teatro de mágicas e apoteoses com
rodas de fogo e corpos nus. Medo e sonambulismo, destrambelhos sardônicos
cascalhando através de tudo. Foi esta a mira da minha obra.
(COL, p.894)
Excessivo e desregrado, o belo sá-carneiriano muito se distancia do
conceito grego da justa medida, ou mesmo do luminoso Belo renascentista,
estando mais particularmente próximo ao chiaroscuro maneirista 16 , que as
estéticas finisseculares – das quais a sua literatura é herdeira direta – revivificam
muito perversamente em temas e figuras como efebos, lesbos, andróginos, o pavor
à velhice, a ruína do corpo, o esfacelamento da beleza, a angústia diante da
inexorabilidade do tempo, para citar aqui apenas alguns exemplos. Contudo, a
Toda a ideia deste capítulo é a de uma reflexão sobre o conceito de Belo e das suas
reverberações nos escritos de Sá-Carneiro. Para tanto, elejo as figuras de Vênus e de Salomé
como representantes metafóricas dessa evolução. Vênus, tal como concebida por Botticelli e
pela Renascença italiana, tornou-se corolário do Belo clássico, assentado na ideia da
harmonia, da simetria e da busca da justa medida; Salomé, musa eleita pelos artistas
finisseculares, representa precisamente um desvio do conceito de beleza propagado desde a
Antiguidade Clássica, e por isso mesmo foi eleita como paradigma de transgressão por
Gustave Moreau e por toda uma gama de artistas que, na esteira de Charles Baudelaire,
buscaram recriar o belo pelo viés do perverso e do inusitado.
15
Diversos são os estudos críticos que exploram os pontos de convergência entre o
Decadentismo e o Maneirismo. Latuf Isaias Mucci, por exemplo, escreve o seguinte a esse
respeito: “No labirinto maneirista, ressaltam-se como traços principais: a nitidez e relevância
do desenho, o pendor às formas geométricas, o gosto pela linha serpenteada, a tendência
para a deformação das perspectivas, o contraste das cores cruas e a busca de atmosferas
raras. O Esteticismo encontra, no esplendor maneirista, uma prática ainda não contemplada,
na medida em que categorias estruturais dessa prática artística, como a valorização das
formas e das figuras, a busca da expressão, a mobilidade das formas e a estrutura
descentrada, tornam-se referenciais de uma arte absoluta. Não conota, precisamente, o
próprio termo ‘Maneirista’ o primado da maniera sobre a matéria, da forma sobre o
conteúdo?” (1994, p.38).
16
Rafael Santana
37
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
noção – propagada pelos de Orpheu – de que a beleza é capaz de revelar o sentido
da vida é fundamentalmente helênica, conceito que os poetas do grupo retomarão
em rasura, adequando-o às suas propostas iconoclastas. Com efeito, cabe indagar
em que sentido se manifesta o helenismo declarado de uma tertúlia literária que no
alvorecer do século XX se autointitula Orpheu, nomenclatura que aponta para
uma sobrevivência metamorfoseada da cultura greco-romana nos próprios títulos
de variados periódicos famosos à época, como, por exemplo, Athena e
Renascença. Todo ele simulacro, o helenismo de Orpheu constitui-se num eco
dilacerado da cultura clássica, que é relida, modificada e adequada às propostas de
um novo tempo. O próprio helenismo de Ricardo Reis, o mais clássico heterônimo
pessoano, manifesta-se claramente em simulacro, logrando o poeta estoicoepicurista ser apenas um pagão triste da decadência, como ele mesmo se
autodefine, um exemplo do neopaganismo da modernidade. No que concerne à
releitura iconoclasta da tradição, a seguinte estrofe da Ode Triunfal de Álvaro de
Campos parece resumir paradigmaticamente esta ideia:
Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical –
Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força –
Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro,
Porque o presente é todo o passado e todo o futuro
E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas
Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão,
E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta,
Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem,
Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes,
Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando,
Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma.
(PESSOA, 2006, p.306)
Platão e Virgílio são evocados no canto da modernidade emergente do
século XX, para participarem agora duma festa do desregramento, da hybris, da
desmesura, espécie de orgia das palavras que relativiza o conceito de belo,
dilacerando o métron clássico; assim ecoa a tradição em Álvaro de Campos, assim
em Mário de Sá-Carneiro, ambos poetas do excesso. Com efeito, embora a poesia
sá-carneiriana não expresse – de maneira mais categórica – a mesma violência
quer sintática, quer temática de poemas como a Ode Triunfal, a Ode Marítima ou
Rafael Santana
38
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
ainda a Cena do Ódio de Almada Negreiros, creio que o conceito de beleza que se
veicula na sua obra, seja ela em poesia ou em prosa, poderia ser lido na clave
daquilo que Fernando Pessoa / Álvaro de Campos classificou como uma estética
não aristotélica, ou seja, como uma estética que parte do conceito de beleza
formulado pelos gregos, mas que rejeita claramente o princípio do métron,
assentado na ideia da simetria e da harmonia.
[...] a arte dos gregos é grande mesmo no meu critério, e sobretudo o é no
meu critério. A beleza, a harmonia, a proporção não eram para os gregos
conceitos da sua inteligência, mas disposições íntimas da sua sensibilidade. É
por isso que eles eram um povo de estetas. Procurando, exigindo a beleza
todos, em tudo, sempre. É por isso que com tal violência emitiram a sua
sensibilidade sobre o mundo futuro que ainda vivemos súditos da opressão
dela. A nossa sensibilidade, porém, é já tão diferente – de trabalhada que tem
sido por tantas e tão prolongadas forças sociais – que já não podemos receber
essa emissão com sensibilidade, mas apenas com a inteligência.
(PESSOA, 2005, p.245, grifos do autor)
Nesse famoso manifesto, intitulado Apontamentos para uma Estética Não
Aristotélica (1924) – e que não deixa de ser também um investimento numa
estética não platônica –, Álvaro de Campos ratifica que, se a arte grega é aquela
que agrada pela ideia de beleza, a arte moderna, muito pelo contrário, é aquela que
seduz pela ideia de força, ou melhor, por uma espécie de não beleza, que é tão
somente uma beleza nova. Essa não beleza não significa portanto a ausência do
belo; antes, a presença de um belo metamorfoseado, relativizado, antropofagizado,
enfim. A metamorfose, aliás, conceito caro a André Malraux, é a categoria por
excelência capaz de legitimar a sobrevida da arte: “Sa survie [diz ele ao discorrer
sobre arte] n’est pas sa conservation: c’est la présence dans la vie, de ce qui
devrait appartenir à la mort” 17 (2010, p.778).
Se, conforme Pessoa, a beleza emitida pela arte grega é capaz de captar
pelo prazer do contentamento, a beleza sua contemporânea é aquela que – num
viés outro – subjuga pelo estranhamento, pelo incômodo, pela violência excessiva.
17 Sua sobrevivência não é sua conservação: é a presença na vida daquilo que deveria
pertencer à morte. (Trad. minha).
Rafael Santana
39
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
A meu ver, a educação às avessas dos escritos de Sá-Carneiro poderia ser lida na
mesma esteira dessa violência que subjuga, que rompe com as bases do leitor
mediano, que desdenha o público lepidóptero. Palimpsesto multissecular, a obra
de Sá-Carneiro manifesta certamente traços do Belo clássico ao propagar a ideia
de que a arte é o único elemento capaz de conferir sentido à vida, imperfeita na
sua própria natureza; também do Belo medieval ao ansiar pelo mundo dos sonhos
e dos sortilégios, compreendendo, na esteira dos alquimistas experimentais, o
espaço onírico como via alegórica de metamorfose; e do belo burguês – ética do
trabalho, família nuclear, retidão comportamental, representação do quotidiano –,
apresentado como tema de rejeição; enfim, do belo finissecular, espaço onde
convergem a um só tempo matrizes medievais, clássicas e modernas.
No que se refere a esta proposta de leitura, ressalte-se que a Vênus
renascentista é tomada como exemplo do Belo apolíneo pelos discípulos de
Platão, ou seja, de tudo aquilo que é bom e verdadeiro, conceito que a pintura de
Botticelli recuperará. Contrariamente, Salomé representa, para os estetas
finisseculares, um belo às avessas, inscrito na transgressão e na perversidade. Este
capítulo – De Vênus a Salomé – percorre portanto os diversos caminhos da arte –
do Belo clássico à beleza errada (conceito sá-carneiriano) –, visando a destacar as
suas diversas metamorfoses ao longo do tempo. É, pois, também no sentido de
aduzir o peso e as marcas da tradição nos escritos de Sá-Carneiro que a minha
proposta de digressão pictórico-literária aqui aparece justificada. Por outras
palavras, a beleza errada, declaradamente perseguida pelo Esfinge Gorda, não
deixa de ser, ao fim e ao cabo, uma herança desviada e rasurada do Belo
universal.
Rafael Santana
40
Sandro Botticelli: O Nascimento de Vênus (1483-4).
Florença, Galleria degli Uffizi.
Lições do Esfinge Gorda
1.1
Capítulo 1
O NASCIMENTO DE VÊNUS: A BELEZA CLÁSSICA
Venus es doble. Una es aquella inteligencia que situamos en la
mente angélica. La otra es aquella capacidad de engendrar que se
atribuye al alma del mundo. Y una y otra tienen como compañero
un amor semejante a ellas. Aquélla es arrastrada por el amor innato
a comprender la belleza de Dios. Ésta, por su amor, a crear la misma
belleza en los cuerpos. Aquélla comprende en sí primero el fulgor de
la divinidad y después lo transmite a la segunda Venus. Esta irradia
las chispas de este fulgor en la materia del mundo. De este modo,
por la presencia de tales chispas, cada uno de los cuerpos del mundo
se muestra bello, en la medida de su naturaleza. La belleza de estos
cuerpos es percibida a través de los ojos por el espíritu del hombre
que posee dos fuerzas, la fuerza de entender y la potencia de
engendrar. Estas dos fuerzas son en nosotros dos Venus, que van
acompañadas de dos amores. Tan pronto como la belleza del cuerpo
humano se presenta ante nuestros ojos, nuestra mente, que es en
nosotros la Venus primera, la venera y ama como una imagen del
ornamento divino, y a través de ésta es incitada a menudo hacia
aquél. A su vez, la fuerza para generar la Venus segunda desea
engendrar una forma semejante a ésta. En ambas entonces hay
amor. Allí deseo de contemplar la belleza, aquí de generarla. Y estos
dos amores son honestos y merecedores de elogio. Pues uno y otro
siguen la imagen divina 18.
(Marsilio Ficino – De Amore)
Bela, esguia, alva, serena, perfeita nas suas formas, nua e, no entanto,
envolta numa aura de espiritualidade, distanciando-se por isso mesmo da esfera
dos impulsos e dos desejos carnais 19 : eis aí a Vênus representada pelo pintor
Vênus é dupla. Uma é aquela inteligência que situamos na mente angélica. A outra é aquela
capacidade de engendrar que se atribui à alma do mundo. E uma e outra têm como
companheiro um amor semelhante a elas. Aquela é arrastada pelo amor inato a compreender
a beleza de Deus. Esta, por seu amor, a criar a mesma beleza nos corpos. Aquela compreende
em si primeiro o fulgor da divindade e depois o transmite à segunda Vênus. Esta irradia as
faíscas deste fulgor na matéria do mundo. Deste modo, pela presença de tais faíscas, cada um
dos corpos do mundo se mostra belo, na medida de sua natureza. A beleza destes corpos é
percebida através dos olhos pelo espírito do homem que possui duas forças, a força de
entender e a potência de engendrar. Estas duas forças são em nós duas Vênus, que vão
acompanhadas de dois amores. Tão logo a beleza do corpo humano se apresenta diante de
nossos olhos, nossa mente, que é em nós a Vênus primeira, a venera e ama como uma
imagem do ornamento divino, e através desta é incitada frequentemente em direção àquele.
Por sua vez, a força para gerar a Vênus segunda deseja engendrar uma forma semelhante a
esta. Em ambas então há amor. Ali desejo de contemplar a beleza, aqui de gerá-la. E estes
dois amores são honestos e merecedores de elogio, pois um e outro seguem a imagem divina.
(Trad. minha).
18
19 Giulio Argan (Clássico Anticlássico), Erwin Panofsky (Idea: a Evolução do Conceito de Belo)
e E. H. Gombrich (Botticelli’s Mytologies: a Study in the Neoplatonic Simbolism of His Circle)
advogam a favor de uma espiritualidade que sobrepuja o possível sensualismo advindo da
nudez da Vênus de Botticelli. Os três autores ressaltam que o quadro foi pintado no contexto
do neoplatonismo cristão, e que Botticelli teria sido o primeiro artista italiano a obedecer,
em pintura, aos padrões da escola neoplatônica de Florença, apoiando-se sobretudo nos
comentários de Marsilio Ficino ao Banquete de Platão. Aliás, Argan, Panofsky e Gombrich
ressaltam que a Vênus de Botticelli muito se assemelha a uma Madonna cristã trasposta para
Rafael Santana
42
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
italiano Sandro Botticelli, no famosíssimo quadro O Nascimento de Vênus.
Emergindo das águas no interior de uma concha, e acompanhada ainda de Zéfiro
(vento do Oeste) e Clóris (ninfa) – casal que simboliza a união da matéria e do
espírito – e de uma das Horas – deusas das estações –, a Vênus de Botticelli é
talvez a mais perfeita efígie daquilo que foi ansiado pelo conjunto das artes desde
a Antiguidade Clássica: a Beleza 20. Conscientes da imperfeição do mundo e da
existência, os gregos e, posteriormente, os povos que assentaram a sua literatura
nos padrões estéticos legados pela cultura greco-latina fizeram da matéria artística
uma tentativa de lograr a plenitude não encontrada na vida ou, noutros termos,
uma procura de tocar com a perfeição tudo aquilo que na sua essência fosse
marcado pela precariedade, pela mutabilidade, pela finitude, pela deficiência, pela
morte, enfim. E seria precisamente na busca da beleza, de uma Beleza com “B”
maiúsculo que só o campo da arte é capaz de forjar, que a perfeição, nunca
encontrada na anódina existência corriqueira e trivial, quiçá pudesse ser
alcançada. Eis porque toda a literatura clássica rejeita a atividade quotidiana como
conteúdo, eis possivelmente também porque ela nega ao vulgo um lugar no espaço
da escritura, eis porque ela se lança na busca da essência para além da aparência,
eis porque a sua utopia é, nas palavras de George Lukács (2007) – pesquisador
cujos estudos se direcionam também para as formas da grande épica –, a de
alcançar, através da matéria literária, a totalidade extensiva da vida. Com efeito, o
princípio norteador do universo era para os antigos gregos uma força chamada
Kósmos, termo que na sua raiz etimológica significa justamente beleza,
um tema mitológico. Por outras palavras, Botticelli inovou pintando a nudez ao recuperar um
tema da mitologia. Na arte medieval, por exemplo, a nudez era debuxada como um modo de
reiterar o conceito de pecado. O grande diferencial de Botticelli teria sido, portanto, pintar
uma deusa pagã completamente nua, mas, no entanto, com uma face pudica e algo assexuada
de Madonna cristã.
20 A esse respeito, Escreve Giulio Argan – Clássico Anticlássico – “[...] para Botticelli, a
imitação do antigo já não é a imitação de formas históricas determinadas, mas imitação de
uma ideia de belo” (2011, p.207, grifos do autor). Ou ainda: “Para Botticelli, a virtude que
triunfa da sensualidade é a virtude intelectual; aquele belo corpo de mulher, que resgata ou
sublima sua corporeidade na diafaneidade das formas e na pureza dos contornos, é quase um
desafio, e um desafio intelectual, à sensualidade” (Ibidem, p.248).
Rafael Santana
43
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
organização, harmonia. Os romanos, por sua vez, consideravam que aquilo que
norteia a existência dos seres é a sua própria conduta no mundo, termo que na sua
etimologia designa precisamente a ideia de limpeza, de clareza, de asseio. De fato,
o vocábulo mundus (limpo) é, em latim, precisamente o antônimo de immundus
(sujo) 21.
Percebemos então que as duas grandes civilizações da Antiguidade –
Grécia e Roma –, aquelas que legaram as principais matrizes éticas, políticas,
artísticas e filosófico-culturais ao ocidente, organizaram o seu pensamento e a sua
forma de estar no mundo a partir de um mesmo denominador comum, a busca da
beleza, o que não corresponderia a outra procura senão a de um todo harmônico e
coerente e, portanto, não maculado pela imperfeição. Diante de tal pensamento
ético, a literatura era considerada também ela uma manifestação estética no seu
projeto de alcançar a beleza. Afinal, para a cultura clássica, todas as artes
deveriam estar sempre, e tão somente, a serviço do Belo. Vita brevis, ars longa,
diz o aforismo de Hipócrates traduzido por Sêneca para o latim. E repare-se que
esse foi verdadeiramente o conceito de arte que se propagou, per saecula
saeculorum, da Antiguidade à Era Clássica, no mundo ocidental. Repare-se ainda
que, mesmo naqueles tempos a que Lukács (2007) chama afortunados, isto é,
naqueles tempos anteriores ao surgimento da filosofia, tempos supostamente
felizes por desconhecerem a cisão entre interior e exterior, por experimentarem
uma plena integração entre eu e mundo, mesmo naqueles tempos, repito, um dos
objetivos da arte seria o de apartar-se da esfera do corriqueiro e do banal, e tal
afastamento só seria possível a partir da criação de uma arte homogênea e
grandiloquente. Eis porque os gregos compunham as suas formas a partir de temas
considerados nobres, eis porque na sua busca da plenitude e da essência o
quotidiano não lhes servia nem sequer como matéria de contraste, eis porque,
21
Informação retirada do sítio eletrônico Etimologías de Chile.
Rafael Santana
44
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
como afirma George Lukács, as epopeias de Homero traçam “o círculo
configurador das formas aquém do paradoxo” (2007, p.27).
E acrescentará: “a beleza põe em evidência o sentido do mundo” (Ibidem,
p.31), pois a busca da beleza perpassa as artes gregas tanto no período pré quanto
no pós-filosofia. Já em tempos filosóficos, a civilização e a arte helênicas
pautavam-se num conceito que carrega no seu próprio bojo a ideia de plenitude,
chamado Kalokagathia 22 . Para os antigos gregos, a Kalokagathia seria um
princípio segundo o qual a justiça social e o valor artístico deveriam coincidir de
todas as maneiras, buscando-se a realização de um ideal de equilíbrio perfeito
entre as qualidades corporais e as espirituais, com o objetivo de alcançar a íntegra
harmonia entre o bem e o belo. Experimentando o sentimento de civilização
superior, era, pois, o conceito de Kalokagathia que a aristocracia ateniense
utilizava para definir a si própria, uma vez que a expressão Kalos kai agathos
aponta a um só tempo para a ideia de bondade, de beleza e de nobreza (Kalos), e
também para a ideia de uma existência pautada nos mais lídimos princípios éticos
e morais (Agathos). Daí porque, ao ideal da beleza como summum bonum da
existência, acrescenta-se sempre na arte grega, seja nos tempos anteriores ou
ulteriores à filosofia, a ideia do dever, não raras vezes atrelado ao conceito de bela
morte, a morte grandiosa, aquela que conferiria ao herói desaparecido um
perpétuo estado de reconhecimento e de glória.
Bem supremo, princípio norteador de todo o mundo helênico, também em
Platão e em Aristóteles o conceito de Kalokagathia encontra o seu lugar. Para
Platão, a busca da Beleza é também ela uma busca do Bem e da Verdade, uma vez
que o discípulo de Sócrates entende estes vocábulos como três universais que se
equivalem mutuamente. Sumo Bem = Suma Beleza = Suma Verdade, eis o
argumento de Platão, o que significa dizer que tudo aquilo que é belo é ao mesmo
22 Traço as reflexões deste subcapítulo embasando-me sobretudo no pensamento de Erwin
Panofsky, muito especialmente no seu livro Idea: a Evolução do Conceito de Belo.
Rafael Santana
45
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
tempo bom e verdadeiro. E a tal Beleza acrescenta o autor da República – esse
criador de um etéreo mundo das Ideias, espaço que se opõe tutelarmente ao plano
do sensível – um curiosíssimo e perturbador conceito de utilidade. Ou seja:
consoante as palavras de Platão, “o belo é sempre a expressão de uma ordem que
sensibiliza pela força que consegue fazer emergir do caos” (PLATÃO, 1991,
p.52). Por isso o belo é o útil: o bem, a simplicidade, a harmonia e a simetria,
categorias pertencentes à esfera do Kósmos, precisamente oposta à do Kaos, dado
que concorreria para a formação de um ideal pedagógico que visasse à formação
de um ser humano cujas virtudes fossem inteiras e cuja personalidade fosse
simplesmente perfeita. Conforme Platão, somente na busca daquilo que é belo,
bom e verdadeiro é que os humanos poderiam comungar das Ideias perfeitas e
imutáveis, tomando pois conhecimento da essência para além da falaciosa
aparência.
Por sua vez, em Aristóteles, discípulo irreverente e insubordinado de
Platão, a Kalokagathia representa não exatamente a busca de um Belo residente
num plano suprassensível, isto é, de um belo metafísico, mas sim de um belo que,
de acordo com o seu pensamento, corresponde ao homem que age com a justa
medida (métron), vale dizer, com honra e altivez. Cumpre ressaltar que tanto em
Homero quanto em Aristóteles a Kalokagathia define um comportamento
eminentemente aristocrático, muito embora o termo não existisse à época do
grande poeta. Entretanto, ressalte-se que a bondade, a beleza e a nobreza
pressupostas pelo termo Kalokagathia relacionam-se, no autor da Ilíada e da
Odisseia, ao sujeito dotado de habilidades e qualidades quase sobre-humanas – o
que o torna apto a guerrear – e, em Aristóteles, tal vocábulo corresponde ao
homem com “uma grande alma”, ou seja, àquele que pauta a sua conduta segundo
a noção do métron, conceito tão caro à cultura grega dos tempos filosóficos.
Devota de Nêmese, deusa da justa medida – venerada por gregos e latinos
–, a cultura helênica busca o equilíbrio dinâmico entre o mais e o menos como
Rafael Santana
46
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
forma estrategicamente pensada para garantir a continuidade da vida. Noutras
palavras: para os antigos gregos, a existência humana só poderia sustentar-se a
partir da correspondência balanceada entre a medida interior e a medida exterior.
Desta forma, Nêmese pode ser lida como metáfora da própria da justiça divina,
pois aqueles que ousassem ultrapassar o limite do que era considerado aceitável
viriam a cometer o que os gregos mais temiam e que nomeavam justamente de
hybris (desmesura). Assim, quem ousasse ultrapassar as medidas delimitadas
pelos parâmetros socioculturais do seu território seria, em linguagem figurada, é
claro, imediatamente fulminado pela divindade. Alegorias sociais, os mitos
justificam os ritos e os costumes. Por isso a mitologia grega é repleta de estórias
de seres – divinos e humanos – escarmentados pela dor, pela desgraça e pela
morte, porque, tendo a presunção e a arrogância de quererem alcançar a
supremacia total, deixaram-se acometer pela ludibriante sedução da hybris,
desviando-se, destarte, do caminho do métron, do equilíbrio e do autocontrole.
Na esteira da cultura grega – que tanto admiravam e que para si tomaram
de empréstimo –, os romanos diziam: modus in rebus, o que se traduz pela ideia
de que para tudo no universo existe uma exata medida. Aqui, interessa-me
sobretudo perscrutar como tal ideia se transfigura em formas artísticas, muito
especialmente em literatura. Tributária da poética de Aristóteles, a Ars Poetica de
Quintus Horatius Flacus espelha o ideal helênico qua talis, na sua plácida e
harmônica doutrina da moderação (aurea mediana). E, conforme Horácio, tal
como a concebiam as correntes mais expressivas da filosofia grega, a obra de arte
compreenderia, pari passu, um duplo propósito, a um só tempo de gozo e de
civilidade: aut prodesse aut delectare, eis o lema aristotélico tornado mote por
Horácio, poeta cuja proposta artística reside na criação de um objeto literário que
lograsse ensinar e deleitar ao mesmo tempo.
Ora, segundo Antoine Compagnon (2006), há no modelo humanista – e
tomo o adjetivo no seu sentido lato, sobretudo na sua relação com a retomada dos
Rafael Santana
47
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
parâmetros da cultura greco-latina – “um conhecimento do mundo e dos homens
propiciado pela experiência literária [...], um conhecimento que só (ou quase só) a
experiência literária nos proporciona” (2006, p.35-36). Nesse trecho, refere-se
Compagnon à concepção do saber de uma classe particular, que compreendia o
objeto literário “enquanto conhecimento especial, diferente do conhecimento
filosófico ou científico” (Ibidem, p.35), e cuja arte seria concebida como meio de
regular o comportamento humano e social segundo os moldes da aristocracia.
Dulce et utile, eis o que Horácio almejava que fosse a sua poesia.
Séculos mais tarde, o Humanismo renascentista assentaria as bases da sua
arte na concepção greco-latina de conhecer o homem através da sua relação
intrínseca com a natureza, retomando verbi gratia os escritos de Homero, de
Virgílio, de Platão e de Aristóteles, artistas considerados próceres de uma
literatura e de uma civilização supernas. Com efeito, se a mimèsis aristotélica, na
contramão das ideias de Platão, alça a poesia como instrumento válido do ponto
de vista gnosiológico, pois que, representando as ações humanas, constitui uma
espécie de fábula da história (muthus), e se o conceito de catarse aponta grosso
modo para a ideia da expurgação das emoções humanas, como assinala Aristóteles
na sua Poética, claro está que, para o Estagirita, a arte, para além do gozo estético,
também cumpria uma função educativo-pedagógica. E esta preocupação
pedagógica da arte também pode ser lida claramente no modelo comportamental
dos heróis épicos de Homero e de Virgílio, nas tragédias de Eurípedes e de
Sófocles e, no contexto humanista-renascentista, na especialíssima leitura que os
artistas da época conferiram a esses autores, principalmente através do
neoplatonismo e da escolástica 23. Ousaria mesmo dizer que, a seu modo, todos
esses escritores teriam refletido sobre a questão literatura e sociedade.
23 A escolástica aristotélica está intimamente ligada à arte medieval, mas não foi de todo
desprezada pela cultura humanista.
Rafael Santana
48
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
Imitando a Antiguidade Clássica nas suas múltiplas realizações – refiro-me
ao campo das artes, da literatura e da filosofia –, os intelectuais renascentistas, que
consideravam que os antigos gregos e romanos tinham alcançado um nível
superior de civilização, o ponto mais alto da história da humanidade,
ambicionavam também que a sua época voltasse àquela mesma grandeza no plano
da cultura, das artes e do pensamento. Por isso a literatura renascentista, na senda
dos antigos gregos e romanos, também é nomeada de “clássica”, do latim classis
(chamar publicamente, convocar) 24 – termo que daria origem ao adjetivo classicus
–, uma vez que, assumindo no espaço da escritura os campos nobres da vida e do
saber, essa literatura seria considerada digna de representar o pensamento éticocultural de uma determinada classe, neste caso a aristocracia. Levando em
consideração a etimologia do vocábulo “clássico”, vale ressaltar ainda que o
movimento humanista – base ideológica do Renascimento – apostava não apenas
no ressurgimento da cultura da Antiguidade Clássica, senão também numa espécie
de renascimento do próprio ser humano através da cultura e da arte, convocando-o
para a experimentação de uma vida mais plena e mais dotada de sentido humano.
Refletindo sobre essa questão, discorre Nicola Abbagnano na sua História da
Filosofia:
[...] O renascimento do homem não é o nascimento para uma vida diferente e
sobre-humana, mas sim o nascimento para uma vida verdadeiramente
humana, porque baseada naquilo que o homem tem de mais seu: as artes, a
instrução e a investigação, que fazem dele um ser diferente de todos os outros
que existem na natureza e o tornam na verdade semelhante a Deus,
restituindo-o assim à condição de que caíra. O significado religioso e o
significado mundano do renascimento identificam-se; o fim último do
renascimento é o próprio homem. O seu instrumento essencial é o retorno
aos antigos, que é também entendido como um regresso às origens, ou seja,
como um retorno ao que dá vida e força a todas as coisas e de que depende a
conservação e o aperfeiçoamento de todos os seres [...].
(ABBAGNANO, 1987, p.15-16)
Observe-se que o antropocentrismo renascentista não torna incompatíveis
o ideal humanista e o ideal religioso cristão. Vivendo sob o signo da cultura cristã,
24
Informação retirada do sítio eletrônico Etimologías de Chile.
Rafael Santana
49
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
o homem renascentista teve de aprender a conciliar as matrizes da Antiguidade
Clássica – que recuperava através das artes e do discurso, logo em ficção ou em
metáfora (e a etimologia grega da palavra é ratificadora do processo, leia-se
conduzir [forein] para além [meta]) – aos imperativos socioculturais da sua
própria época. Só assim entenderemos por que Camões, discípulo declarado de
Homero e de Virgílio, é capaz de misturar – com absoluta pertinência – nos seus
Lusíadas o maravilhoso pagão e o maravilhoso cristão. Sabemo-lo hoje: o
trabalho da citação é mesmo esse que consiste sempre em recuperar para recriar e
nunca para repetir o modelo na sua integridade. Partindo do autor para o mundo,
também a arte renascentista obedecia a uma espécie de ideário pedagógico, que
consistia no renascimento do homem para um novo posicionamento civil e
cultural, o que equivale, nas palavras de Nicola Abbagnano, a um retorno ao que
dá vida e força a todas as coisas e de que depende a conservação e o
aperfeiçoamento de todos os seres. Em vertente diversa da arte medieval, a
estética renascentista centrou o foco da sua pintura não mais no rosto de Deus,
mas no rosto e no corpo do próprio homem, para que ele, ao mirar-se a si próprio
no espelho da arte, aprendesse os limites e as possibilidades de superação da
condição humana, despertando para aquilo que o diferencia dos outros animais – a
arte, a instrução e a investigação –, e que por isso mesmo o engrandeceria tanto
nos âmbitos social, quanto cultural, quanto espiritual.
A Vênus de Botticelli ocupa lugar de destaque nas páginas deste
subcapítulo porque pode ser lida como a representação da própria busca da
elevação espiritual e da beleza absolutas. Retomando uma fórmula usada pelos
sacerdotes para afastar, no começo de uma cerimônia, os não iniciados, escreve
Horácio no terceiro livro das suas Odes: Odi profanum vulgus et arceo. Favete
linguis (Odeio o vulgo profano e afasto-o. Favorecei-me com a língua). Repare-se
que o poeta romano, ao mesmo tempo que reafirma uma atitude elitista em relação
à arte, nela também imprime uma espécie de caráter “religioso”, uma vez que, ao
estabelecer o Belo como valor supremo, professa como que uma espécie de
Rafael Santana
50
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
religião da própria beleza. Neste viés, poder-se-ia ler também a Vênus de
Botticelli, efígie invulgar, ideal da perfeição e da beleza absolutas, como um
paradigma da cultura e da arte clássicas.
Atando as pontas que aqui interessam mais: no que concerne à retomada
das matrizes clássicas em Mário de Sá-Carneiro, nele percebemos também um
pendor algo aristocrático de desprezo do vulgo no espaço da escritura. Imbuído de
uma ética e de uma estética da existência que culminam na busca da beleza, SáCarneiro, na linha dos estetas finisseculares, realiza na sua obra uma série de
elucubrações erótico-filosóficas, em que o sexo, isento da carnalidade natural, é
sublimado por via da arte. Os dandies de Sá-Carneiro – pedantes, pedagogos,
pederastas – difundem a ideia da estetização do desejo, vale dizer, da estilização
do comportamento erótico-social, numa ascese transgressora que, no avesso da
escala platônica, é lograda pelo excesso, pela hybris, pelo dispêndio erótico da
arte. Ousaria mesmo dizer que a obra sá-carneiriana apresenta Diotimas e Sócrates
outros, metamorfoseados, cujas vozes, no fio do tempo, permitem ouvir os ecos de
toda uma tradição 25. Ou seja, busca-se o belo, mas a trindade platônica Bem –
Beleza – Verdade é dilacerada, ou melhor, subversivamente transformada, porque
jungida à ideia da transgressão.
Exercitando a escritura num verdadeiro fervor maneirista, Sá-Carneiro
persegue sobretudo a beleza, mas fundamentalmente a errada – como ele próprio
o define –, o que significa dizer que a sua obra promove o culto do belo
transviado, ausente dos valores clássicos mais conservadores. Com efeito, o
Maneirismo é voluptuosamente relido e revisitado pelos estetas finisseculares
Teresa Cristina Cerdeira, ao analisar a figura da americana, personagem de A Confissão de
Lúcio, já apontava para uma leitura nesse sentido: “Revertendo até à radicalidade o modelo
platônico da escala do amor, essa estranhíssima figura da ‘americana’ – que surge tão
inopinadamente quanto se desvanecerá – adentra, qual nova Diotima, a comunidade
intelectual de uma Paris boêmia para definir a volúpia como o mais alto grau de uma
espiritualidade corpórea, o espasmo mais sofisticadamente consentido de uma refinadíssima
e espiritualizante erótica cujo fundamento imagético é a sinestesia, essa conjunção
inesperada de sentidos que se confundem para realizar na plenitude sensorial o que nenhum
sentido isoladamente é capaz de conseguir” (2005, p.3).
25
Rafael Santana
51
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
como exemplo ético e estético de um classicismo perverso, labiríntico, artificial,
requintado e elitista, em que a escritura não raras vezes tende ao irracionalismo
consciente. Gustave R. Hocke, no seu clássico estudo sobre o Maneirismo 26 ,
afirma que esse estilo apresenta:
[...] uma ânsia por atingir o extravagante, o singular, o exótico e tudo quanto
se dissimula para além e no seio da realidade física ‘natural’. Torna-se
igualmente evidente a vontade de conservar uma distância aristocrática em
face da sociedade. Todas essas tendências tornam-se legítimas graças a um
talento ‘engenhoso’, que não pode ser mais considerado como dependente
das normas clássicas. [...] O homem do Maneirismo, que tem medo do
espontâneo e que ama a escuridão, orgulha-se pelo fato de descobrir o
sensível através de metáforas abstrusas e se esforça por captar o fantástico
(meraviglia), graças a uma linguagem sumamente rebuscada. Todavia, nem
histórica nem sociologicamente pode ser encarado como um tipo original. Ele
se destaca todas as vezes que surge um problema no campo político ou
religioso e mais precisamente desde que a cultura ‘alexandrina’ começou a
penetrar nas cortes e nos salões burgueses ou nos conventículos dos boêmios.
(HOCKE, 2005, p.17).
Para além disso, segundo o mesmo Gustave R. Hocke, o Maneirismo não é
um estilo circunscrito apenas à sua época, mas uma tendência ética e estética que
costuma
manifestar-se
em
períodos
de
acentuada
decadência
social,
atemporalidade que serve perfeitamente à minha argumentação.
No que tange ao classicismo em simulacro de Orpheu, ressalte-se que se,
em Platão, impera o Belo metafísico – espiritual –, este conceito é contudo
dialeticamente metamorfoseado em artistas como Mário de Sá-Carneiro que,
unindo o apolíneo e o dionisíaco, o sagrado e o profano, cria sintagmas altamente
inusitados para dar corpo à sua experiência transgressora: “O espasmo que a
estrebucha em Alma copulada” (IO, p.81); “Desciam-nos só da alma os nossos
desejos carnais” (CL, p.363, grifos do autor). Corpo imaterial e alma
materializada, eis a grande subversão do Esfinge Gorda. Consciente de que o
diálogo com a tradição não se faz a partir de um simples processo de colagem,
mas de uma troca úbere e benéfica, Sá-Carneiro apropria-se das vozes do passado,
rasurando-as, isto é, adequando-as às propostas do seu tempo histórico.
26
Maneirismo: o mundo como labirinto.
Rafael Santana
52
Hieronymus Bosch: O Jardim das Delícias (1500-5).
Madrid, Museo Nacional del Prado.
Lições do Esfinge Gorda
1.2
Capítulo 1
O JARDIM DAS DELÍCIAS: A BELEZA SAGRADA
Eno nome de Maria
çinque letras, no-mais, y á.
(Afonso X – Cantiga de
Santa Maria)
No seu livro O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval (2010),
Jacques Le Goff assinala que o famoso tríptico O Jardim das Delícias (1500-5),
obra do pintor holandês Hieronymus Bosch (1450-1516) – conhecido também, no
mundo hispânico, pela alcunha de El Bosco –, representa a síntese perfeita de todo
um imaginário da Idade Média. Debuxada numa estrutura tripartida – forma que
alguns estudiosos relacionam à trindade santíssima –, a tela de Bosch, em
consonância com o Zeitgeist medieval, epitoma paradigmaticamente a ética de um
período histórico marcado pela consciência teocêntrica, estetizando a narrativa
bíblica com as tintas da arte. Vivendo no mundo humanista, a meio caminho entre
o medieval e moderno, Hieronymus Bosch representa na sua pintura um universo
medieval agonizante e em ruínas através de uma arte maniqueísta, que se inscreve,
amiúde, em torno da dualidade desejo x pecado.
Composto numa estrutura tripartida, O Jardim das Delícias presta-se
também a uma leitura em três tempos. Como numa espécie de narrativa
iconográfica, o quadro de Bosch apresenta a humanidade em três momentos
distintos, trazendo para o centro das cenas representadas figuras e temas do
discurso bíblico. Assim, na tela à esquerda, intitulada O Jardim do Éden, observase Adão e Eva ao lado de Jesus Cristo, num espaço que, embora paradisíaco nas
escrituras sagradas, já aparece marcado pelo princípio do caos na pintura triádica
do artista holandês, quem sabe a representar as misérias humanas após o
cometimento do pecado original pelos bíblicos pais da humanidade. Distante,
pois, da inocência e da tranquilidade de um paraíso natural e insciente, O Jardim
do Éden parece retratar as figuras de Adão e Eva já num período pós-queda.
Desobedecendo a Deus, perderia o homem a naturalidade adâmica e a sua
Rafael Santana
54
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
condição de inocência, vindo a cair, por conta das suas ações, n’ O Jardim das
Delícias, porque expulso pelo criador das terras do paraíso. Nesse espaço
marcadamente fálico, repleto de uma carnalidade excessiva, entregar-se-ia a
humanidade a um desejo despudorado e sem limites, experimentando o gozo de
transgredir o espaço da interdição. No ambiente terreno, estaria o homem
atravessado pela angústia do desejo e à mercê de todos os pecados capitais.
Segundo Le Goff, três são os temas que norteiam o maravilhoso medieval,
a saber: a abundância alimentar, a nudez e a liberdade sexual. Não é gratuita,
portanto, a superabundância de frutas no espaço da tela central de Bosch.
Metáforas do desejo sexual, os pomos são, na pintura do artista holandês,
perseguidos pelo homem na sua busca de saciar a sede carnal.
Enfim, sob o signo do dispêndio, demovendo a atividade sexual da esfera
da procriação, o ser humano entregue à vida dissoluta seria levado, como castigo
post mortem, ao espaço infernal, representado por Bosch na tela à direita. In nuce,
dir-se-ia que, em se rompendo com a inocência do paraíso (à esquerda), é através
do pecado e da luxúria (ao centro) que se vai parar no inferno (à direita). Eis aí
uma leitura possível, que aponta para uma arte cuja ética e cuja estética
obedeciam aos imperativos pedagógicos de um mundo marcadamente cristão. Sob
a égide do cristianismo, a produção cultural da Idade Média está majoritariamente
voltada para esfera religiosa, o que permitiu a André Malraux situá-la na esfera do
surnaturel. Ancila do divino, a arte sacra pinta o rosto do sagrado em temas e em
iconografias, vinculando o conceito de beleza à figura de Deus, o mais belo dos
seres, de quem o homem é imagem e semelhança.
Na Idade Média, a arte está predominantemente comprometida com o
projeto de difusão e de propaganda do Cristianismo europeu. Durante esse
período, visto que a vasta maioria dos camponeses era iletrada, as Artes Visuais
eram o principal meio de comunicar ideias religiosas aos fiéis. A Igreja Católica
era uma das poucas instituições ricas o suficiente para remunerar a obra dos
Rafael Santana
55
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
artistas e, portanto, a maior parte dessas obras era de natureza religiosa,
condicionando o que se conhece por Arte Sacra.
Diante de uma população na sua maioria analfabeta, entre pouquíssimos
que sabiam ler e escrever, as artes visuais são um modo efetivo de propagar os
valores cristãos. Composta para encantar e educar o povo através de uma função
ritualística, a arte sacra medieval é ela própria uma narrativa bíblica que se faz por
imagens através de vitrais, tapeçarias, pinturas, esculturas, arquitetura, entre
outras. Retomando temas do antigo e do novo testamento, os afrescos romanos e
os vitrais góticos da Baixa Idade Média, por exemplo, cumpriam nas igrejas uma
função acentuadamente didática, através da ilustração das narrativas bíblicas e
hagiográficas. Seduzido pelo brilho dessa arte religiosa, inebriado pelo jogo de
claro-escuro das tintas multicolores, o homem medieval, ao mesmo tempo que
contemplava a beleza do objeto artístico, absorvia os valores da ética cristã.
Como se sabe, as manifestações artísticas do mundo medieval tinham nas
figuras divinas a sua finalidade primeira e última. No que tange ao urbanismo,
será fácil observar que a cidade medieval, construída circularmente, estrutura-se
também ela a partir de um pensamento teocêntrico, em que Deus será a força
motriz que ocupa o centro do universo. Revertendo o aforismo de Protágoras, dirse-ia que Deus – e não o homem – é, na Idade Média, a medida de todas as coisas.
No que tange à arquitetura, a igreja (representante daquele que é o princípio, o
meio e o fim) ocupava o núcleo da cidade circular e era concebida a um só tempo
como espaço civil e religioso, em torno do qual girava toda a vida social. Jacques
Le Goff acentua aliás esse caráter circular da concepção medieval do mundo,
refletida nas variadas manifestações artísticas, das quais a literatura também é
representante 27 . Como diz Helder Macedo (1996), o discurso medieval é tecido
não em progressão linear, mas em círculos secantes de significação, o que por si
27 Este caráter circular da cidade e do mundo medieval é discutido por Le Goff em O Apogeu
da Cidade Medieval.
Rafael Santana
56
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
só já seria capaz de exemplificar a maneira de pensar daquele momento. De fato, a
noção de tempo linear, fundada na noção de progresso, de um continuum, é mais
moderna e começara a permear as diversas instâncias do pensamento somente por
volta do século XVI, ou seja, a partir do Renascimento 28. A noção medieval de
tempo, ao contrário, tendia a concebê-lo como cíclico. Caminhando lado a lado e
nunca separadamente, ética e estética são compreendidas como dois conceitos
inseparáveis do fenômeno artístico, uma vez que a visão de mundo de uma
sociedade sempre determinará a manifestação artística das formas. Na esteira de
uma ética teocêntrica, a arte sacra medieval tornava-se veículo do sagrado,
concorrendo inclusive para a formação de uma pedagogia voltada para a
educação religiosa.
Competindo com o maravilhoso cristão, permeia a Idade Média o
resquício cultural de determinadas tradições pagãs, especialmente a dos povos
celtas e a dos povos germânicos. Eminentemente agrícolas, as sociedades
medievais manifestavam uma forte crença no elemento sobrenatural, que o
cristianismo acabou por incorporar. Como assinala Le Goff, “Na cristandade
medieval era fácil apelar para a crença no além. Deus e os personagens
sobrenaturais estavam muito presentes na vida quotidiana” (2010, p.55).
Desafiando o séquito divino – Jesus, a Virgem, os anjos, os santos – conviviam no
imaginário da Idade Média uma série de elementais – alguns saídos da mitologia
greco-latina, outros das mitologias céltica e germânica –, seres muitas vezes
associados, pela ortodoxia, à figura do Demônio. Fadas, dragões, gnomos,
duendes, cinocéfalos, sátiros e toda uma infinidade de criaturas mitológicas foram
lidas como sinônimo de bruxaria pela cultura cristã, o que significava, por outro
lado, uma presença luxuriante. Misteriosos, enigmáticos, até mesmo fálicos, esses
Segundo Ian Watt, “a partir do Renascimento o tempo [...] é não só uma força crucial do
mundo físico como ainda a força que molda a histórica individual e coletiva do homem.”
(2007, p.22).
28
Rafael Santana
57
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
seres sobrenaturais de pronto foram relacionados ao âmbito do feminino.
Herdeiras de Eva, às mulheres era associado o domínio da feitiçaria, o enigma
fatal. Para o homem medieval, os demônios vinham à terra para seduzir a
humanidade e levá-la ao pecado, e o pecado não raramente se manifestava sob a
forma da mulher, que, por seu turno, direcionava o homem para o caminho da
perdição. Eles estavam assim, como diz bem a cantiga medieval, “entre Ave e
Eva” 29.
No que concerne à literatura medieval, o temor face ao feminino é
exemplarmente condensado na lenda da Melusina, a mulher-serpente, ou no
desbaratamento sexualizado das cantigas de escárnio e maldizer. E por que não
como fundador da estratégia de transmutação dos trovadores masculinos para um
eu lírico feminino que encetava um conhecimento da força da sexualidade
feminina a partir de sua experimentação ficcional?
Na Idade Média, figuras femininas de mitologias remotas eram, amiúde,
relacionadas ao demoníaco. Aqui, interessa-me especialmente a releitura medieval
do mito de Lilith, pelos ecos que provocará no seio de uma literatura fin-de-siècle.
Conta a lenda que Lilith teria sido a primeira mulher da humanidade, tendo
sido criada antes mesmo de Eva. Ao contrário desta última, Lilith não foi
concebida a partir da costela do homem; ela teria surgido diretamente do barro, tal
qual Adão. Ser independente, Lilith decidira não se submeter ao poder masculino
e, no momento do sexo, quis ficar por cima e não debaixo do homem, assumindo
uma postura ativa e de insubmissão. Sua atitude levou-a a ser banida do paraíso,
transformando-se para sempre num demônio. Ora, o mito de Lilith, como exemplo
de insubordinação diante da ordem patriarcal, é a leitura que mais particularmente
me interessa.
29 “Entre Ave e Eva / Gran departiment’á. / Ca Eva nos tolleu / O Parays’ e Deus, / Ave nos y
meteu; / porend’, amigos meus: Entre Ave e Eva... (Cantiga de Santa Maria - Afonso X)
Rafael Santana
58
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
Muitos séculos mais tarde, as estéticas finisseculares, na esteira de
Baudelaire, valorizarão as mulheres viris, isto é, não áulicas, que desfrutam da sua
sexualidade por mero prazer, sendo consideradas representantes metafóricas de
Lilith por conta das suas ações transgressoras. É esse também o perfil feminino
que Mário de Sá-Carneiro valoriza na sua literatura, investindo contra a moral
burguesa, cristã e puritana. Noutros termos, as mulheres sá-carneirianas seriam,
cada uma a seu modo, debochadas e perversas herdeiras de Lilith.
No contexto da Idade Média, o maravilhoso funcionava, pois, como uma
forma de propagar os valores cristãos, mas também servia como uma espécie de
contrapeso à banalidade e às regras do quotidiano. É nesse último sentido que os
de Orpheu leem e retomam o passado medieval, e tanto Fernando Pessoa quanto
Mário de Sá-Carneiro sugerem que a pouca consistência do conhecimento
científico em tempos medievais acabou por propiciar a criação de um mundo de
sonhos que permitiam ao homem uma metamorfose da pequenez da sua condição,
levando-o a superar a realidade meramente vulgar, gregária e empírica. Com
efeito, Pessoa e Sá-Carneiro apontam as grandes personalidades do passado como
homens de sonho e não de ciência. No que concerne especificamente a Mário de
Sá-Carneiro, há que frisar que a luta que os seus personagens romanescos
costumam travar contra a realidade, ansiando por um universo mágico e
misterioso, muito se coaduna com essa visão do imaginário medieval.
No conto A Grande Sombra, por exemplo, o narrador de Sá-Carneiro
exterioriza o desejo de erguer para si o “domínio do Mistério” (CF, p.430),
evocando castelos, fadas, anões, “templos a divindades de nenhuns ritos –
divindades falsas que só eu criaria, erguendo-as ali em altares de fantasia...
(Ibidem, p.431)”, diz ele. Valorizando o sonho e o mistério, Sá-Carneiro rejeita a
realidade científica e pragmática, e investe na criação de mundos alternativos,
recuperando da Idade Média o que ela oferece de mágico e de mítico.
Rafael Santana
59
Caspar David Friedrich: O Viajante sobre o Mar de Névoa (1818).
Hamburgo, Hamburger Kunsthalle.
Lições do Esfinge Gorda
1.3
Capítulo 1
O VIAJANTE SOBRE O MAR DE NÉVOA: A BELEZA SIMPLES
Sobre estas duras, cavernosas fragas,
Que o marinho furor vai carcomendo,
Me estão negras paixões n’alma fervendo
Como fervem no pego as crespas vagas.
Razão feroz, o coração me indagas,
De meus erros e sombra esclarecendo,
E vás nele (ai de mim!) palpando, e vendo
De agudas ânsias venenosas chagas.
(Bocage – Poemas)
Do cume de uma rocha, contempla o horizonte nevoento um indivíduo
solitário. A paisagem que o cerca é descampada e sem vida, toda ela envolta em
penumbra, assinalando o contraste entre luz e sombra. Expressivo na sua
precariedade – pelo excesso da falta e não da abundância –, este quadro
paisagístico distancia-se em muitos aspectos das matrizes clássicas, uma vez que
apresenta, em lugar dos cenários idílicos, harmônicos, frutíferos e verdejantes –
inerentes à tradição –, um espaço pintado num jogo de claro-escuro, e distanciado
portanto das luzes tão caras àquele padrão de natureza que se perpetuara desde a
Antiguidade. Romântico por excelência, O Viajante sobre o Mar de Névoa, tela
do
pintor
alemão
Caspar
David
Friedrich
(1774-1840),
epitoma
paradigmaticamente o espírito do herói romântico, muitas vezes em desacordo
com a sociedade burguesa e com o seu contraditório discurso da razão. A epígrafe
escolhida para este subitem não poderia, pois, ser outra. Manuel Maria Barbosa du
Bocage (1765-1805), artista português do final do século XVIII, período que
sinaliza a passagem do mundo aristocrático para o mundo burguês, exprime
visceralmente o espírito da crise na sua poesia, num temperamento típico de todo
período de transição.
Tempo revolucionário e contraditório, o século XVIII gesta no seu próprio
corpo os ideais que servirão de bandeira ético-político-cultural para o século
vindouro. Os acontecimentos históricos do final de setecentos despertam o olhar
do indivíduo para novos valores, o que no campo das artes viria a exigir a
Rafael Santana
61
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
proposta de uma nova estética. O mundo ocidental assiste, entre fins do século
XVIII e início do século XIX, ao surgimento de novos gêneros artísticos, porque,
em consonância com as mudanças radicais ocorridas na Europa setecentista, de
que será o grande modelo a Revolução Francesa, e em conformidade com uma
nova visão de mundo que aí se propagava, a arte engendrava para si
comportamentos também novos. Revoluções sociais são muitas vezes coetâneas
de revoluções formais e artísticas e, neste sentido, o final do século XVIII assistirá
ao surgimento de uma forma literária completamente nova, chamada romance.
Invertendo até à radicalidade o conceito de literatura que se propagara no
ocidente desde Aristóteles, a passagem do século XVIII ao XIX assiste à ascensão
de novos gêneros que, por sua vez, derrubam matrizes multisseculares. Diante de
um tão distinto quadro social, claro está que o conjunto das artes – incluam-se aí
as formas literárias – não permaneceria nem poderia permanecer o mesmo, e, para
substituir os dois nobres gêneros literários consagrados desde a Antiguidade e
ratificados ainda pela Era Clássica – a epopeia e a tragédia –, nascem outros, mais
apropriados a retratar as inquietações da sociedade vitoriana, a saber, o romance e
o drama. Tais gêneros apresentam diferenças significativas em relação aos
antigos: passa-se do verso, forma fechada na sua totalidade, à prosa, forma que
busca a sua totalidade 30 ; do personagem como encarnação da coletividade ao
personagem individual (geralmente em crise com a sociedade); do enredo
enquanto empreendimento coletivo, gesta de um povo, à vida concreta e única do
personagem; do tempo mítico ou multissecular ao tempo histórico, reduzido a
dimensões compatíveis com uma vida humana; do espaço mítico ou maravilhoso
ao espaço mundano, reconhecível como similar ao da existência quotidiana.
A esse respeito, diz Lukács: “Epopeia e romance, ambas objetivações da grande épica, não
diferem pelas intenções configuradoras, mas pelos dados histórico-filosóficos com que se
deparam para a configuração. O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade
extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à
vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade. Seria
superficial e algo meramente artístico buscar as características únicas e decisivas da
definição dos gêneros no verso e na prosa” (2007, p.55).
30
Rafael Santana
62
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
Além disso, tanto o romance quanto o drama, como gêneros burgueses que
são ou que, pelo menos, parecem haver sido assim concebidos no momento da sua
gênese, interessam-se justamente por temas que estão em consonância com a
visão de mundo do seu tempo. Para a nova sociedade que surge, é o ser humano
como indivíduo, como ser histórico situado no tempo e no espaço, o grande objeto
de interesse. Num tempo em que cada vez mais se frisava a consciência da
historicidade humana, o homem não podia ser compreendido como entidade
atemporal e abstrata, isto é, figura genérica e universal representante de uma
coletividade, mas sim como um ser concreto e único, que só pode ser entendido
historicamente, ou seja, em função das coordenadas básicas de tempo e de espaço.
Para a cultura burguesa, é a vida quotidiana, é o indivíduo em busca da sua
própria realização, a matéria capaz de despertar o seu interesse. Se os valores
aristocráticos priorizavam a prática de atividades relacionadas ao distintivo de
classe (a arte, a caça, a guerra), para a burguesia e, muitas vezes, para os escritores
burgueses, é a vida de pessoas comuns, são as atividades realizadas por essas
pessoas comuns, o centro para o qual permanentemente se volta o seu interesse.
Assim, se a cultura clássica empreende aquilo que poderíamos chamar de uma
espécie de pedagogia do belo ideal e aristocrático, a cultura burguesa irá por sua
vez equacionar esse conceito de beleza, vinculando-o não raro à atividade
quotidiana e ao mundo do trabalho.
Essa valorização do prosaico – entendido aqui como a retratação da vida
comum no seu aspecto vulgar e utilitário – levaria a sociedade burguesa a uma
crescente desvalorização da poesia. Segundo Octavio Paz – El Arco y la Lira –, a
poesia proclama-se como um princípio rival do espírito crítico oitocentista. Mais
radicalmente ainda, Octavio Paz chega a afirmar que a poesia não existe para a
burguesia, uma vez que não é considerada um produto socialmente vendável. O
romancista do século XIX podia viver das suas obras que, amiúde, atendiam à
demanda de consumo do grande público leitor; o poeta, ao contrário, assumia no
mundo burguês o lugar do pária ou do vagabundo, visto que, numa sociedade
Rafael Santana
63
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
onde se é literalmente o que se tem, ao bardo, desempregado teoricamente
entregue ao ócio, não lhe é conferida nenhuma espécie de status social. Assim,
Octavio Paz conclui que a burguesia expulsa tudo aquilo que não consegue
assimilar, ou seja, tudo aquilo que não se adéqua ao sistema de valores que
propaga. No mundo burguês, marcado por um discurso utilitarista, o verso, forma
literária de prestígio desde a Antiguidade Clássica, perde o seu posto de nobreza,
cedendo espaço para a ascensão dos gêneros em prosa – romance, conto, novela –,
considerados mais próprios a atender às exigências da sociedade vitoriana 31.
Propagando a ideia de que a obra de arte teria uma função social a
cumprir, sendo inscrita sob o influxo de uma forte consciência pedagógica e
composta com vistas à educação de uma sociedade nova, a literatura burguesa
parecia não ter mesmo uma inclinação muito acentuada para o verso. Encontrando
uma grande dificuldade de adequar o princípio utilitarista do seu século à esfera
do poema, o artista burguês, imerso numa ambiência social prosaica e
politicamente descumpridora dos seus ideais revolucionários e liberais, não
deixaria de refletir contudo sobre o tema da crise da poesia. Numa sociedade
fortemente marcada pela ética do trabalho, que cedo contudo se transformou na
acumulação e no lucro de uma nova elite, o artista romântico começava a
pressentir uma contrapartida ao próprio projeto que antes parecia ter encarnado,
deixando nascer em si 32 o desejo de reivindicar, para o seu mundo sensabor,
aquela magia inerente à atividade poética.
No que concerne à literatura portuguesa, Almeida Garrett, no prefácio à
Lírica de João Mínimo (1829) – coletânea de poemas da sua juventude –, afirma
Mesmo Victor Hugo, considerado o maior expoente da poesia romântica, é plenamente
consciente da desvalorização da poesia nas sociedades modernas, diga-se, capitalistas. No
prefácio ao drama Cromwell, o poeta, para além de erigir a sua teoria em defesa da união do
grotesco e do sublime, assinala ainda que “Os tempos primitivos são líricos, os tempos
antigos são épicos e os tempos modernos são dramáticos. A ode canta a eternidade, a
epopeia soleniza a história, o drama pinta a vida” (2002, p.40).
31
32
Ver sobre isso o capítulo “Arte e Capitalismo” de Ernst Fischer (In: A Necessidade da Arte).
Rafael Santana
64
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
que a poesia perdera espaço na sociedade do século XIX, diante daquilo que
chama “a barafunda das malditas políticas” (2010, p.5). E acrescenta ainda o
escritor: [...] “Hoje a moda é prosa e mais prosa, economias políticas, estatísticas,
químicas, físicas e outras inúteis frandulagens [...]” (Ibidem). “Poeta em anos de
prosa” (GARRETT, 2005, p.59, grifos do autor), como se autodenominou nas
suas Viagens na Minha Terra (1843), Garrett pergunta-se onde reside o espaço da
poesia na vida social do século XIX: “Pois este é um século para poetas? Ou
temos nós poetas para este século?...” (Ibidem), questiona. E a conclusão a que
parece chegar é a de que o verso lírico pressupõe um discurso profundamente
intimista, não raramente interpretado como avesso ao tom político da prosa 33 .
Aparentemente desvinculada de questões políticas e não atrelada a um propósito
de mera utilidade social 34, a poesia perde o seu posto de nobreza na sociedade do
Claro está que Garrett também entendia a poesia como um discurso inscrito na sociedade,
mesmo que a contrapelo, consciência que já manifestava desde a publicação de Camões
(1925), poema em que recupera a figura tutelar do vate lusitano, para reler um século XIX
indiferente à arte e aos artistas. Na Lírica de João Mínimo (1929), assistimos à consciência do
ofício poético erigir-se de uma simples figura do povo (João Mínimo), poeta humilde, com
quem aprendemos que a poesia deveria ser destinada à educação da sociedade de onde
surge. Esta noção da importância do ato de educar através da palavra é perpetuada por
Garrett – seja em poesia, drama ou narrativa – até ao fim da sua vida. No já clássico prefácio a
Frei Luís de Sousa (1843), Garrett assinala que “Os poetas fizeram-se cidadãos, tomaram
parte na coisa pública”, o que atesta um entendimento da poesia como uma arte que, tal
como a prosa, poderia ser tomada como veículo “pedagógico” de educação de um novo e
mais abrangente público leitor. Desde que se iniciara na senda da poesia, Garrett postulou a
ideia da forte capacidade pedagógica do elemento poético. Contudo, na advertência às Folhas
Caídas (1853), o poeta maduro sinaliza que “Os cantos que formam esta pequena colecção
pertencem todos a uma época de vida íntima e recolhida que nada tem com as minhas outras
colecções”. E acrescenta: “Essas mais ou menos mostram o poeta diante do público. Das
Folhas Caídas ninguém tal dirá, ou bem pouco entende de estilos e modos de cantar” (2008,
p.2). Ora, talvez Garrett não percebesse que, ao expor em poesia a sua vida privada para o
púbico leitor, estava ele a cumprir um gesto eminentemente social, “que rasgava os véus
convencionais em que a tradição clássica envolvia o amor” (SARAIVA, 2002, p.36).
Constituindo-se num exercício de erotismo experimental a dois, as Folhas Caídas trazem toda
uma poesia de alcova, na qual se espreita a intimidade amorosa por meio de versos nada
velados. Numa sociedade que proclamava a sacralidade do privado, ou melhor, a distância
necessária entre a vida pública e a individual, Garrett abria espaço para que o leitor
observasse a sua intimidade, rasgando assim as convenções amorosas da sua época.
33
34 Neste sentido, Octavio Paz, logo no início do capítulo intitulado El Verbo Descarnado (El
Arco y la Lira), afirma que a poesia lírica canta geralmente paixões e experiências que são
irredutíveis à análise pragmática, e que constituem por isso mesmo um gasto ou um
desperdício.
Rafael Santana
65
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
século XIX, quando a arte se devia fazer portadora de uma mensagem social,
função geralmente cumprida, no espaço da literatura, pelo herói romanesco.
Segundo Georg Lukács (2007), a personagem de romance é aquela que
retoma, em termos individuais, a crise dos valores sociais. É assim que, embora
nascido no seio da sociedade burguesa, o romance não se manifesta como um
gênero textual subserviente à classe que o concebeu, mas antes como uma forma
de evidenciar a crise de valores desse grupo social. Não se trata de negar os
principais valores que compunham ou sustentavam o ideário burguês no seu
projeto libertário e que se apresentavam como sendo a pauta de valores autênticos
dessa sociedade, tais como honra, respeitabilidade, liberdade, honestidade e
retidão comportamental, mas sim de negação do aviltamento desses mesmos
valores, de recusa à reificação do mundo degradado em que se converteram as
utopias revolucionárias, enfim da perda da autenticidade. Como lembra Fischer,
na ironia contundente do seu discurso crítico: “o Rei Midas transformava tudo em
ouro, o burguês transformou tudo em mercadoria” (2006, p.62).
Cumpre ressaltar aqui que o romance do século XIX, seja ele romântico ou
realista, ao ironizar a sociedade burguesa nas suas diversas esferas, não fazia
senão reafirmar os valores que tinham sido a sua utopia por meio de um processo
de denegação. Esse romance vem, através da denúncia social, requerer a
concretização daquilo que a sociedade burguesa pregava no discurso, mas que não
efetivava na prática.
A personagem romanesca é, pois, aquela que vem cantar um grande
descontentamento entre o dizer e o fazer, e fala sobre um mundo traidor dos seus
próprios ideais e cuja utopia da criação de uma sociedade mais justa e igualitária
não passaria de mera falácia. Num mundo desinstalado pela morte de Deus 35, que
Nietzsche inscreverá para apontar que o século XX entrante é o primeiro a perder
35
Para Lukács, o romance é uma espécie de epopeia de um mundo sem deuses.
Rafael Santana
66
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
o centramento concedido pelo divino, a personagem romanesca é aquela para
quem o sentido da totalidade da vida há muito se perdeu. Consciente do abismo
incomensurável entre o eu e o mundo – e retomo aqui a clássica definição do herói
problemático de Lukács – a personagem de romance é marcada por uma cisão
entre interior e exterior, ou seja, por uma discrepância entre os seus ideais e o
mundo que a circunda. Subordinando a ação narrativa ao herói e ao seu problema,
o romance – compreendido como uma estória do indivíduo – lança-se na busca de
valores autênticos num mundo degradado, marcado pela instabilidade, onde não
há consonância alguma entre ser e agir. Expressão privilegiada do mal-estar do
mundo burguês, o romance assume no espaço da escrita uma forma de resistência
e de negação, de tal modo que o herói romanesco só pode ser concebido como um
herói problemático.
Claro está que, diante de tamanha descrença e descontentamento, o
Romantismo, primeira estética de expressão burguesa na Europa, não poderia ser
outro senão aquilo a que Lukács chama O Romantismo da Desilusão. Travando
uma luta entre o mundo interior e o mundo exterior, o herói romântico eleva a sua
interioridade a ponto de exilar-se por completo nos abismos do seu universo
psicológico, e este processo de idealização por ele empreendido deve ser lido não
como alienação ou desistência, mas talvez como o único modo que o herói
encontra de gritar o seu desgosto e a sua angústia diante da degradação que
constrange os seus mais pequenos projetos. A idealização seria pois, antes de
tudo, um gesto de defesa e de resistência.
Abominando a redutora medida desse real circundante, os artistas
românticos deram asas à imaginação ao privilegiar os sentimentos e as emoções.
Em se tratando da literatura portuguesa, mesmo num Garrett, considerado pela
crítica o mais iluminista e racional dos românticos lusitanos, enxergamos
claramente nas suas Viagens na Minha Terra uma nostalgia relacionada aos
desvios ideológicos da sociedade liberal, caracterizada por ele como sendo chata,
Rafael Santana
67
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
vulgar e sensabor. Daí o fato de o narrador-autor das Viagens, que não é outro
senão o próprio Garrett, manifestar predileção pela pitoresca Lisboa oriental – a
“velha e boa Lisboa das crônicas” (2005, p.13) – em lugar da padronizada Lisboa
burguesa e capitalista; de valorizar o homem do campo, em detrimento da
descaracterizada massa citadina; de expressar um certo saudosismo pelo poético
espiritualismo dos frades, em repúdio ao aniquilante regime dos barões, que
reduzem tudo a cifras. Mercadorias, enfim, como dissera Fischer.
Veículo de educação do indivíduo burguês, perdido e aviltado pelos
descompassos histórico-sociais, o romance romântico, através da sua melancolia
contestadora, e o romance realista, através da sua denúncia revolucionária ou
reformista, pretendiam ser “um relato autêntico da experiência humana” (WATT,
2007, p.31), para que o leitor também pudesse aprender com a história desses
heróis desiludidos, muitas vezes retratados no avesso do modelo inscrito pela
História Oficial. Lembrar Antonio José Saraiva não será despiciendo:
Não venha dizer-se, em contrário disto, que o escritor romântico valorizou o
sentimento em prejuízo da razão. Trazendo o sentimento para a literatura, o
escritor romântico traz uma forma de verdade, e não a negação dela. O que o
escritor romântico negou, talvez, foi a razão mecanicista e clássica,
estreitamente confinada em certos limites. O escritor romântico valorizou o
sentimento na medida em que este é um pressentimento da razão, e a intuição
na medida em que esta é um primeiro esboço de uma verdade racional.
Valorizou-os na medida em que são activos, instrumentos de verdade
objetiva e unificadores de personalidade.
(SARAIVA, 2002, p.41).
Frente ao princípio utilitarista do mundo burguês, o romance – forma
concebida por essa sociedade – obedecia a um ideal estético pedagógico de
engajamento, sendo também ele compreendido como um instrumento que
concorreria para a reforma social e para o aprimoramento dos costumes. Ora, será
justamente essa preocupação social da arte que os estetas finisseculares e os seus
discípulos modernistas rejeitarão, como pretendo mostrar no item que se segue.
Rafael Santana
68
Gustave Moreau: Salomé (1876).
Los Angeles, Hammer Museum.
Lições do Esfinge Gorda
1.4
Capítulo 1
SALOMÉ: A BELEZA ERRADA
Fiat ars, pereat mundus.
Sedutora, enigmática, provocante, artificial, eis a Salomé do pintor francês
Gustave Moreau (1826-1898), representante-mor do Decadentismo europeu nas
artes plásticas. Amante da volúpia e da morte, artista que manifesta um verdadeiro
deslumbramento por imagens misticamente intensas, Gustave Moreau evoca na
sua pintura civilizações há muito mortas e mitologias muito remotas, tingindo-as
de um alto sensualismo sinestésico e transpondo-as para quadros alucinantes,
incrustados de raríssimas joias. Excessivas, as figuras eleitas por Moreau para
habitar o centro das suas telas representam a junção da crueldade requintada, vale
dizer, de um certo sadismo, mesclado ao mais sutil artificialismo. Especialmente
produzida para contrariar as bases culturais de um público apegado às convenções
vitorianas, educado sob o signo de uma moral conservadora e castradora, a pintura
de Moreau promove o culto do vício, da perversão, da homossexualidade, da
esterilidade, da doença e da nevrose do novo, abrindo espaço a um universo
marcado pela irracionalidade, avesso às luzes da ciência e ao espírito positivista.
Imbuído do air du temps finissecular, Moreau lança em 1876 aquele
quadro que ficaria conhecido como a sua obra-prima: Salomé. Efígie perfeita da
femme fatale, a dançarina bíblica epitoma o ideal da volúpia decadentista par
excellence, que pressupõe a junção de Eros e Thanatos. Alegoria do texto da
modernidade – escritura que se quer autorreferenciada –, a Salomé de Moreau
inebria a todos com a sua dança lúbrica, o que no texto decadentista não
corresponderia a outro fenômeno senão ao rodopio dos signos, que explodem nas
suas múltiplas possibilidades de exploração da linguagem figurada, aí levada até
ao paroxismo. Para os artistas fin-de-siècle, a arte deveria estar sempre – e tão
somente – a serviço da beleza, contudo nem sequer mais de uma beleza ideal ou
imortal, mas de uma beleza inscrita na autonomia da própria arte, gratuita por ser
Rafael Santana
70
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
ela própria a inventar-se a si mesma, aurática sem aura 36, porque imbuída de uma
aura que só existe em seus próprios fins. Cultuando o belo pelo viés da
transgressão, os estetas finisseculares opõem a grandeza das suas obras à
decadência do espaço social, buscando fazer das artes um objeto autocentrado,
voltado para o gozo e para a contemplação de si próprio 37.
Na interseção entre o apolíneo clássico e o dionisíaco romântico, inscrevese a arte decadentista, que clama pelo belo, não simétrico e linear, mas pelo belo
curvilíneo e espiralado, a representar, também nas formas, os labirintos do
inconsciente. Vertical e em arabesco, vazado em filigranas, o Decadentismo
apresenta-se como uma estética do transbordamento, em que o jogo dos
significantes aponta para uma escritura ostentatória, pletórica, assinalada pelo
dispêndio da linguagem. Abusando conscientemente das metáforas, das
sinestesias e das interações com o fantástico, criando um universo de delírios, de
sonhos e de estilhaços, o esteta finissecular exalta a grandeza e a beleza do objeto
artístico, que ele contrapõe, com risos e desdéns aristocráticos, à feiura de um
mundo ignaro e em processo de esboroamento.
Refletindo sobre os períodos de decadência, afirma Octavio Paz em El
Arco y la Lira: “El poema hermético proclama la grandeza de la poesía y la
miseria de la historia 38” (2003, p.44). Enxergamos aí, nesse instigante epigrama
do poeta e crítico literário mexicano, a imago mundi que norteia todo o
pensamento estético finissecular: um universo em ruínas seria capaz de produzir
O texto de Edson Rosa da Silva sobre o conceito por ele cunhado de aura insubmissa será
mais largamente tratado em outros capítulos desta tese.
36
37 Sobre a Salomé de Gustave Moreau, assinala Giulio Argan, “Gustave Moreau separa o “belo”
dos aspectos visíveis da natureza, mas procura na própria natureza, sob ou sobre esses
aspectos ou além deles, um “belo” que se revela apenas às almas belas, aos artistas. Assim se
liga à poética do “sublime”, ao deliberado arbítrio fantástico de Blake e Füssli, à
transfiguração da paisagem de Turner, e se refina através da sensibilidade inquieta, entre o
êxtase e o pesadelo, da poesia de Baudelaire e, por seu intermediário, da prosa poética de
Poe” (2013, p.138).
38
O poema hermético proclama a grandeza da poesia e a miséria da história. (Trad. minha).
Rafael Santana
71
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
as mais belas artes, frutos de temperamentos extremamente sensíveis, cuja
consciência do infortúnio histórico aponta, na contramão da decadência social,
para um refinadíssimo exercício artístico. Querendo-se autárquica, autônoma,
autotélica, autorreferenciada, a estética crepuscular de fins de oitocentos nega
filiação à sociedade agonizante que lhe dá origem e busca girar em torno de si
mesma, numa ininterrupta prestidigitação dos signos. Esfíngica por excelência, a
estética decadentista procura conferir às palavras um sentido outro que não mais o
da metáfora comum, atingindo muitas vezes um quase ocultismo intencional da
matéria discursiva. Noutros termos, o texto decadentista busca centrar-se em si
mesmo, proclamando, num período de crise da história, a grandeza e a beleza
excessivas da arte.
No seu Ruína e Simulacro Decadentista, Latuf Isaias Mucci sinaliza que
“a degenerescência da religião, da política, da moral e da vida social pode ocorrer
em épocas de renovação da filosofia, da arte, da literatura” (1994, p.21). Assim, os
tempos de decadência histórica seriam compreendidos como períodos de
mudança, como tempos em que se estabelecem novos parâmetros, novas pautas de
valores, evidentemente no avesso do modelo anterior. Falida a crença na
sociedade burguesa e no seu discurso progressista, perdidos todos os ideais de um
mundo que apostou na técnica e na ciência como formas de aprimoramento da
vida pública com vistas à formação de um mundo mais justo e igualitário, o
Decadentismo faria da matéria artística o summum bonum da existência porque,
conforme a sua ótica, somente a arte, através do culto à nova beleza, poderia
conferir algum brilho à opacidade da vida, tomada aqui na sua acepção mais
trivial.
Ao promulgar a religião de um belo intrínseco e não mais ideal, o esteta da
decadência intenta subordinar todos os valores quer sociais, quer morais, à esfera
do artístico. Criando um universo artificial, recluso em si mesmo, o homo
aestheticus debuxa uma arte elitista e aristocrática, destinada não exatamente a
Rafael Santana
72
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
uma elite econômica, mas sobretudo a uma elite cultural, a uma reduzida casta de
eleitos, composta por espíritos iconoclastas e hipersensíveis. Pauci electi (poucos
os eleitos), dizem as escrituras sagradas, e eis como se consideravam os próprios
estetas finisseculares. Tomado como atitude filosófica, o Esteticismo “considera
fundamentais e primários os valores da arte, a eles subordinando todos os outros,
mesmo os morais” (MUCCI, 1994, p.17). No prefácio a The Picture of Dorian
Gray (1890), único romance de Oscar Wilde, afirma este mestre do paradoxo:
“Nenhum artista possui simpatias éticas. Num artista, a simpatia ética é um
maneirismo de estilo, imperdoável” (2001, p.5). Nesse dizer iconoclasta,
destruidor das principais matrizes artísticas do mundo burguês, refere-se o autor
de The Importance of Being Earnest (1895) à postura daqueles a quem o
Esteticismo considera os verdadeiros artistas, ou seja, aqueles para quem a ética
jamais se poderia sobrepor à estética 39 , uma vez que, segundo os artífices
finisseculares, os escolhidos seriam considerados os seres “para quem as coisas
maravilhosas significam apenas beleza” (Ibidem), e a beleza, na concepção
decadentista, reside principalmente nas suas formas.
Soberana e absoluta, a estética decadentista compreende-se como um fim
em si mesma, o que a faz desprezar com veemência tudo aquilo que não é do
restrito domínio do artístico. “Toda arte é demasiado inútil” (Ibidem), diz Oscar
Wilde, aforismo levado às raias da extremidade pelos artistas finisseculares.
Buscando afastar-se de quaisquer preocupações utilitárias, sejam elas intelectuais,
morais, sociais, religiosas ou políticas, o Decadentismo entende a arte como uma
questão de pura sensibilidade, de pura poiesis, num inebriante rodopio dos signos.
Considerando-se um jogo autossuficiente, a arte decadentista rechaça a ideia de
compromisso com o social e rompe com o positivismo reinante, dando vazão a um
39 O Decadentismo entende que os valores estéticos devem estar acima de quaisquer outros
valores. A meu ver, essa estética é também uma ética. Ou seja, o desprezo pelo referente
converte-se num discurso denso e rebuscado, que pretende negar os valores sociais em prol
de um absolutismo da arte. Ora, ao negar a relação entre literatura e sociedade, o Esteticismo
promove, precisamente com essa negação, uma reflexão sobre o social, embora diga não o
fazer.
Rafael Santana
73
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
mundo de sonhos, todo ele lacunas e fragmentos. Proclamando a autonomia da
arte, o Esteticismo glorifica a beleza como valor intrínseco, supremo e absoluto, e
pratica o hedonismo das formas, conferindo permanência às impressões fugazes
da sensibilidade, verbalizadas em múltiplas pulsações sinestésicas.
Rejeitando o espírito gregário, o Decadentismo almeja efetuar uma ruptura
entre o discurso artístico e a sociedade que lhe dá origem, elidindo do espaço da
escritura um necessário compromisso com o real, entendido aqui como a tentativa
de reformar os costumes sociais por meio da arte que, refletindo a vida
comunitária, funcionaria para o seu espectador como uma espécie de espelho no
qual se mirasse e através do qual pudesse aprender sobre si mesmo, posicionandose engajadamente com o auxílio da leitura, no sentido amplo do termo. Ancila da
própria arte – l’art pour l’art –, o Esteticismo promove um culto narcísico de si
próprio, renunciando a todo didatismo, a todo moralismo, a toda alocução
igualitária e popular. Peremptoriamente, a arte fin-de-siècle não aceita assumir
compromisso algum com algo que lhe é exterior, e por isso mesmo abomina o
pequeno fato verdadeiro, atrelado por demais aos ideais progressistas da sociedade
filisteia. Preciosista, cioso das suas raríssimas gemas, o texto decadentista –
dédalo onde convergem luz e sombra – apresenta-se sob a forma de uma
requintada tapeçaria na qual os fios de uma escritura exibicionista, presunçosa das
suas parcerias textuais, convergem para a formação de um mosaico assaz
artificial, reino absoluto do simulacro e da embriaguez saturnina.
Endereçando esgares à realidade vulgar e à pauta dos falsos valores sólidos
da decrépita sociedade burguesa, o Decadentismo prefacia a modernidade por
meio da atitude iconoclasta dos seus artistas, legando aos escritores ulteriores
aquelas bases fundamentais que, nos anos aurorais do século XX, viriam a
constituir um dos traços mais significativos do Modernismo: a ideia da
fragmentação do sujeito, a temática do duplo, a valorização da androginia, a
sedução pela figura do dandy e a concepção do simulacro e da artificialização da
Rafael Santana
74
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
arte como modos de poetizar a existência. Eis aí algumas das sendas percorridas
pelos estetas finisseculares e trilhadas novamente pelos artistas do Modernismo
europeu. Epílogo de oitocentos e prólogo de um novo tempo, o Decadentismo
abre a cena moderna de princípios do século XX, que aposta igualmente na ideia
da autorreferencialidade da arte.
Em se tratando da literatura portuguesa, por exemplo, escreve Fernando
Pessoa a respeito da relação entre literatura e sociedade, corroborando o
pensamento dos estetas da decadência: “Todo o artista que dá à sua arte um fim
extra-artístico é um infame” (2005. p.435). De postura esteticista e teoricamente
não compromissada com a realidade, a Pessoa e, de um modo geral, à geração de
Orpheu, o fazer artístico se lhes afigurava a única atividade dotada de algum
sentido para a vida. Rejeitando veementemente as concepções artístico-literárias
do mundo burguês, os escritores desse período opuseram-se de forma patente à
ideia da democratização da arte e do seu possível engajamento social. Pregando a
“indiferença para com a Pátria, para com a Religião [e] para com as chamadas
virtudes cívicas” (Ibidem), os intelectuais de Orpheu compuseram as suas obras
com vistas ao alcance da beleza, delas fazendo um objeto supostamente
autárquico e autorreferenciado. Inspirado no lema decadentista l’art pour l’art,
Fernando Pessoa cria o exergo “O essencial na arte é exprimir; o que se exprime
não interessa” (Ibidem, p.4), que resume paradigmaticamente a proposta de uma
arte que se quer autônoma. Produto do intelecto, a literatura de Orpheu, tal qual a
das estéticas finisseculares, lança-se nas plagas do culto ao artifício, a ponto de
um pensador como Pessoa afirmar categoricamente que a “sinceridade é o grande
obstáculo que o artista tem a vencer. Só uma longa disciplina, uma aprendizagem
de não sentir senão literariamente as cousas, podem levar o espírito a esta
culminância” (2005, p.240).
Tomada como fingimento, como criação que se dá no discurso e através
dele, a literatura modernista portuguesa rompe, em teoria, com toda proposta
Rafael Santana
75
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
educativo-pedagógica, promovendo uma cisão entre a arte e a moral social. A
serviço da beleza, a atividade criadora é compreendida pelos os artistas de Orpheu
como um fenômeno capaz de aperfeiçoar a intolerável existência, imperfeita na
sua própria natureza.
Em António Botto e o Ideal Estético em Portugal, texto que promove toda
uma reflexão sobre a literatura e sobre as artes, Fernando Pessoa, ao analisar a
poesia homoerótica do autor de Canções (1921), tece uma série de comentários
que de certa forma também resumem a proposta do Modernismo emergente em
terras portuguesas, movimento que recuperava da civilização helênica a noção de
que a obra de arte seria capaz de poetizar a anódina existência humana através da
criação da beleza:
Não podendo buscar consolação espiritual na religião, força é que busquem
na vida. Como, porém, encontrá-la na vida, se a vida é imperfeita, e o
imperfeito, por sua natureza, não pode construir ideal, porque o ideal é
perfeição? Aperfeiçoando a vida, para que a sua imperfeição lhes doa menos.
Aperfeiçoando-a como? Objetivamente não pode ser, porque a ação humana
sobre o universo é menos que limitadíssima. É portanto só subjetivamente
que se pode aperfeiçoá-la, aperfeiçoando o conceito e o sentimento dela. A
consolação e o repouso no que podem atingir-se, só a Arte, portanto, os pode
dar. A arte é, com efeito, o aperfeiçoamento subjetivo da vida.
(PESSOA, 2005, p.351).
Na busca da beleza, a literatura de Orpheu ousa percorrer as sendas do
antidemocrático e do antipopular. Manifestando ojeriza ao bem comum e ao
princípio igualitário do discurso burguês, os artistas da modernidade inaugural do
século XX em Portugal, numa postura declaradamente aristocrática, reafirmam,
por meio da complexidade das suas obras, a sua superioridade dentre os demais,
plebe ignara que desconhece o refinamento dos sentidos. Em carta datada de 21 de
janeiro de 1913, e endereçada ao amigo Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro,
não obstante a consciência da angústia advinda da sua inteligência aguçada e do
seu espírito hipersensível, isto é, da sua sensibilidade extremada, relata sentir um
imenso orgulho de ser um artista e, portanto, de diferenciar-se da massa, porque o
escritor, poetizando a sua própria existência, seria aquele que faz da vida uma
Rafael Santana
76
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
espécie de ficção, transformando tudo quanto em si descobre em novelas ou
poemas. Por isso, diz Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, o artista é paradoxalmente,
apesar do seu sofrimento e da sua inadequação, um ser mais feliz que os outros,
“para quem as horas de meditação sobre si próprio são horas perdidas” (COL,
p.737).
Num texto intitulado A Liberdade das Plebes, Fernando Pessoa reafirma o
princípio aristocrático da sua tertúlia literária e pergunta-se: “Para que serve
qualquer das fórmulas de liberdade à plebe? De que serve a liberdade de
pensamento a quem, por sua condição social, não pode pensar?” (2005, p.587).
Rejeitando os valores igualitários, Pessoa e o grupo de Orpheu procuraram fazer
da matéria artística um objeto através do qual se pudesse promover um
distanciamento do vulgo e do senso comum, pois, ao elevar e ao apurar as suas
sensações “até à sutiliza” (Ibidem, p.299), os artistas de espírito sensível e superno
promoveriam uma espécie de aristocratização da arte que, de tão complexa e
refinada, jamais poderia chegar ao entendimento do grande público. Inicialmente
composta para uma casta de reduzidíssimos eleitos, a literatura de Orpheu, urdida
num período histórico que os artistas do grupo consideravam metaforicamente o
“outono da civilização europeia” (Ibidem), promoveria o distanciamento entre as
artes e a esfera popular, negando todo pensamento democrático. Segundo
Fernando Pessoa, a rejeição ao espírito gregário é o principal dever do artista, que
deve “criar beleza e não pregar a alguém” (Ibidem, p.435).
Teoricamente antipedagógica, a literatura de Orpheu parece negar
qualquer espécie de compromisso com o social. Contudo, e é esta a aposta desta
tese, Orpheu, ao recusar os conceitos artístico-literários do mundo burguês e o seu
sistema de valores, promove uma espécie de nova pauta de valores autênticos,
logicamente no avesso do modelo anterior.
Se, para o artista burguês, os valores autênticos se resumiriam grosso
modo àquilo por que a sua sociedade lutava e ansiava – liberdade de expressão,
Rafael Santana
77
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
liberdade no amor, honradez, igualdade, honestidade, retidão comportamental,
ética do trabalho, família nuclear, heteronormatividade – como pensar (reitero a
pergunta da Introdução) no sentido da autenticidade para o artista de princípios do
século XX, claramente imbuído de uma ética antiburguesa? A minha tese é a de
que a literatura de Orpheu inscreve-se naquilo que aqui chamo uma educação às
avessas, que consiste por sua vez na valorização de tudo o que não poderia ser
considerado como exemplo de educação ou de pedagogia para a doxa. Em relação
à literatura de Mário de Sá-Carneiro, por exemplo, eu avançaria como hipótese
que os temas obsessivos da sua obra – o mistério, os sortilégios, a
homossexualidade, a androginia, a femme fatale, a fragmentação do sujeito, bem
como tantos outros nessa mesma linha transgressora – poderiam ser lidos na clave
dessa educação às avessas, em que a rejeição à esfera familiar, a sexualidade
desviada de finalidades procriatórias apostam na renovação do discurso e da moral
sociais, que precisariam passar primeiramente por um processo de escandalização
e de radicalização, para que posteriormente se pudesse promover a ruptura e quiçá
a instauração de novos parâmetros.
Assim, negar um modelo anterior não pressupõe alienar-se ou afastar-se da
vida social; antes, denota um profundo desgosto e um doloroso descontentamento
com a falha de um projeto anterior que, por falhado, precisaria sair de cena e ceder
espaço para a ascensão das novas ideias. Promovendo o escândalo e a rebeldia, os
artistas de Orpheu propõem assim uma nova pauta de valores autênticos.
Noutras palavras, assim teoricamente como foi preciso que Roland
Barthes, no contexto revolucionário de 1968, declarasse bombasticamente que o
autor morreu para que um dia ele pudesse vir a ressuscitar em outros parâmetros,
eu diria também que foi preciso que os artistas de Orpheu afirmassem num
discurso assertivo que a literatura se divorciava de uma vez por todas da
sociedade, porque rompendo, através do escândalo, com o modelo anterior, o
Modernismo português apostava numa revolução da literatura e das artes que,
Rafael Santana
78
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 1
instaurando-se supostamente como referentes de si mesmas, viriam a estabelecer
um novo conceito de educação.
Afinal, reitero agora a minha pergunta inicial: poderia alguma arte ser
composta sem nenhum fundo ou sem nenhum intuito educativo-pedagógico? A
Antiguidade e a Era Clássica fizeram da matéria artística um instrumento
perpetuador dos valores da aristocracia; a Idade Média compôs grande parte das
suas artes compromissada com a dimensão sobrenatural e religiosa dos valores
cristãos; o século XIX apostou no romance e nas suas formas correlatas como
veículos de educação do indivíduo burguês tantas vezes na contramão do que
havia sido a decomposição desses mesmos ideais, num projeto assumidamente
pedagógico; qual seria, portanto, o lugar conferido à pedagogia nas artes do
princípio do século XX? Negada foi tal pedagogia, como vimos, mas estaria ela de
todo ausente da produção artística daquele tempo ou revestida pelo avesso de um
novo e libertário anticódigo burguês? É isso a que o próximo capítulo ensejará
responder.
Rafael Santana
79
CAPÍTULO 2
OS CAMINHOS DE ORPHEU
Evocar o advento do Orpheu é escrever o
nosso romance histórico actual com as
personagens autênticas e sem ficção
possível.
(Negreiros – Obra Completa)
Desde meados da década de 1950, época em que se assinala o advento dos
estudos pessoanos no âmbito da lusofonia, vem-se tornando um lugar-comum a
afirmação de que a literatura deste artista sui generis do Modernismo português e,
mais largamente, a de toda a geração de Orpheu, estaria de certo modo
desvinculada de quaisquer preocupações que não aquelas especificamente restritas
à própria construção da arte, numa espécie de exercício narcísico e
autorreferenciado, que despreza as relações entre literatura e sociedade. Ora,
muitas destas afirmações, reiteradas ao longo de décadas pela crítica 40 , estão
pautadas na própria obra do autor de Mensagem (1934), especialmente na sua
Obra em prosa, publicada fragmentadamente à medida que se examinavam os
milhares de papéis dispersos na sua pletórica arca, obra na qual o artista tece uma
série de considerações político-sociais, refletindo também sobre a função da arte
na sociedade. E a conclusão a que não raras vezes chega Fernando Pessoa acerca
do artístico e, mais especificamente, da literatura, é a de que o objeto literário,
numa espécie de retomada dos padrões helênicos, poderia, sim, embelezar o
mundo e a existência, ambos considerados imperfeitos, conferindo algum sentido
à opacidade da vida, porque aperfeiçoada pelo brilho da arte. Assim sendo, a
literatura pessoana e a do grupo de Orpheu – já que Fernando Pessoa estende as
suas reflexões sobre a arte a todo o seu círculo literário – negaria toda e qualquer
espécie de engajamento social, desprezando veementemente algum tipo de
vínculo com a sociedade.
40 Críticos de renome como Jacinto do Prado Coelho, Cleonice Berardinelli e José Augusto
Seabra, embasados sobretudo nos escritos em prosa de Fernando Pessoa, destacam a
questão do divórcio entre literatura e sociedade como sendo uma das propostas de Pessoa e
de Orpheu. Resumo essa afirmação no seguinte comentário de Cleonice Berardinelli, quando
a ensaísta afirma que “Pessoa se coloca em oposição declarada a qualquer espécie de
engajamento da arte” (2004, p.105).
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
Não contesto aqui o que certa parcela da crítica especializada costuma
afirmar sobre o posicionamento ético e estético de Fernando Pessoa; em primeiro
lugar, porque a referida crítica fundamenta a sua leitura nos próprios escritos
pessoanos, que exacerbam precisamente a ideia da ruptura entre o fazer artístico e
o fazer social; em segundo lugar, porque este estudo se centra na literatura de
Mário de Sá-Carneiro, não devendo, portanto, alongar-se em reflexões sobre um
escritor que, embora essencial para o diálogo com a obra do autor de A Confissão
de Lúcio, não é o foco desta pesquisa. O que me interessa aqui é sobretudo
historicizar as afirmações do grande poeta de Orpheu a respeito das relações entre
literatura e sociedade, afirmações que, a meu ver, se justificariam por uma adesão
às propostas iconoclastas da sua época, irreverente ao ethos burguês e à concepção
de uma arte sociologicamente fundamentada. No alvorecer do século XX na
Europa, tempo que traz inscritas as marcas da crise finissecular, os artistas de
Orpheu que, como Pessoa, afirmavam que “A improbidade profissional e a
ineficiência são talvez as características distintivas de nossa época” (2005, p.499),
assumem, teoricamente, o princípio da desistência social, encerrando-se, como
saída simbólica, na esfera do artístico. Contrapondo-se aos conceitos artísticoliterários propagados pela arte burguesa do Romantismo ao Realismo,
especialmente à ideia de que a obra de arte teria uma função social a cumprir,
Orpheu inscreve as suas obras num projeto de rechaçar as relações entre literatura
e sociedade, no intuito de derrubar, de uma vez por todas, os padrões e a pauta de
valores de um modelo anterior que, rejeitado, ultrapassado, enxovalhado, daria
lugar a uma nova proposta, conquistada através do escândalo e da atitude
irreverente dos artistas que buscavam instaurar o novo. Na linha do pensamento
de Octavio Paz – Los Hijos del Limo –, as revoluções artísticas se desejavam, até à
modernidade, profundamente iconoclastas.
A literatura sá-carneiriana não promove certamente uma reflexão social
sobre Portugal, a não ser quando expõe o seu provincianismo e a sua discrepância
em relação aos territórios ultracivilizados, especialmente Paris. Contudo – e essa
Rafael Santana
82
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
será a minha proposta de leitura – esta literatura não deixa de dialogar com o
espírito social do seu tempo histórico, declaradamente antiburguês, por investir
contra a moral conservadora, contra a mentalidade mediana, enfim, contra aquilo
que anos mais tarde aborrecerá pensadores da esteira de Roland Barthes, noutras
palavras, a doxa ou o senso comum. Mário de Sá-Carneiro fez da sua escritura
uma espécie de lâmina com a qual pudesse ferir as normas e os padrões ditados
pelos insípidos e prosaicos burgueses, nomeados por ele justamente de
lepidópteros, adjetivo com o qual qualificava as pessoas insensíveis e de espírito
vulgar. Decerto que literatura sá-carneiriana pode ser lida como um constante
desejo de escapar ao real, por valorizar o sonho e por percorrer as sendas da
divagação, dos delírios e do inconsciente como forma de esquivar-se do tédio da
existência. Esta postura de alheamento assumida pela literatura de Sá-Carneiro
poderia conduzir o leitor a uma conclusão – a meu ver discutível – de que o autor,
ao fazer dos seus escritos um constante exercício de escapismo, buscaria alienarse ou exilar-se por completo na matéria literária. Cumpre, antes de tudo, perguntar
em que medida este suposto desprezo pelo referente não esconderia, ao mesmo
tempo, um profundo desgosto para com os descaminhos da sociedade da sua
época, vale dizer, para com a falha do projeto oitocentista, de que o seu mundo
ainda é herdeiro. Parece difícil, num autor que escreve sobre temas tão
controversos, tais como o dandismo, a mulher fatal e a homossexualidade, negar o
diálogo da sua literatura com o mundo que o circunda, uma vez que todos estes
temas ferem sobremaneira a moral e o espírito burgueses que formavam o senso
comum do tempo.
E se Mário de Sá-Carneiro não reflete exatamente sobre Portugal,
mostrando um total desprezo pela nação na sua literatura, cabe ressaltar também
que este escritor que tanto rejeita o seu país – e que o fez fisicamente na sua opção
pela experiência parisiense – criou protagonistas portugueses para quase todas as
suas obras romanescas, contos ou novelas. Heróis inadaptados ao espírito
provinciano, estes personagens denunciam a mediocridade da pátria e a agonia de
Rafael Santana
83
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
viverem cerceados num território à margem da civilização e do progresso, avesso
e indiferente ao sonho e às grandes ideias, porque todos eles – sem exceção – são
artistas de inteligência aguçada, alguns até mesmo gênios incompreendidos, que
aspiram a qualquer coisa que estivesse muito para além do que a nação – e de
modo mais radical o mundo – seria capaz de oferecer-lhes. Muito
baudelairianamente, são seres em viagem para um além não metafísico: “Nous
voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou
Ciel, qu'importe ? / Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau! 41”.
Em Sá-Carneiro, é realmente curioso notar que este ser tão ávido por Paris
e pela Europa ultracivilizada, exilado voluntariamente noutra nação, se tenha
mantido tão ligado a Portugal seja pela correspondência muitas das vezes urdida
nos agitadíssimos cafés da grande capital latina, cartas que trocava quase
diariamente com amigos portugueses e com familiares, seja pela presença
constante de personagens portugueses na sua obra, seja, enfim, pelo próprio cotejo
que tantas vezes estabelece entre Lisboa e Paris, lamentando-se sempre pelo fato
de pertencer a uma terra que considera medíocre e insensível ao espírito artístico,
o que denunciaria o desejo de operar uma mudança nesse sentido. A meu ver, os
seus escritos pretendiam destinar-se não apenas ao círculo de artistas
hipersensíveis com quem dialogava e se correspondia, mas também – hipotético
desejo – aos homens comuns da sua pátria, que, ao adentrarem o insólito universo
da sua escritura, certamente se escandalizariam com aquilo que liam.
Leyla Perrone-Moisés, no seu já clássico Fernando Pessoa: Aquém do Eu,
Além do Outro (1982), sinaliza que o criador de heterônimos, esse “drama em
gente”, diante do seu inusitado posicionamento político-social e estético, foi
frequentemente taxado de “poeta ‘alienado’, ‘niilista’, ‘negativista’, ‘elitista’,
‘reacionário’ etc.” (2001, p.91), uma vez que a sua poesia caminha na direção do
41 Nós queremos, tanto esse fogo nos queima o pensamento, / Mergulhar no fundo do
abismo, Inferno ou Céu, que importa? / No fundo do Desconhecido para encontrar o novo.
(Trad. minha).
Rafael Santana
84
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
vago, do complexo, do sutil, do transcendental, numa arte que o próprio Pessoa
classifica como sendo de sonho. “Quem quisesse resumir, numa palavra a
característica principal da arte moderna encontrá-la-ia, perfeitamente, na palavra
sonho. A arte moderna é arte de sonho” (2005, p.296), diz o poeta. Ressaltando a
ideia de que “os grandes homens antigos eram homens de sonho” (Ibidem) e de
que os seus contemporâneos são apenas meros homens de ciência, Fernando
Pessoa inscreve a arte moderna na linha dos grandes sonhadores do passado.
Lendo, com grande acuidade, este pequeno manifesto pessoano, intitulado A Arte
Moderna é Arte de Sonho (1913?), escreve Leyla Perrone-Moisés, na contramão
do lugar-comum:
O sonho, para Pessoa, não é a inação. No passado, o sonho era o alto projeto
das maiores ações humanas; no presente, são as circunstâncias infelizes que
impedem essa prática superior, e condenam o sonho à irrealização.
Assumindo o sonho, a poesia moderna não se limita apenas a fugir de um real
adverso, mas afirma uma utopia que, por contraste, é uma permanente
acusação daquilo que, nesse real, impede a plena realização dos mais altos
ideais humanos. A poesia preserva o sonho como a possibilidade de um
projeto, que possa dar um valor às ações, que as salve da cegueira e da
brutalidade.
(PERRONE-MOISÉS, 2001, p.82-83)
Ora, esta leitura do sonho como a denúncia de um presente esvaziado e
como a utopia de construção de um projeto de futuro também se adéqua à
proposta literária de Mário de Sá-Carneiro. Esta sugestão, no entanto, carece de
explicação, uma vez que pode ser considerada completamente despropositada em
relação à obra de um escritor que, a todo o momento, frisa a sua inadequação ao
mundo, manifestando o desejo da morte, do aniquilamento da existência. Noutras
palavras: em que medida um suicida como Mário de Sá-Carneiro poderia ter
algum projeto de futuro, se o seu pensamento se centrou, tantas vezes, em
estratégias para lograr deixar a vida, ou se do mundo ele, desde o momento em
que manifestara uma certa consciência de si próprio, já não mais quisera fazer
parte? No caso de um cidadão comum, talvez o seu projeto de futuro possa ser
considerado, paradoxalmente, o próprio suicídio, que anula o futuro; no caso de
Rafael Santana
85
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
um artista, o que mais especificamente me interessa aqui, outro poderia ser o seu
projeto, quando transformado em matéria de arte.
A verdade é que, desde muito jovem, o suicídio já se afigurava a Mário de
Sá-Carneiro como um tema que o atraía, inicialmente mais como ficção e como
matéria poética, do que como algo que efetivamente pudesse aplicar na sua vida,
embora esta possibilidade sempre o seduzisse. Em fevereiro de 1909, com apenas
18 anos de idade, Sá-Carneiro colaborava com a publicação de um breve conto,
Páginas dum Suicida, numa revista de pequeno porte, Azulejos, reaproveitando
ainda o referido conto no ano de 1912, aquando da publicação da sua primeira
coletânea de textos em prosa, intitulada Princípio. Em Páginas dum Suicida,
conto composto num período anterior à produção mais significativa do autor (de
1913 a 1916), Sá-Carneiro descreve o que representaria para ele a doença
espiritual típica da sua geração, emparedada pelo discurso da ciência.
Denunciando, através de Lourenço Furtado, narrador e personagem de uma
espécie de carta confessional, a mediocridade do seu tempo histórico, Sá-Carneiro
declara-se vítima de uma época em que o sentido da curiosidade já seria
praticamente inexistente, uma vez que o positivismo e a ciência teriam
racionalizado todo mistério, supostamente impondo o desvendamento do enigma
do mundo. Vivendo a experiência redutora de um tempo logicamente explicado,
só caberia ao homem de sonho, ao homem de “espírito aventuroso e investigador”
(PR, p.263), adentrar as ainda desconhecidas zonas da morte, espécie de reduto
último do mistério, e, portanto, um terreno ainda possível de desbravar. Assim
sendo, percebe-se claramente que Sá-Carneiro, tal como Pessoa, não concebe o
sonho como a inação, mas como um projeto de futuro, fosse ele a morte, mas
morte por escolha, como ato.
Ora, se o suicídio é, incontestavelmente, um dos leitmotive da escritura sácarneiriana, cabe frisar entretanto que o Esfinge Gorda fez do tema da morte um
efetivo projeto de literatura, única vida que tivera afinal. Assim sendo, antes da
Rafael Santana
86
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
desistência ou da entrega, a morte simboliza, na obra de Mário de Sá-Carneiro, “o
depósito da grandeza humana, do heroísmo e da superação possíveis” (BUENO,
1995, p.20). Como assinala Alexei Bueno na sua Introdução à obra completa do
autor de Páginas dum suicida, “foi entre estes dois signos, a Arte e a Morte –
assim com letra maiúscula – que teve lugar a meteórica trajetória de Mário de SáCarneiro” (Ibidem).
Ao propagar o conceito esteticista finissecular da autonomia da arte,
Orpheu investiu na negação de qualquer espécie de estatuto social no conjunto das
suas obras, proclamando a autorreferencialidade do discurso artístico. Contudo,
poderia esta ideia ser tomada ao pé da letra? Peter Bürger, em Teoria da
Vanguarda, lança a tese de que os movimentos vanguardistas do início do século
XX tencionaram realocar as artes no contexto da práxis da vida, assumindo, de
outro modo, uma postura de engajamento que o fim de século desprezara ou que,
ao menos, simulara desprezar. Refletindo sobre o conceito de l’art pour l’art,
tornado uma espécie de misè en exergue pelas estéticas finisseculares, Peter
Bürger, ao defender a necessidade de historicizar todo e qualquer posicionamento,
aponta para a possibilidade de a questão da autonomia da arte ter existido apenas
na imaginação dos artistas do final do século XIX, não passando, de fato, de uma
mera ilusão. Todavia, autônomo ou não, Bürger considera o Esteticismo de
fundamental importância para o surgimento das Vanguardas, movimentos
artísticos que, a seu ver, trazem no seu bojo certas ideias da escola à qual
deveriam a sua existência.
Os movimentos europeus de vanguarda podem ser definidos como um ataque
ao status da arte na sociedade burguesa. É negada não uma forma anterior de
manifestação da arte (um estilo), mas a instituição arte como instituição
deslocada da práxis vital das pessoas. Quando os vanguardistas colocam a
exigência de que a arte novamente devesse se tornar prática, tal exigência não
diz que o conteúdo das obras de arte devesse ser socialmente significativo.
[...] os vanguardistas assumem um momento essencial do esteticismo. Este
havia transformado a distância em relação à práxis vital em conteúdo das
obras. A práxis vital à qual – ao negá-la – o esteticismo se refere, é a vida
cotidiana do burguês ordenada segundo a racionalidade voltada para os fins.
Não é objetivo dos vanguardistas integrar a arte a essa práxis vital; ao
contrário, eles compartilham da rejeição a um mundo ordenado pela
Rafael Santana
87
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
racionalidade voltada para os fins, tal como a formularam os esteticistas. O
que os distingue destes é a tentativa de organizar, a partir da arte, uma nova
práxis vital. Também sob este aspecto, o esteticismo revela-se um
pressuposto necessário da intenção vanguardista.
(BÜRGER, 2008, p.105-106, grifos do autor)
Para Peter Bürger, as Vanguardas representariam uma tentativa de
organizar uma nova práxis vital. Na esteira de Bürger e de Lukács, eu diria que
Orpheu, ao opor-se violentamente à visão de mundo burguesa e ao espírito
provinciano de Portugal, propunha uma nova pauta de valores autênticos num
universo degradado. Decerto seria leitura ingênua imaginar que ao fazerem
apologia à inutilidade, à recusa ao mundo do trabalho, às sexualidades desviadas
da procriação e aos excessos febris, os escritores de Orpheu, ou mesmo os grandes
representantes das Vanguardas Europeias, almejavam incutir estes temas na vida
quotidiana, no intuito de que toda a sociedade assumisse tais comportamentos. O
que Orpheu e as Vanguardas fizeram foi de certa forma despertar para a
possibilidade do diverso o público leitor do seu tempo histórico, em prol de uma
nova consciência e da necessidade urgente de uma revolução nos valores, por
meio do choque e do susto que causam todo gesto radical de escândalo e toda
atitude iconoclasta.
Ao proclamar a autonomia da arte, ou melhor, ao promover, em teoria, a
ruptura entre o discurso artístico e o discurso social, Orpheu rejeita um modelo
considerado desgastado, cedendo espaço para o novo. No entanto, para que o novo
se efetivasse, urgia incorrer em atitudes radicais, pois não raramente é através do
gesto teatralmente bombástico que as novas ideias ganham lugar na sociedade e
no discurso. Embora Fernando Pessoa tenha sido na geração de Orpheu o maior
propagador da ideia do divórcio entre literatura e sociedade, alguns dos seus
textos parecem mostrar que nem sempre o escritor manifestou o mesmo
pensamento em relação a essa questão, o que talvez sinalize o caráter escandaloso
e algo “panfletário” de muitas das afirmações do autor, expressas em tom de
manifesto. Num texto da juventude, publicado na revista Águia, e intitulado A
Rafael Santana
88
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada (1912), Fernando Pessoa
afirma, por exemplo, que todas as artes cumprem inexoravelmente uma função
social, numa postura contrária à que assumira em outros tantos escritos em prosa.
Reconhecendo “que aquilo que se chama uma corrente literária deve de algum
modo ser representativo do estado social da época e do país em que aparece”
(2005, p.361), Fernando Pessoa escreve, ainda, que “a literatura é fatalmente a
expressão do estado social de um período político” (Ibidem, p.362), sendo a
poesia, para ele, o gênero literário que melhor define o Zeitgeist de uma época.
Por outro lado, cabe acentuar que os escritos contraditórios de Pessoa, incluindo
aqueles textos em prosa que assina com o seu próprio nome, só fazem acentuar o
jogo dramático das personae, que põem magistralmente em cena o conflito entre
dúvidas e certezas, que orienta toda especulação filosófica. Assumindo a mesma
dialética da poesia ortônima e heterônima, os escritos em prosa de Pessoa
friccionam o pensamento e revelam as múltiplas máscaras de um poeta que nunca
titubeou em afirmar: “o paradoxo não é meu; sou eu” (2005, p.63).
Manifestando a aguda consciência de viver num período de decadência
cultural e política, Fernando Pessoa afirma que a sua poesia e a dos artistas seus
contemporâneos, rejeitando o espírito niilista, pretendia ser uma espécie de
alavanca que os impulsionasse para a grandeza e para a realização do sonho: “a
atual corrente literária portuguesa é completa e absolutamente o princípio de uma
grande corrente literária, das que precedem as grandes épocas criadoras [...]”
(Ibidem, p.367), dirá ele. Assim, caberia à própria arte lograr alcançar a almejada
grandeza que a sociedade decadente não era capaz de oferecer ao artista. Como
assinala Octavio Paz, “casi todas las épocas de crisis o decadencia social son
fértiles en grandes poetas 42” (2003, p.43), uma vez que, recusando a atmosfera de
decrepitude, eles (os poetas) proclamam a grandeza da arte e denunciam a
estreiteza da sociedade que os cerca.
Quase todas as épocas de crise ou decadência social são férteis em grandes poetas. (Trad.
minha).
42
Rafael Santana
89
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
No que concerne a Mário de Sá-Carneiro, infelizmente o poeta e
ficcionista nada escreveu sobre o que considerava ser a proposta de Orpheu e da
corrente do seu tempo 43. É na sua correspondência o lugar onde Sá-Carneiro mais
largamente se debruça sobre considerações artístico-literárias, mas nela nada
encontramos sobre o que o autor pensava ser o ideário da revista. Nos períodos de
estada em Paris, Sá-Carneiro trocava cartas frequentemente com quase todo o seu
círculo artístico, sendo estas cartas hoje consideradas parte da sua obra ficcional,
devido à tonalidade notadamente artística do discurso. Entretanto, nos momentos
em que estava em Lisboa, pouquíssimas eram as correspondências que o escritor
intercambiava com os amigos, limitando-se, as mais das vezes, a enviar-lhes
postais sobre coisas triviais, como encontro em algum café. Em todo o primeiro
semestre de 1915, época em que se publicaram os dois únicos números de
Orpheu, Sá-Carneiro esteve em Portugal, fugindo da Primeira Guerra Mundial,
que assolava violentamente a França. Talvez por esse motivo, não haja sequer
uma linha escrita pelo poeta sobre a proposta da revista que dirigia com Fernando
Pessoa, muito provavelmente porque todo o seu ideário sobre Orpheu teria sido
discutido de forma direta e pessoal com os colaboradores do periódico. Assim,
falar hoje de Orpheu exige revisitar as obras de Fernando Pessoa e de Almada
Negreiros, artistas que, tendo publicado na revista, não abriram mão de tecer
considerações críticas sobre ela.
Para Almada Negreiros, Mário de Sá-Carneiro e Amadeo de SousaCardoso representam os dois grandes poetas da geração de Orpheu, o primeiro,
nas letras; o segundo, na pintura. Segundo Almada, Sá-Carneiro foi “o grande
aliciante de todo o Orpheu” (1997, p.1084), assumindo um papel decisivo no que
concerne à direção da revista, porque “via perfeitamente por onde se estava a abrir
o caminho e aonde iria ter. Via-o mesmo como nenhum outro e ditirambicamente”
(Ibidem). Se, consoante as palavras de Fernando Pessoa, o intuito de Orpheu era o
43 Sá-Carneiro refere-se muitas vezes a Orpheu na sua correspondência literária, mas muito
mais para tratar de questões burocráticas do que para tecer considerações estéticas.
Rafael Santana
90
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
de “criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço” (2005, p.407), num
momento da história da humanidade em que todos os países pareciam existir
dentro de cada um – a isso Pessoa chamava ser europeu –, então Sá-Carneiro
talvez tenha sido o poeta que melhor tenha resumido o espírito cosmopolita e
civilizacional da sua época na literatura daquele grupo de jovens intelectuais, uma
vez que buscou integrar todas as artes na escrita, trabalhando com os temas da
música, da dança, da escultura, da pintura. Músicos, dançarinas, escultores e a
própria temática da pintura (vide o Cubismo) são recorrentes na sua obra,
revelando-se quer no que concerne ao conteúdo propriamente dito, quer no que
tange ao trabalho de construção formal. Empreendendo um verdadeiro sistema de
parcerias entre as artes, Mário de Sá-Carneiro integra-se às correntes cosmopolitas
novecentistas, epitomando na literatura portuguesa de princípios do século XX o
espírito artístico da sociedade do seu tempo referencialmente histórico.
2.1
TRÂNSITOS ESTÉTICOS: DA POESIA À PROSA E VICE-VERSA
La poesía es revelación de la condición
humana y consagración de una
experiencia histórica concreta. La novela
y el teatro modernos se apoyan en su
época, incluso cuando la niegan. Al
negarla, la consagran 44.
(Octavio Paz – El Arco y la Lira)
Ao refletir sobre a linguagem humana e sobre os seus múltiplos
desdobramentos ao longo da História, afirma Octavio Paz: “La poesía moderna se
ha convertido en el alimento de los disidentes y desterrados del mundo burgués 45”
(2003, p.40). Ora, encontramos aí – nessa inteligente proposta de entendimento do
poeta e ensaísta mexicano – uma premissa que bem poderia definir um dos
A poesia é revelação da condição humana e consagração de uma experiência histórica
concreta. O romance e o teatro modernos se apoiam na sua época, mesmo quando a negam.
Ao negá-la, consagram-na. (Trad. minha).
44
45 A poesia moderna se converteu no alimento dos dissidentes e desterrados do mundo
burguês. (Trad. minha).
Rafael Santana
91
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
grandes impulsos motivadores tanto da poesia quanto da prosa portuguesa
modernas, produzidas pela geração de Orpheu. Tomando por base os postulados
iconoclastas de algumas correntes e movimentos literários do seu tempo, ou
mesmo próximos à sua época, como, por exemplo, o Decadentismo e as radicais
Vanguardas Europeias, o Modernismo português reiterava a ideia da rejeição à
pauta de valores da sociedade burguesa, ao proclamar, diante da ruína moral,
política, econômica, religiosa, histórica e artística a que se assistia, a beleza, a
grandeza e o esplendor do objeto literário.
Esgarçando os preceitos éticos e estéticos relacionados aos conceitos de
arte propagados pela burguesia – arte como produto da inspiração, arte
pedagógica, arte composta para o povo, arte como tentativa de representação da
realidade –, o Modernismo português propusera a formulação de uma literatura
assentada prioritariamente na técnica e no artifício do signo 46 quer no que
concerne ao trabalho em verso propriamente dito, quer no que tange à escritura
em prosa. Se, a partir do século XIX, a poesia se tornara menos valorizada pelo
público que tinha acesso à arte, justamente porque não facilmente adaptável a uma
função utilitária, e neste sentido dera grande espaço para a ascensão dos gêneros
em prosa, ela (a poesia) viria a converter-se contudo num dos modos de expressão
mais requeridos pela literatura modernista, na viragem do século e nos anos
iniciais do século XX. Daí o caráter poemático dos refinadíssimos escritos em
prosa produzidos pela geração de Orpheu. Frente à opacidade e à sensaboria da
literatura composta pela pena da sociedade vitoriana 47 , o prosador modernista
rejeitava visivelmente “la coherencia y la claridad conceptual 48 ” (PAZ, 2003,
p.68) inerentes à narrativa burguesa, ao percorrer nas suas obras as sendas da
46 Em relação a isso, lembre-se que, para Fernando Pessoa, o verdadeiro artista seria aquele
que soubesse unir a máxima subjetividade (faculdade intelectiva) com a máxima
objetividade (sensação apreendida através do ambiente externo).
47
48
Isto – ressalte-se – na concepção dos artistas modernistas.
A coerência e a claridade conceitual. (Trad. minha).
Rafael Santana
92
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
divagação, do sonho e da melodia dos ritmos, que não seriam outro caminho
senão o da própria poesia. Segundo Octavio Paz, “La crisis de la sociedad
moderna – que es crisis de los principios de nuestro mundo – se ha manifestado en
la novela como un regreso al poema 49 ” (Ibidem, p.229). Prosa melódica e
imagética, o romance do início do século XX, para Paz, tende a ser poema
novamente.
Em El Arco y la Lira (1956), Octavio Paz, mais especificamente no
capítulo intitulado El Verbo Descarnado, atribui a desvalorização da poesia ao
nascimento do mundo moderno e afirma que os “poetas malditos” não são apenas
uma criação do Romantismo, mas o fruto de uma sociedade mercantil, onde não
há espaço possível para aqueles que não produzem. Segundo Octavio Paz, a
situação dos poetas piora ainda mais no século XIX, com o declínio do mecenato.
Consoante as palavras do autor, “La poesía ni ilumina ni divierte al burgués 50
(2003, p.232)”, que desterra o poeta e o condena a uma existência parasitária ou
de mendicância, porque, não sendo o seu trabalho “algo que pueda ingresar en el
intercambio de bienes mercantiles, no es realmente un valor. Y si no es un valor,
no tiene existencia real dentro de nuestro mundo 51” (Ibidem, p.243), conclui.
Num veio crítico marxista, Octavio Paz (2003) utilizou o termo menosvalia para se referir ao declínio da atividade poética no século XIX frente à
valorização e à ascensão dos gêneros em prosa. Com isso, contudo, não pretende
dizer que o oitocentos seja pobre em poesia, ou que não tenha existido atividade
poética naquele tempo. A literatura romântica francesa é, aliás, repleta de poetas
de qualidade indiscutível, e Victor Hugo, em Les Rayons et les Ombres (1840),
escreve uma espécie de poema-manifesto que resume em diversos aspectos a
49 A crise da sociedade moderna – que é crise dos princípios do nosso mundo – manifestou-se
no romance como um regresso ao poema. (Trad. minha).
50
A poesia nem ilumina nem diverte o burguês. (Trad. minha).
51 Algo que possa ingressar no intercâmbio de bens mercantis, não é realmente um valor. E
se não é um valor, não tem existência real dentro do nosso mundo. (Trad. minha).
Rafael Santana
93
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
proposta do próprio Romantismo ao apresentar epicamente a função do poeta,
assinalando-o como uma espécie de profeta, de ser iluminado, a quem caberia
presentear os homens com a luz do conhecimento: “Le poète en des jours impies /
Vient préparer des jours meilleurs 52”. O que Octavio Paz faz é de certa forma
tentar mostrar o quanto um século utilitarista e uma sociedade majoritariamente
interessada no valor da troca e do lucro não têm grandes interesses pela atividade
poética, porque a poesia, diferentemente da prosa, não é, nem nunca foi vista,
como um objeto de consumo pelo grande público 53. Romances, contos e novelas
vendiam em larga escala e a literatura de folhetim tornava-se uma grande fonte de
renda para os editores, que lucravam abundantemente vendendo essa produção a
um público heterogêneo, ricos e pobres, homens e mulheres, ávidos pelas cenas
dos próximos capítulos. A poesia, ao contrário da prosa, não mantinha o público
leitor preso e à espera, o que fazia com que os editores não manifestassem grande
interesse neste tipo de publicação. Evoquemos aqui um conhecidíssimo poema de
Cesário Verde que parece resumir perfeitamente a situação dos poetas e o valor
que realmente se atribuía à poesia na sociedade portuguesa oitocentista. Em
Contrariedades, Cesário Verde lança explicitamente o seu lamento: “Um prosador
qualquer desfruta fama honrosa / Obtém dinheiro, arranja a sua coterie”. Contudo
ele, poeta a quem muito contraria escrever em prosa, vê com frequência os jornais
e as revistas lhe fecharem as portas, temendo que os assinantes, acostumados ao
modelo de uma literatura fácil à la Zaccone, prosador romântico francês muito
popular à sua época, não se agradem com a leitura de uma poesia exigente, ainda
mais, para o caso, em sendo ela uma poesia tão avessa à tradição da lírica
portuguesa.
52
O poeta em dias ímpios / Vem preparar dias melhores. (Trad. minha).
53 Em relação a isso, Octavio Paz questiona-se: “Para o burguês, a poesia é uma distração –
mas a quem distrai senão a uns quantos extravagantes?” (2003, p.232. Trad. minha).
Rafael Santana
94
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
Se a narrativa do século XIX, como diz Octavio Paz, se quis impor
primordialmente como “un instrumento de crítica y análisis 54” (Ibidem, p.69), os
escritos em prosa da modernidade inaugural – incluam-se aí as narrativas
decadentistas – buscaram contudo empreender, no próprio corpo do texto literário,
o gozo erótico e o ludismo intrínsecos à poesia. No capítulo consagrado ao estudo
do verso e da prosa, e também no seu já clássico Ambigüedad de la Novela,
Octavio Paz afirma que o prosador oitocentista, tendo teoricamente de obedecer
ao princípio filosófico racional que o seu século ditava como norma, luta a todo o
momento contra a sedução do ritmo da linguagem, travando constantemente uma
batalha com aquilo que escreve. O prosador finissecular e o modernista, ao
contrário, imbuem conscientemente as suas narrativas de elementos da poesia,
recusando toda postura didática e/ou racional.
Para Octavio Paz (2003), a poesia é uma espécie de círculo, de ordem
fechada em si mesma, enquanto que a prosa se apresenta como mais aberta e
linear. Cedendo lugar à marcha do pensamento, a narrativa do século XIX
pretendia ser um instrumento – claro e coeso – de educação e de esclarecimento
dessa mesma civilização. Noutras palavras, um instrumento por meio do qual o
leitor poderia absorver os valores que, para a sociedade vitoriana, comporiam a
verdadeira pauta de valores autênticos. Decerto que a literatura burguesa
romântica e a realista funcionaram muitas vezes como meios através dos quais se
pôde denunciar a sociedade e o aviltamento dos valores que essa mesma
sociedade pregava. O aparente paradoxo entre os valores defendidos e a crítica
exacerbada contra o modelo social está no fato de o século XIX ter sido um tempo
histórico que traiu os seus próprios ideais, solapando a base do ideário iluminista
que recebera como herança. Os lemas da Revolução Francesa, tornados bandeira
político-ético-social pelo indivíduo burguês, foram rapidamente postos de lado, e
a nova sociedade, que propunha a construção de um mundo mais justo e
54
Um instrumento de crítica e análise. (Trad. minha).
Rafael Santana
95
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
igualitário, revelou-se tão opressora quanto aquela que há pouco derrubara. Na
segunda metade do século, a utopia de aperfeiçoar o mundo por meio das benesses
da técnica, do progresso e da ciência mostrou-se insuficiente, e a crise finissecular
exacerbou a dolorosa consciência de que os principais projetos oitocentistas
haviam falhado. Como diz Octavio Paz, o mundo burguês “proclamó los derechos
del hombre, pero al mismo tiempo los pisoteó en nombre de la propiedad privada
y del libre comercio; declaró sacrosanta la libertad, mas la sometió a las
combinaciones del dinero 55 ” (2003, p.222). Encerrando todo este ciclo de
desilusão, o século XX praticamente se abre com a Primeira Guerra Mundial,
momento histórico em que se torna ainda mais evidente o fracasso do mundo
burguês em cumprir as suas promessas de progresso, liberdade, riqueza e bemestar para todos. Lembremos, por exemplo, que todo o fantástico progresso
tecnológico obtido ao longo do século XIX e início do século XX foi empregado
deslealmente nesta guerra, que foi a primeira a usar tanques e aviões. Do ponto de
vista dos valores e da cultura, o uso da ciência e da tecnologia para a destruição
em massa de populações civis inocentes foi um golpe muito profundo para o
mundo burguês, o que acabou por provocar o seu descrédito total.
Diante de uma sociedade que prega um discurso libertário e igualitário,
mas que reifica os próprios valores que consagra, os artistas, espécies de antenas
da raça, como os definiu Edzra Pound (In: ABC da Literatura), fizeram das suas
obras um meio efetivo de denunciar a mediocridade do seu tempo histórico e da
sociedade que os circundava. Daí que os românticos tendam a cantar a sua
desilusão através de um discurso da melancolia, e que os realistas tendam a
retratar, por meio da ironia e do sarcasmo, um mundo destituído de heroicidade –
marcado pela corrupção e pela hipocrisia –, reduzindo os valores que prega a um
mero jogo de aparências. Contudo, por mais que o Romantismo e o Realismo
55 […] proclamou os direitos do homem, mas ao mesmo tempo os pisoteou em nome da
propriedade privada e do livre comércio; declarou sacrossanta a liberdade, mas a submeteu
às combinações do dinheiro. (Trad. minha).
Rafael Santana
96
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
denunciassem o descompasso entre a teoria do discurso e a práxis social
oitocentista, estas duas estéticas não chegam a negar os valores burgueses
enquanto tais. O que estes movimentos fazem é de certo modo requerer a
efetivação daqueles valores que a sociedade que lhes deu origem dizia autênticos,
mas não aplicava na prática social. Ao fazerem tal denúncia, o Romantismo e o
Realismo reafirmavam a pauta dos verdadeiros valores da sociedade burguesa –
importância da família nuclear, ética do trabalho, respeitabilidade, nacionalismo,
individualismo, liberdade, honradez – e manifestavam a ânsia por um universo de
mais autenticidade. Mas, em se tratando da literatura oitocentista, somente as
estéticas finisseculares podem ser consideradas efetivamente antiburguesas, uma
vez que, irreverentes a esse ethos, visam a desconstruí-lo.
A ambiência cultural fin-de-siècle, como ficou reconhecida desde então,
traria não apenas para a literatura, mas para as artes como um todo, o surgimento
de novas estéticas, dentre elas o Decadentismo, que aqui muito especialmente me
interessa. Rebelando-se contra o ideário que compunha a instável pauta de valores
autênticos da burguesia, o Decadentismo postulava, nos anos crepusculares do
século
XIX,
um
outro
parâmetro
de
autenticidade,
assinalando,
concomitantemente, um novo código ético e simbólico. Desta forma, a narrativa
decadentista, “espaço fantasmático do sujeito” (MUCCI, 1994, p.136), apresenta
propositadamente, no seu próprio tecido discursivo, os jogos estruturais, o
simulacro, a inversão da mimèsis, a crise da verdade, a crise da memória, os
sonhos, os delírios, os estilhaços de fatos, a comunhão com a poesia e a aguda
consciência textual da escritura, ao se impor não mais como tentativa de
representação da realidade, mas como máscara, tessitura, teatralização, jogo de
linguagem. Atrelada ao conceito de dandismo, a escritura decadentista torna-se,
ela própria, uma écriture-dandy, isto é, numa escritura narcísica, sempre voltada
para a contemplação de si mesma. Noutros termos, uma escritura que opta
claramente pela noção de dispêndio.
Rafael Santana
97
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
Para Georges Bataille (2005), o surgimento da atividade estética seria, em
última análise, fruto do dispêndio, isto é, do excesso que caracteriza o homo
ludens. Voluntária e violenta hemorragia da esfera conceitual, meio exuberante de
introduzir a perturbação nos pensamentos, a experiência poética, para Bataille,
alinha-se ao lado do riso, do êxtase, do sacrifício, do erotismo, como prática de
desvirtuamento do ser. Mesmo porque a existência nela implicada, soberana, não
mais procede pelo trânsito entre signos práticos: ela se apresenta, antes, como
“incandescência doentia”, “orgasmo durável”, “gasto sem contar” (2005, p.30). À
semelhança do luxo, dos lutos, das guerras, dos cultos, dos jogos e dos
espetáculos, dispêndios isentos de compensação regular, a poesia é como o outro
braço da balança das possibilidades humanas, ou melhor, como o peso que
desequilibra, de tempos em tempos, o esquema produção-conservação-consumo.
E essa ideia de uma arte centrada em si e, portanto, desvinculada de uma
obrigatoriedade com o social, é precisamente o cerne do conceito de literatura
formulado pelos decadentistas, artistas que desconhecem qualquer ética que possa
sobrepor-se à estética 56 . Se o sentido último da poesia, como quer Bataille,
encontra-se em formas de energia improdutivas, ou melhor, em gastos de energia
que têm um fim em si próprios, a literatura decadentista – inclua-se aí a literatura
portuguesa do início do século XX (também ela marcadamente decadentista) –,
seja em poesia, seja em prosa, muito se coaduna com esse conceito.
2.2
A DENEGAÇÃO DE UM PROJETO PEDAGÓGICO
[...] por su naturaleza misma, todo
lenguaje es comunicación. Las palabras
del poeta son también las de su
comunidad 57.
(Octavio Paz – El Arco y la Lira)
A proposta finissecular é justamente essa. Penso, no entanto, que essa estética é também
uma ética.
56
57 [...] por sua própria natureza, toda linguagem é comunicação. As palavras do poeta são
também as da sua comunidade. (Trad. minha).
Rafael Santana
98
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
Ao repudiar a ideia da arte como instrumento de educação das massas 58, a
literatura decadentista proclamava e louvava a inutilidade do objeto artístico
frente às necessidades da sociedade vitoriana. Entretanto, e é essa a minha
proposta de leitura, seja por uma via periférica ou marginal, será impossível negar
a existência de um outro “caráter pedagógico” no próprio seio do dandismo.
Como enfrentar tal paradoxo? Referindo-se à figura do dandy na provocadora
obra de Oscar Wilde, Gentil de Faria, escritor de veio decadentista cuja produção
literária se situa no período da Belle Époque brasileira, afirma o seguinte:
O “dandy” é a personagem característica da literatura decadente. Em geral,
ele não tem qualquer ocupação na vida a não ser a de dizer frases de efeito.
Em Wilde, o “dandy” funciona como uma personagem confidente que presta
assistência ao herói ou heroína da história.
(FARIA, 1988, p.186)
Por sua vez, em estudo sobre a manifestação desta personagem típica da
literatura finissecular na instigante obra de João do Rio, escritor que, como Wilde,
compunha igualmente na clave da decadência, diz a professora e crítica de arte
Orna Messer Levin:
Os escritos de Wilde permitem inferir a força criadora da linguagem. Em toda
a sua obra, a importância do caráter dialógico (inclusive nos ensaios) não
esconde o peso da situação conversacional na figura do dândi. Nos textos de
João do Rio, o dândi vai estar sempre acompanhado.
(LEVIN, 1996, p.99)
A partir destes elementos – “prestar assistência ao herói”, “caráter
dialógico”, “situação conversacional”, “dândi sempre acompanhado” – será
possível inferir a existência de uma certa “pedagogia” relacionada ao discurso do
Almeida Garrett, no paratexto que precede a obra Frei Luís de Sousa (1844), afirma que o
século XIX é um tempo que se quer mais democrático, e que, por isso mesmo, tudo o que a
sociedade constrói – inclusive a literatura – há de ser feito em prol do povo e com o povo, o
que evidencia uma clara preocupação didática do escritor e, em maior escala, da própria
literatura oitocentista. Eça de Queirós, em carta ao amigo Rodrigues de Freitas, afirma que a
proposta do Realismo seria a de “Fazer o quadro do mundo moderno, nas feições em que ele
é mau, ‘seguindo o passado’” (s/d, p.45). Criticando a postura romântica de tentar transmitir
ao público leitor os valores do seu tempo a partir da recuperação do passado histórico, Eça
diz que o Realismo deve expor a ferida aberta do mundo burguês, e denunciar a
mediocridade da vida contemporânea. Para os realistas, essa seria uma forma mais efetiva de
educação.
58
Rafael Santana
99
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
dandy, esteja ela patente ou latente. Atentando muito especialmente para a
trajetória do dandy nas obras de Oscar Wilde, escritor que, depois de Baudelaire,
revela-se um dos maiores teóricos do dandismo, percebe-se que esta figura típica
da literatura finissecular (o dandy) costuma apresentar-se, nas narrativas de cujos
enredos faz parte, como mestre que não raramente presta assistência ao herói ou
heroína da estória. Empreendendo uma espécie de pedagogia às avessas, contrária
à doxa utilitarista e ao sistema de valores propagado pela burguesia, o dandy sói
iniciar os seus seguidores nos caminhos da perversão, dos estigmas e da fatalidade
trágica, sendas que, segundo a sua ótica, representariam toda a beleza e toda a
poesia da existência humana. Seduzindo os seus discípulos, no sentido mesmo
etimológico da palavra, do latim se-ducere (conduzir para fora do caminho), o
tutor dandy costuma encantar, pelo poder da magia discursiva, os seus, digamos,
aprendizes
de
dandy,
enredando-os
numa
trama
cujo
desenlace
será
impreterivelmente o de um destino trágico. Repare-se que a ideia de destino
trágico é precisamente aquela que se apresenta como um dos temas obsessivos da
literatura – tanto na poesia quanto na prosa – de Mário de Sá-Carneiro, escritor
obcecado pela morte e por todo o mistério que ela traz em latência. Encantado
pela possibilidade do suicídio, Mário de Sá-Carneiro anuncia muitas vezes o seu
gran finale ao longo da sua brevíssima vida literária, sendo o poema intitulado,
muito sugestivamente, Fim (1916), um exemplo paradigmático deste assunto:
“Quando eu morrer batam em latas, / Rompam aos saltos e aos pinotes – / Façam
estalar no ar chicotes, / Chamem palhaços e acrobatas” (UP, p.131).
Inscrevendo-se sob o slogan da inutilidade da ação, a literatura de SáCarneiro, bem como a de todo o grupo de Orpheu, se autoproclamava, em
princípios do século XX, aristocrática 59 e sem nenhum outro fim que não o da
59 Em relação a isso, diz Fernando Pessoa: “Que Essa Arte não é feita para o povo?
Naturalmente que o não é – nem ela nem nenhuma arte verdadeira. Toda a arte que fica é
feita para as aristocracias, para os escóis, que é o que fica na história das sociedades, porque
o povo passa, e o seu mister é passar” (2005, p.299).
Rafael Santana
100
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
contemplação de si própria, porque não mais cria na utopia burguesa da
possibilidade de um gesto humano ser capaz de modificar o mundo e os rumos da
existência. Como diz Fernando Pessoa em Antônio Botto e o Ideal Estético em
Portugal, não vale a pena lutar, não vale a pena fazer absolutamente nada, pois “a
ação humana sobre o universo é menos que limitadíssima” (2005, p.351). É ainda
este mesmo sintoma que é transposto para um pequeno poema de Alberto Caeiro,
texto tão simples, mas paradigmaticamente elucidativo desta questão:
Passou a diligência pela estrada, e foi-se;
E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia.
Assim é a ação humana pelo mundo fora.
Nada tiramos e nada pomos; passamos e esquecemos;
E o sol é sempre pontual todos os dias.
(PESSOA, 2006, p.224)
Manifestando, pois, a consciência aguda de que a condição humana é a
imperfeição, os escritores de Orpheu fizeram da sua arte uma espécie de único
espaço de realização possível ao produzirem uma literatura de sonhos e de
delírios, numa “luta impossível contra a realidade” (CF, p.432), como bem
assinala Mário de Sá-Carneiro em Céu em Fogo.
Entretanto,
parece-me
importante
ressaltar
que
este
aparente
descompromisso com o social assumido conscientemente pelos artistas de Orpheu
não significa simploriamente um gesto de alienação por parte da sua literatura.
Sabe-se que a rejeição a um modelo anterior denota antes de tudo um profundo
desgosto, uma profunda insatisfação com os descaminhos de um ideal, isto é, com
a falha de um projeto. E é precisamente aí, nessa rejeição à pauta de valores
políticos, artísticos e sociais da burguesia, ou mais precisamente no que essa pauta
se transformou para além das luzes do século que preparou a Revolução Francesa,
A nossa arte é supremamente aristocrática, ainda porque uma arte aristocrática se torna
necessária neste outono da civilização europeia, em que a democracia avança a tal ponto que,
para de qualquer maneira reagir, nos incumbe, a nós artistas, pormos entre a elite e o povo
aquela barreira que ele, o povo, nunca poderá transpor – a barreira do requinte emotivo e da
ideação transcendental, da sensação apurada até à sutileza [...]... É pela arte que,
supremamente, essa aristocratização pode ser feita.” (2005, p.299).
Rafael Santana
101
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
que se deve buscar a mensagem, de outro modo também ela social – ainda que de
modo transverso ou implícito –, inerente à literatura de Orpheu. Se a literatura do
século XIX pretendia ser um relato autêntico da experiência humana (WATT,
2007), fazendo com que o indivíduo absorvesse não raramente os valores
defendidos no seu tempo histórico, poder-se-ia concluir que a literatura da
modernidade inaugural do século XX propõe um novo parâmetro de valores
autênticos, valores que, evidentemente, vão na contramão daqueles propagados
pela burguesia: no âmbito cultural, relativiza-se a importância do trabalho e da
família, pilares máximos da sociedade burguesa; no âmbito artístico, buscava-se
efetuar o projeto de uma literatura teoricamente com fins em si própria, numa
postura avessa à do artista burguês, que difundia a ideia de que a obra de arte teria
uma função social a cumprir.
Com efeito, se os escritores de Orpheu, desde sempre, fizeram questão de
deixar patente a ideia de que “o artista não tem que se importar com o fim social
da arte, ou, antes, com o papel da arte adentro da vida social”, pois essa é uma
“preocupação que compete ao sociólogo e não ao artista” (PESSOA, 2005, p.225),
a arte destes escritores contudo acabara por tomar um rumo talvez inesperado por
eles mesmos, tornando-se, de certo modo, para o público leitor, sinônimo de luta e
de rebeldia contra uma desacreditada e defasada civilização. Ora, encontramos aí
aquilo que Roland Barthes um dia nomeou de “trágico suplementar” da literatura,
o que significa dizer que as estratégias de construção que compõem a textualidade
literária acabam por ligar o escritor à sociedade, pois “não há literatura sem uma
moral da linguagem” (2001, p.12). Em relação a isso, diz Teresa Cristina
Cerdeira:
Se a literatura não transforma o mundo, se os terrenos da escrita e do mundo
são de natureza diversa e nunca intercambiáveis, isso não encaminha o lugar
do escritor para o descompromisso ou para a indiferença. A sua escolha terá
no entanto como base a consciência e não necessariamente a eficácia, pois se
ele não modifica com a palavra o evento do mundo, pode desviar seu objetivo
do consumo da linguagem para a fonte da linguagem, sem abdicar contudo de
um ethos que está na base do seu projeto de leitura do mundo.
Rafael Santana
102
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
(CERDEIRA, 2010, p.2)
Consciente, pois, de que toda arte, por mais que negue uma ligação e uma
preocupação explícitas com o social, jamais caminha rumo ao descompromisso ou
à indiferença, lanço a hipótese de que a literatura sá-carneiriana, inscrita que é
num
contexto
acentuadamente
antiburguês,
manifesta,
como
herança
metamorfoseada, uma outra consciência educativo-pedagógica, ainda que num
modelo às avessas. Por outras palavras, ao discorrer sobre o conceito de
pedagogia na literatura de Mário de Sá-Carneiro, quero compreendê-lo não no
sentido mais tradicional da palavra, não precisamente como um processo
educativo análogo ao do ethos burguês e, portanto, vinculado aos mais elevados
princípios morais, tais como honra, honestidade e retidão comportamental, não
como um desenvolvimento que, de forma utópica, visasse à formação futura de
uma sociedade mais justa e igualitária, mas sim como a construção de um modelo
educacional em nada comprometido com o utilitarismo, com o pragmatismo, uma
espécie de modelo antiburguês cujo objetivo-mor radicaria justamente numa
relação de ensino / aprendizagem às avessas.
Ao trabalhar com a personagem do dandy nas suas duas grandes obras em
prosa – A Confissão de Lúcio (1914) e Céu em Fogo (1915), ao vicejar as suas
quase desconhecidas peças decadentistas – Amizade (1912) e Alma (1913) – de
uma certa filosofia dandy, Mário de Sá-Carneiro acaba por incorporar a pedagogia
às avessas inerente a esta figura finissecular na sua própria escrita literária, urdida
quase sempre sob o signo inebriante da artificialidade. Vazada numa real écriture
artiste, ou melhor, numa écriture-dandy, a literatura de Sá-carneiro promove não
raro o trânsito estético entre poesia e prosa, o que confere um acentuado caráter
poemático à sua obra.
Se a atividade poética é realmente dispêndio, como quer Georges Bataille,
se ela é um exercício erótico e, por conta disso, encontra-se desviada de uma
função produtiva – como diz Octavio Paz (1994) –, como abordar questões
Rafael Santana
103
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
referentes ao social na literatura poética de um escritor que confessa
categoricamente: “tudo quanto me impressiona se volveu sexualizado” (CF,
p.425)? Eis um dos grandes desafios desta tese.
Para além disto, há de se pensar que, nos gêneros em prosa, a ética do
escritor, atrelada a questões histórico-culturais do seu tempo, converte-se em
problema estético da obra (LUKÁCS, 2007, p.57). Ora, se a narrativa dominante
no século XIX manifesta-se esteticamente numa prosa racional, aberta e linear
(PAZ, 2003, p.108), promovendo uma ruptura com a tradição aristocrática das
belas letras, se essa prosa vem assinalar o gosto literário de escritores que, na
busca de valores autênticos, exigem a efetivação das ideias políticas, econômicas
e culturais de uma burguesia descumpridora das suas promessas, natural é pensar
que a literatura de Sá-Carneiro, herdeira de uma escrita finissecular, assinale
esteticamente esta aporia ao optar por uma prosa que recusa definitivamente
permanecer afeita aos valores burgueses, exacerbando a consciência dos artifícios
envolvidos no processo de construção da linguagem literária e, sobretudo,
propondo inscrever no corpo textual a crise do sujeito, a crise da memória, a crise
da verdade, a crise do tempo, a crise da linguagem, numa ruptura explícita com os
padrões narrativos mais consensuais. Afinal, como bem lembra Octavio Paz:
“Todo periodo de crisis se inicia o coincide con una crítica del lenguaje 60” (2003,
p.29).
Posto isto, cabe ressaltar que é justamente a partir desta ideia de crítica da
linguagem nos seus âmbitos verbal e não verbal que desejo assinalar esta espécie
de educação às avessas na literatura de Sá-Carneiro. Diante da ruína do edifício
ético burguês, ousaria dizer que a narrativa da modernidade emergente do século
XX propõe um novo modelo de aprendizagem, e tal modelo é propagado, pelo
menos no caso específico das narrativas de Mario de Sá-Carneiro, por meio da
60
Todo período de crise se inicia ou coincide com uma crítica da linguagem. (Trad. minha).
Rafael Santana
104
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 2
figura do dandy, que não raramente submete os seus discípulos a um insólito
processo de aprendizagem.
Em resumo, a minha proposta consiste em ler as narrativas Princípio, A
Confissão de Lúcio e Céu em Fogo de Mário de Sá-Carneiro através de um olhar
entrecruzado com alguma poesia da sua “maturidade poética 61” e, nalguns casos,
com a sua correspondência literária, buscando frisar, nesses três gêneros textuais,
os temas obsessivos da produção artística deste escritor – as viagens, o mistério,
os sortilégios, a voluptuosidade, o dandismo, a androginia, a mulher fatal, a
homossexualidade, as grandes cidades, o escândalo, a rebeldia, nunca deixando de
levar em conta que todo ato de escrita pressupõe uma mitologia pessoal do artista
(a sua experiência de vida, a sua visão de mundo, os seus fantasmas pessoais, as
suas idiossincrasias), mitologia que será necessariamente confrontada com o
mundo que o cerca. Como nos ensina Antonio Candido, todo texto literário, por
mais que não manifeste uma vinculação explícita com o contexto histórico-social
do seu tempo, traz, ainda assim, em latência, algumas especificidades desse
contexto, porque os fatores externos (sociais) interferem de tal maneira na
psicologia do escritor, formando, aguçando e modificando a sua visão de mundo,
que acabam por tornar-se também eles internos, capazes que são de interferir na
própria estrutura da obra. Quanto à leitura entrecruzada de Sá-Carneiro, pretendo
tão simplesmente com isto vincular as escolhas pessoais do escritor à grande crise
histórica que assinala o início do século XX na Europa, problematizando o mito
de uma literatura que se olha apenas a si própria, como facilmente se poderia
deduzir de alguns textos-manisfestos de Orpheu.
Refiro-me aos poemas de Dispersão, Indícios de Oiro e Últimos Poemas, porque há neles
uma espécie de recorrência dos temas obsessivos da literatura sá-carneiriana. Não lerei a
seção intitulada Primeiros Poemas, pois me parece que a temática ali apresentada ainda está
muito relacionada a um certo romantismo piegas da juventude adolescente do escritor.
61
Rafael Santana
105
PARTE 2
AS LIÇÕES DA ESFINGE
CAPÍTULO 3
O MISTÉRIO E OS SORTILÉGIOS
Mistério e “segredo” são palavras-chave
para compreender não apenas a
literatura da segunda metade do século
XIX, mas para penetrar no âmago da
própria modernidade.
(Marcos Siscar – Poesia e Crise)
As reflexões de Marcos Siscar, que aqui tomo oportunamente como
epígrafe deste capítulo, funcionam bem como sustentação para a leitura do tema
do mistério nos escritos de Sá-Carneiro. Como aponta o crítico, o mistério tornouse um topos da modernidade pós-Baudelaire, poeta que, frente à era da
reprodutibilidade técnica, da submissão da cultura às leis do poder econômico,
intuía, já em meados de oitocentos, que era preciso preservar o mistério da arte
diante das afrontas do mundo mercadológico. Não obstante a consciência da perda
da aura e da necessidade da construção de um projeto artístico que buscasse erigir
a poesia em meio à experiência do choque, Baudelaire não deixou de defender, a
seu modo, o princípio de uma nova “sacralidade” da arte, apesar de ter
proclamado a dessacralização da própria poesia ao cantar a perda da experiência
aurática. A respeito desse aparente paradoxo nascido ainda de reflexões
benjaminianas, diz Edson Rosa da Silva:
A poesia lírica da modernidade joga por terra a aparência da beleza, põe às
claras sua carcaça e sua decomposição. Busca, no entanto, um meio de
reencontrar seu brilho, sua forma e sua essência divina, através de uma aura
insubmissa que, apesar de tudo, da técnica, da ideologia burguesa e do valor
de mercado, ainda pode garantir a magia do poeta.
(SILVA, 2004, p.106, grifos do autor).
É, pois, nesse contexto oximórico, que se funda a poesia baudelairiana e a
de outros grandes poetas da modernidade tais como Rimbaud e Mallarmé, artistas
que inscreveram em versos as contradições da experiência humana. Afinal, “o
‘mistério’ não exclui a realidade, mas a reinterpreta” (SISCAR, 2010, p.260). Por
outras palavras, “o discurso do mistério tem uma inscrição profundamente
humanista, ou seja, contém um projeto de humanidade” (Ibidem). Por isso –
assinala Marcos Siscar – o mistério “não se identifica com a ‘torre de marfim’, no
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
sentido costumeiro de abandono do real” (Ibidem), mas sinaliza, pelo contrário,
um discurso de resistência ao positivismo e à democracia tecnocrática. Não se
trata de recuperar a aura de uma romântica eleição divina para o lugar do artista,
mas de garantir uma especificidade para a produção artística frente às produções
que o mundo capitalista convertera em mercadoria.
É também neste contexto a um só tempo de atração e repulsa pelo mundo
do progresso e da tecnologia que se inscreve a curta obra de Mário de SáCarneiro, artista que morreu jovem, mas que já refletia sobre essas questões desde
os seus primeiros escritos em prosa.
Em fevereiro de 1909, com apenas 18 anos de idade, Sá-Carneiro escreve
o que representava para ele a postura científica do seu tempo histórico, cerceadora
dos sonhos e dos grandes projetos da alma. Em Páginas dum Suicida, o narrador
declara:
Afinal, sou simplesmente uma vítima da época, nada mais... O meu espírito é
um espírito aventuroso e investigador por excelência. Se eu tivesse nascido
no século XV descobriria novos mares, novos continentes... No começo do
século XIX teria inventado talvez o caminho de ferro... Há poucos anos
mesmo, ainda teria com que me ocupar: os automóveis, a telegrafia sem
fios... Mas agora... agora que me resta?... A aviação?... Pf... essa já nada me
interessa depois dos últimos resultados dos Wrights e de Farman... Para o
Polo Sul partiu há pouco o Dr. Charcot... Não há dúvida: a única coisa
interessante que existe atualmente na vida é a morte!... Pois bem, serei eu o
primeiro explorador dessa região misteriosa, completamente desconhecida...
(PR, p.263)
E na esteira da reflexão de Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa escreve em
1913(?) o pequeno manifesto A Arte Moderna é Arte de Sonho, em que corrobora
a ideia da necessidade do mistério na vida e na arte, num profundo descrédito em
relação à ciência:
Quem quisesse resumir numa palavra a característica principal da arte
moderna encontrá-la-ia, perfeitamente, na palavra sonho. A arte moderna é
arte de sonho.
Modernamente deu-se a diferenciação entre o pensamento e a ação, entre a
ideia do esforço e o ideal, e o próprio esforço e a realização. Na Idade Média
e na Renascença, um sonhador, como o Infante D. Henrique, punha o seu
sonho em prática. Bastava que com intensidade o sonhasse. O mundo
humano era pequeno e simples. Era-o todo o mundo até à época moderna.
Rafael Santana
109
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Não havia a complexidade de poder a que chamamos a democracia, não havia
a intensidade de vida que devemos àquilo a que chamamos o industrialismo,
nem havia a dispersão da vida, o alargamento da realidade que as descobertas
deram e resulta no imperialismo. Hoje o mundo exterior humano é desta
complexidade tripla e horrorosa. Logo no limiar do sonho surge o inevitável
pensamento da impossibilidade. (A própria ignorância medieval era uma
força de sonho.) Hoje tudo tem o como e o porquê científico e exato.
Explorar a África seria aventureiro, mas não é já tenebroso e estranho;
procurar o Polo seria arriscado, mas já não é. O Mistério morreu na vida:
quem vai explorar a África ou [...] o Polo não leva em si o pavor do que virá
a encontrar, porque sabe que só encontrará cousas cientificamente conhecidas
ou cientificamente cognoscíveis. Já não há ousadia. Basta a coragem física de
um bom pugilista [?]. Por isso as mais loucas tentativas de idealização dos
nossos aviadores e exploradores não logram ser não ridículas, tão de estatura
de alma mediana estas são. É que são homens de ciência, homens de prática.
E os grandes homens antigos eram homens de sonho. Os homens diminuem.
Gradualmente, cada vez mais, governar é administrar, guiar.
(PESSOA, 2005, p.296-297).
Percebe-se que tanto Sá-Carneiro quanto Pessoa interpretam o mistério, na
linha da valorização dos sonhos, como um chamado à investigação intuitiva,
movida não por critérios racionais, mas pela inquietação interior. Para ambos, o
sonho significa não a alienação, não a recusa de projetos, mas sim a rejeição da
ética do trabalho lógico-científico, que crucifica o onirismo como utopia absurda.
Se, para o homem medieval, a sua própria ignorância em relação ao saber
científico era a priori uma força de sonho passível de ser posta em prática, e se o
mistério de um mundo desconhecido trazia em potência a possibilidade de
metamorfose da estreita realidade, Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa
declaram a morte do mistério no mundo seu contemporâneo, onde tudo exige um
porquê científico e exato. Nas sociedades modernas, o sonho surge, já no seu
limiar, marcado pelo estigma da impossibilidade, e aqueles que sonham são
considerados ridículos e/ou inúteis, meros nefelibatas diletantes.
O espírito investigador de Orpheu não implica certamente a busca de um
saber que comprove, no sentido restrito da lógica científica. Para os artistas do
grupo, o sonho se funda, antes de mais, na angústia criadora, na inquietação, no
não contentamento, na não aceitação da realidade cômoda, quotidiana e vulgar:
Triste de quem vive em casa,
Contente com o seu lar,
Rafael Santana
110
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Sem que um sonho, no erguer de asa,
Faça até mais rubra a brasa
Da lareira a abandonar!
Triste de quem é feliz!
Vive porque a vida dura.
Nada na alma lhe diz
Mais que a lição da raiz –
Ter por vida a sepultura.
Eras sobre eras se somen
No tempo que em eras vem.
Ser descontente é ser homem.
Que as forças cegas se domem
Pela visão que a alma tem!
(PESSOA, 2008, p.108)
Com efeito, o lar feliz, o home sweet home, é a mais lídima definição da
segura e confortável vida pequeno-burguesa, organizada a partir de parâmetros
racionais, de fronteiras muito bem delimitadas, com vistas às míseras conquistas e
ao lucro imediato. Esse ser acomodado e sem ânsia, vale dizer, sem uma febre de
além, é, segundo o poeta de Mensagem, um triste inconsciente, ou seja, aquele que
não possui a angústia criadora, aquele em cuja alma não brilha a chama do desejo,
aquele que não é tocado pela beleza do sonho, enfim. Morto em vida, o homem
sem sonhos é o parasita que consome, é a simples planta que suga as energias da
terra.
No lado oposto da comodidade infértil, encontra-se o homem movido pela
inquietação, em cuja alma reside a faísca do fogo transformador, chama que se
acende e alevanta com o bater das asas do sonho, possibilitando a metamorfose
criadora da estéril realidade gregária. Descontente, o sonhador é a própria
representação do homem que transcende seus limites, e o justifica através dos
heróis, pois todas as figuras significativas da História foram aquelas que,
angustiadas, inquietas, desconformes e irreverentes, não se contentaram com o
imediatismo do senso comum, lançando-se em empresas incríveis, megalômanas,
o que – apesar da descrença daqueles que deles se riram – lhes possibilitou
descortinar horizontes nunca dantes imaginados. Guiando-se pela visão da alma,
diga-se, do sonho, o sujeito descontente lograria ultrapassar o que antes se lhe
Rafael Santana
111
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
afigurava apenas distância imprecisa, descobrindo na sua viagem simbólicos
corais, praias e arvoredos onde aparentemente ao longe nada havia 62.
O Infante D. Henrique, mais sonhador do que cientista, viabiliza o projeto
das grandes navegações, abrindo o horizonte de um novo mundo; o século XIX
cria os caminhos de ferro, reduzindo drasticamente as distâncias espáciotemporais; os irmãos Wright concretizam o inacreditável sonho de fazer funcionar
uma máquina voadora; cientistas como Jean-Baptiste Charcot promovem em
princípios do século XX expedições ao Polo Sul, tornando seguros e cartografados
os últimos rincões desconhecidos da terra. O que restaria portanto ao indivíduo
que ainda almejasse desvendar algum mistério, efetuando um grande projeto? De
fato, os de Orpheu lamentam-se muitíssimo por viverem num mundo
paradoxalmente explicado e ao mesmo tempo não explicado. Ou seja, o que antes
poderia ser tomado como um terreno a desbravar já não oferece ao homem sequer
algum simples enigma, pois a ciência, ao menos aparentemente, tudo explicou,
tudo racionalizou, tudo comprovou. No entanto – extremo sarcasmo –, o ser
humano ainda se vê diante de uma série de questionamentos sem respostas,
dúvidas que, por seu vez, exacerbam ironicamente a lógica do absurdo. Noutros
termos: em que sentido a ciência contribuiu para o avanço da humanidade, em que
medida ela ajudou na construção de um mundo mais justo e igualitário, até que
ponto ela fez os homens mais felizes? Ora, tais perguntas pressupõem um balanço
assaz negativo, um déficit talvez nunca antes assistido na história humana.
Consciente da decadência de Portugal, Fernando Pessoa tentou reescrever
a pátria pelo viés de um sebastianismo crítico, ainda que por vias transcendentes.
Na Mensagem aos seus compatriotas, o poeta lhes pergunta em tom de evocação:
“Quem vem viver a verdade / Que morreu D. Sebastião?” (2008, p.108). Ora, seja
Fernando Pessoa “um nacionalista místico, um sebastianista racional” (2005,
62 Tomo de empréstimo a reflexão que Fernando Pessoa promove no poema Horizonte, de
Mensagem.
Rafael Santana
112
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
p.93), como ele próprio se autodefiniu, a única verdade presente no seu discurso é
a de que o último rei da Dinastia de Avis está morto e não irá voltar. O
nacionalismo místico-utópico de Pessoa, ou melhor, o seu sebastianismo
declarado, consiste – sentido outro – na valorização da atitude daquele (D.
Sebastião) que falhou ao tentar dar asas a um grande sonho. Figura tocada pela
febre de além, o rei torna-se aos olhos de Pessoa num herói não da ação, mas da
suportação. É esse – e tão somente esse – o sebastianismo simbólico de Pessoa.
Para o autor de Mensagem, D. Sebastião é a própria metáfora do sonho,
representando não uma espera passiva, não a promessa da volta de um Messias
que, milagrosamente, restituísse a glória pátria, mas sim um mito nacional que
precisava ser relido. Na interpretação pessoana, o rei morto reside enquanto
memória coletiva no coração de Portugal, e é o seu sonho de grandeza, o seu
descontentamento, a sua inquietação diante da realidade esmagadora, que a pátria
deveria retomar como exemplo de uma loucura outra, que é a loucura dos
desacomodados, dos que sonham alto.
O Portugal contemporâneo de Pessoa é por ele definido como um território
sem rei nem lei, sem paz nem guerra, onde residem resquícios do brilho de um
passado glorioso, e onde um presente decadente manifesta-se em luz baça, que já
não arde, como a encerrar um fogo-fátuo 63. Para superar este quadro duvidoso
seria necessário que um forte vento se levantasse, dispersando para bem longe o
denso nevoeiro. Ou seja, era chegada a hora de deixar de esperar pela volta
miraculosa de D. Sebastião, de ficar apenas a ver navios, e de lançar-se num novo
projeto grandioso, fosse ele artístico ou de qualquer outra índole transcendente: “E
outra vez conquistemos a Distancia – / Do mar ou outra, mas que seja nossa!”
(2008, p.100), diz Pessoa em Prece. É, pois, através do sonho, no que este
representa de possível via simbólica de metamorfose, que o poeta de Mensagem,
de forma muito pessoal, relê o mito sebástico.
63 Tomo de empréstimo a reflexão que Fernando Pessoa promove no poema Nevoeiro, que
encerra Mensagem.
Rafael Santana
113
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Na contramão de um tempo histórico que exacerba a consciência da ruína
de todos os valores, períodos de decadência podem não raro assistir à produção de
artes refinadíssimas, que se opõem tutelarmente, e a seu modo, às limitações e ao
esboroamento do mundo que as fez surgir. Os intelectuais de Orpheu pretendiam,
como vimos, que a sua arte fosse uma espécie de alavanca que os impulsionasse
para a grandeza, direcionando Portugal nos caminhos das grandes correntes
artísticas da Europa. No que concerne a Mário de Sá-Carneiro, não que ele
manifestasse o mesmo nacionalismo utópico de Pessoa, não que ele tomasse D.
Sebastião como a metáfora dos sonhos possíveis, não que ele declarasse amor à
pátria – como Pessoa tantas vezes o fizera –, não que ele manifestasse sequer
algum tipo de nacionalismo. Para o autor de Indícios de Oiro, Portugal foi sempre
sinônimo de vida provinciana, tacanha, estreita, cercada de personalidades
medianas. Não obstante a rejeição declarada ao seu país, o Esfinge Gorda, apesar
de distante, nunca dele se afastou de fato seja pela literatura que ferinamente
direcionava a esse público lepidóptero, seja pelos projetos artísticos que urdia em
conjunto com os seus compatriotas, planejamentos que, ao fim e ao cabo,
repensavam Portugal através da arte. Tal qual Pessoa, mas por vias diversas, SáCarneiro também lê o sonho como uma via de metamorfose. Como assinala Maria
Aliete Galhoz, “Mário de Sá-Carneiro [...] se integra, contemporâneo, na norma
desta sociedade e dela em certa medida é tributário, até quando se lhe nega, em
planos declarados de oposição” (1963, p.38-39). Lendo Sá-Carneiro a partir da
sua historicidade enquanto homem e artista que escreve e se inscreve no tempo e
no espaço em que se situa, Maria Aliete Galhoz afirma ainda que o autor de Céu
em Fogo é um escritor que, embora negue, “participa da sua época, dos incidentes
quotidianos da sua terra, das grandes afirmações da Europa, das denegações na
arte de então” (Ibidem, p.35). E repare-se que a ensaísta utiliza o termo denegação
para se referir à postura da arte antiburguesa e vanguardista. No fundo e na
superfície, esta literatura que exigia negar quaisquer valores que não fossem os da
própria arte não deixava de dialogar com o espírito do seu tempo referencialmente
Rafael Santana
114
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
histórico, sendo também ela uma educação pela negativa, uma educação às
avessas. No que se refere ao mistério e aos sortilégios na obra em prosa de SáCarneiro, elegi como textos mais representativos destes temas a novela A
Confissão de Lúcio e os contos A Grande Sombra e A Estranha Morte do
Professor Antena, que analisarei respectivamente.
3.1
O MISTÉRIO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO
Tempus fugit, sicut nubes, quasi naves,
velut umbra 64.
Em A Confissão de Lúcio, o tema do mistério salta do próprio título da
obra, uma vez que o vocábulo confissão pressupõe a declaração, o esclarecimento
ou a revelação de um fato desconhecido nos seus pormenores. Abrindo a sua
narrativa com um estranho prólogo, Lúcio, após ter cumprido dez anos de cárcere,
decide fazer uma insólita declaração em que confessa não a sua culpa, mas a sua
inocência. Urdido em oximoro, o discurso confessional do narrador-autor muito se
distancia da noção da subjetividade romântica, em que a palavra do eu é não raro
portadora de uma verdade inspirada ou o lugar donde se narra coerentemente o
mundo. Texto inscrito na linha das correntes modernistas, A Confissão de Lúcio
dilacera a noção da sinceridade, intrínseca à narrativa de cariz burguês, e investe
na escritura e na palavra autoral como fingimento, como teatralidade, como jogo
de linguagem. Do ponto de vista da lógica ou mais precisamente da utilidade, a
confissão que Lúcio decide escrever após ter cumprido integralmente a sua pena
já de nada vale, uma vez que não pode servir nem sequer como atenuante de uma
sentença judicial que já foi de todo executada. Vindo confessar paradoxalmente a
sua inocência, Lúcio é no entanto um eu consciente da absurdidade e da
“inutilidade” do seu discurso pseudodocumental, que só faz exacerbar a noção da
inviabilidade da defesa.
64 Expressão aparentemente inspirada num verso das Geórgicas, de Virgílio. A frase pode ser
traduzida por O tempo foge como as nuvens, como as naus, como as sombras.
Rafael Santana
115
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
E àqueles que, lendo o que fica exposto, me perguntarem: “Mas por que não
fez a sua confissão quando era tempo? Por que não demonstrou a sua
inocência ao tribunal”, a esses responderei: – A minha defesa era impossível.
Ninguém me acreditaria. E fora inútil fazer-me passar por um embusteiro ou
por um doido...
(CL, p.351)
Toda marcada pela impossibilidade, pela lógica do absurdo, a narração de
Lúcio configura-se como uma verdade inverossímil, como uma realidade irreal.
Longe de tecer a sua confissão a partir de um discurso assertivo, o narrador-autor
da novela não manifesta certeza alguma acerca daquilo que relata, escolhendo
muitas vezes o viés do inverossímil da verdade e da irrealidade da realidade.
Estranhos caminhos elege aquele que diz querer narrar apenas a veracidade dos
fatos, compondo um mero documento e não um texto literário!
No que concerne ao panorama da narrativa portuguesa desde o século XIX
até ao princípio do século XX, é interessante notar que A Confissão de Lúcio
apresenta-se como uma diegese assaz singular, por romper em diversos aspectos
com os padrões mais consensuais da prosa oitocentista. Por exemplo, se o
narrador do século XIX, seja ele romântico ou realista, costuma expor uma visão
de mundo clara, coesa e coerente, não raro direcionando o leitor pela palavra, o
narrador de A Confissão de Lúcio, ao contrário, apresenta dúvidas e
questionamentos que ele próprio não sabe responder nem resolver.
Por exemplo: mesmo uma narrativa articulada em vários níveis como
Viagens na minha Terra, em que os fios se entrelaçam numa “embaraçada
meada”, a proposta do narrador é clara, coesa e coerente, utilitária em certo
sentido, sendo ele lúcido o bastante para apontar uma saída possível por meio da
escrita. Por outras palavras, o que quero frisar é que, mesmo diante do seu mar de
incertezas, o narrador das viagens é capaz de transformar tudo aquilo que vê,
ouve, pensa e sente num discurso útil à nação, a quem cabe, inclusive, o
aconselhamento que encerra o livro: “Que tenha o governo juízo; que as faça [as
estradas] de pedra, que pode; e viajaremos, com muito prazer e com muita
Rafael Santana
116
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
utilidade e proveito na nossa boa terra” (2005, p.252). O narrador-autor de A
Confissão de Lúcio, muito pelo contrário, está imerso em conflitos de ordem
psicológica e em dúvidas que não sabe resolver nem responder, ou melhor, que
propositadamente não quer responder.
Em A Teoria do Romance, Georg Lukács erige o conceito de culturas
fechadas para diferenciar a epopeia dos gêneros romanescos, destacando o herói
épico como o produto de um mundo explicado pela ordem do mito. Membro de
um contexto social do qual se reconhece como parte harmonicamente integrante, o
herói épico seria a metonímia de uma comunidade, ou melhor, a voz que é capaz
de entoar o canto coletivo de um povo. Opostamente a este tipo de herói, a
personagem de romance seria, segundo Lukács, um indivíduo solitário diante de
um mundo aberto e caótico, em completo desacordo com os seus ideais. Lutando
contra um espaço sócio-político-cultural reificado, o herói problemático do
romance é aquele que parte em busca de valores autênticos num mundo
degradado, o que significa dizer que a sua demanda de valores autênticos também
poderia ser lida como a busca de um sentido mais pleno para a sua existência
enquanto indivíduo.
Corroendo o modelo tutelar do romance de herói problemático
oitocentista, as narrativas finissecular e modernista promovem uma inversão do
parâmetro de autenticidade, vale dizer, do sentido do que seria uma busca de
valores autênticos frente a um mundo ciente da falência das utopias burguesas. Se
o herói problemático – romântico ou realista – ainda crê numa resposta possível
para a sua busca de valores autênticos, os heróis problemáticos finissecular e
modernista parecem abdicar de quaisquer respostas que não aquelas circunscritas
à própria esfera da arte, isto é, parecem denunciar o vazio de significado da
existência num mundo em ruínas, onde só a arte é verdadeira e paradoxalmente
útil. A esse respeito, escreve aliás Fernando Pessoa: “Só a arte é útil. Crenças,
Rafael Santana
117
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
exércitos, impérios, atitudes – tudo isso passa. Só a arte fica, por isso só a arte vêse, porque dura” (2005, p.218).
Se o Romantismo e o Realismo, cada um a seu modo, declararam o
compromisso da arte com o mundo que as fez surgir e apostaram na
verossimilhança como forma de o ler, o fim de século e as vanguardas terminaram
por anunciar a crise do sistema mimético, interpretando o mundo pelo viés do
inapreensível, isto é, como um lugar donde a arte surge inevitavelmente como
manifestação do mistério. No entanto, ressalte-se que essa abdicação de respostas
não aponta de forma alguma para a desistência da busca de um sentido, mas,
muito paradoxalmente, para uma pluralidade de sentidos. Em A Confissão de
Lúcio, por exemplo, Mário de Sá-Carneiro investe na palavra do narrador como
discurso intencional do mistério, revelando o quanto a aposta na perpetuação das
incógnitas é capaz de possibilitar o trabalho de recriação da vida através da arte.
Ora, essa mudança na postura do narrador aparecia já no Decadentismo e no
Simbolismo e aponta como que para uma “descrença nas formas tradicionais de
conhecimento e representação da realidade, como a ciência, a filosofia e a própria
literatura” (BARCELLOS, 2007, p.107). Atentando para as armadilhas de um
discurso em primeira pessoa, somos capazes de perceber a extrema ironia que
perpassa todo o texto de A Confissão de Lúcio, esquivando-nos assim dos
ludíbrios de um narrador trapaceiro, que insiste em declarar o caráter meramente
documental do que escreve.
[...] Não estou escrevendo uma novela. Apenas desejo fazer uma exposição
clara de fatos. E, para a clareza, vou-me lançando em mau caminho – pareceme. Aliás, por muito lúcido que queira ser, a minha confissão resultará –
estou certo – a mais incoerente, a mais perturbadora, a menos lúcida.
Uma coisa garanto porém: durante ela não deixarei escapar um pormenor, por
mínimo que seja, ou aparentemente incaracterístico. Em casos como o que
tento explanar, a luz só pode nascer de uma grande soma de fatos. E são
apenas fatos que eu relatarei. Desses fatos, quem quiser, tire as conclusões
[...].
(CL, p.352)
Rafael Santana
118
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
O alerta está dado: para quem deseja fazer uma exposição clara de fatos,
como quem compõe um mero documento, o caminho escolhido é o menos
adequado, o mais estranho. Desde o princípio, Lúcio adverte o leitor arguto de que
a sua confissão, apesar de se querer “documental”, não é escrita sob a ótica da
lucidez, resultando num discurso assinalado pela incoerência. Os supostos fatos
que narra se somarão ao longo da narrativa, e caberá àquele que a ler tirar as suas
próprias conclusões. O leitor menos arguto buscará talvez a veracidade do
narrado; o leitor desconfiado, por seu turno, logo perceberá que a soma dos fatos
relatados não leva a um resultado que se encerra, atentando deste modo para a
ironia e para a malícia de um sujeito que urde o seu discurso a partir de dúvidas,
incertezas e reiteradas expressões dubitativas, mas que insiste em afirmar dizer
apenas “a verdade – mesmo quando ela é inverossímil” (CL, p.352, grifos do
autor). Noutros termos: em A Confissão de Lúcio, não obstante o narrador-autor,
no prólogo do livro, queira convencer-nos de que o seu discurso está pautado na
verdade, isto é, de que a sua confissão nada mais é do que um simples documento,
o leitor desconfiado cedo se dá conta de que tal afirmação não passa de um
inteligente exercício do paradoxo, tão ao gosto decadentista, e de que esta
narrativa se apresenta sobretudo como ludus, teatralização, jogo cênico.
Como um relato de memórias, cabe frisar ainda que A Confissão de Lúcio
desenvolve-se a partir da ideia de uma escrita em processo de formação, como se
fosse uma urdidura que se constrói residual e fragmentariamente, à medida que
Lúcio, o narrador-personagem da estória, se recorda do seu passado.
Rememorando caoticamente os acontecimentos pretéritos, Lúcio articula uma
narrativa que rompe com todas as fronteiras lógicas, contestando, através do
exercício escritural, as formas mais tradicionais de conhecimento, dentre elas a
ciência. Enveredando discursivamente pelos labirintos do inconsciente, Lúcio
apresenta-nos o campo das lembranças como um lugar que foge à racionalidade e
investe no relato mnemônico enquanto mistério que se opõe à lógica científica.
Rafael Santana
119
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Aqui, não é o meu intuito promover uma análise freudiana ou psicanalítica
de A Confissão de Lúcio, muito embora proponha uma leitura desta novela de SáCarneiro como um relato de memórias que oscila entre o consciente e o
inconsciente, entre a realidade e o sonho. Para efetuar a minha proposição, elejo
como mote a definição de Pierre Janet, que entende que “o ato mnemônico
fundamental é o comportamento narrativo que se caracteriza pela sua função
social” (apud LE GOFF, 1984, p.12). Assim sendo, proponho ler a construção da
escrita mnemônica em A Confissão de Lúcio como um processo discursivo que
desafia os campos da lógica e da ciência, problematizando um contexto históricosocial em que ainda se encontram resquícios de um positivismo e de um
progressismo decadentes.
Já no primeiro capítulo, o narrador, que não é outro senão o próprio Lúcio,
situa-se no tempo e no espaço da decadência da vida, a narrar uma estória
acontecida, por sua vez, na cena finissecular do Decadentismo europeu.
Desviando-se daquilo que diz ser o seu propósito primeiro – relatar a verdade e
somente a verdade, como se estivesse a compor um verdadeiro documento –, o
que aí contudo se observa é que o narrador-autor parece almejar um fim outro, que
não o meramente utilitário, para a sua escrita, ao compor um texto cuja
enunciação não só se nega a dar explicações racionalizáveis acerca dos fatos que
relata, mas que antes se afigura uma espécie de exercício de uma erótica verbal
transgressora 65, cujas estratégias de construção – metáforas, sinestesias, interações
com o fantástico – acabariam por convergir para a formação de um relato
claramente ficcional. Mais do que uma radiografia objetiva sobre um fato
acontecido no passado, Lúcio compõe na verdade uma narrativa que fala sobre
excessos, sobre a ultrapassagem de limites sensoriais, intelectuais e racionais,
conforme a proposta de leitura de Teresa Cristina Cerdeira (2005, p.1). Ou seja,
embora desde o prólogo da sua confissão o narrador-autor jure não estar
Refiro-me ao conceito de Octavio Paz – A Dupla Chama –, que propõe ler o erotismo como
uma poética corporal e a poesia como uma erótica verbal.
65
Rafael Santana
120
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
escrevendo uma novela, uma ficção, o seu discurso se nos apresenta como
fragmentado e inseguro, marcado a todo o momento pelas incongruências das
lacunas da memória. Mais do que um simples documento, cujo objetivo fosse o de
resgatar – mesmo que precariamente – uma dívida moral e social, A Confissão de
Lúcio parece ter como eixo motivador não só o gozo das palavras, mas também,
por meio do processo da escrita, o logro da plenitude sensorial, em que as
sensações, os sentidos propriamente ditos, parecem toldar a pretensa racionalidade
proposta pelo narrador da novela. Ora, ao elidir o “útil” do seu relato em prol da
construção de um discurso em que a importância-mor reside no artístico, Lúcio
está também a rejeitar um dos principais valores burgueses, optando claramente
pela noção de dispêndio.
Na viagem a Paris, Lúcio conhecera Gervásio Vila-Nova e a americana,
figuras assaz misteriosas, a quem coteja respectivamente à Esfinge e à Quimera.
Com efeito, o dandy, para além de ser um exímio conversador, é também a
própria encarnação do enigma, e aqueles que se submetem à sua tutela serão os
futuros detentores do segredo, isto é, do mistério que é revelado tão somente às
criaturas superiores, aos iniciados, noutras palavras, aos verdadeiros artistas.
Convidados à mágica festa da americana, Lúcio e Ricardo absorvem as lições da
“mulher fulva” (CL, p.43), compreendendo a sua fantástica “Orgia do Fogo”
(Ibidem, p.45) como uma espécie de rito de passagem cujos segredos deveriam ser
mantidos apenas para eles próprios. Em relação a isso, é Lúcio quem diz:
Quanto à americana fulva, não a torneia a ver. O próprio Gervásio deixou de
falar nela. E, como se se tratasse de um mistério de Além a que valesse
melhor não aludir – nunca mais nos referimos à noite admirável.
Se a sua lembrança me ficou para sempre gravada, não foi por a ter vivido –
mas sim porque, dessa noite, se originava a minha amizade com Ricardo de
Loureiro.
(CL, p.365)
Mistério de Além, eis como Lúcio define a festa decadentista da
americana. De fato, se o dandy é em si um mistério, a própria arte –
indissociavelmente ligada a ele – é, por conseguinte, também ela um mistério. É
Rafael Santana
121
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
interessante saber que, ao planear, por exemplo, a publicação da coletânea de
contos que intitulou de Céu em Fogo, Mário de Sá-Carneiro pretendia
inicialmente chamá-la Além. Em carta a Fernando Pessoa, datada de 21 de janeiro
de 1913, diz ele: “Além, mesmo, abrange o livro todo, porque as histórias que ele
encerra são todas vagas, sonhadas, além-realidade” (COL, p.739, grifo do autor).
E repare-se que é precisamente um mundo de sonhos que permeia A Confissão de
Lúcio do início ao fim. Das lições artísticas de Gervásio e da americana às
relações triangulares 66 entre Lúcio, Ricardo e Marta, de Sérgio Warguinsky às
figuras secundárias, todas as memórias do narrador-autor parecem pertencer mais
ao universo do onírico do que propriamente ao mundo real. Ricardo de Loureiro,
passada a festa da americana, diz a Lúcio que “tudo aquilo mais lhe parecia hoje
uma visão de onanista do que a simples realidade” (CL, p.365); Lúcio, ao retornar
a Lisboa e travar conhecimento com Marta, diz ter a sensação de regressar a um
mundo de sonhos; Marta, por sua vez, afigura-se a Lúcio uma figura fantasmática,
mais sonhada do que real.
Trata-se, evidentemente, de um discurso da memória, em que os “fatos” e
a imaginação se misturam e confundem. Novelo emaranhado, cabe acentuar, por
um lado, que o discurso da memória é um discurso desordenado, mas que tal
desordenação é condição sine qua non para que este tipo de relato se efetive. Ou
seja, se a memória é compreendida como fragmentária e lacunar, o discurso da
memória é também ele frequentemente fragmentário e lacunar. A memória, a
lembrança do passado, não nos chega de forma cronológica, linear. No discurso da
memória, embaralham-se fios relativos a distintas temporalidades, em que o
presente, o passado e o futuro se confundem não raro com o tempo vivido pela
personagem. Por outro lado, cabe frisar que o discurso da memória é aquele que
abole as barreiras do tempo, embora seja um discurso necessariamente
66 Utilizo a expressão relação triangular no sentido empregado por René Girard (2009), que
compreende que todo desejo pressupõe a mediação de um terceiro entre o sujeito desejante
e o objeto desejado.
Rafael Santana
122
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
circunscrito ao tempo. O passado recuperado pela memória já não será mais um
passado compreendido de forma factual, mas um passado reinterpretado, e por
isso mesmo recriado pela imaginação de quem o narra. No discurso do eu, o
passado retomado sempre estará comprometido pelo ponto de vista do presente.
Noutras palavras, o passado estará em plena relação com a interpretação que a
personagem conferirá aos fatos no aqui e no agora, isto é, no próprio tempo da
escrita 67 , afigurando-se-lhe muitas vezes o passado de um outro. Ora, não é
diferente a sensação de Lúcio no exercício escritural de rememoração da sua vida.
Ao findar a sua confissão, é ele mesmo quem diz:
Morto, sem olhar um instante em redor de mim, logo me afastei para esta
vivenda rural, isolada e perdida, donde nunca mais arredarei pé.
Acho-me tranquilo – sem desejos, sem esperanças. Não me preocupa o
futuro. O meu passado, ao revê-lo, surge-me como o passado de um outro.
Permaneci, mas não me sou. E até à morte real, só me resta contemplar as
horas a esgueirar-se em minha face... A morte real – apenas um sono mais
denso...
(CL, p.415)
Em primeiro lugar, chamo a atenção para o fato de esta novela de SáCarneiro ser narrada na voz do presente. Ou seja: após o cumprimento de dez anos
de cárcere, Lúcio, o narrador-personagem da estória, decide relatar os fatos que o
levaram a viver tal situação. Em segundo lugar, destaco até que ponto este
narrador tem o poder de transformar o seu passado em atualidade ao fazer de “um
instante que focou toda a sua vida” (CL, p.351, grifos do autor) o leitmotiv não
apenas da sua escrita, senão também o da sua própria existência. Em terceiro e
último lugar, ressalto o quanto A Confissão de Lúcio está comprometida pelo
ponto de vista de um narrador em primeira pessoa, que a todo o momento faz
questão de sublinhar o caráter subjetivo do seu enunciado, apesar de muito
Ao refletir sobre a narrativa novecentista, escreve Anatol Rosenfeld: “[...] o romance se
passa no íntimo do narrador, as perspectivas se borram, as pessoas se fragmentam, visto que
a cronologia se confunde no tempo vivido; a reminiscência transforma o passado em
atualidade. Como o narrador já não se encontra fora da situação narrada e sim
profundamente envolvido nela não há a distância que produz a visão perspectivística.
Quanto mais o narrador se envolve na situação, através da visão microscópica e da voz do
presente, tanto mais os contornos nítidos se confundem; o mundo narrado se torna opaco e
caótico” (ROSENFELD, 1996, p.92).
67
Rafael Santana
123
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
ironicamente afirmar compor apenas um simples documento. Diegese composta
sob a égide da modernidade, A Confissão de Lúcio derruba as barreiras entre
passado e presente, num discurso em que a cronologia se confunde de forma
constante com a do tempo vivido pelo personagem principal. Ao iniciar o seu
relato, Lúcio assinala que os dez anos em que estivera preso esvoaram-se-lhe
como se fossem apenas dez meses. Morto para a vida e tendo já experimentado as
sensações máximas, Lúcio vive alimentado pelas lembranças do passado anterior
a esse tempo e narra as suas experiências no mundo de forma caótica, utilizandose de um discurso que se aloca numa zona intermédia entre o consciente e o
inconsciente. Ao recordar-se de Ricardo, por exemplo, diz ele em extrema ironia:
Largas horas, solitário, eu meditava nas singularidades do artista, a querer
concluir alguma coisa. Mas o certo é que nunca soube descer uma psicologia,
de maneira que chegava só a esta conclusão: ele era uma criatura superior –
genial, perturbante. Hoje mesmo, volvidos longos anos, é essa a minha única
certeza, eis pelo que eu me limito a contar sem ordem – à medida que me vão
recordando – os detalhes mais característicos da sua psicologia, como meros
documentos na minha justificação.
Fatos, apenas fatos – avisei logo de princípio.
(CL, p.370, grifos meus)
Discurso desordenado, transposto aleatoriamente para o papel, à medida
que lhe vêm os fragmentos de memória à cabeça: assim Lúcio diz escrever a sua
confissão. Sem a lógica de uma ordem cartesiana, sem cronologia bem definida,
sem linguagem técnica, este discurso postula limitar-se – ironia imensa – a narrar
apenas fatos, constituindo-se num mero documento. De entre todas as suas
dúvidas, Lúcio, que nunca soube descer uma psicologia, manifesta como certeza
inabalável a genialidade e a superioridade do seu amigo, o poeta Ricardo de
Loureiro, personalidade assaz complexa. Na verdade, Lúcio não tem certeza de
coisa alguma e propositadamente faz questão de a isso se referir ao longo de toda
a narrativa. Os supostos fatos que relata estão todos eles sujeitos às suas dúvidas,
à precariedade da memória e às suas próprias recriações. Ao recordar-se, por
exemplo, de uma conversa com Ricardo, Lúcio, num primeiro momento, afirma
que o poeta lhe confidenciara haver-se olhado no espelho e não ter visto a sua
Rafael Santana
124
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
imagem refletida. Num segundo momento porém, o próprio Lúcio diz que, ao
pensar melhor, descobrira que o amigo não lhe dissera nada disso, e que apenas
ele, “numa reminiscência muito complicada e muito estranha” (CL, p.389),
lembrava não que Ricardo lhe tivesse dito algo a respeito de um acidente
especular, mas que lho devera ter dito. Texto que investe no mistério como meio
de questionar as formas tradicionais de conhecimento – inclusive a própria
literatura –, A Confissão de Lúcio recusa subordinar-se à verossimilhança, no
sentido mais realista do termo, e aposta na escritura como fingimento, como
máscara, como teatro de palavras:
Os retratos que existem hoje do poeta mostram-no belíssimo, numa auréola
de gênio. Simplesmente, não era essa a expressão do seu rosto. Sabendo
tratar-se de um grande artista, os fotógrafos e os pintores ungiram-lhe a fronte
de uma expressão nimbada que lhe não pertencia. Convém desconfiar sempre
dos retratos dos grandes homens.
(CL, p.375)
Se, num primeiro momento, Lúcio descreve Ricardo como um artista
superior e genial, num segundo momento, ele próprio faz questão de alertar o seu
leitor, dizendo-lhe ser conveniente desconfiar dos retratos dos grandes artistas.
Trata-se evidentemente de uma reflexão sobre a arte e a sua relação com o
referente, que não pode ser recuperado de forma plena seja na literatura, seja nas
artes como um todo. Problematizando a mimèsis, Mário de Sá-Carneiro declara,
através de Lúcio, a incapacidade da arte em dizer o real. Ao fim e ao cabo, o
exercício da escrita não é nunca capaz de narrar o mundo na sua integridade, mas
sim de representá-lo artisticamente por meio da recriação. Escritor aficionado pelo
mistério, Sá-Carneiro torna propositadamente enigmáticos os cinco elementos da
sua obra-prima: enredo, tempo, espaço, personagens e narrador. Através do relato
escrito, Lúcio quer narrar uma verdade inverossímil, que rompe com quaisquer
fronteiras lógicas: o passado que rememora é contado desordenadamente, sendo
reinterpretado à luz do presente; as suas descrições de Paris e de Lisboa são
eivadas de expressões de caráter afetivo, em que o espaço físico se confunde com
Rafael Santana
125
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
os labirintos da memória; o narrador da novela é um sujeito imerso em dores e em
incertezas, cujo discurso é marcado todo ele pela incoerência. Ao regressar a
Lisboa, por exemplo, Lúcio descreve o seu primeiro encontro com Marta num
denso clima de irrealidade e mistério:
Cheguei. Um criado estilizado conduziu-me a uma grande sala escura,
pesada, ainda que jogos de luz a iluminassem. Ao entrar, com efeito, nessa
sala resplandecente, eu tive a mesma sensação que sofremos se, vindos do
sol, penetramos numa casa imersa em penumbra.
Fui pouco a pouco distinguindo os objetos... E, de súbito, sem saber como,
num rodopio nevoento, encontrei-me sentado em um sofá, conversando com
o poeta e a sua companheira...
Sim. Ainda hoje me é impossível dizer se, quando entrei no salão, já lá estava
alguém, ou se foi só após instantes que os dois apareceram. Da mesma forma,
nunca pude lembrar-me das primeiras palavras que troquei com Marta – era
este o nome da esposa de Ricardo. Enfim, eu entrara naquela sala tal como se,
ao transpor o seu limiar, tivesse regressado a um mundo de sonhos.
(CL, p.378, grifos do autor)
Misteriosamente, eis que Marta surge na frente de Lúcio, que descreve
esse encontro entre ambos como uma espécie de regresso a um mundo de sonhos,
tal como se retornasse à atmosfera onírica e lúdica da festa da americana. Figura
virtual (psíquica), Marta é o próprio avatar de Ricardo, ou seja, a sua
metamorfose, a sua transfiguração, o seu devir-mulher. Tão enigmaticamente
como aparecera, Marta se vai desvanecendo ao longo da trama, à medida que o
narrador-autor intenta decifrá-la. Embora busque ungir a sua existência com a
chama do segredo e do oculto, Lúcio se vê completamente atormentado, sentindose a um só tempo atraído e repelido pelo mistério da amante. Sem passado, sem
memória, sem a saudade sequer de um momento da sua vida, Marta faz com que
Lúcio duvide da realidade da sua existência (de Marta) e da sua própria sanidade
mental (a dele). Ademais, ressalte-se que todos os vocábulos e expressões que
Lúcio utiliza para descrevê-la – mulher de sombra, esfinge, quimera, encantadora
– reiteram precisamente o mistério que paira por sobre ela. Obcecado, Lúcio
pergunta-se: “Aquela mulher, ah! aquela mulher... Quem seria?... quem seria?...
Como sucedera tudo aquilo?” (CL, p.386, grifos do autor). Ciente de que os
sortilégios do mistério são de fato o que doura a sua vida, o que unge a sua
Rafael Santana
126
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
existência, Lúcio, no entanto, movido pelo ciúme e pela curiosidade, buscará dar
cabo do enigma da sua companheira, promovendo uma espécie de
autossabotagem.
Referindo-se a Marta, diz o autor de A Chama: “O mistério era essa
mulher. Eu só amava o mistério... Eu amava essa mulher! Eu queria-a! eu queriaa” (Ibidem, p.387). Como se pode ver, Lúcio declara-se fascinado pelo mistério e
afirma que aquilo que o impelia para Marta não era tanto a sua beleza física ou a
sua alma, mas fundamentalmente o seu enigma. Noutras palavras: somente em se
mantendo o mistério é que o artista poderia desejá-la de verdade, decisão que
toma, mas que, qual Orfeu, não consegue suster. Inquieto, perturbado, Lúcio
decide decifrar de uma vez por todas o enigma de Marta, mulher que se lhe
afigurava “sempre a mesma esfinge” (Ibidem, p.391). Fluidas, as feições da
amante lhe escapavam reiteradamente, tal “como nos fogem as dos personagens
dos sonhos” (Ibidem). Figura onírica, Marta é como uma sombra, é como um
vulto que se desfaz e refaz. Ao possuí-la, ou melhor, ao ser por ela possuído,
Lúcio goza a sensação de experimentar os corpos que resvalavam pelo dela.
Estreitando o seu corpo ao de Marta, Lúcio delicia-se em cópula por interposta
pessoa, exercício sexual que lhe permite desfrutar homoeroticamente de todos os
corpos masculinos que se estiraçavam sobre o da amante. No entanto, essa
situação lhe provoca a um só tempo gozo e dor, orgulho e ciúme, o que o faz
afastar-se de Marta, abalando assim o ponto de equilíbrio encontrado por Ricardo,
que logrou o seu triunfo, a sua apoteose, ao dispersar-se em feminino. Atirando
em Marta, é o próprio Ricardo quem cai morto no chão, e é Lúcio quem é preso
por um crime que, afinal, afirma não ter cometido, sem ter contudo como se
defender de tal acusação.
Falávamos em Orfeu e poderíamos dizer que esse tiro é a morte da amada/
amado, como o olhar para trás de Orfeu foi a morte de Eurídice. Em O Espaço
Literário, Blanchot se deteve longamente sobre as relações desse mito com a
Rafael Santana
127
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
escritura, que é sempre o ponto sagrado naquele sentido do que não deve ser
revelado sob pena de perder-se. Lúcio e Orfeu não conseguiram manter a dúvida e
se lançaram para fora do mistério, como que exigindo a sua comprovação, a sua
revelação. E perderam as suas amadas, porque elas eram o lugar do imponderável,
o lugar não da luz que revela, mas da noite, do escuro, do inefável. Enquanto
mistério, as mulheres amadas se mantinham vivas; enquanto reveladas, são já a
morte, porque a arte está no lugar impreciso, lugar interdito por excelência, onde o
fascínio ameaça. Marta tornara-se essa ameaça – prazer e morte –, paradoxo com
o qual Lúcio não soube conviver. Foi essa a sua “fraqueza”, a sua “loucura”.
Quem me tiver seguido deve, pelo menos, reconhecer a minha
imparcialidade, a minha inteira franqueza. Com efeito, nesta simples
exposição da minha inocência, não me poupo nunca a descrever as minhas
ideias fixas, os meus aparentes desvarios, que, interpretados com estreiteza,
poderiam levar a concluir, não pela minha culpabilidade, mas pela minha
embutisse ou – critério mais estreito – pela minha loucura. Sim, pela minha
loucura; não receio escrevê-lo. Que isto fique bem frisado, porquanto eu
necessito de todo o crédito para o final da minha exposição, tão misterioso e
alucinador ele é.
(CL, p.402, grifos do autor)
Por outro lado, seguindo a leitura que Blanchot faz do mito grego, não
atirar em Marta ou obedecer ao interdito de não olhar para Eurídice significaria
para ambos uma perda que consistiria em submeter-se à contingência de não
perscrutar o abismo e aceitar, para Orfeu, a Eurídice diurna e familiar que ele na
verdade não desejava, já que queria “não fazê-la viver, mas ter vivo nela a
plenitude da sua morte” (BLANCHOT, 1987, p.228); e para Lúcio, a perpetuação
de um prazer deslocado, de uma falsificação. Não há possibilidade de vitória
possível em nenhum dos casos, e, na novela de Sá-Carneiro, Marta – falsificação
da plenitude do objeto da paixão – tinha fatalmente de desaparecer para ceder
lugar a uma narrativa que apontasse os passos de uma paixão que só conseguiu
sobreviver travestida.
Com extrema ironia, Lúcio reitera a ideia da imparcialidade do seu
discurso, relato escrito com a marca da subjetividade e com uma série de
Rafael Santana
128
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
vocábulos de caráter afetivo, incongruências que, lidas stricto sensu, seriam uma
comprovação do seu desvario, isto é, da sua loucura. Com efeito, A Confissão de
Lúcio permite-nos fazer as seguintes perguntas: seria o personagem principal um
louco, que narra as experiências pessoais a partir da sua mente psicótica? Teria
Lúcio sido preso em cárcere ou internado num manicômio? Seria ele um
embusteiro, que ludibria a todos pelo mero prazer de mentir? Na verdade,
nenhuma dessas perguntas carece de resposta. Qualquer resposta dada
corresponderia a “matar” o texto, como Lúcio o fizera a Marta e Orfeu a Eurídice.
Porque o lugar do escritor e do crítico não é o da luminosidade diurna nem o da
lógica quotidiana. Como texto que se inscreve nas correntes modernistas, A
Confissão de Lúcio busca investir no mistério e não na sua revelação.
Em princípio, se a novela de Mário de Sá-Carneiro poderia ser lida como
um romance policial, uma vez que se está diante de uma trama narrativa que
envolve crime, investigação e mistério, toda a sua engrenagem construtiva aponta
para a impossibilidade de qualquer revelação. O gênero policial está preocupado
em buscar decifrar um enigma à primeira vista indecifrável, revelando o mistério
ao final da estória 68. Ao contrário disso, A Confissão de Lúcio aposta no enigma
do mistério, exacerbando desta forma a descrença nas formas tradicionais de
conhecimento, especialmente na ciência. Ao fim e ao cabo, o onirismo, a loucura
e o inconsciente não são, como pensaria o senso comum, formas de alienação ou
de negação ao referente, mas sim uma recusa proposital à lógica limitada e
cerceadora do mundo científico, que condena o sonho como ócio inútil.
Assim, toda a literatura sá-carneiriana pode ser considerada uma grande
Nau dos Loucos, na qual embarcam os aristocratas marginalizados, os intelectuais
hipersensíveis, a fina elite da cultura, injustamente banida para a periferia pelo
burguês utilitário e usurário. Travando um conflito patente entre loucura e razão,
68 Apoio-me na definição de Trevizan Todorov – As Estruturas Narrativas – sobre o romance
de enigma.
Rafael Santana
129
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
entre verdade e fingimento, as personagens de Sá-Carneiro revivificam em certa
medida (e com muitíssimas diferenças) o discurso do parvo medieval, alocução
que critica ilogicamente a ordem lógica do mundo, isto é, a norma aceita,
gritando-a absurda. Nesta festa e nesta dança dos loucos, contesta-se uma
realidade limitada, castradora, e clama-se por um universo de valores mais
autênticos.
3.2
O MISTÉRIO EM A GRANDE SOMBRA
Aonde irei neste sem-fim perdido,
Neste mar oco de certezas mortas? –
Fingidas, afinal, todas as portas
Que no dique julguei ter construído...
(Sá-Carneiro – Ângulo)
A Grande Sombra, texto de abertura de Céu em Fogo, inscreve-se na
antítese entre luz (realidade, vida quotidiana) e sombra (mistério, mundo dos
sortilégios), como que a apontar para a rejeição ao mundo da lógica cartesiana e
da racionalidade iluminista. Já no início do conto, o narrador-personagem assinala
a sua ojeriza ao real, vale dizer, às reduzidíssimas possibilidades da vivência
empírica, e abre o seu discurso com as seguintes palavras: “– O Mistério... Oh!
Desde a infância esta obsessão me perturba – o seu encanto me esvai...” (CF,
p.419). Ávido pelo mistério, mas ciente de que a vida é sempre tão certa, de que a
luz (o real) lhe cai como “uma certeza tosca e material” (Ibidem, p.420) da qual
inexoravelmente não pode fugir, o personagem-narrador, não obstante a lógica
realista do mundo, decide assumir uma postura de sublevação, travando uma “luta
impossível contra a realidade” (Ibidem, p.432).
Urdida em forma de diário, A Grande Sombra subdivide-se em dezoito
pequenas partes que abarcam uma linha cronológica que vai de 1905 a 1911. O
narrador data o seu relato com dias, meses e anos, e Mário de Sá-Carneiro, o autor
do conto, assina-o ao final, revelando ao leitor o tempo e o espaço da sua
escritura: Lisboa e Paris, abril-setembro de 1914. Trata-se, como todo diário, de
Rafael Santana
130
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
um texto de memórias, exercício de reminiscência que, enquanto lembrança do
passado, se dá no discurso e através dele. Neste entrecruzar de fios mnemônicos,
o narrador autodiegético interpreta as experiências do outrora à luz do agora,
começando por rememorar o tempo da infância que, outrora-agora, se lhe afigura
um período de felicidade:
Ah!, a imaginação das crianças... onde achar outra mais bela, mais
inquietadora, que melhor saiba frisar o impossível?... Ela é sem dúvida, pelo
menos, a mais apta a converter pavor, a refugiar vislumbres. Porque nessa
época ondulante da vida é-se apenas fantasia, crédula fantasia. Vem depois o
raciocínio, a lucidez, a desconfiança – e tudo se esvai... Só nos resta a certeza
– a desilusão sem remédio... Eis pelo que a hora mais Além, a hora mais
perturbadora da minha vida, a vivi nos oito anos.
(CF, p.421, grifos do autor)
Como adulto, o narrador-personagem é capaz de rememorar e de
reinterpretar o passado infantil, que ele lê como sendo o período mais belo da
vida, no qual tudo é possível por meio da imaginação, ou melhor, no qual se pode
sonhar livremente, sem a presença limitadora do raciocínio, da lucidez e da
desconfiança, que podam as asas do sonho tão logo o voo se levanta. Outroraagora, a infância surge aos seus olhos como um tempo de fantasia ou, em termos
sá-carneirianos, de vivência em estado de intersonho. Contrariamente à criança,
só restaria ao adulto a certeza incerta e a desilusão de um mundo explicadamente
inexplicado, sem sortilégios, onde o homem é a todo o momento esmagado pela
realidade, pela racionalidade, pelo utilitarismo, avessos ao sonho e à fantasia.
Inimigo declarado do mundo, o personagem de Sá-Carneiro trava a sua luta contra
o abominável real circundante, inscrevendo a sua demanda pelo mistério na
antítese entre luz e sombra.
Logo ao abrir o conto, damo-nos conta de que o narrador-personagem se
coloca desde a infância como aquele que rechaça a ordem do mundo, a lógica
reduzida do mundo, criando existências outras, claudicantes, no universo infinito
do imaginário. Já em criança, inventava ele os seus mundos alternativos,
preferindo transitar por entre os caminhos tortuosos dos labirintos psicológicos a
Rafael Santana
131
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
entreter-se com os insignificantes brinquedos, sempre iguais, sempre tão reais,
postura que aponta, por um lado, para a rejeição ao espírito gregário de uma
sociedade padronizada e, por outro lado, para a superioridade de um espírito
sensível e artístico, portador da marca da distinção.
A suntuosidade inigualável do mistério!...
Sim! Desde criança adivinhei que a única forma de volver rutilante uma vida,
e bela, verdadeiramente bela em ameias a marfim e ouro – seria lograr referila ao mistério, incluí-la nele... Mas como, meu Deus, como?...
Procurando, descendo bem as trevas, acumulando imperialmente enigma
sobre enigma. Oh... debalde, debalde, até hoje, tenho buscado segredos para
ungir com eles a minha existência – imortalizá-la de Sombra... À minha volta
é tudo bem certo, mais do que certo, real sem remédio... Só a minha
imaginação vence ainda tremular mistérios – mistérios porém de fumo;
quebrantos a vago, lendários...
É a luz sempre sobre mim, a luz – certeza tosca, material...
(CF, p.420)
Ansiando pela Sombra, mas a todo o tempo perseguido por uma luz
angustiante da qual tenta escapar constantemente, o personagem de Sá-Carneiro
afirma ter intuído, de há muito, que só é possível tornar uma vida verdadeiramente
bela ao ungi-la com a magia do mistério. Em busca do enigma e dos sortilégios,
desce ele ao fundo do abismo ou, muito baudelairianamente, ao fundo do
desconhecido para encontrar o novo, onde se depara no entanto com a
impossibilidade de adentrar a linha do incógnito. Debalde intenta o narradorpersonagem a sua iniciação nos domínios do mistério: o mundo sensível aduz-lhe
apenas uma ambiência bem certa, um real sem remédio, espécie de luz tosca, que
se acende logo no limiar da sombra. No avesso do mito da caverna de Platão, para
o personagem sá-carneiriano o mundo tangível é sinônimo de luz e não de
sombra. Não obstante todos os obstáculos que empeçam o seu caminho, está ele
decidido a lograr o enigma a qualquer preço. Como quer que a sua busca no
mundo tenha sido frustrada, mergulha agora no seu universo interior, na sua
imaginação, no abismo de si próprio, ressaltando a dicotomia entre realidade e
idealidade 69. Em busca da Esfinge, o personagem-narrador de A Grande Sombra
69 Refiro-me à proposta de leitura de Dieter Wöll, desenvolvida no seu Realidade e Idealidade
na Lírica de Sá-Carneiro (1968).
Rafael Santana
132
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
contudo não quer, aquando do encontro, decifrar o enigma, como Édipo o fizera.
O seu gozo, ao contrário, reside precisamente na perpetuação do segredo.
Efígie e epítome do mistério, a Esfinge foi lida de diferentes formas ao
longo dos tempos. A literatura do século XIX, por exemplo, caracteriza-se por
uma superabundância de esfinges, interpretadas ora como uma ameaça ao
constructo ético da sociedade vitoriana, já que representam justamente o oposto da
razão científica; ora como signo da beleza transgressora, porque relacionadas à
perversão espiritual, ao crime, ao prazer sádico e à sexualidade desenfreada 70. É
neste último sentido que o monstro grego é relido pelos estetas finisseculares e
pelos seus discípulos modernistas, todos eles insubmissos à moral burguesa.
Noutras palavras, a Esfinge é um enigma a perpetuar e não a decifrar. No conto de
Sá-Carneiro, o seu personagem, quando criança, busca lograr o mistério ao dar
asas à imaginação; quando adulto, tenta forjá-lo por meio do artifício,
especialmente através do crime. Recordando-se do passado infantil, diz ele:
Horas longes, porém, de medo infantil – só vos posso recordar em saudade. É
que então, se sofria, a minha febre era já a cores – voluptuosidade arraiada
também. E assim, quantas horas até, durante o dia, lasso dos brinquedos
sempre iguais, eu ansiava a noite, sinuosamente, para latejar a ela os meus
receios prateados...
As grandes casas às escuras onde nunca entrara e que, no entanto, bem
conhecia de as percorrer iluminadas – eu, do meu leito, imaginava-as, criavaas agora no silêncio e na treva, fantásticas: terrificantes e maravilhosas.
Pensava: “Oh!, a glória de passear nelas por esta solidão, de tatear o que
haverá dentro delas!... E vinham-me ideias de, sorrateiramente, descalço, para
as criadas não sentirem, erguer-me da minha pequena cama branca de taipais
e partir a visitá-las... Mas era mais forte do que a ânsia o meu pavor...
Escondia a cabeça debaixo dos lençóis, mesmo de Verão, até que adormecia
esquecido, fundamente...
(CF, p.419)
Recordando – no sentido mesmo etimológico daquilo que volta a passar
pelo coração – o passado, o narrador de Sá-Carneiro expressa saudade da infância,
tempo marcado pelo medo do escuro, dos monstros e de tudo aquilo que se vai
perdendo à medida que chega a idade adulta. Tal saudade no entanto em nada se
Esta temática é especialmente desenvolvida nos ensaios de Yves Vadé - Le Sphinx et la
Chimère I e II – a respeito de Flaubert.
70
Rafael Santana
133
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
assemelha ao saudosismo romântico, que evoca não raro um passado idílico.
Sofredor desde sempre e distinto da maioria dos meninos da sua idade, o
personagem de A Grande Sombra, quando criança, rejeitava conscientemente a
luz do dia e os brinquedos estandardizados, ansiando pela noite, período em que,
deitado sobre o catre, imaginava e criava passatempos outros, nada adequados
para uma mente assustadiça. Do ponto de vista do presente da escrita, o narradoradulto compreende que, no tempo da infância, a sua rejeição ao mundo empírico
era já a manifestação de uma inusitada e voluptuosa febre a cores. Lassa do
mundo, a criança-artista dava asas à imaginação, adentrando terrenos que criava,
mas que nunca verdadeiramente atravessava: casas às escuras onde nunca entrara
e que, no entanto, bem conhecia de as percorrer iluminadas.
Embora desde a infância tivesse medo do escuro, o personagem-narrador
sempre o preferiu à luz: “– As grandes casas escuras... Ainda hoje não sei entrar
nelas tranquilo... E evito sempre percorrê-las” (CF, p.419), afirma. Mesmo
sabendo nada haver de espectral nas vivendas desiluminadas, “indícios nenhuns
de sortilégios ondular ao redor” (Ibidem), este personagem que não revela o seu
nome nunca chega no entanto a ultrapassar os umbrais dos cômodos escuros que
por algum motivo o seduzem. Em criança, chamava-lhe bastante a atenção o
misterioso sótão da casa da quinta onde vivia com a família. Contudo, nunca nele
ousou entrar, dizendo: “e percebo agora que o meu receio era apenas de o ficar
conhecendo realmente, e assim perder aos meus olhos todo o seu encanto”
(Ibidem, p.420). Não adentrando o sótão enigmático, a criança-artista era capaz de
criar para o espaço incógnito muitas outras realidades alternativas, justamente
pelo fato de desconhecer o seu interior.
Comecei então pensando, às noites, antes de adormecer, largas horas nesse
sótão que, mais do que nunca, se me volvera um mundo bizarro,
desconhecido, alucinante. E criava nele, em verdade criava, toda uma vida...
Fantasiava-lhe – sim – os seus bosques, os seus rios e pontes, as suas
montanhas, os seus oceanos, as suas povoações, os seus habitantes... As
florestas via-as de algodão em rama, policromadas, como lantejoulas, como
os brinquedos de Árvore de Natal; seriam de água as montanhas; os rios de
pedras preciosas, e, sobre eles, em arcos de luar, grandes pontes de estrelas.
Rafael Santana
134
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
A humanidade que habitaria o meu país, suscitava-a de anões disformes,
anafados, picarescos, mas de olhos cor de violeta – e sugeria lá também toda
uma fauna de animais estrambóticos, inexprimíveis: pássaros sem cabeça,
coelhos com asas, peixes de juba, borboletas que fossem flores, nascessem da
terra... O rei desta nação, não sei por quê, parecia-me, acreditava
seguramente, que era uma grande formiga multicolor – e ratos dourados com
asas de prata os fidalgos da sua corte. Só o povo homúnculos ridículos...
De resto, todo este mundo da minha imaginação infantil me pululava dentro
do sótão num conjunto misterioso – indistinto, difuso, entrecruzado,
impossível de destrinçar: era o mar onde era também cidade; havia palácios
reais e ao mesmo tempo florestas. Coisa caprichosa: nesse mundo tudo
existia variegado mas, simultaneamente, tudo era cinzento! Sim, eu via as
árvores de algodão em rama, umas brancas, outras roxas ou azuis, escarlates
ou cor de laranja – e os olhos violeta dos anões, os vassalos ratos dourados,
el-rei a grande formiga multicolor – os rios arco-íris de joias; montanhas
cristalinas, aniladas. Entretanto, surgindo-me tudo assim, numa infinidade de
tons, eu não podia deixar de o ver também uniformemente a gris!...
(CF, p.420-421)
Em A Poética do Espaço, Gaston Bachelard nos ensina que “As
lembranças do mundo exterior nunca hão de ter a mesma tonalidade das
lembranças da casa. Evocando as lembranças da casa, adicionamos valores de
sonho” (2008, p.25-26). Por outras palavras, a casa e os seus cômodos surgem na
nossa lembrança como a nostalgia de uma poesia que se perdera. Ora, é
precisamente desta forma que o personagem de A Grande Sombra se recorda do
passado infantil. Recusando o universo encantado dos belos príncipes, das lindas
princesas e das bondosas fadas-madrinhas, a criança-artista gostava de criar os
seus próprios contos infanto-juvenis, nos quais inventava universos alternativos
em completo desacordo com a lógica terrena. No seu mundo imaginário,
habitavam
estranhíssimas
criaturas,
todas
disformes,
que
ocupavam
surpreendentemente as mais altas posições sociais. Neste mundo outro, que
desafia um dos mais conhecidos princípios da física – o de que dois corpos não
podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar –, é mar onde paradoxalmente é
cidade, e há palácios reais onde ao mesmo tempo há florestas. Deslizando pelas
águas mágicas do irreal, o personagem-artista exprime a sua fantasia sem
quaisquer limitações, criando um mundo onírico e abstrato, surrealista em certa
medida: um mundo em metamorfose, cujas paisagens perturbadoras e criaturas
disformes pareceriam promover uma espécie de demolição do corpo social aceite
Rafael Santana
135
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
e propor, quiçá alegoricamente, a gestação de uma nova sociedade, sustentada
sobre outros alicerces. Ferindo a noção do belo simétrico e harmônico, a
humanidade desse país de fantasia é constituída por anões disformes, anafados e
picarescos, isto é, por criaturas sem beleza e sem caráter, no avesso da moral
burguesa; os animais são, por sua vez, metamorfoses inusitadas, combinações
aleatórias de seres aquáticos, terrestres e aéreos: pássaros sem cabeça, coelhos
com asas, peixes de juba e borboletas que são flores. Ocupando a direção da
nação, assenta-se no trono real uma grande formiga multicolor, rodeada de
fidalgos que, por seu turno, são ratos dourados com asas de prata.
Ora, é muito curioso que Sá-Carneiro, amante declarado das criaturas
superiores, tenha convertido a formiga e o rato, inseto e animal tão desprezados,
considerados inferiores pelas sociedades ocidentais, nos escóis do mundo
imaginário do seu personagem. Contudo, de forma alguma essa atitude aponta
para a valorização dos humildes ou mesmo para o desejo alegórico de que o
governo viesse a ser algum dia entregue às figuras mais desprovidas, que o
Esfinge Gorda sempre considerou a chusma. Território aristocrático, o mundo de
fantasia do seu personagem é o espaço do requinte excessivo, onde abundam
gemas preciosas, cromatismos múltiplos, criaturas e paisagens exóticas, e onde
somente o povo seria homúnculos ridículos.
A formiga e os ratos poderiam certamente ser lidos como alegorias dos
próprios artistas, condenados ao desprezo e à insignificância pela sociedade
burguesa, que Sá-Carneiro classificava como filisteia, utilitária e usurária. No
mundo multicolor e multimórfico da fantasia, onde há montanhas de água, rios de
pedras preciosas, pontes de estrelas e algodoeiras policromadas, a criança-artista
enxerga a paisagem que cria, simultânea e uniformemente a gris, contrariando
toda a lógica de um universo consciente. Paisagem do inconsciente, esse mundo
onírico não é contudo um espaço da alienação; antes, uma espécie de alegórico
repensar da lógica científico-racional de um mundo opressor. Ao fim e ao cabo, os
Rafael Santana
136
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
que sonham não são meros nefelibatas, como a lógica utilitária os classificaria,
mas são aqueles que, descontentes, anseiam pela metamorfose alquímica da
realidade impura em ouro. Em toda a obra de Sá-Carneiro, há como que uma
busca incansável e obsessiva pelo ouro absoluto, do qual a realidade exterior
oferece apenas pequeníssimos indícios. Não por acaso o seu narrador afirma ter
vivenciado o período mais áureo da existência aos oito anos, quando ainda podia
sonhar livremente, sem o peso da lucidez e da desconfiança.
Eis pelo que a hora mais Além, a hora mais perturbadora da minha vida, a
vivi nos oito anos.
Estávamos na nossa quinta.
Eu não me atrevera nunca a passear de noite, sozinho, pelas ruas areadas,
orladas de buxo, tão aprazíveis e campestres, em que de dia, bem afoito,
brincava correndo afogueado. Mas, do grande pátio junto da cozinha, eu
olhava-as, em frente de mim, sonhando descobri-las, noturnamente, numa
viagem maravilhosa. Porque em verdade, de noite, a minha quinta devia ser
mágica... Gnomos a percorriam às cabriolas, e elfos; nos grandes tanques, ao
luar, se banhariam fadas, e pelos assentos de azulejo – oh, sem dúvida! – toda
uma figuração de príncipes e rainhas encantadas se assentaria devaneando...
Depois, que medo não havia de fazer, lá embaixo, sob a nogueira secular,
junto do poço – à borda do qual, talvez, mouras de sortilégio, todas nuas,
assomassem... esquivas.
De olhos fascinados, sim, eu sonhava tudo isto, de olhos perdidos – mas
trêmulo, não ousando nunca afastar-me alguns passos ao pé da cozinha, onde
havia luz e a criadagem falaceava... Sonhava ainda investigando sempre a
noite, sonolento, com um livro de estampas esquecido sobre os joelhos... e o
meu olhar perdia-se mais uma vez no laranjal que se adivinhava perto, numa
penumbra esbatida, e em que eu, à força de ilusão, distinguia, conseguia
realmente distinguir, os frutos rutilantes – volvidos agora, de milagre, áureos
pomos de encantamento...
(CF, p.422-423)
Autobiográfico em certa medida, o sítio a que o narrador se refere nos
remete sem sombra de dúvida à Quinta da Vitória, em Camarate, para onde Mário
de Sá-Carneiro foi levado a viver com os avós paternos devido à morte precoce da
mãe e à partida repentina do pai, engenheiro militar que cumpria missões ao redor
do mundo. Ficcionalizando o espaço rural da vivenda da sua infância, Sá-Carneiro
promove uma espécie de dupla recordação ao fazer com que o seu narrador
rememore artisticamente o passado infantil. Durante o dia, a criança de A Grande
Sombra corria e brincava, afogueada, por toda a quinta, mas era a noite sobretudo
o tempo propício ao despertar do artista infantil que, observando o espaço rural tal
Rafael Santana
137
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
como quem olha através de uma luneta mágica, criava nele o seu reino encantado
e absoluto. Por entre árvores e poços, a criança-artista sonhava descobrir
noturnamente criaturas de fantasia: gnomos, elfos, fadas, príncipes e rainhas, que
viriam quimerizar o território da quinta com os seus incríveis sortilégios. Tudo
isto sonhava, em viagem, o personagem-infantil, que não ousava entretanto arredar
os pés da cozinha iluminada, onde desfrutava, em máxima segurança, da
companhia das criadas. Contudo, ressalte-se que a presença de criaturas mágicas
como gnomos, príncipes e rainhas, figuras tão típicas dos contos de fadas, não
tornam as estórias imaginadas pelo artista-mirim numa fábula infanto-juvenil
padrão. À medida que se lembra do tempo da infância, o narrador-adulto nos faz
perceber que a sua predileção sempre fora pelas estórias de terror, em princípio
menos adequadas ao mundo infantil.
Aos oito anos, a criança-artista um dia finalmente conseguira, no meio da
noite, embrenhar-se por entre a quinta da família, experiência que o narradoradulto – já ele um outro – interpreta como sendo apenas um sonho, espécie de
mergulho mais profundo no mundo da fantasia. Transitando imaginária e
noturnamente pela vivenda rural, o menino-inventor criava para si mesmo
monstros de bruma, espectros de vento e asas negras que lhe roçavam
terrificamente o rosto, imiscuindo-se no mistério aterrador por vontade própria. À
noite, ele soia sonhar outros universos, viajar outros mundos, sempre com um
livro de estampas apoiado sobre os joelhos. Trata-se, claro está, de uma reflexão
sobre o caráter mediador do livro, ponto de partida para novos horizontes.
Desejando triangularmente, o personagem-artista é um sujeito desejante que tem
como objeto do desejo os mundos da fantasia e dos sortilégios que os livros
infantis lhe apresentam como modelo. Decerto que o seu desprezo pelos bons
valores faz com que ele crie e imagine estórias que estão mais para o terror do que
para o encanto. Todavia, o ponto de partida para novos mundos é sempre o livro,
mediador entre o sujeito desejante e o objeto desejado, tal como o define René
Girard (2009). Ao voltar a si após o longo passeio imaginário, o artista-infantil
Rafael Santana
138
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
encontra-se “boquiaberto, sentado no banco da casa do arco, junto da cozinha,
com o mesmo livro de estampas sobre os joelhos...” (CF, p.423). Desperta-o, de
repente, o canzarrão amarelo da família, que lhe lambia carinhosamente a mão.
Chegando à idade adulta, o narrador-personagem, também ele um artista, evoca
esse tempo da infância numa espécie de saudade em bruma, lembrando-o como
um período em que sabia sonhar. Em crescendo, perdera ele a capacidade de
enganar-se, deparando-se com a marca angustiante da impossibilidade. Embora
tente fixar toda a sua arte em mistério, o que o artista-adulto logra são apenas
míseros vestígios de sombra, que se desvanecem muito rapidamente. Por isso ele
encerra a primeira parte do seu conto com o seguinte desejo: “Oh!, que ânsia
leonina de me abismar na Sombra – e vivê-la, vivê-la!...” (Ibidem, p.424).
Se, em criança, era capaz de viver as realidades alternativas que criava, na
idade adulta, sabe ele que isso já não é possível. Daí que tente ungir a sua
existência com o mistério por meio das viagens ou da experimentação do
movimento contínuo e fluido da agitada vida sociocultural dos grandes centros
urbanos. Todavia, o que artista encontra nas metrópoles são tão somente indícios
parcos de sombra, vestígios que não lhe chegam a proporcionar o desejado
mistério absoluto. Na cidade, ele goza intensamente de todas as sensações, isto é,
cria interseccionadamente os mundos alternativos que deseja, mas o seu êxtase
logo se desvanece, logo se evola, tal qual o ligeiro passar da vida urbana.
Significativamente, a sua primeira experiência em sortilégio duradouro
será alcançada com um perverso crime erótico, ato que lhe permitirá experimentar
uma espécie de orgasmo prolongado, de vivência em intersonho. Simpático aos
grandes criminosos – artistas do mistério –, o narrador-personagem declara:
Ah! como invejo os grandes criminosos que souberam escapar à justiça... e
passam... desaparecem sangrentos em assassínios e estupros...
Deixaram ao menos um pouco de névoa – esses.
Encerrados no seu segredo, como hão-de viver gloriosos – sem remorsos,
tamanhos de Maravilha...
Eu, de evidente, tenho asco de mim!...
(CF, p.430)
Rafael Santana
139
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Muito distante do que se espera dos romances policiais, a valorização do
assassínio e do crime em Sá-Carneiro nada tem a ver com a tentativa de desvendar
um mistério aparentemente impenetrável. Ao contrário, como já se disse, valorizase o mistério como enigma a perpetuar, pois somente a sua sombra seria capaz
decantar – o mínimo que fosse – a luz insuportável e excessiva da vida, que todos
os dias corre humanamente nas suas águas tão certas 71. Como os assassinos, o
narrador-personagem de A Grande Sombra procura com intenso fervor um
segredo no qual se possa encerrar, imbuindo-se duradouramente de glória. Tal
qual burguês lepidóptero, vive ele uma existência tão evidente que chega a ter
asco de si próprio. Em busca do mistério, o artista conjetura uma série de
caminhos para alcançá-lo, imaginando, por exemplo, o seu desaparecimento, a sua
loucura, o seu suicídio. Todavia, ao viajar ociosamente pelo mundo, conhece uma
mulher – a quem não nomeia – num baile de carnaval em Nice, criatura que
modificará definitivamente os rumos da sua vida. Fálica e misteriosa, o narrador
descreve-a com estas palavras:
Encerrava-lhe o tronco um corpete de brocado de ouro, por onde assomava
em perniciosa audácia o bico petulante dum seio moreno.
Cingia-lhe as pernas, quase nuas, um maillot violeta, imponderável.
Um gorro de cetim escarlate sobre os cabelos torrenciais, com uma pluma
desconhecida, da ave mágica – ofuscante e multicolor.
À cintura, um cinto negro de coiro lavrado, misterioso, donde, na sua bainha,
pendia um estreito punhal.
Um loup de seda verde a ocultar-lhe o rosto...
(CF, p.436)
Provocantemente vestida, a mulher mascarada é um crime em potencial.
Desde que a avista, o personagem-narrador fixa os olhos fascinados no punhal que
a dandy desconhecida trazia na cintura. Um pouco antes de se relacionarem em
cópula delirante, a mulher incógnita revela-lhe parcialmente a origem misteriosa
do gume pendente, enigma que o inebria e o perturba ainda mais: “É uma joia de
família... preciosa, emblemática, antiquíssima... com uma lenda medonha,
71 Tomo de empréstimo a expressão utilizada por Sá-Carneiro em Partida, poema de
abertura de Dispersão.
Rafael Santana
140
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
espessa... de maldição eterna... Talvez um dia lha conte...” (CF, p.437), diz ela.
Como se pode ver, toda a situação conflui exatamente para um mergulho profundo
nas águas do mistério: a mulher enigmática relaciona-se com o personagem sem
retirar a máscara de carnaval do rosto; o punhal misterioso carrega consigo uma
lenda de maldição eterna, que o personagem desconhece; ao findar a cópula, o
artista crava o punhal no peito da amante e deforma-lhe, por debaixo da máscara,
o rosto incógnito, perpetuando o enigma de relacionar-se sexualmente com uma
mulher cuja face nunca vira.
Os anos se passam, e o personagem-narrador vem a conhecer uma figura
que novamente o atrai e o espanta a um só tempo, e a quem gosta de chamar o
Lord Inglês. Figura enigmática, o Lord o seduz, vindo ele a descobrir, depois de
muitas complicações psicológicas, que esse dandy desconhecido é na verdade a
própria morte da rapariga mascarada que, talvez cumprindo a maldição eterna da
joia misteriosa da família, ressurgia fantasmaticamente para o atormentar.
A questão importante a ressaltar aqui é a de que haveria na relação de
amizade entre o Lord e o narrador uma atração homoerótica, uma vez que o
narrador vê no amigo uma projeção da mulher mascarada com quem se
relacionara sexualmente no carnaval de Nice. Ao fim do conto, o narrador
anônimo anuncia que irá suicidar-se, atirando-se de uma torre para a qual o Lord o
atraíra.
Ora, assiste-se aqui o que, de outro modo, já se havia assistido em A
Confissão de Lúcio quer no que se refere à relação homoerótica triangular, quer
no que tange ao assassínio. Eros e Thanatos aparecem em A Grande Sombra numa
íntima relação, como será mais detalhadamente visto no capítulo 4. Aqui,
interessou-me analisar sobretudo a configuração do mistério neste conto de
abertura de Céu em Fogo, e por isso mesmo me ative mais pormenorizadamente
na sua primeira parte.
Rafael Santana
141
Lições do Esfinge Gorda
3.3
Capítulo 3
O MISTÉRIO EM A ESTRANHA MORTE DO PROFESSOR ANTENA
“[...]
sabemos
tão
pouco,
tão
infinitamente pouco, que nunca devemos,
em verdade, garantir coisa alguma.”
(Sá-Carneiro – Céu em Fogo)
Em A Estranha Morte do Professor Antena, estamos novamente, como em
A Confissão de Lúcio, diante de uma trama discursiva que envolve morte,
investigação e mistério, o que poderia levar-nos a crer que se trata mais uma vez
de uma narrativa de cunho científico-policial. Todavia, também neste conto
pseudodocumental Mário de Sá-Carneiro parece investir na perpetuação do
enigma e não na sua revelação, problematizando a lógica científica. A Estranha
Morte do Professor Antena tem suscitado por parte da crítica uma grande
disparidade de leituras. Para alguns estudiosos, o conto resumiria a postura de um
Sá-Carneiro que, deslumbrado com o mundo moderno, futurista e ultracivilizado,
valorizaria um universo científico de possibilidades inesgotáveis através da figura
de um pesquisador excêntrico; para outros contudo, a morte misteriosa do
professor Antena exemplificaria o olhar negativo de um Sá-Carneiro decadentista
para com uma ciência cerceadora dos sonhos e dos livres projetos.
Na esteira das leituras sá-carneirianas de Fernando Pinto do Amaral
(1990), penso também que o Decadentismo é a estética que se manifesta mais
vincadamente na escritura de Sá-Carneiro. Até porque, como lembram Mário
Praz, Matei Calinescu, Antoine Compagnon, Luís Edmundo Bouças Coutinho e
Latuf Isaias Mucci, o Decadentismo não deve ser lido como um culto reacionário
ao passado, mas como um movimento que promove o trânsito para a modernidade
estética. Contudo, o que parecia dificultar uma leitura de A Estranha Morte do
Professor Antena na clave do Decadentismo e das estéticas finisseculares era o
fato de alguns estudos críticos apontarem – e com certa razão – para o diálogo de
Sá-Carneiro com os escritos de Gaston de Pawlowski, sobre os quais o autor de
Indícios de Oiro comenta brevemente em algumas cartas a Fernando Pessoa.
Rafael Santana
142
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Gaston de Pawlowski, editor da Comœdia, publica em 1912 – justamente o
ano em que Sá-Carneiro parte para Paris – uma ficção científica intitulada Voyage
au Pays de la Quatrième Dimension. Em estudo sobre A Estranha Morte do
Professor Antena, Yara Frateschi Vieira (1994) sinaliza que os pesquisadores da
quarta dimensão eram cientistas excêntricos, que gostavam de promover
experiências bizarras, ocultistas, desafiando a lógica aceite. Ora, o professor
Antena é precisamente este tipo de cientista “louco”, que transita a um só tempo
por vias científicas, ocultitas, místicas e delirantes. Todavia, a própria Yara
Frateschi Vieira termina por assinalar que o conhecimento de Mário de SáCarneiro sobre as teorias da quarta dimensão, bem como a sua possível releitura
dessas teorias em A Estranha Morte do Professor Antena, não são o suficiente
para nos levar a uma conclusão sobre o lugar ocupado pela ciência na sua obra,
pois “o fim trágico do cientista acena também para a crítica do progresso
científico-tecnológico
desenfreado”
(1994,
p.55)
ou
–
diria
eu
mais
especificamente – da ciência pragmática que visa a eliminar o obscurantismo,
ceifando a magia do mistério e do sonho.
Lembro ainda que este conto que pode parecer à primeira vista tão
incoerente em relação ao conjunto da obra de Sá-Carneiro, aparentemente capaz
de desestabilizar toda uma proposta de leitura do mistério, pode contudo – e muito
coerentemente – fazer sentido, permitindo-nos enxergar nele uma continuidade
ética em relação ao que, em princípios da sua carreira literária, Mário de SáCarneiro já propunha em Páginas dum Suicida. Neste texto inicial, o Esfinge
Gorda afirma, através da personagem de Lourenço Furtado, que o mistério morreu
no século XX, e que para isso muito contribuiu o avanço da ciência, como vimos
no início deste capítulo. Por outras palavras, diante do esgotamento dos grandes
projetos, vale dizer, dos grandes sonhos, só restaria ao homem de espírito
desbravador investigar as incógnitas zonas da morte, espécie de reduto último do
mistério. Ora, é justamente a esse tipo de investigação que o professor Antena se
dedica. Afinal, a pesquisa científica que o levou à morte buscava desvendar
Rafael Santana
143
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
precisamente o mistério das vidas passadas que, segundo ele, existiriam
sobrepostas à existência presente. Ao encerrar o conto, o narrador sugere a
possibilidade de o professor Antena, ao supostamente lograr vencer o mistério, ter
surgido “na outra vida entre uma Praça pejada de veículos, entre uma oficina
titânica, no meio de maquinismos vertiginosos, alucinantes, que o tivessem
esmagado” (CF, p.529), o que justificaria a sua estranha morte.
Neste sentido, tal desfecho apontaria antes uma extrema ironia de SáCarneiro para com a ciência pragmática e não uma visão de cumplicidade acrítica
ou de fascínio absoluto por ela. Observe-se que o narrador do conto se propõe, ao
longo de todo o texto, a revelar a pura verdade dos acontecimentos que
culminaram no epílogo fatal do seu Mestre, mas o que ele efetivamente faz não é
nada mais do que levantar hipóteses estrambóticas sobre os eventos que decide
relatar, o que me parece, uma vez mais, uma sarcástica investida de Sá-Carneiro
contra a lógica científica estritamente racional.
Num longo posfácio de uma edição de A Estranha Morte do Professor
Antena para a editora 7 Letras, Maria João Simões afirma o seguinte a favor da
Ciência nos escritos de Sá-Carneiro:
[...] Argumenta-se, assim, a favor da Ciência considerada em pé de igualdade
com a arte – uma ideia plasmada neste conto sobretudo através desta figura
do cientista, mas também através de diversas reflexões da mão do narrador
que defende explicitamente esta ideia. Esta é uma posição marcadamente
presente noutros textos do modernismo em Portugal – como é o caso da “Ode
Triunfal”, ou do pequeno poema (de 1928) onde Álvaro de Campos afirma:
“o Binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo. / O que há é pouca
gente para dar por isso.”
Deixando de transparecer, de modo intencionalmente subtil ou abrupto, o
reverso disfórico da modernidade, esta posição indica a uma valorização
estética do próprio cunho científico e tecnológico entendido como
caracterizador da época Moderna [...].
(SIMÕES, 2008, p.69, grifos meus)
Para argumentar em sentido diverso, gostaria de lembrar que, tal como
vimos no início deste capítulo, Fernando Pessoa considera o sonho o elemento
caracterizador da estética moderna, e não a ciência, contra a qual investe
Rafael Santana
144
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
declaradamente. No que concerne contudo à Ode Triunfal de Álvaro de Campos,
ou mesmo ao pequeno poema onde afirma que “o Binómio de Newton é tão belo
quanto a Vénus de Milo”, cabe acentuar que os artistas de Orpheu consideravam a
sua época uma espécie de mosaico fluido, no qual pululavam matrizes de todos os
tempos e das mais diversas correntes. Assim, a pluralidade do presente nada mais
seria do que um ponto de convergência entre os saberes antigos e os atuais – a
filosofia, a mitologia, a História, a psicologia, a ciência etc., lidos todos eles na
clave do mistério. Em relação ao mistério em Fernando Pessoa, por exemplo, diz
José Gil:
O mistério em Pessoa representa o estádio último da riqueza emocional, a
etapa última da expressão poética – que se pode traduzir em infinitas
sensações libertadas, circulando sobre um plano de consistência; ou então,
ficar como que suspensa à espessura da linguagem, desenrolando o seu jogo
acima da distância, mistério da “profundidade’ e do ‘abismo” [...]: da
sensação mais minúscula e insignificante até ‘Hegel’, até ao binómio de
Newton ou até ‘Deus’, de tudo fará um feixe de emoções, quer dizer, um
mistério.
(GIL, s/d, p.116-117).
Noutras palavras, o ultramoderno não surgiu de forma aleatória e a sua
existência seria o resultado da soma de todo um conhecimento anterior. Além
disso, ressalte-se que o fascínio pela modernidade em Sá-Carneiro muito se
assemelha ao culto que a ela promove Charles Baudelaire, poeta que manifesta um
misto de atração e repulsa pelo mundo ultracivilizado e tecnológico, mas que não
abre mão do lugar ocupado pelo sonho, o parâmetro menos científico que se possa
eleger 72. Ou seja, o mundo moderno inebria e fascina, sim, mas o seu excesso
também cansa. A tecnologia avançada, cuja conquista se tornou possível por meio
do progresso da ciência, provoca no homem um bem-estar demasiado passageiro,
tão volátil quanto o fluxo da vida moderna e citadina, aumentando-lhe a sensação
72 O poema La Voix parece dar conta deste fascínio crítico pela ciência: “Meu verso era
vizinho à biblioteca apenas, / Babel sombrio em que o romance e a ciência, o espólio / Em
que cinzas do Lácio e mais poeiras helenas / Se mesclavam. Era eu alto como um in-folio”. E
ainda mais especificamente: “Mas me consola a voz: ‘Ah, conserva as ilusões! / Pois não
sonham melhor os sábios do que os loucos!’” (BAUDELAIRE, 2004, p.164-165. Trad. Pietro
Nassetti).
Rafael Santana
145
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
de impotência e de incompletude. Em Sá-Carneiro, um exemplo paradigmático
dessa definição me parece ser o conto O Sexto Sentido, que ocupará uma parte do
próximo capítulo.
No que tange ao conto A Estranha Morte do Professor Antena, o texto se
abre com estas palavras que lhe ressaltam visivelmente a ambiguidade:
Mesmo entre o público normal causou grande sensação a morte do Prof.
Domingos Antena. Não tanto – é claro – pela irremediável perda que nele
sofreu a Ciência contemporânea, como pelo mistério policial em que a sua
morte andou envolvida.
Esse automóvel-fantasma que, de súbito, surgira e logo, resvalando em
vertigem, se evolara por mágica, a ponto de ser impossível achar dele um
indício sequer, embora todas as diligências – e mesmo a prisão dalguns
chauffeurs que puderam entretanto fornecer álibis irrefutáveis – volveu-se
logicamente matéria-prima ótima, de mais a mais roçando o folhetim, para os
diários, então, por coincidência, privados de assunto emocional.
(CF, p.513)
Colocando-se como um ser superior, como alguém que se destaca do
vulgo, o narrador homodiegético afirma que a morte do professor Antena foi de
tal forma misteriosa que acabou por causar uma grande repercussão, mesmo entre
o grande público, tornando-se quase numa estória de folhetim, tamanha a
estranheza da intriga que a envolve. Assim, a estranha morte do professor
Domingos Antena não choca tanto pelo fato da perda de um grande cientista,
senão – e sobretudo – pelo mistério policial que encerra. E para investigação
policial encontramo-nos em mau caminho! Enigmática, a morte do Mestre Antena
teria sido provocada por uma espécie de automóvel-fantasma, que surgira
misteriosamente e se desvanecera como num passe de mágica, sem deixar
qualquer vestígio.
Já na abertura do conto, o narrador explicita que a ciência e a investigação
lógica não foram capazes de solucionar o insólito caso do falecimento do
professor Antena, personalidade excêntrica certamente, mas dedicada à pesquisa,
a quem descreve da seguinte forma:
Rafael Santana
146
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
Depois, a figura do Prof. Antena era entre nós popular. O seu rosto glabro,
pálido e esguio, indefinidamente muito estranho; os olhos sempre ocultos por
óculos azuis, quadrados, e sobretudo negro, eterno de Verão e de Inverno, na
incoerência do feltro enorme de artista; os cabelos longos e a lavallière de
seda, num laço exagerado – tudo isto grifara bem o seu perfil na retina
paspalheira da multidão inferior das esquinas. Entanto jamais um dito
grosseiro, dessa lusa grosseria, provinciana e suada, regionalista, que até
nesta Lisboa – central, em vislumbres – campeia à rédea solta (e mesmo
refina democraticamente), o atingiu nas ruas ou nas praças, pelas quais ele
era silhueta quotidiana. Pois ao invés dos sábios convencionais e artistas
castrados que fogem às multidões, à Europa, ao progresso, num receio gagá
de ruído e agitação – o Prof. Antena era, pelo contrário, onde mais se
aprazia, sobretudo nas horas maravilhosas da criação. Com efeito um
grande sábio cria – imagina tanto ou mais do que o Artista. A Ciência é
talvez a maior das artes – erguendo-se a mais sobrenatural, a mais irreal, a
mais longe em Além. O artista adivinha. Fazer arte é Prever. Eis pelo que
Newton e Shakespeare, se se não excedem, se igualam.
(CF, p.513, grifos meus)
Marcado pela excentricidade no seu modo de portar-se e de vestir-se, o
professor Antena destaca-se entre a chusma provinciana, plebe ignara de uma
Lisboa regionalista, grosseira e suada, cidade onde lhe apraz transitar nas horas
mais ruidosas, mais agitadas, que lhe propiciam uberemente a criação. No que
respeita ao seu perfil físico, avulta a estranheza de um rosto glabro, pálido e
esguio, de uns olhos ocultos por uns óculos azuis, de um incoerente feltro enorme
de artista, de uns cabelos longos e de uma lavallière de seda num laço muito
exagerado. Todos esses elementos conferem ao professor Antena um perfil
excêntrico de dandy, que fascina a retina paspalheira da multidão inferior. Afinal,
o Mestre Antena é um renomado cientista, e um cientista, como parece ironizar o
narrador, é tão artista quanto os grandes artistas. Repare-se que o discípulo
descreve o seu Mestre como um ser que gostava de imiscuir-se na agitação, nos
ruídos, no progresso, imbuindo-se de Europa, isto é, do espírito cosmopolita.
Contudo, se levarmos em conta a coerência interna dos escritos de Sá-Carneiro,
lembraremos, por outro lado, que Lisboa sempre se afigurou aos seus olhos e aos
olhos dos seus personagens como o avesso de tudo isso. Noutras palavras, a
provinciana Lisboa sá-carneiriana jamais poderia ser tomada como sinônimo de
agitação e de progresso, a não ser pelo viés da ironia. A meu ver, a advertência de
que a Ciência é talvez a maior das artes poderia ser lida como um grande
Rafael Santana
147
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
sarcasmo do narrador-personagem, se pensarmos que tanto Sá-Carneiro como
Pessoa, antes mesmo do surgimento de Orpheu, já interpretavam o cientificismo
desenfreado – entendido aqui pelo viés do racionalismo pragmático – como uma
espécie de tesoura que corta as asas do sonho. Num contexto sociocultural onde
tudo deveria ter um porquê científico e exato, burocrático em certa medida, ao voo
livre não era dado vez nem lugar.
Se a tecnologia do mundo moderno fascinava os de Orpheu, que sobre ela
compunham glosas que pareciam almejar o logro do espasmo sexual pela palavra;
se Mário de Sá-Carneiro, Álvaro de Campos, Almada Negreiros, todos esses
artistas fizeram do cosmopolita um objeto de contemplação e de gozo, é também
certo que eles abdicavam do caráter pragmático e/ou positivista da Ciência em
prol do que pode haver nela de sedução, isto é, de desvio funcional do elemento
científico, lido agora no avesso do utilitarismo. Por isso a Ciência – soberana,
absoluta, dogmática, acadêmica, burocrática, comprobatória – perde em Orpheu o
seu posto de liderança, cedendo espaço para uma paradoxal ciência do sonho,
viabilizadora de inenarráveis sortilégios.
Além disso, cabe frisar que o narrador-personagem de A Estranha Morte
do Professor Antena é aquele que – herdeiro de um grande artista – se coloca
aristocraticamente como um ser superior – que despreza a esfera popular de tal
modo que a ilação científica passa a ter um lugar nessa eleição que o diferencia da
massa. Não por acaso ele, antipragmático que é, assinala que o laboratório do
Mestre mais se assemelhava à gruta dum feiticeiro do que realmente ao atelier
dum mero cientista:
De resto nada há que torne alguém mais lisonjeiro ao povo do que a lenda – e
em volta do Prof. Antena nimbava-se um véu áureo de Mistério. A tradição
sabia que esse homem excêntrico se debruçara mais duma vez sobre qualquer
coisa enorme, alucinante – que o seu laboratório seria melhor, entre aparelhos
bem certos, a gruta dum feiticeiro, do que o atelier dum mero cientista. Os
periódicos heroificavam-no popularmente nas suas manchettes, dia a dia – e,
por último, as curas extraordinárias, laivadas de milagre, que ele fizera pelos
hospitais graças à sua perturbadora aplicação dos raios ultravioleta – tinham
acabado de o sagrar aos inferiores em humanitarismo.
Rafael Santana
148
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
(CF, p.513-514)
Contemplando como escol a realidade vulgar, o narrador-personagem
considera o povo a massa inferior, o que nos permite inferir, pela tonalidade
elitista e desdenhosa do seu discurso, que a lenda humanitária em que a chusma
acabou por envolver o professor Antena – essa apropriação popular – o irrita
sobremaneira. De qualquer forma, o próprio narrador admite que o mistério
nimbava a figura do Mestre, pela qual ele próprio se via seduzido. Em relação a
esse aparente paradoxo, cabe acentuar que o povo envolvera o professor Antena
numa dimensão lendária por conta dos “milagres” que ela fizera em seu benefício:
por exemplo, através da aplicação dos raios ultravioleta; por outro lado, o
narrador-personagem, que desdenhosamente se refere ao povo como a multidão
inferior, valoriza o Mestre e a sua ciência pelo viés do antipragmático, do
insondável. Por outras palavras, a sua admiração pelo professor Antena provinha
não da sua engenhosa ciência, mas sobretudo do mistério artístico que o Mestre
encerrava. Ou seja, a ciência comum, certa, objetiva, pragmática, explicativa,
reveladora do mistério, não lhe interessa, pois é apenas a mera ciência. O que de
fato chama a sua atenção é a ciência do inexplicável, do oculto, do delirante, do
sonho, enfim. Por isso, passado quase um ano da estranha morte do Mestre, o
narrador homodiegético decide, em teoria, revelar todo o mistério que envolvera
esse acontecimento sui generis. Através do relato da memória – discurso da
recriação –, o personagem-narrador buscará muito ironicamente trilhar passo a
passo, e com base científica segura, diz ele, os acontecimentos que culminaram na
morte do professor Antena, utilizando-se para tanto de provas e de “documentos
irrefutáveis”:
Pois bem, hoje, quase um ano decorrido sobre o desastre, eu venho falar
enfim. E venho agora só, porque só agora possuo nas minhas mãos
documentos que, irrefutavelmente, autenticam a minha narrativa –
documentos que fornecem pelo menos uma hipótese admissível, uma forte
hipótese, ao estranho desfecho que se vai conhecer. No momento da tragédia
ser-me-ia impossível contar a verdade – todos me farão, de resto, essa justiça
após me haverem lido. Um louco, no meu caso, teria falado. Isso mesmo
definiria a sua loucura. Homem sensato, calei-me. A prova maior da sensatez
Rafael Santana
149
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
está em ocultarmos a realidade dos fatos inverossímeis. A verdade é só para
ser dita ocorrendo nela circunstâncias muito especiais. Eis o axioma máximo.
(CF, p.514-515, grifos meus)
Os documentos que, de forma irrefutável, autenticam a sua narrativa, e
que, após quase um ano da morte do professor, permitem que o narradorpersonagem se pronuncie sem que pareça um louco não passam muito
ironicamente de hipóteses admissíveis sobre o estranho desfecho daquilo que
propõe contar. Como Lúcio, o narrador de A Estranha Morte do Professor Antena
almeja relatar fatos inverossímeis, que desafiam a lógica do mundo, apostando
contudo numa coerência que ambos não logram manter. Disposto a dizer a
verdade, o discípulo do Mestre Antena quer, apesar do caráter hipotético daquilo
que narrará, provar “como logicamente, ainda que distantemente, se pode referir o
Mistério à simples realidade científica” (CF, p.519, negritos meus). Eis, em teoria,
o seu único propósito. Extremo sarcasmo, é documentalmente, em forma de
monografia científica, que o personagem-narrador resolve organizar os “fatos”
que relatará:
Eu proponho-me fazer hoje a simples exposição verídica da morte do Mestre,
e a seguir interpretá-la segundo os documentos que achei entre os seus
papéis.
[...]
Para melhor exposição, arrumarei assim a minha narrativa: Restabelecerei
primeiro a verdade sobre o desastre. Depois, num apanhado, condensarei –
tanto quanto possível ordenada e claramente – todos os apontamentos
dispersos encontrados entre os papéis do Mestre, os quais, reconstituídos nas
suas lacunas, ajustados, refletidos em conjunto – além das coisas
assombrosas que nos entremostram – nos fornecem, senão uma explicação
definitiva, categórica, pelo menos, como já dissemos, uma forte hipótese
sobre a estranha morte do Prof. Antena.
(CF, p.515)
Parecendo contrariar o pacto de leitura que estabelece com o destinatário
do seu texto, o narrador, como aquele que manipula a linguagem e com ela
empreende voluntariamente o seu trabalho, sabe que os documentos – sejam quais
forem – não são nunca capazes de autenticar integralmente a veracidade do que
relatam. Por isso, diante dos tais documentos do Mestre, o que o personagem-
Rafael Santana
150
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
narrador pode fazer é apenas estabelecer uma interpretação possível para o
estranho desenlace da sua morte, isto é, uma leitura interpretativa e não assertiva,
de acordo com a bagagem que tem em mão. Desde o princípio, sabe ele que não
está diante de uma verdade científica definitiva e categórica, e, portanto, aquilo
que propõe narrar não são os fatos em si, mas apenas uma hipótese que,
ironicamente, diz ser muito forte. Neste sentido, tudo o que o narrador não faz é
mostrar como o mistério se pode reduzir à simples realidade científica, como
afirma ser a sua proposta primeira. Enveredando por caminhos a um só tempo
ocultistas e cientificistas, o discípulo do professor Antena chega ao fim da sua
narrativa sem nada provar. Tal como Lúcio, o seu propósito parece ser o de
investir no mistério e não na sua revelação.
Frente a um caso inexplicável e, portanto, sem solução, o personagemnarrador dispõe-se ironicamente a relatar o passo a passo da morte do professor
Antena. Mas, se num romance policial, as pistas e os documentos fornecem uma
prova daquilo que é narrado, os tais “documentos” resgatados pelo narrador do
texto de Sá-Carneiro oferecem apenas uma hipótese possível para a esfera do
narrado. Organizando cientificamente o “documento” que relata, o narrador de A
Estranha Morte do Professor Antena, tal qual Lúcio, jura não estar a compor uma
novela, de modo a atestar o caráter veridicamente comprobatório da sua escritura.
Se, num primeiro momento, como já foi dito, ele começa por escrever uma
introdução na qual afirma poder restabelecer, por meio de documentos
irrefutáveis, a completa verdade sobre a misteriosa morte do professor, numa
segunda etapa, põe-se a narrar o enredo do estranho falecimento do Mestre para,
finalmente, num terceiro tempo – este, sim, mais largo –, discorrer sobre as suas
hipóteses pseudocientíficas que explicariam a morte do pesquisador, com base nos
– na verdade – escassos e incompletos documentos que encontrara.
Ora, no enredo da morte do professor Antena, vale ressaltar que o
narrador-personagem expressa surpresa ao receber um bilhete do Mestre, pedindo-
Rafael Santana
151
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
lhe que só o procurasse quando fosse devidamente avisado. Este recado inusitado
rompe o convívio quotidiano entre o lente e o seu discípulo, que só o torna a ver
duas semanas depois. Reencontrando o Mestre, o narrador-personagem estranha a
misteriosa fisionomia do seu rosto, que parecia haver-se deslocado. Envergando
incoerentemente uma peliça num aprazível dia de maio, portando estranhos óculos
que escondiam os seus olhos e alteravam a sua fisionomia e utilizando ainda um
misterioso relógio que mais se assemelhava a um esdrúxulo aparelho científico, é
como se o professor Antena fosse a própria encarnação do mistério que estava
disposto a revelar, e que não seria outro senão a sua própria morte que ele oferecia
ao discípulo em espetáculo, e para a qual se encontrava já devidamente travestido,
como se fora entrar numa grande representação:
Agora dobrávamos uma curva estreita da estrada. Em volta de nós, um
grande silêncio... Até que, ao longe, as badaladas dum sino aldeão marcaram
as dez horas... E de repente – ah!, o horrível o prodigioso instante! – eu vi o
Mestre estacar... – Todo o seu corpo vibrou numa ondulação de quebranto...
Ergueu o braço... Apontou qualquer coisa no ar... Um ricto de pavor lhe
contraiu o rosto... As mãos enclavinharam-se-lhe... Ainda quis fugir...
Estrebuchou... Mas foi-lhe impossível dar um passo... tombou no chão: o
crânio esmigalhado, as pernas trituradas... o ventre aberto numa estranha
ferida cônica...
Petrificado, eu assistira ao mistério assombroso – sem poder articular uma
palavra, esboçar um gesto, fazer um movimento... Uma agonia estertor me
ascendeu grifadamente... Julguei-me prestes a soçobrar também morto,
esfacelado... Mas de súbito pude desvencilhar-me – e soltei então um grande
grito: um uivo despedaçador, apavorante...
(CF, p.518)
O professor Antena morre pois estranhamente, e a polícia, diante de um
caso inexplicável, aceita a hipótese algo verossímil mas absolutamente redutora –
se levarmos em conta o relato do narrador – do seu atropelamento. Passado quase
um ano do acontecido, o personagem-narrador decide revelar tudo o que sabe e
começa por dizer que haveria uma ligação intrínseca entre o falecimento do
Mestre e uma pequena explosão ocorrida no seu laboratório, no exato momento
em que o seu corpo soçobrara. Somando pistas estilhaçadas, documentos
incompletos
e
teorias
desconexas,
o
narrador-personagem
reconstitui
artisticamente, como fingimento de linguagem, a morte do professor-cientista, de
Rafael Santana
152
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
acordo com a sua própria interpretação. Formulando uma hipótese sobre os fatos
que propõe narrar, cria ele um discurso de fragmentos díspares, que abarca
ironicamente a ciência e a religião, o discurso monográfico e o literário:
Aceite esta hipótese tão verossímil, imediatamente nos é lícito concluir que,
antes da nossa vida atual, outra existimos. A fantasia cifrar-se-á nas
lembranças vagas, longínquas, veladas, que dessa outra vida conservamos. E
sendo assim, nada nos repugna também propor que a nossa vida de hoje não
será mais do que a morte, do que o “outro mundo” da nossa existência da
véspera.
– Mas como passaremos duma vida para a outra vida, atendendo que nunca
conservamos longínquas reminiscências da anterior?
Segundo o Mestre, tudo residiria numa simples adaptação a diversos meios.
Os órgãos da nossa vida A, em função do tempo – ou de qualquer outra
grandeza –, ir-se-iam pouco a pouco atrofiando relativamente a essa vida; isto
é: modificando. Até que a mudança seria completa. Então dar-se-ia a morte
para essa vida A. Mas, ao mesmo tempo, esses órgãos haver-se-iam adaptado
a outra existência, tornando-se sensíveis a ela. E quando assim acontecesse,
nasceríamos para uma vida B.
(CF, p.521-522)
Mesclando num único discurso a Teoria das Ideias, o Espiritismo, o
Magismo, o Positivismo, o Darwinismo e a Teoria da Relatividade de Einstein, o
narrador-personagem parece rir-se da ingenuidade do seu leitor ao continuar
afirmando, sem contudo operar nesse sentido, que pretende revelar a estranha
morte do seu Mestre por meio de documentos irrefutáveis. Chegando ao sarcasmo
imenso de comparar os sonhos ao processo evolutivo dos batráquios, anfíbios que
num primeiro momento da vida são larvas adaptadas ao meio aquático e que num
segundo momento se transformam em animais terrestres, o narrador
pseudocientista lança mão da teoria da reminiscência de Platão para explicar
absurdamente a adaptação dos órgãos da vida pretérita à vida presente, ao juntar
num só texto o Darwinismo e a filosofia antiga.
Recuperando, “quase textualmente” (CF, p.527), as ideias do professor
Antena, o seu discípulo nos revela o seguinte teorema do Mestre: “a imaginação
não é ilimitada” (Ibidem, p.521, grifos do autor). Por outras palavras, a fantasia (o
sonho) não seria nada mais do que uma soma finita – e portanto ponderável – de
reminiscências. Ora, se o sonho, em Mário de Sá-Carneiro, sempre aparece como
Rafael Santana
153
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
possível projeto de criação de mundos alternativos, de existências múltiplas a
partir da palavra artística, ele pareceria surgir aqui (se acreditássemos em todas as
postulações do narrador) como uma manifestação não criativa, haja vista que ele
afirma, “cientificamente”, que só sonhamos porque temos reminiscência de outras
vidas. Portanto, o sonho já não seria mais uma potência criadora, uma reinvenção
da vida, mas apenas uma lembrança estilhaçada de uma outra existência, para a
qual os órgãos da vida atual definharam: a Teoria das Ideias de Platão e o
Evolucionismo de Darwin aqui aparecem juntos, de modo a “comprovar” a
limitação dos sonhos. Ora, estamos diante de uma imensa ironia, se levarmos em
conta que essa hipótese – lida stricto sensu – não teria coerência alguma com o
conjunto da obra sá-carneiriana, que valoriza o sonho, ou melhor, o voo livre
como instância primeira e última, como veremos mais especificamente no
próximo capítulo, a propósito do conto O Homem dos Sonhos.
Segundo o narrador-personagem, o professor Antena acreditava na
existência de vidas sucessivas, que se manifestavam de forma sobreposta. O ser
humano que conseguisse adaptar os órgãos mortos das vidas anteriores aos desta
vida poderia transitar livremente pelas suas múltiplas existências, logrando ser
uma espécie de Deus. É desta forma que o narrador pseudocientista busca explicar
documentalmente a estranha morte do seu Mestre que, vencendo o mistério, teria
despertado noutra vida. Nessa dimensão outra, o seu corpo ter-se-ia
imaterializado, deixando de ser poroso, o que explicaria teoricamente a quase
desintegração do seu invólucro terrestre. Eis aí a hipótese do narradorpersonagem, hipótese que, enquanto discurso, é especulação, é criação sobretudo:
Tal é a hipótese que pela minha parte proponho. Quem entender que formule
outras – mesmo que retome as suas teorias e praticamente as busque verificar.
Para isso as publiquei. Seria um crime ocultá-las. Elas rasgam sombra,
fazem-nos oscilar de Mistério, como nenhumas outras. Incompletas,
embaraçadas, são entretanto as mais assombrosas...
... E na memória do Prof. Domingos Antena, devemos sempre relembrar,
atônitos, Aquele que, por momentos, foi talvez Deus – Deus, Ele-Próprio:
que realizaria, um instante, o Deus que nós, os homens, criamos eternamente.
(CF, p.529)
Rafael Santana
154
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 3
A mensagem está clara: o que o narrador-personagem acabou por formular
foi apenas uma hipótese, dentre tantas possíveis, para a estranha morte do seu
Mestre, e quem quiser está livre para criar a sua própria proposição de leitura. E se
o professor Antena logrou talvez ser Deus por um ínfimo momento, lembre-se que
isto se deve tão somente às teorias que ele, enquanto homem, foi capaz de criar. A
ciência do sonho, da criação artística, da loucura, permitiram que o Mestre Antena
quiçá tocasse momentaneamente o absoluto, quiçá adentrasse celeremente uma
dimensão outra, onde, como deseja o protagonista de O Homem dos Sonhos, a
alma, e não o corpo, é o invólucro visível. Eis talvez porque o seu corpo deixara
de ser poroso. Eis talvez a sua conquista, eis talvez o seu triunfo. Como nos ensina
o sujeito lírico do poema Partida, o logro da apoteose artística reside na subida,
ainda que falhada, “[...] / além dos céus / Que as nossas almas só acumularam / E
prostrados rezar, em sonho, ao Deus / Que as nossas mãos de auréola lá
douraram” (DI, p.9). Como criador, o artista é uma espécie de Deus, porque capaz
de criar, com as suas próprias mãos, os seus mundos alternativos, porque capaz de
realizar, um instante, o Deus que nós, os homens, criamos eternamente. Ao fim e
ao cabo, é sempre a criação artística que parece erigir-se como potência absoluta
no universo literário de Mário de Sá-Carneiro.
Rafael Santana
155
CAPÍTULO 4
A TEATRALIZAÇÃO DA MORTE
Com certa espécie de solidariedade
lembro-me de ti, Mário de Sá-Carneiro,
Poeta-gato-branco à janela de muitos prédios altos. Lembro-me de ti, ora pois, para saudarte,
para dizer bravo e bravo, isso mesmo, tal qual!
Fizeste bem, viva Mário!, antes a morte que isto,
viva Mário a laçar um golpe de asa e a estatelar-se todo cá em baixo
(viva, principalmente, o que não chegaste a saber, mas isso é já outra história...)
(Mário Cesariny – Manual de Prestidigitação)
Mário de Sá-Carneiro inicia, oficialmente, a sua carreira literária em 1912,
aos 22 anos de idade, com a publicação do volume de contos Princípio. No estudo
intitulado A Novela Poética de Mário de Sá-Carneiro (1960), Maria da Graça
Carpinteiro sinaliza que os textos dessa série, apesar de ainda não serem aqueles
que melhor caracterizam a qualidade artística do autor de A Confissão de Lúcio, já
trazem em potência as sementes germinantes de narrativas futuras, apresentando
“aspectos embrionários de inegável interesse” (1960, p.9). Do conjunto de temas
não muito variados da escritura sá-carneiriana – por isso mesmo retomados
obsessivamente ao longo da sua obra –, avulta o fascínio pela morte como forma
de comunhão com o mistério. Nos contos que compõem o conjunto de Princípio,
por exemplo, todos os personagens vêm a morrer, seja voluntária ou
metaforicamente 73. Em A Confissão de Lúcio e em Céu em Fogo, Sá-Carneiro
continua a desenvolver os temas da morte e do suicídio, sobre os quais também
discorre na sua poesia. Neste capítulo, caberá analisar a ideia da teatralização da
morte na obra do Esfinge Gorda, obedecendo a um percurso cronológico que
abarca desde os primeiros textos de Princípio até ao poema Fim 74, de 1916, ano
em que Sá-Carneiro dá cabo da sua vida.
73 Com exceção de dois textos – Felicidade Perdida e O Sexto Sentido –, em todos os demais
contos de Princípio os personagens principais se suicidam. Contudo, ressalte-se que o
narrador-protagonista de Felicidade Perdida busca conscientemente a sua própria
infelicidade, o que poderia ser lido como um suicídio metafórico; Patrício Cruz, o
personagem principal de O Sexto Sentido, não se suicida propriamente, mas o narrador
homodiegético encerra o seu relato dizendo que o amigo (Patrício) um dia logrará fazê-lo.
74 Apesar de esta tese se circunscrever à obra em prosa de Sá-Carneiro, realizarei uma breve
leitura de alguns poemas ao fim deste capítulo, pois eles são de extrema importância para a
compreensão do desenvolvimento do conceito de teatralização da morte nos seus escritos.
Lições do Esfinge Gorda
4.1
Capítulo 4
A MORTE EM PRINCÍPIO
Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
- Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.
(Manuel Bandeira – Consoada)
Princípio compreende um conjunto de sete narrativas compostas entre os
anos de 1908 e 1912. O volume intercala alguns contos brevíssimos e outros mais
longos, sendo que os contos menos extensos apresentam-se, todos eles, em
estrutura de diário 75. A diegese é aberta por um conto de apenas duas páginas –
Em Pleno Romantismo (1909) –, que versa sobre o tema da morte. Trata-se do
diário de um suicida. Este breve texto relata a estória de um amigo não nomeado
que convida o seu condiscípulo – o narrador do diário – para passar o dia seguinte
na quinta da sua família, alocada nos arredores de Lisboa. Lá comparecendo, o
narrador-diarista, em meio a uma numerosa família burguesa pela qual faz questão
de frisar o seu desprezo, vem a travar inesperadamente conhecimento com uma
rapariga debilitada, marcada pela languidez típica dos tísicos. O estado enfermiço
da jovem de pronto seduz o narrador, que se apaixona não exatamente pela
enferma em si, senão pela ideia de amar o inusitado: amar a morte que nela há. Já
neste texto de abertura, Eros e Thanatos aparecem em íntima relação, mote que
Sá-Carneiro retomará noutros contos de Princípio, assim como nas narrativas A
Confissão de Lúcio e Céu em Fogo.
Os contos Em Pleno Romantismo, Felicidade Perdida, A Profecia e Páginas dum Suicida são,
na verdade, a subdivisão de Diários, que compõe uma das partes da série Princípio. Ainda
sobre a estrutura desse conjunto textos, assinala Fernando Cabral Martins: “Princípio
assenta, porém, numa ideia estrutural clara: dois contos longos enquadrando duas unidades
curtas, uma delas sendo um conto – O Sexto Sentido – que é uma espécie de parêntesis
diferido do conto anterior, e a outra uma série de diários. Logo, uma noção de simetria
preside à organização do livro: quatro unidades, uma delas subdividindo-se em outras
quatro. É uma atenção composicional que o Simbolismo desenvolveu – o Livro sendo o
símbolo último, e fundamental” (1997, p.182).
75
Rafael Santana
158
Lições do Esfinge Gorda
Embora
Princípio
Capítulo 4
retome
temas
e
personagens
típicos
do
ultrarromantismo, tais como o fascínio pela tuberculose e a jovem enfraquecida e
pálida, cabe frisar que o que aí se apresenta é já a subversão de algumas matrizes
dessa escola. Em História da Morte no Ocidente, Philippe Ariès assinala que a
morte romântica perde os seus caracteres eróticos, que na literatura são
“sublimados e reduzidos à beleza” (2012, p.68). Ora, Princípio, como diz Maria
Aliete Galhoz, inscreve-se flagrantemente na “pulsão Eros/Thanatos”, pulsão que,
consoante as suas palavras, “regerá, imperiosa fixidez e avidez, a obra meteórica e
pertinaz da maturidade, a sua maturidade!, de Mário de Sá-Carneiro” (1990, p.49,
grifo da autora). Ora, na ótica de Em Pleno Romantismo, por exemplo, enamorarse por um ser predestinado à morte seria, em última análise, desejar eroticamente,
e em metáfora, a morte de si próprio. Falecida a tísica, o narrador sente-se morto
para a vida, e o conto é encerrado com as notícias dos jornais que anunciavam o
seu suicídio, informação que evidentemente está fora do discurso do diarista,
aparecendo como um adendo daquele que herdou o diário do suicida, e cujo nome
não é revelado. Como se pode ver, a morte voluntariamente provocada já se
afigura, desde a obra da juventude literária, como um dos leitmotive dos escritos
de Sá-Carneiro, sendo que, no volume Princípio, essa temática perpassa todas as
narrativas, quer seja o suicídio concretizado ou não.
Em Felicidade Perdida, segundo conto na linhagem de Princípio, o
narrador não nomeado do diário relata uma espécie de morte simbólica, que se dá
a partir da negação da possibilidade de lograr a plenitude através da
experimentação do amor. Trocando olhares, num teatro, com uma jovem
desconhecida, que por sua vez parecia corresponder ao seu interesse, o
personagem-narrador decide contudo não a procurar ao fim do espetáculo, pelo
instigante prazer de manter o mistério do incógnito. Tempos volvidos, o
protagonista relata já não ser capaz de reconhecer a jovem por quem se apaixonara
em nenhum lugar que a visse, já que não mais se recordava do seu rosto.
Olvidando para sempre a imagem do ser que amou, o narrador mata
Rafael Santana
159
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
propositadamente a sua primeira paixão, e o conto Felicidade Perdida assinala,
portanto, um suicídio metafórico.
Em A Profecia, lemos pequenos excertos do diário de um suicida, Antônio
Maldorado, que manifesta um misto de atração e pavor pela morte: “A morte é o
desconhecido. Não me importa morrer. Ah! mas como tenho medo da morte (PR,
p.258)”, diz o personagem. Numa escrita fragmentária, típica dos diários, Antônio
Maldorado relata a notícia do suicídio do seu alfaiate como um acontecimento que
muito o atrai. Além disso, também discorre sobre as profecias de Júlia, vidente
que vaticina o seu falecimento para o dia 12 de abril do ano seguinte 76. Perturbado
com essa revelação, o personagem começa a experimentar uma vida de angústias
e de inquietações, numa ânsia que beira a loucura. Chegado o fatídico dia da
profecia, Maldorado não suporta esperar que a morte venha buscá-lo e sai
voluntariamente ao seu encontro, suicidando-se para pôr fim à sua agonia.
Ora, pensemos criticamente no sentido do que aqui se resume. Em relação
ao medo da morte, Philippe Ariès sinaliza que tal fenômeno acentuou-se de forma
mais pujante no século XIX. Não obstante o temor face ao desconhecido, o
filósofo assinala que, da Idade Média ao século XVIII, o homem manteve uma
certa familiaridade com a morte, uma vez que aceitava a “ideia do destino coletivo
da espécie” (2012, p.50), do qual não se pode fugir. E insiste: “A familiaridade
com a morte era uma forma de aceitação da ordem da natureza, aceitação ao
mesmo tempo ingênua na vida quotidiana e sábia nas especulações astrológicas”
(2012, p.49). No século XIX, contrariamente ao que se assistiu em períodos
anteriores, a mentalidade racionalista e científica do tempo fez com que o
indivíduo rejeitasse a aceitação de um destino coletivo, recusando para si o papel
de sujeito passivo e dominado pelas leis do natural. Assim sendo, o oitocentos
76
A narrativa não especifica o ano em que a profecia é feita.
Rafael Santana
160
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
desloca a morte para o espaço do interdito 77, considerando-a um fenômeno que se
deveria esconder e contra o qual se deveria lutar.
Ferindo as normas burguesas, Mário de Sá-Carneiro rompe com o tabu da
morte e fricciona ironicamente, na face ilibada da sociedade lepidóptera, um tema
que se buscava olvidar. Mais que isso: o Esfinge Gorda dignifica o ato do suicídio
ao transformá-lo em via artística, investindo contra as bases de um mundo cristão
que o condena por uma justificativa religiosa. Na verdade, a burguesia não tolera
o suicídio por esse ato ser simplesmente incompatível com a ética do trabalho. Ou
seja, a sociedade burguesa entende que a existência humana deve inscrever-se no
princípio da utilidade, o que significa dizer, noutras palavras, que uma vida só se
justifica por aquilo que produz. Com efeito, o pensamento e as atitudes de um
suicida não contribuem para o mundo da produção, já que atentam precisamente
contra o universo dos valores utilitários, cortando voluntariamente a sua ação no
mundo.
Falaciosamente libertária, a moral burguesa é, em teoria, “racional e
igualitária” (SARAIVA, 2005, p.16), mas esse igualitarismo não é gratuito nem
incomensurável, uma vez que o burguês sempre concebe as relações com próximo
a partir do princípio da reciprocidade, o que significa dizer que o outro só é
reconhecido em sendo também ele um burguês, que vive de pleno acordo com as
regras do sistema. Assim, todos aqueles que não se adéquam à norma não são –
nem podem ser – reconhecidos como burgueses, o que faz com que a sociedade os
relegue ao desprezo e à inexistência.
Mário de Sá-Carneiro, herdeiro da crise finissecular e da ética
antiburguesa, confere uma existência enigmática e sedutora – contrária nesse
sentido ao espírito racional – aos indivíduos à margem, apresentando-os como
77 Essa é a leitura de Philippe Ariès. É importante destacar também a leitura de Georges
Bataille, teórico que se refere a uma postura de interdito em relação à morte já no homem de
Neandertal, que enterrava os seus mortos como forma de repúdio à putrefação do cadáver,
tal qual o fazemos.
Rafael Santana
161
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
seres mais interessantes do que os homens ditos normais e respeitáveis. Os heróis
de Sá-Carneiro são todos eles indivíduos trágicos, cuja complexidade e
sensibilidade de artistas não podem ser compreendidas por uma sociedade
racionalista e utilitária. É bem este o caso de Antônio Maldorado que, possuidor
de um sobrenome que aponta para a ideia da impossibilidade da realização
individual (mal-dourado) num mundo insípido e sem magia, conquista a sua
apoteose através do suicídio 78, ato que, nesse breve texto, assinala uma recusa
pelo modelo racional, já que ironicamente consumado a partir de uma profecia.
Em Páginas dum Suicida, quarto conto do volume Princípio, deparamonos com uma carta confessional, deixada por Lourenço Furtado em cima da sua
secretária minutos antes de atentar contra a própria vida. Na sua epístola, o
narrador-personagem declara angustiadamente que o sentido da curiosidade se
havia perdido, uma vez que o positivismo e a ciência teriam destituído toda a aura
de mistério existente no mundo. Vivendo num ambiente onde, em teoria, já não
haveria mais absolutamente nada por descobrir e onde mais nada seria possível
explorar, Lourenço Furtado, ávido pelo incógnito, decide ser o investigador das
desconhecidas zonas da morte, único campo ainda não desvendado pelo homem, e
por isso mesmo intacto no seu enigma. Levando o seu pensamento até ao extremo,
Lourenço decide suicidar-se para poder conhecer aquilo que aos humanos é
ocultado; para experimentar a sensação de morrer e de conhecer o que há por
detrás das aparências terrenas, ainda que – bem sabe ele – não mais lhe seja
permitido o retorno à vida. Ao fim e ao cabo, Páginas dum Suicida promove toda
uma reflexão sobre o lugar do sonho e do mistério numa sociedade que se guia tão
somente pelo princípio da razão. Se o sonho foi compreendido, pelos homens do
passado, como uma projeção utópica, isto é, como uma via de metamorfose, ele se
encontra radicalmente relegado, pelo mundo cientificista, à esfera da inutilidade,
78 Ao longo deste capítulo, buscarei mostrar como o suicídio se constrói como via artística na
obra de Mário de Sá-Carneiro. O autor de Princípio começou a desenvolver este conceito na
sua primeira narrativa, ideia que também retomou noutros escritos, adensando as suas
reflexões.
Rafael Santana
162
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
sendo entendido como mera desistência ou alienação. É pois o sonho, entendido
com a sua possibilidade de engrandecimento do homem e modo de realização dos
seus mais altos ideais, que este breve conto vem evocar.
Em Loucura, texto mais extenso do que os anteriores, ao leitor já é
anunciado, desde a primeira linha, o epílogo da narrativa: Raul Vilar – o
personagem principal – irá suicidar-se. Conto mais ou menos largo, Loucura
relata a amizade de um narrador homodiegético 79 – cujo nome não é revelado –
com a personagem de Raul Vilar, num percurso existencial que é retratado desde
o período da passagem de ambos pelo liceu – momento em que a antipatia que
manifestavam um pelo outro era recíproca – até à íntima amizade que por essa
mesma época começava a delinear-se, convertendo-se num intenso convívio que
se perpetuará até ao fim da narrativa.
Já muito jovem, Raul Vilar é apresentado pelo narrador como um ser
predisposto à loucura, isto é, como um alguém cujas ideias e cujos conceitos de
vida são estranhíssimos, atraindo-o e assustando-o ao mesmo tempo. Antiburguês
convicto, Raul Vilar, na primavera dos seus 20 anos, manifesta uma verdadeira
aversão à família nuclear, ao casamento e à felicidade, o que acaba por impeli-lo a
rejeitar o convívio com o feminino. Misantropo, Vilar evita ao máximo a
interação com o outro, vivendo recluso no opulento espaço da sua residência,
cujas portas só são abertas para o seu amigo de infância – o narrador do conto –, e
79 Ressalte-se contudo que o estatuto do narrador deste conto é problemático. Maria da
Graça Carpinteiro já apontava para isso no seu estudo de 1960, A Novela Poética de Mário de
Sá-Carneiro, e Fernando Cabral Martins, repensando essa mesma questão, retoma as
reflexões da autora: “É, no entanto e desde logo, necessário integrar os aparentes defeitos de
estrutura em Sá-Carneiro. Por exemplo, Maria da Graça Carpinteiro afirma que há uma falha
em Loucura... quanto ao estatuto do narrador, que, sendo personagem secundária da história,
e havendo, portanto, focalização interna da narrativa, se transformaria num dado momento
em narrador omnisciente, passando a focalização a ser externa. Ora tal fluidez de estatuto é
frequente na narrativa – estudada, no que respeita a Proust, por Genette – e é, neste caso,
preparada com minúcia pelo narrador de Loucura...” (MARTINS, 1997, p.184). Páginas
adiante, Fernando Cabral Martins assinala que “o narrador exterior (heterodiegético) surge
para contar os casos extremos, quer de sobrecarga sexual (incesto, homossexualidade) quer
de obsessão psicótica (Loucura...) [....]” (Ibidem, p.236). Contudo, é importante frisar que o
narrador de Loucura é também homodiegético, por relatar uma estória da qual participa
como personagem secundária.
Rafael Santana
163
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
onde ele, abastado, produz, por puro diletantismo, obras de arte em escultura.
“Rico, não fizera de sua arte um ramo do comércio” (PR, p.267), ressalta o
narrador.
Num segundo momento da diegese, o narrador exterioriza a sua surpresa
ao receber a notícia do casamento do seu amigo com uma linda e ebúrnea
rapariga, Marcela. Note-se que Raul Vilar sempre fizera questão de deixar patente
a sua ojeriza à pauta de valores da sociedade burguesa, para a qual o matrimônio e
as suas finalidades procriatórias seriam um dos expoentes máximos. À medida
que a narrativa avança, o leitor se dá conta de que, mais do que um ser amado –
que também o é –, Marcela seria para Vilar uma espécie de obra de arte, ou
melhor, um ser cujo corpo leitoso e escultural ocupa por um curto período de
tempo – o da paixão propriamente dita – o lugar da sua arte, não produzindo ele
absolutamente nada nesse ínterim, porque absorto na contemplação das perfeitas
formas corpóreas do objeto desejado. Com efeito, a união de Raul e Marcela não
reproduz nem respeita em nenhum aspecto as limitadas convenções do casamento
burguês. Aliás, o narrador faz questão de frisar que nos matrimônios mais
ortodoxos “Os esposos dignos devem respeitar-se até mesmo no delicioso
momento em que os seus corpos se unem num feixe palpitante de carne e nervos”
(PR, p.275). Completamente desrespeitosas para com as convenções vitorianas, as
relações entre Raul e Marcela são de todo permeadas pelo erotismo, e não
gratuitamente o narrador flagra os corpos nus do casal-amante no atelier do
escultor. Ressalta ele deste modo o quanto os amplexos de ambos estariam
envoltos em arte, e o quanto a atividade sexual ali praticada estaria de certa forma
artificializada, porque demovida da esfera do natural. Transferindo o seu trabalho
artístico da pedra para a carne, Raul Vilar, dandy, faz do corpo de Marcela uma
espécie de estátua a cinzelar. Iniciando a mulher-amante nos requintes da volúpia,
o escultor apresenta-lhe uma via outra de pedagogia sexual, cuja experimentação
teria de ser obrigatoriamente interditada às mulheres “de respeito”:
Rafael Santana
164
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
[...] Raul e Marcela – dizia-se – não eram dois esposos, eram dois amantes.
Com efeito, para a sociedade, existe uma grande diferença entre marido e
mulher e amante e amante. No primeiro caso, é o amor consentido, o amor
burocrata, membro da Academia; sério e circunspecto. Resume-se todo no
amplexo que o sacramento consente e ordena – na produção dos filhos:
“Crescei e multiplicai-vos!” Os esposos dignos devem respeitar-se até
mesmo no delicioso momento em que os seus corpos se unem num feixe
palpitante de carne e nervos. Devem ser comedidos no prazer, reservados na
loucura: devem refrear os sentidos, abafar os suspiros...
O amor dos amantes é, pelo contrário, livre; livre de todas as peias, de toda a
hipocrisia. Não tem que guardar reservas: pode beijar as bocas, os seios, os
corpos todos... é a liberdade na paixão e, como é liberdade, granjeou o ódio
da “gente honesta”. [...]
Raul e Marcela amavam-se verdadeiramente; quer dizer: não se amavam
como esposos. Raul era um artista. Abandonando por algum tempo a
escultura, dedicava-se à arte do amor, a mais bela de todas.
(PR, p.275)
Tal qual estátua viva, Marcela assume a posição de um objeto de arte no
espaço do atelier, considerando-a Raul Vilar a sua obra-prima, pois, diz ele: “fui
eu que formei, que dei fogo... vida a este corpo!...” (PR, p.276), ao iniciá-lo nos
prazeres da carne. Como Prometeu, que conferira existência às suas criaturas de
barro a partir do fogo furtado aos deuses, Raul Vilar, ao iniciar Marcela nas
sendas do amor, transforma o fogo da sua paixão em via erótica por meio da qual
se experimenta o sexo como fenômeno artístico. Contudo, volvido o tempo da
paixão, Vilar retorna ao seu complexo estado psicológico, entregando-se à
melancolia e à abulia.
O escultor enxergava a sua amada mais como uma obra de arte do que
como um ser humano com quem compartilhava a vida quotidiana de tal modo
que, a partir do momento em que lê o poema Ironias do Desgosto de Cesáreo
Verde, desperta para a dolorosa consciência de que o tempo destruiria fatalmente
a beleza de Marcela. Ciente dessa inexorável degradação futura, Raul Vilar, tal
qual o artista decadentista, decide lutar contra a ordem do natural e busca fixar os
instantes de beleza do rosto e do corpo amados, tentando encontrar alguma
maneira de driblar o fluxo do tempo.
Em texto sobre a herança de Cesário Verde nos escritos de Sá-Carneiro,
Óscar Lopes afirma que “a ânsia de fixar o instante está até certo ponto ligada ao
Rafael Santana
165
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
pavor do tempo como factor de corrupção de cada ser em que se realiza algo de
belo ou de desejável” (1995, p.569). Assim sendo, Vilar elabora diversas formas –
literais e metafóricas – de lograr a morte, no intuito de perpetuar a beleza juvenil
do corpo amado, bem como a do seu próprio corpo, imaginando, num primeiro
momento, a conquista da apoteose de ambos através do alcance da loucura –
morte por metáfora – ou ainda pelo suicídio recíproco, projetos aos quais Marcela
não adere.
Em O Erotismo, Georges Bataille adverte que “Se a união de dois amantes
é o efeito da paixão, ela invoca a morte, o desejo de matar ou o suicídio. O que
caracteriza a paixão é um halo de morte” (1987, p.20). Por outro lado, a paixão
constitui, para Bataille, uma violação da individualidade descontínua dos
amantes, e seria interessante apontar que Raul Vilar, apaixonado, vê em Marcela
“um ser pleno, ilimitado, que não limita mais a descontinuidade pessoal”
(Ibidem). Enxergando a continuidade, ou melhor, a libertação do seu ser a partir
do corpo e do ser da sua mulher-amante, Vilar, passados os efeitos da paixão,
entrega-se novamente ao “campo do hábito do egoísmo a dois, o que quer dizer
uma nova forma de descontinuidade” (Ibidem).
O processo de degradação da relação amorosa evolui para uma relação
extraconjugal passageira que, descoberta, acentua a loucura de Raul Vilar, que
começa a manifestar a ideia fixa de provar, de forma concreta, o seu amor por
Marcela, até ao paroxismo de uma tentativa malograda de deformar o rosto da
amada, alegando que, desfeita a beleza, só lhe restaria amar a sua alma, modo de
atestar assim a incondicionalidade do seu amor. Marcela reage mais uma vez ao
projeto de loucura amorosa, e o suicídio de Raul Vilar, opção final, se consuma.
Tal como em todos os contos de Princípio, a narrativa Loucura gira, como
se viu, em torno da questão morte/suicídio, tema que, já na obra inicial de SáCarneiro, aparece reiteradamente, apontando para uma obsessão das narrativas
futuras.
Rafael Santana
166
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Em O Sexto Sentido, conto breve, temos a apresentação do Dr. Gouveia,
um cientista louco que, ao final de um jantar no qual a conversa se direcionava
para o tema das ciências ocultas, afirma “que não tardaria muito tempo em que
todos saberiam o que os outros pensavam” (PR, p.298). De acordo com o
cientista, “Ao homem falta apenas o órgão de recepção e percepção das ondas
aéreas. Esse é o do ‘sexto sentido’”. Segundo ele, o sexto sentido seria mais
desenvolvido em alguns seres e menos noutros. Curiosamente, o narrador
homodiegético nota, nessa mesma noite do jantar, uma estranha atitude em
Patrício Cruz, seu amigo, vindo mais tarde a tomar conhecimento de que ele tinha
o mencionado órgão extremamente desenvolvido e que muito sofria por conta
disso. Ao entrar na mente de todos e saber o que os outros pensavam, Patrício
descobrira-se, por exemplo, sem amigos verdadeiros. Desenvolvendo o órgão do
sexto sentido até às suas potências máximas, o personagem começa a padecer a
dor de todos aqueles que perdiam os seus entes queridos, de todos os doentes do
mundo, de todos os pobres etc., vivendo uma tortura sem igual. Não suportando
essa espécie de superexistência, Patrício Cruz enlouquece e é internado num
sanatório, lugar onde tenta suicidar-se de diferentes maneiras. O texto encerra-se
com a voz do narrador a sugerir que o amigo um dia logrará o seu intento.
Na verdade, este conto pseudocientífico dá conta, na sua brevidade, do
diálogo irônico que os escritos sá-carneirianos mantêm com o campo da ciência.
Se, por um lado, o homem de ciência descortinou o mistério e supostamente
desvendou o enigma do mundo, como diz o narrador de Páginas dum Suicida, por
outro lado, Mário de Sá-Carneiro sói ratificar, com extremo sarcasmo, que a
existência humana, não obstante os avanços científicos, continua racionalmente
inexplicada, e que o mundo é regido por questionamentos e não por respostas. Se
o positivismo da segunda metade do século XIX pensava eliminar o
obscurantismo com o auxílio do progresso e da técnica, os artistas finisseculares e
os seus herdeiros modernistas, agindo na contramão dessa utopia, apontam para a
completa falácia dessa ideia.
Rafael Santana
167
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
A obstinação com que a obra de Sá-Carneiro recorre a temas e gêneros
policiais e/ou cientificistas não revela senão o seu intuito de promover uma
irônica ruptura com esses modelos, de tal modo que, em vez de revelar o mistério
e solucionar o caso – exigência das narrativas científico-policiais –, os seus
escritos investem propositadamente na manutenção do enigma e no mistério.
Princípio, o primeiro livro publicado em vida por Sá-Carneiro, encerra-se
com o largo conto O Incesto, que se divide em nove capítulos. A narrativa relata a
estória do abastado personagem Luís de Monforte, escritor de peças de teatro, que,
quando jovem, se envolvera numa paixão ardente e avassaladora com uma linda
atriz, Júlia Gama, com quem veio a ter uma belíssima filha, Leonor. Tempos mais
tarde, abandonado por aquela que foi o grande amor da sua vida, Luís de
Monforte decide dedicar-se integralmente ao fruto da sua paixão, cuidando com
muito zelo da educação e da criação da bela menina. Como artista, Monforte
oferece-lhe uma educação heterodoxa, completamente diferenciada daquela que se
proporcionava às moças do seu tempo. Incitando comumente os olhares cobiçosos
dos homens para Leonor, Luís de Monforte permitia que a filha se expusesse à
sedução e conduzisse ela própria o seu automóvel, numa atitude que
escandalizava a pacata e provinciana Lisboa.
A existência de ambos transcorre feliz, até ao momento em que Leonor
começa a manifestar sinais de fraqueza física, descobrindo-se portadora de
tuberculose. Levada para ser tratada num sanatório da Suíça, Leonor vem contudo
a falecer, para o desespero do pai que, desequilibrado e manifestando sinais de
loucura, se lança na tentativa inócua de reviver o passado para fixar os instantes
que vivera com a filha por meio da recuperação dos trajetos que ela percorrera:
Paris, cidade em que pouco tempo antes haviam passado um dos seus últimos
momentos felizes, ou o sanatório suíço onde a filha tentara a sua recuperação. É lá
que conhece a dinamarquesa Magda Ussing, que para ele torna-se uma espécie de
sósia de Leonor, modo simbólico de recuperar a filha falecida. Monforte casa-se
Rafael Santana
168
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
com ela e em seguida a possui voraz e freneticamente, numa volúpia tão intensa
que por vezes a assustava. Quando a evidência da relação incestuosa se revela
enfim também para o personagem (ao leitor os índices eram mais do que
explícitos), é a consciência dessa transferência da paixão que levará o pai-amante
ao suicídio.
Cabe então assinalar no texto os já referidos índices de uma leitura
intertextual. No início do conto, o narrador onisciente flagra Luís de Monforte
lendo o seu Eça; o sobrenome do personagem principal abandonado pela esposa
adúltera não é outro senão Monforte. Enfim, ao personagem resta, como na trama
de Os Maias, senão um filho, ao menos uma filha para criar. Alterando vagamente
os jogos incestuosos que no modelo se produziram entre os irmãos Carlos da Maia
e Maria Eduarda, é agora o próprio pai que nutre em transposto desejo a paixão
pela filha Leonor.
Como entender a singularidade de O Incesto, texto de fato tão
inesperadamente diverso do estilo mais consagrado de Sá-Carneiro? Maria da
Graça Carpinteiro 80 enxerga, por exemplo, nesses recursos – presença de um
narrador heterodiegético e de algumas tomadas de cena do conto – tentativas
malogradas de adequação aos padrões da narrativa burguesa, numa espécie de
realismo extemporâneo que não se adéqua às propostas de escritura do princípio
do século XX.
Se não se pode negar neste conto a presença de elementos românticos e
realistas, parece-me contudo que o que aí se lê é já uma forma de subversão
daquilo que o Romantismo e o Realismo consagraram como as suas marcas
representativas e, mais do que isso, um prenúncio de uma trama constante em
80 A esse respeito, diz Maria da Graça Carpinteiro: “A preocupação de dar aos conflitos o
maior realismo possível é evidente – e as silhuetas acham-se assim, ao mesmo tempo, a
contas com uma vida de sociedade conforme a convenção e com perturbações psicológicas
que as incompatibilizam com essa mesma vida” (1960, p.48). Apesar de assinalar a
excelência do seu estudo, discordo da autora no que se refere a essa questão.
Rafael Santana
169
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
futuras narrativas de Sá-Carneiro: o desejo por interposta pessoa. Produzindo
“rachaduras na página”, dilacerando “as fibras do papel” (COMPAGNON, 2007,
p.17) dos clássicos do século XIX, Mário de Sá-Carneiro os relê, rasura-os,
reinventa-os, enfim, autor consciente que é de que todo processo de colagem “não
recupera jamais a autenticidade” (Ibidem, p.10) do objeto retomado. Analisandose mais a fundo o tema do incesto que aí se inscreve, enxerga-se o insólito de uma
relação proibida que se efetua psicologicamente pelo intermédio do corpo do
outro. Fernando Cabral Martins sinaliza essa leitura ao apontar que “O Incesto é a
história de um amor paterno em que o duplo faz descobrir uma componente
libidinal edipiana [...], em que Monforte ama, através de Magda, Leonor, a filha
morta; sendo Magda a imagem viva da filha, é dela uma mediação por metáfora”
(1997, p.250).
Note-se ainda que Magda tem a aparência de Leonor que, por sua vez,
reflete a imagem sensual de Júlia, sua mãe. Na verdade, é sempre a efígie da
amante que persegue Luís de Monforte nas suas recordações. No desejo de tê-la
novamente, o protagonista projeta o espelho de Júlia em Leonor e, posteriormente,
em Magda. Todavia, o que mais surpreende neste conto não é tanto o incesto por
via psicológica, senão uma espécie de prática metamorfoseada da necrofilia.
Enxergando em Magda Ussing a figura da filha falecida, Luís de Monforte
mantém, no nível simbólico, relações eróticas com as duas ausentes (Júlia que o
abandonara e Leonor que morrera) através do corpo vivo da nova mulher. Aliás, o
narrador de O Incesto assinala que “Morte e amor andam sempre juntos” (PR,
p.335), postulação que o seu personagem vivencia de uma forma assaz inusitada.
Dialogando certamente com temas típicos do Romantismo e do Realismo, os
contos de Princípio parecem adequá-los contudo à problemática e ao
entendimento do século XX, tempo histórico que começa a mostrar um interesse
crescente pela psicanálise, ciência que revelava a psicologia humana no seu
dilaceramento e na sua complexidade.
Rafael Santana
170
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
A exposição resumida do enredo das sete narrativas que Sá-Carneiro
reuniu e publicou sob o título de Princípio não é aleatória nem anódina e tem o
propósito de frisar o quanto este escritor que principiava a sua carreira literária em
meados de 1912 já deixava aí lançados os temas que se tornariam obsessivos na
sua produção: a morte por suicídio, a loucura, a angústia diante do tempo, o sexo
transgressor, a experimentação da arte na obra e na vida, o erotismo por transposta
pessoa. Eros e Thanatos aparecem em relação intrínseca nesses contos,
assinalando a trajetória, sempre trágica, dos personagens. Para Georges Bataille,
estudioso da complexidade dessas relações, a morte implica um duplo sentido: o
horror e o fascínio. Se, por um ângulo, o homem dela se afasta devido ao apego à
vida ou ao medo do desconhecido, por outro ângulo, a sua face assustadora o
inebria. No que concerne ao suicídio propriamente dito, ressalte-se que, se o
cristianismo se pôs contra a noção do direito de morrer, Sá-Carneiro parece
querer revivificar muito ironicamente esse conceito no seu século. Na contramão
da postura cristã, lembremos que o suicídio foi uma prática aceita e tolerada pelas
sociedades da Antiguidade, que reconheciam o direito de morrer dos indivíduos,
cabendo a cada um a decisão sobre o seu próprio destino.
De fato, desde a Antiguidade a morte se colocara no centro da civilização.
Os antigos filósofos, por exemplo, consideravam a ciência filosófica uma grande
investigação sobre a morte: vida e morte eram compreendidas como dois
conceitos inseparáveis. No mundo greco-romano, muitas casas eram construídas
perto das tumbas, atitude que alguns estudiosos costumam associar à proximidade
concreta entre vida e morte. No entanto, se, no paganismo, a morte ocupou todo
um espaço de reflexão, foi a vida que acabou por assumir esse lugar no
cristianismo. Se a cultura pagã cultuou a noção do direito de morrer, a cultura
cristã, ao contrário, introduziu a ideia da sacralidade da vida: a vida passou a ser
considerada dom de Deus, devendo por isso mesmo ser cuidadosamente
preservada.
Rafael Santana
171
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Refletindo sobre a morte ao longo da História, Philippe Ariès chama a
atenção para o fato de o mundo medieval manter ainda com ela uma grande
familiaridade. Não por acaso o pesquisador cunhou a expressão morte domada
para se referir à relação que o homem medieval mantinha com a sua própria
morte. Segundo o filósofo francês, a Idade Média transformou a morte numa
“cerimônia pública organizada. Organizada pelo próprio moribundo, que a preside
e conhece seu protocolo” (2012, p.39). Daí, aliás, a importância da arquitetura
tumular dos poderosos (reis e rainhas, membros da aristocracia real) que naquele
momento ganharam requintes de obra de arte. Espetáculo coletivo, o cortejo do
morto era constituído por toda a comunidade: parentes, amigos, vizinhos e até
crianças. No mundo medieval, o morto definia de alguma forma o status familiar
dos vivos, de tal modo que a morte era considerada um acontecimento público.
Para a aristocracia medieval, cada ser humano seria uma espécie de continuação
de toda uma linhagem anterior, e, neste sentido, os antepassados eram aqueles que
definiam a posição dos mais jovens na sociedade. Eis porque a Idade Média
manifestou certo orgulho pela morte. Morrer em batalha e em defesa dos ideais da
coletividade, do bem comum, eram consideradas atitudes que dignificavam o
nome da família para todo o sempre, tema que, na literatura da Idade Média, por
exemplo, se faz enxergar muito especialmente nos cantos épico-bélicos (canções
de gesta).
Foi com a modernidade dos séculos XVI e XVII que a ideia da sacralidade
da existência adquiriu todo o seu esplendor. A modernidade cristã exacerbou
assim a consciência da dualidade vida versus morte, privilegiando aquela em
detrimento desta. Iniciou-se aí um processo lento e gradual de abandono da morte:
vida e morte passaram a ser compreendidas como conceitos díspares que não mais
se poderiam manifestar em processo de consonância. O nascimento do mundo
moderno fez portanto com que o homem se afastasse cada vez mais da antiga
familiaridade com a morte, compreendendo-a como algo que se deveria dissociar
da vida: morte e vida passaram gradativamente a ser compreendidas como
Rafael Santana
172
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
conceitos dicotômicos. Claro está que esse afastamento gradual da antiga
familiaridade com a morte não implicou exatamente o apagamento das suas
figurações na esfera da arte. A estética barroca, aliás, acentuando a dicotomia
entre vida e morte, tornou esta última num grande espetáculo cristão, a um só
tempo mórbido e suntuoso, do qual a Capela dos Ossos, na Igreja de São
Francisco em Évora, com a sua aterradora inscrição Nós ossos que aqui estamos
pelos vossos esperamos, é um grande paradigma. Como acentua Philippe Ariès:
Na Idade Média ou ainda nos séculos XVI e XVII, pouco importava a
destinação exata dos ossos, contanto que permanecessem perto dos santos ou
na igreja, perto do altar da Virgem ou do Santo Sacramento. O corpo era
confinado à Igreja. Pouco importava o que faria com ele, contanto que o
conservasse dentro de seus limites sagrados.
(ARIÈS, 2012, p.46)
Enfim, o mundo burguês de fins do século XVIII e de todo o século XIX,
com o seu princípio a um só tempo individualista e racional, reiterou a ideia da
ruptura entre vida e morte, associando esta última ao feio, àquilo se deveria
esconder. Pouco a pouco, o homem ocidental expulsou a morte da existência
quotidiana, concebendo-a não mais como um acontecimento natural, mas como
um fato extraordinário. Em linguagem batailliana, “O interdito que se apodera dos
outros diante do cadáver é uma forma de rejeitar a violência, de se separar da
violência” (1987, p.41, grifos do autor). Na tentativa de escapar ao tema da morte,
o burguês ocidental atribuiu-lhe um caráter vertiginoso e desconcertante,
interpretando-a como um acontecimento incomensurável, todo envolto em
mistérios. Fora dos limites da razão, a morte tornou-se, para o indivíduo social,
num signo da violência, isto é, num princípio oposto à ordenação operada pelo
mundo do trabalho (razão), sendo por isso mesmo relacionada ao campo do
interdito.
Ora, Mário de Sá-Carneiro, mergulhado no contexto artístico-cultural que
prega a ideia da crise da razão, busca, na esteira de Baudelaire, vincular
desdenhosamente os seus escritos ao mistério, ungindo a trajetória dos seus
Rafael Santana
173
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
personagens com a beleza do oculto. No universo literário sá-carneiriano, a morte
e o suicídio afiguram-se como formas de comunhão com o enigma do
desconhecido, como já se assinalou nos contos de Princípio. Em A Confissão de
Lúcio, o autor continua a seguir essa mesma via, embora a referida diegese, mais
do que uma reflexão sobre a morte, adquira o selo, na linha do Decadentismo, de
um grande tratado sobre a arte.
4.2
A MORTE EM A CONFISSÃO DE LÚCIO
A morte resulta no ser: esse é o
dilaceramento do homem, a origem de
seu destino infeliz, pois pelo homem a
morte chega ao ser e pelo homem o
sentido repousa sobre o nada; só
compreendemos privando-nos de existir,
tornando a morte possível, infectando o
que compreendemos com o nada da
morte, de maneira que, se sairmos do ser,
caímos além das possibilidades da morte,
e a conclusão se torna o desaparecimento
de qualquer conclusão.
(Maurice Blanchot – A Parte do Fogo)
A Confissão de Lúcio é aberta, já o dissemos, pelo prólogo
pseudodocumental do narrador autodiegético que, sem propósito algum de
utilidade, decide escrever o seu discurso de defesa após ter cumprido dez anos de
cárcere. Retirado numa vivenda rural, donde não pretende sair até ao momento em
que se dê a sua morte, Lúcio, recém-saído da penitenciária onde cumprira a sua
sentença por acusação de assassinato, declara-se um morto-vivo, conceito que
exige como entendimento o fato de ele se perceber como um ser que já
experimentou todas as sensações, que já vivenciou o momento culminante da
existência, não podendo, por isso mesmo, ter mais nenhum entusiasmo diante da
vida. Aguardando a “morte real”, esse “sono mais denso” (CL, p.415), e morto
metaforicamente, Lúcio, embora negue o projeto de um fazer artístico, mergulha
nas suas memórias envoltas em brumas, ressuscitando, através do exercício
literário, um período do passado que, conforme as suas palavras, condensa toda a
sua vida. Recuperando, via memória, uma série de acontecimentos que o ligam a
Rafael Santana
174
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
artistas cujo percurso existencial é assinalado pelo suicídio ou pela morte por
metáfora, Lúcio readentra o contexto da Paris e da Lisboa finisseculares, que
marcaram sobremaneira a sua juventude boêmia.
Em Paris, Lúcio trava conhecimento com Gervásio Vila-Nova, dandy que,
sinalizando a poesia da sua trajetória de artista, se suicida ao atirar-se nos trilhos
de um comboio. Pregando uma conduta teatral, o dandy exige que a arte se
materialize tanto na obra como na vida, projeto ao qual a personagem de Gervásio
adere e que plenamente concretiza.
Na mesma via do escultor, a sedutora e estranha figura da americana,
também ela um dandy, materializa os seus conceitos artísticos no enredo do seu
meteórico percurso. Na enlouquecedora festa que promove, a “grande sáfica” (CL,
p.359) experimenta, na própria carne, a sua teoria sobre a voluptuosidade/arte,
vindo, após a sua erótica dança lúbrica, a desaparecer misteriosamente para todo o
sempre, assinalando, no texto de Lúcio, uma singularíssima morte por metáfora.
Em Lisboa, a cena parisiense repete-se através do círculo de artistas que
frequentam a casa do poeta Ricardo de Loureiro, escritor que, tendo vivenciado
como expectador os ensinamentos da americana, e sendo ele igualmente um
dandy, vive a sua arte em apoteose ao criar a desconcertante figura de Marta.
Logrando, por algum tempo, o triunfo de existir psiquicamente num corpo
feminino, Ricardo de Loureiro, num desenlace que não poderia ser outro que não
o da tragicidade, sinaliza a poesia do seu próprio percurso de artista, suicidando-se
ao atirar em Marta, seu duplo, suicídio esse altamente controvertido, pois que
resulta numa evidência de assassinato de Ricardo por parte de Lúcio.
Com efeito, o devir-duplo implica necessariamente a morte do ser original.
Segundo Bataille, o duplo, embora seja um desdobramento de um ser primeiro,
diverge sobremaneira daquele que lhe deu origem, não sendo exatamente a sua
cópia, mas a sua metamorfose. Marta, que em princípio é Ricardo em feminino,
Rafael Santana
175
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
chegando inclusive a manifestar inicialmente os mesmos conceitos do poeta, não é
contudo um ser contínuo a ele, revelando-se já um outro, isto é, sendo já também
a marca da sua descontinuidade.
Enfim, em Céu em Fogo, último volume em prosa que Sá-Carneiro
publicou, o tema da morte afigura-se novamente uma obsessão 81 , aparecendo,
com as suas devidas diferenças, nos oito contos que compõem esse conjunto de
textos. É o que veremos a seguir.
4.3
A MORTE EM CÉU EM FOGO
Cada cidadão tem, por assim dizer,
direito à morte: a morte não é sua
condenação, é a essência do seu direito;
ele não é suprimido como culpado, mas
necessita da morte para se afirmar
cidadão, e é no desaparecimento da
morte que a liberdade o faz nascer.
(Maurice Blanchot – A Parte do Fogo)
O primeiro conto de Céu em Fogo, A Grande Sombra, recupera uma
tendência de composição autoral: presença de um narrador autodiegético que não
revela o seu nome e que inicia a sua escrita pela recuperação das memórias da
infância, como vimos detalhadamente no capítulo 3. Em nova revisitação da
estrutura de diário, este conto narra a existência de um ser abúlico, ávido pelo
mistério, que renasce para a vida após cometer uma espécie de assassinato
artístico, cravando um punhal, incrustado de gemas preciosas, no peito de uma
mulher mascarada que conhecera num baile de carnaval em Nice e com quem se
relacionara sexualmente. Findo o acesso espasmódico, o personagem-narrador, na
ânsia de fixar o instante triunfal da volúpia, mata a exótica amante e deforma-lhe,
por debaixo da máscara, a face incógnita, perpetuando o enigma de copular com
um rosto que nunca vira. Tal crime, cometido no intuito de eternizar o mistério
81 Não há, nos contos de Céu em Fogo, uma obsessão pelo suicídio, como na série Princípio,
mas há igualmente uma sedução pelo tema da morte.
Rafael Santana
176
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
que pairava por sobre a dandy desconhecida, desperta o protagonista da
monotonia em que vivia até então, levando-o à experimentação de uma espécie de
orgasmo duradouro. Ora, segundo Bataille, a morte da vítima sacrificial permite
ao indivíduo descontínuo uma efêmera experiência de continuidade. Noutras
palavras, a morte violenta promoveria, por um tempo parcial, a ruptura da
descontinuidade do ser que subsiste e daquele que fenece. Ora, é precisamente a
isso a que assistimos em A Grande Sombra.
Após algum tempo de vivência em estado de encantamento, o
personagem-narrador começa, outra vez, a manifestar sinais de abulia, até que
essa condição é superada pelo o aparecimento de um ser que novamente o seduz:
o Lord Ronald Nevile. Encarnando o mistério, o Lord inglês – com atitudes de
dandy – afigura-se ao narrador-protagonista uma personalidade enigmática,
despertando-lhe a um só tempo o desejo paradoxal de decifrar e de manter o
segredo do desconhecido. Sentindo ter, sem o saber explicar conscientemente,
uma ligação passada com o homem que acabara de conhecer, pergunta-se o
personagem-narrador: “Que terá a minha vida com a desse estranho?” (CF,
p.450). Ou ainda: “É certo – mais que certo: qualquer coisa de horrível, de
alucinante, me encadeia a esse homem. Não sei bem o quê, ainda...” (Ibidem,
p.453, grifos meus). Após uma série de incursões psicológicas, e manifestando
uma atração claramente sexualizada pelo Lord Inglês, o narrador-personagem
revela, abruptamente, que “– O LORD É A MORTE DA RAPARIGA
MASCARADA” (Ibidem, p.456), que, de forma fantasmática, pareceria ter
ressurgido, através de um duplo masculino, para o atormentar: sedução, morte,
erotismo, formas de encadear os seres, de estabelecer entre eles a continuidade
perdida.
A respeito da morte nos escritos de Mário de Sá-Carneiro, Fernando
Cabral Martins, na linha dos estudos de Bataille, sinaliza que “o tema do duplo,
em todas as suas variantes, transporta consigo a morte, sua outra face” (1997,
Rafael Santana
177
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
p.322). Assim, o Lord Inglês, que é nomeadamente considerado um duplo da
mulher mascarada do carnaval de Nice, se institui metaforicamente como a
imagem da morte desta última. Sempre em busca de ungir a sua vida com a
sombra (mistério), o narrador-protagonista, ao final do conto, sugere a
possibilidade de ir até ao suicídio, enxergando nesse ato um modo de extinguir-se
em apoteose. Na esteira do que se vinha desenvolvendo nos contos da série
Princípio, a narrativa Céu em Fogo se abre com um texto que revivifica os temas
da morte e do suicídio, formas intensas de comunhão com o mistério.
O segundo conto da coletânea de Céu em Fogo intitula-se precisamente
Mistério e narra a estória de um personagem cujo nome não é mais uma vez
revelado, a quem o narrador chama, simplesmente, o artista. Conto que trabalha
com o tema das complexidades psicológicas e dos estados d’alma, Mistério
recompõe uma das obsessões de Sá-Carneiro: a composição de personagens cuja
trajetória os define como sujeitos dilacerados e sem nenhum entusiasmo diante da
vida: “A sua alma de hoje era toda vidros partidos e sucata leprosa” (CF, p.462),
assinala o narrador. Estilhaçado, partido em cacos, sentindo-se náufrago e sem
porto possível, o artista, em discurso direto, afirma angustiadamente a sua
impossibilidade de “ancorar-se”: “– Todo o meu sofrimento provém disto: sou um
barco sem amarras que vai bêbado ao sabor das correntes. Se conseguisse lançar
âncoras... Mas aonde... aonde?...” (Ibidem, p.465, grifos meus). Tal como Álvaro
de Campos, poeta e engenheiro marítimo que transforma as imagens do mar, do
porto e do cais em metáforas da sua complexidade de alma, e que, após espasmos
de êxtase, desemboca, quase sempre, num estado depressivo de abulia, também o
artista criado por Sá-Carneiro se vê perdido diante do “sonho dum porto
infinito 82” (PESSOA, 2006, p.113), que se lhe afigura inalcançável.
82 Este verso é de Fernando Pessoa ortônimo, mas tem em comum com os versos de Álvaro
de Campos a imagem do porto, sempre tão presente na sua poesia.
Rafael Santana
178
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Angustiado diante da existência, o artista pensa em cometer o suicídio,
mas não tem coragem o suficiente para efetuar o ato. Na verdade, sendo ele um
artista, é como se as suas sensações já lhe surgissem, de antemão,
intelectualizadas. Noutros termos, é como se todos os seus sentimentos fossem
literários, fato que o narrador-onisciente faz questão de frisar: “Mas é que, na
realidade, ele nem mesmo sofria. Pois no seu espírito tudo se alterava diluído em
literatura. Das suas dores motivadas e das suas tristezas imateriais, apenas
trouxera obras-primas” (CF, p.467). Fernando Pessoa escreveu, em 1931, o já
clássico verso “O poeta é um fingidor” (2006, 164), conceito sobre o qual Mário
de Sá-Carneiro já havia discorrido em 1913 através do personagem de Mistério –
artista –, para quem as dores reais só podem ser sentidas em metáfora.
Por outro lado, cabe frisar que com tantas referências ao suicídio e com o
tema do duplo a pairar por toda parte, seria ponderável considerar que o narrador
não identificado de Mistério cria no personagem um duplo de si mesmo, numa
alterização do eu em ele. Assim, a onisciência discursiva pareceria justificar-se
mais coerentemente, porque eu e ele são na verdade espelhos um do outro, e o
personagem é tão somente um modo de complexizar a subjetividade. A esse
respeito, diz Fernando Cabral Martins:
Mistério é o encontro da «velada subtil», aquela que não está a um abismo de
distância e encarna a possibilidade de um «tu». Mas é ela a irmã de um
«estrangeiro» – o mesmo esquema de desdobramento homem-mulher da
Confissão de Lúcio, com verossimilhança realista – com quem o «artista»
estabelece uma relação prévia que é já de amizade – como entre Lúcio e
Ricardo. Porém, mais uma vez, a amizade é um devir-duplo, é a revelação da
unidade na duplicidade: a ideia de isolamento é referida, primeiro pelo
«artista» depois pelo «estrangeiro», quase repetindo as mesmas palavras, e há
uma ideia que é partilhada pelos dois, a do desejo de enlouquecer. Ideia que é
realizada pelo «poeta doido» que habita em frente da vila do artista e da irmã
do estrangeiro – numa relação de face a face que é, de novo, especular.
Assim, a circulação dos afectos só pode fazer-se através de uma rede de
duplos sucessivos, da qual se torna parte a própria «velada subtil». A unidade
que parece reger essa circulação é a do labirinto de um mundo interior, do
qual, de facto, não se chega a sair.
(MARTINS, 1997, p.243-244)
Rafael Santana
179
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Interessando-se pelo lado oculto da vida, esse personagem-artista de SáCarneiro busca compreender a alma, os sonhos, os delírios e a loucura, enigmas
ainda por desvendar. Muito ironicamente, o narrador diz que esse sujeito
complexo sempre desejou, no avesso do seu espírito, ser como a “gente média, a
gente feliz...” (Ibidem, p.269), fascinação que diz bem da dor pungente de ser o
avesso de tudo isso, estrangeiro em toda parte, para fazer eco a Álvaro de
Campos. O conto desemboca então numa espécie de romantismo fora de lugar,
aparentemente incompatível com o hipersensível estado psicológico do artista
que, estranhamente, diz almejar encontrar uma companheira com quem pudesse
dividir a sua alma, espécie de anseio à moda de Cesário Verde, que sonha com
castíssimas esposas que aninhem em mansões de vidro transparente. Assim é
que o personagem se casa e o narrador, num sarcasmo implícito, afirma que o
artista, a partir de então, vivia em plena felicidade: “Ah! como se encontrava
radiosamente feliz, hoje... Tinha côncavos de mãos brancas sadias, onde
mergulhar os seus dedos ansiosos” (Ibidem, p.472). Contudo, pouco dura o ledo
estado do personagem, começando ele a manifestar a ânsia de que a sua alma e a
da mulher amada gozassem de uma comunhão total: mais uma vez essa ânsia de
absoluto, ânsia de continuidade que só a morte é capaz de oferecer.
O conto se encerra com a morte misteriosa do casal, cujos corpos são
encontrados intactos, sem sinal algum de violência. Não estamos longe aqui das
reflexões de Georges Bataille, para quem toda paixão, todo ato extremo de amor é
profundamente marcado por um gosto de morte. O desejo de reafirmar a vida
através da fusão com o outro implica um desejo de aniquilamento de si mesmo (e
do outro), leitura que condiz perfeitamente com o desfecho de Mistério.
No grande leito, serenamente, dormiam os amorosos. Apenas os seus corpos
estavam rígidos e frios. Mas nem um sinal de violência, uma beliscadura.
Pelo quarto, nenhum vestígio de luta. Tudo no seu lugar. As joias sobre o
toilette. Nem uma arma. Nem mesmo um frasco que pudesse ter contido um
líquido venenoso. Coisa alguma enfim, coisa alguma.
(CF, p.475)
Rafael Santana
180
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Por outro lado, no que tange aos aspectos científicos do texto, a única
testemunha das investigações policiais é, muito ironicamente, um vizinho do
casal, a quem todos chamam o poeta louco, o que nos coloca novamente diante da
tensão loucura (sonhos, delírios, mundo inconsciente e insciente) versus razão,
sempre tão presente na literatura de Sá-Carneiro. Passando a noite inteira agitado
e sem sono, o poeta louco afirma ter visto, durante a madrugada, sair da janela do
quarto do jovem casal “uma grande e estranha chama [...] uma forma luminosa
que galgara o parapeito e que, num espasmo arqueado, numa ondulação difusa,
ascendera, voara perdida” (CF, p.474). Essa é a única informação que consta do
inquérito da polícia, que se encontra diante de um caso irracional, e, portanto, sem
solução. Investindo no mistério, Sá-Carneiro rompe com as bases de um mundo
racionalmente explicável, a comprovar que o sonho, a angústia e a inquietação,
com a possibilidade latente de criação de um mundo novo, são a dimensão
grandiosamente absurda da existência carregada de uma grandeza que ultrapassa a
contingência e a pequenez humanas.
O terceiro conto de Céu em Fogo intitula-se precisamente O Homem dos
Sonhos. Trata-se do relato de um narrador homodiegético que não revela, nem o
seu nome, nem o do personagem principal. Narrador e personagem mais uma vez
em inevitável espelhamento, de tal modo que o que consideramos como narrador
homodiegético seria uma máscara de autodiegese, para retomar as definições
clássicas de Gérad Genette em Figures 3. E, já agora, essa primeira estratégia de
espelhamento (narrador-personagem) anunciaria, quiçá a posteriori, uma escrita
de evidência autobiográfica com um segundo espelhamento, já então entre
narrador e autor, que seria, ele próprio, um homem dos sonhos.
Morto metaforicamente para a vida, o personagem que o narrador
apresenta é o grande objeto da sua sedução, pelo fato de ter descoberto como criar
mundos alternativos no campo do onírico, sendo, por isso mesmo, capaz de
vivenciar a realidade que bem imaginasse quando e onde desejasse. Deste modo,
Rafael Santana
181
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
cria ele universos onde a lógica binária é abolida e onde as coisas não são
simplesmente o que são, porque pressente um mundo onde não haveria apenas
dois sexos, onde a cor não é cor e onde tudo é variedade.
Urdido a partir de expressões dubitativas, o conto O Homem dos Sonhos
apresenta um discurso em primeira pessoa tecido sobre um outro espelho de si,
construindo um afastamento estrutural que evita o caráter totalizante do relato da
onisciência de um narrador em terceira pessoa que tudo sabe. Falando de si sobre
um outro de si, a relação do saber torna-se muito mais complexa, porque se traduz
num jogo fascinante de contiguidade e afastamento.
O narrador apresenta-se como um estudante de medicina absolutamente
falido, o que, por si só, já aponta para a ideia da rejeição ao modelo utilitarista
burguês, assentado na ética do trabalho. O personagem principal, cujo nome não
se sabe qual é – “Nunca soube o seu nome. Julgo que era russo” (CF, p.476) –,
nos é descrito como uma personalidade original e interessante, marcada pela
estranheza no campo do pensamento, no uso das palavras e por uma extravagância
nos gestos deveras singular. Assim sendo, o homem de nome desconhecido
afigura-se ao narrador como a própria encarnação do mistério. Este homem dos
sonhos, estranhamente feliz, compreende paradoxalmente que a vida é “uma coisa
horrível” e, por isso mesmo, passível de tornar-se bela. Rejeitando a plenitude da
existência daqueles que tudo têm – “saúde, dinheiro, glória e amor” (Ibidem,
p.476) –, o homem dos sonhos manifesta a consciência de que a maior desgraça
humana reside na impossibilidade de desejar. Na sua concepção, o mundo é um
lugar medíocre, porque limitado a ínfimas possibilidades: “na terra, o que não for
animal ou vegetal é sem dúvida mineral” (Ibidem), diz ele, artista que suporta
ainda menos a inconcebível ordem binária das coisas, como os sentimentos que se
reduzem a amor e ódio, as sensações a alegria e dor; na vida, tudo “anda aos pares
como os sexos” (Ibidem, p.477); e lamenta-se, questionando: “conhece coisa mais
dolorosa do que isto de só haver dois sexos?” (Ibidem).
Rafael Santana
182
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Monótona nas cores e nas paisagens, sempre as mesmas, a natureza é, em
si, muito limitada: “Eu tive um amigo que se suicidou por lhe ser impossível
conhecer outras cores, outras paisagens, além das que existem. E eu, no seu caso,
teria feito o mesmo” (Ibidem), diz o dominador dos sonhos ao narrador, afirmando
ainda ter alcançado a felicidade justamente por conhecer outras cores, outros
panoramas: “Eu conheço o que quero! Eu tenho o que quero!”, conclui.
Abominando o natural, ou seja, o quotidiano, o corriqueiro, o banal, o real
propriamente dito, esse indivíduo sui generis cria toda uma realidade alternativa
no universo dos seus sonhos e da arte. Rechaçando a existência real, para o
homem dos sonhos “o maior vexame que existe é viver a vida”, porque “ a vida
humana é uma coisa impossível – sem variedade, sem originalidade” (Ibidem). De
acordo com o artista, “apenas o que não existe é belo” (Ibidem), pois só no mundo
onírico é possível viver de forma plena. Tendo logrado dominar os sonhos, diz
ele: “Sonho o que quero. Vivo o que quero” (Ibidem, p.478), o que aponta para a
ficção como a única porta de saída da mediocridade.
Como se vê, viver num mundo de sonhos é, pois, uma forma de ungir a
vida com a magia do mistério: o sonho é, para o artista, a via possível da
metamorfose, porque, escapando à contingência do real, cria no plano onírico e
estético um modo de constante renovação. Para o homem dos sonhos, somente no
mundo onírico o indivíduo seria capaz de ultrapassar a realidade mais limitada,
mais precária, contemplando um universo outro, onde a marca da impossibilidade
não tem vez nem lugar. No espaço quimérico, rompe ele com a ordem binária da
existência, experimentando transitar por entre mundos onde não há luz – lembrese que na obra de Sá-Carneiro a luz é, muitas vezes, metáfora da realidade –, onde
não há apenas dois sexos; onde há outras cores; outros aromas; onde há uma
atmosfera na qual, inusitadamente, se respira música e não ar; onde, enfim, a alma
e não o corpo seria o invólucro visível.
Rafael Santana
183
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Manifestando uma verdadeira aversão ao natural, tal qual o artista
decadentista, e amante declarado do artificial, do cultural, isto é, da realidade
criada, inventada e reinventada, o dominador dos sonhos também despreza a
carnalidade natural do contato dos corpos e os seus fluidos viscosos, forjando uma
nova forma de gozar dos prazeres do sexo, sem que para efetuar tal ato fosse
necessário o contato entre os membros genitais, vinculados, pelo senso comum, ao
campo do prazer. Deslocando o sentido da visão da sua funcionalidade primeira –
enxergar –, o homem dos sonhos excita os poderes dos seus olhos eróticos, tornase voyeur, fazendo deles instrumentos através dos quais se torna possível alcançar
o gozo máximo. Distanciado da esfera das experiências parciais e precárias da
abominável natureza, o sexo, de acordo com o homem dos sonhos, é vivenciado
na sua integridade, num espasmo que não se poderia lograr por meio da
experiência erótica mais trivial. Universo infinito e inesgotável, os sonhos
permitem que o indivíduo empreenda uma espécie de ultrapassagem da vida, do
real, lição que o protagonista, dandy, deixa como legado ao seu admirador: “– A
vida é um lugar-comum. Eu soube evitar esse lugar-comum. Eis tudo” (Ibidem,
p.480).
Atraído pela superexistência mental que o homem dos sonhos cria no seu
mundo imaginário, o narrador, absorvidas as lições do mestre, chega à conclusão
de que o interessante da vida humana é morrer metaforicamente, criando
existências outras, quimerizadas, no campo da fantasia, universo onde tudo é
possível. Na esteira do inconsciente, do sonho e das complexidades psicológicas,
temáticas tão caras ao Modernismo e a Orpheu, o conto O Homem dos Sonhos
constrói-se a partir da ideia da recusa à realidade empírica, vulgar e sensabor,
apresentando o sonho como uma grande via de metamorfose. Tal qual Fênix, ave
mitológica que renasce das cinzas, é, pois, através da morte real ou metafórica que
muitos dos personagens de Mário de Sá-Carneiro despertam para a grandiosidade
da vida, para a arte.
Rafael Santana
184
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Segundo Bataille, toda pulsão erótica pressupõe um movimento cíclico
entre vida e morte. Se a vida gerada a partir da reprodução sexuada tem como
consequência iniludível a morte do espermatozoide e do óvulo, e se essa morte
simboliza o surgimento de uma nova vida, também a arte – igualmente erótica –
pressupõe a morte do indivíduo ôntico, que renasce como artista, perpetuando o
seu nome nos anais da História. O sujeito como identidade privada é abolido em
prol de um bem maior que é a própria arte – orgasmo contínuo e materializado –,
produto não de um indivíduo particular, mas de um homem público. Noutras
palavras, a arte permite ao ser humano a superação da descontinuidade, pois é
somente através da morte que tal superação se torna possível. Assim, Georges
Bataille, na esteira do pensamento de Sigmund Freud, assinala que Eros e
Thanatos são dois conceitos inseparáveis, uma vez que a pulsão de vida (Eros)
sempre acarreta o desaparecimento de algo (Thanatos) para que o novo possa
surgir. Eros e Thanatos são forças motrizes, que possibilitam ao homem a
superação da angústia da descontinuidade, na medida em que a morte gera a vida
e vice-versa. No caso de um artista – herói de uma comunidade – a sua morte
"garante a perenidade do seu nome, tornando-se, destarte, um arquétipo, um
modelo exemplar" (BRANDÃO, 2010, p.67) para aqueles que desejam superar a
sua limitada condição humana, sobrevivendo na memória dos homens.
Em Asas, texto cujo título sugere algo de tão leve e de tão etéreo como o
vento, um narrador em primeira pessoa isenta-se de narrar a sua história em prol
da historia de um outro, apresentando-nos o personagem de Petrus Ivanovich
Zagoriansky, poeta russo – mais um artista refinado da coleção sá-carneiriana –
que almeja lograr a construção de versos perfeitos, sobre os quais a gravidade
não tenha ação. Trata-se de um conto que promove toda uma reflexão sobre a
arte, em especial a literatura, e, para o caso, arte e literatura modernas, inscritas
nas correntes cosmopolitas e contemporâneas de Sá-Carneiro. Datado de outubro
de 1914, mas tendo sido publicado em pequenos fragmentos desde janeiro de
1913, o conto Asas é certamente um ensaio em prosa, ou melhor, o
Rafael Santana
185
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
desenvolvimento da teoria poética que daria origem aos poemas mais
significativos de Sá-Carneiro, que integram os conjuntos Dispersão, Indícios de
Oiro e Últimos Poemas. No conto Asas, o poeta Zagoriansky está em busca de
uma arte fluida:
– Uma arte fluida, meu amigo, uma arte gasosa... Melhor, meu amigo, melhor
– gritava-me Zagoriansky no seu gabinete de trabalho, aonde pela primeira
vez me recebia – uma arte sobre a qual a gravidade não tenha ação!... Os
meus poemas... os meus poemas... Mas ignora ainda! Coisa alguma prenderá
os meus poemas... Quero que oscilem no ar, livres, entregolfados –
transparentes a toda a luz, a todos os corpos – sutis, imponderáveis... E hei-de
vencer!... Não atingi a Perfeição, por enquanto... Bem sei, restam escórias nos
meus versos... Por isso a gravidade ainda atua sobre eles... Mas em breve...
em breve... ah!...
(CF, p.490, grifos do autor)
Repare-se no uso do vocábulo escórias para definir o não alcance da
perfeição poética. No fundo e na superfície, Mário de Sá-Carneiro já refletia sobre
a estética do poema desde 1913, quando de fato começou a escrever poesia mais
seriamente. A busca do ouro absoluto é uma constante da sua obra poética, e não é
por acaso que o escritor pretendia reunir, sob o título de Indícios de Oiro
(conjunto publicado postumamente por iniciativa dos presencistas), alguns dos
poemas que publicou, em 1915, no primeiro número da revista Orpheu. Sabemos
que as escórias são os resíduos que se formam aquando da fusão dos metais, e
Indícios de Oiro é um título metafórico, que aponta a um só tempo para a busca
incompleta e para o logro parcial do metal lavrado. Fundindo palavra com
palavra, Mário de Sá-Carneiro promove a união dos seus metais-metáfora no
texto, visando a alcançar o máximo grau de abstração através da poesia. Buscando
“obter a Perfeição – ‘esse fluido’” (CF, p.490), Zagoriansky quer plasmar uma
arte gasosa, compondo poemas em que as palavras estão tão milimetricamente
encaixadas, e formando um conjunto tão harmônico, que a introdução de qualquer
outro elemento faria desmoronar todo o construto do texto.
Rafael Santana
186
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Na busca de escrever poesia com ideias, com sons, com sugestões de
ideias e com intervalos, Zagoriansky intenta estetizar o volátil por meio da
formulação de uma poética do ar, que propaga a ânsia de reproduzir o acelerado
movimento do mundo moderno através de palavras leves e céleres. Ao fim e ao
cabo, o poeta russo ficcional repensa a ética e a estética da poesia, na busca de
poemas que lograssem inscrever simultaneamente a intensidade da vida moderna
e o olhar inebriado do indivíduo que transita, em vertigem, pela cidade caótica e
sedutora, lançando-se em meio a multidões, cafés, bulevares, music halls, fábricas
titânicas, automóveis velozes e notícias de última hora, rapidamente divulgadas
em todos os meios de comunicação. É esta modernidade do movimento acelerado
que o poeta Zagoriansky quer inscrever em poesia, deparando-se contudo com a
imperfeição, com o intervalo, com o vácuo da escrita.
Desde a primeira página do texto, o poeta russo é apresentado como um
ser “vago”, “litúrgico” e ungido pelo mistério. Inebriado por ele, como sói
acontecer aos narradores de Céu em Fogo, o narrador deste conto se torna um
grande amigo do poeta e da sua família, com quem goza as horas de lazer. Anos
se passam, e Zagoriansky continua a polir os seus versos, cuja perfeição nunca é
evidentemente atingida. Um dia, inesperadamente, o poeta afirma ter enfim
concluído a sua obra, sobre a qual a gravidade já não atuava mais. Para surpresa
do narrador – que almejava ler aquela que seria a escritura mais original e genial
do mundo – o caderno do poeta encontrava-se praticamente vazio, restando dela
apenas um curto trecho introdutório.
Em A Parte do Fogo, Maurice Blanchot discorre sobre a literatura e o
direito à morte, fazendo-nos perceber que o literário “se edifica sobre suas ruínas”
(1997, p.292). Refletindo oximoricamente sobre a escrita e o lugar do vazio, o
teórico assinala que o nada da escrita é inusitadamente o lugar onde “tudo começa
a existir: grande prodígio” (Ibidem).
Rafael Santana
187
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
O escritor que pretende se interessar apenas pela maneira como a obra é feita
vê seu interesse afundar no mundo, perder-se na história inteira; pois a obra
se faz também fora dele, e todo o rigor que depositou na consciência de suas
operações meditadas, de sua retórica refletida, é logo absorvido no jogo de
uma contingência viva que ele não é capaz de dominar ou mesmo perceber.
Todavia, sua experiência não é nula: escrevendo, ele próprio se experimentou
como um nada no trabalho e, depois de ter escrito, faz a experiência de sua
obra como algo que desaparece. A obra desaparece, mas o fato de
desaparecer se mantém, aparece como essencial, como o movimento que
permite à obra realizar-se entrando no curso da história, realizar-se
desaparecendo. Nessa experiência, a real meta do escritor não é mais a obra
efêmera, mas, além da obra, em que parecem se unir o indivíduo que escreve,
poder de negação criador, e a obra em movimento, com a qual se afirma esse
poder de negação e superação.
(BLANCHOT, 1997, p.297-298, grifos meus)
O estágio de perfeição atingido pelo poeta russo criado por Sá-Carneiro
coincide com o desaparecimento da sua obra e com a intensificação da sua loucura
(mortes por metáfora). Noutros termos, é a morte, ou melhor, o vazio das
palavras, que as torna paradoxalmente plenas de sentido, porque o “vazio é seu
próprio sentido” (Ibidem, p.300). Consciente de que a linguagem literária é feita
de inquietudes, Blanchot chega à conclusão de que “Somente a morte me permite
agarrar o que quero alcançar; nas palavras, ela é a única possibilidade de seus
sentidos. Sem a morte, tudo desmoronaria no absurdo e no nada” (Ibidem, p.312).
E é precisamente com a morte que a obra do poeta Zagoriansky se realiza
desaparecendo.
Em Da Soberba da Poesia (2012), Marcos Siscar também se debruça em
reflexões sobre a linguagem e a morte, assinalando que a poesia moderna, de
Baudelaire a Mallarmé, dos modernistas aos surrealistas, pressupõe uma
inevitável experiência da queda ou do afundamento. Se os artistas finisseculares e
modernistas assumiram não raro a máscara da frivolidade e da indiferença,
escrevendo e inscrevendo-se sob o signo da rareza – “O meu destino é outro – é
alto e é raro” (DI, p.11) – isto não pressupõe contudo que eles tivessem gozado do
privilégio de um eterno “estar nas alturas” ou do alcance da totalidade, pois é
dramatização da consciência do falhanço, ou melhor, o gesto sacrificial e
Rafael Santana
188
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
teatralizado de esmagar-se a si próprios que caracteriza a experiência da soberba
do poeta de da poesia modernos.
A altura não nos garante exatamente um patamar panorâmico sobre o qual
teríamos a prerrogativa (estética) do sentido da totalidade; ela está sempre na
iminência do chão, porque é dele e em relação a ele que se distingue, e viceversa [...]. Ao conceber-se num lugar de falha, experiência a ser protegida em
seu estranho naufrágio – para algum ato “raro”, eventualmente o da
abstenção do sufrágio, um “não se sabe qual” –, a poesia, como um “lustre”
(figura tão apreciada por Mallarmé), busca iluminar nosso lugar comum
esvaziado, todo ele composto de falhas não nomeadas, não reconhecidas,
eventualmente ocultadas e reprimidas.
(SISCAR, 2012, p.65, grifos do autor)
Manifestando sinais de loucura e de violência intensas (morte lenta de
quem se autoconsome), Petrus Ivanovich Zagoriansky é internado num sanatório,
assinalando o conto Asas uma morte artístico-simbólica, conquistada por meio da
perda da razão: a perfeição que o poeta supostamente atingira se inscreve na
consciência da falha, no desaparecimento da obra, no alcance da loucura. Com
efeito, a loucura em Sá-Carneiro não deve ser entendida como o oposto do
racional ou como a mera negação do mundo cientificista, mas sim como a
conquista da própria arte, uma vez que, para o Esfinge Gorda, somente os grandes
artistas são os detentores da capacidade de ascender a vida em apoteose, logrando
o triunfo de ungir a sua existência com o belo, que estaria para fora dos limites do
senso comum. Também em Pessoa a loucura é um bem e uma conquista, é aquilo
que é próprio da grandeza humana e separa o homem da besta sadia, cadáver
adiado que procria. Por outras palavras, o homem, reduzido à sua animalidade de
viver, está sujeito a existir e procriar. Mas se em Pessoa a dinâmica da loucura
devolve como ganho um saldo épico, em Sá-Carneiro, a loucura será antes de tudo
a do artista que ultrapassa a mesmice do homem comum.
Em Eu-Próprio o Outro, apresentam-se-nos pequenos excertos do diário
de um sujeito dilacerado, cujo nome não é revelado em nenhum momento da
narrativa. Insisto nessa obliteração quase absoluta dos nomes dos personagens
como uma estratégia capaz de permitir a fluidez na passagem metafórica entre
Rafael Santana
189
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
personagem/narrador/autor! Personalidade complexa, o narrador-diarista, que
manifesta uma aversão declarada ao senso comum, busca seduzir-se através da
criação de outros de si: “Serei eu uma nação? Ter-me-ia volvido um país?...” (CF,
p.504), pergunta-se ele.
Ao travar conhecimento com um artista genial, o personagem-narrador,
que almeja ser uma grande personalidade, começa a passar por um lento processo
de dispersão identitária, tornando-se outro por meio de uma espécie de
vampirização em que o ser do mestre é gradualmente sugado pelo discípulo.
Logrando ser o outro, num jogo de alteridades que encontraria na heteronímia
pessoana a sua radicalização, mas de certa forma incomodado com a perda da sua
própria identidade/individualidade, o narrador do diário termina por dizer que
matará o ser alheio e autônomo que existe dentro de si, o que poderia ser lido,
simbolicamente, como o anúncio do seu suicídio.
Se o duplo pressupõe a morte do ser original, o conto Eu-Próprio o Outro
trabalha tanto com o tema da morte por metáfora (dispersão identitária = morte do
eu) quanto com o da morte por suicídio, temas absolutamente caros à exploração
literária de Mário de Sá-Carneiro.
Em A Estranha Morte do Professor Antena, encontramo-nos, como na
novela A Confissão de Lúcio e no conto Mistério, diante de um texto pseudocientífico-documental. Como já referimos no capítulo anterior, o narrador
anônimo, passado um ano da morte do seu mestre, o Professor Domingues
Antena, afirma ser capaz de revelar, a partir de provas factuais, os acontecimentos
que levaram o pesquisador a morrer de forma tão misteriosa.
Mais artista do que cientista, o professor Antena mostra-se, nas palavras
do seu discípulo, interessado pelo ocultismo e pelo mundo da magia. Revelando
preocupações místico-científicas, o Mestre Antena, após diversas pesquisas, chega
à conclusão de que os seres humanos passam por vidas sucessivas, mas que
Rafael Santana
190
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
existem sobrepostas. Conforme as suas palavras, adaptando-se a uma nova
existência, o órgão correspondente à encarnação anterior morre, não
possibilitando ao homem a reminiscência da vida passada, fenômeno que,
segundo ele, ocorre sucessivamente, à medida que o ser passa por uma nova
experiência carnal. Contudo, se algum ente, de alguma das vidas sobrepostas,
conseguisse, artificialmente, tornar os seus órgãos sensíveis à outra vida anterior,
seria capaz de transitar livremente por ela. O ser humano que adaptasse os seus
órgãos a todas as vidas, vivendo-as universalmente, transformar-se-ia então numa
espécie de Deus, experiência que, de acordo com o discípulo do Professor Antena,
o Mestre fizera pouco antes de morrer.
Ora, não obstante a ironia de um conto que se diz científico e documental,
mas que envereda por temas místicos e ocultistas, e que se constrói, todo ele, a
partir de expressões dubitativas e de vocábulos hipotéticos – “admitamos como
provado” (CF, p.522), “aceite a hipótese” (Ibidem, p.525), “admitido como
verdadeiro” (Ibidem, p.527), “se aceitarmos” (Ibidem, p.529) – há de se pensar
também no sentido da morte do professor Antena, diante de um contexto artísticocultural que já começava a descrer do mito da ciência e das benesses do progresso,
como aquele em que vivia Mário de Sá-Carneiro. A meu ver, o fim trágico do
cientista acena para uma crítica ao progresso científico-tecnológico desenfreado e
à utopia de um mundo que, apostando nas benesses da técnica, levou a
humanidade à penúria e ao caos talvez nunca dantes vistos em tamanha
intensidade.
Por outro lado, cabe acentuar também que a tragicidade que se abate sobre
muitos dos personagens de Sá-Carneiro é justamente o elemento capaz de conferir
poesia à sua existência, selando, em apoteose, o seu percurso de artistas. Deste
modo, a morte do professor Antena, opondo-se à mera ciência e ligando-se a uma
inusitada ciência do sonho, do inexplicável, poderia ser lida como o ponto
culminante de uma teoria da experiência do todo só concedida a Deus. O
Rafael Santana
191
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
professor Antena morre – como acentua o seu discípulo fascinado pela ciência do
sonho – talvez como Deus, diga-se, como artista, como louco, porque logrou tocar
o absoluto. Por outras palavras, a ciência antipragmática do sonho que o Mestre
Antena criara enquanto homem permitiu-lhe vencer o lugar-comum, mira final do
protagonista de O Homem dos Sonhos, bem como a de todos os personagens
romanescos da galeria sá-carneiriana.
Em O Fixador de Instantes, assistimos a uma reflexão, sempre muito
presente em Sá-Carneiro, sobre a formulação de estratégias para burlar o fluxo do
tempo. O conto é aberto pela voz de um narrador autodiegético, que afirma ter
despertado dentro de si a mais bela capacidade artística: a de fixar, a de eternizar
os instantes efêmeros de beleza:
Como seria grande aquele que lograsse realizar a vida!, dar forma,
persistência, a todos os momentos belos fulvos de angústia – em todo o caso
grandes, sensíveis – que alguma hora existisse!... Para tal a vida criaria novas
dimensões; seria altura, vertigem, ela que é só superfície...
Erguer a vida, sim, erguê-la em ameias de ouro e bronze, engrinaldá-la de
mirtos, se quiséssemos, e podê-la enfim tocar... dar resistência às bolhas do
gás fantástico, à espuma loira do champanhe – ter tido e ter! Glória máxima!
Apoteose!
Pois bem – voos de triunfo! –, eis no que reside o meu segredo; é essa a
minha arte, arte perdida que admiravelmente venci!
Sim!, eu acastelo a vida em ânsias eternizadas. Ergo dela aquilo que me
sentiu – ou belo ou doloroso, ou real ou falso!
(CF, p.531)
Fazendo do desejo de guardar os instantes de beleza um exercício
contínuo, tal qual o faria o narrador proustiano de À la Recherche du Temps
Perdu, o personagem-narrador diz não inscrever simplesmente a sua arte de
fixação do tempo nas linhas frágeis e voláteis da memória, mas petrificar,
intencionalmente, os seus instantes, a partir do acúmulo de imagens que, de forma
assaz diferenciada, busca gravar na mente. Assim, percorre ele a grande capital
latina na ânsia de fixar as suas figuras heráldicas (pontes e monumentos), bem
como toda a sua agitação quotidiana, através da memorização ou, mais
precisamente, do acúmulo de cartazes e de anúncios. Diferentemente do
heterônimo pessoano Álvaro de Campos que lamenta não ter trazido o passado
Rafael Santana
192
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
roubado na algibeira, o personagem de Sá-Carneiro diz, com orgulho: “Ai, como
eu me envaideço, como deliro nas minhas estátuas!, como sou rico ao percorrê-la
nas galerias infindáveis!... Porque tenho um passado, sim, eu tenho o passado!
Fixei a hora, posso tornar a vê-la” (CF, p.534, grifos do autor).
O Fixador de Instantes também propõe uma reflexão sobre outro
problema. Se ao artista é possível driblar o fluxo do tempo a partir do acúmulo de
imagens e de pequenos objetos (fetiches) que possibilitam a reminiscência, como
fixar o instante espasmódico do sexo, tão célere na sua própria natureza? O
personagem de Sá-Carneiro encontra a saída para essa incógnita no assassinato
que, segundo ele, é capaz de manter viva a chama do orgasmo, esta espécie de
pequena morte. Segundo Bataille, todos os seres humanos, descontínuos que são,
“se esforçam paradoxalmente para continuar na descontinuidade. Mas a morte,
pelo menos a contemplação da morte, entrega-os à experiência da continuidade”
(1987, p.78, grifos meus). Ora, contemplando a morte do outro, o fixador de
instantes supera a angústia da descontinuidade de si mesmo, perpetuando, através
do assassinato (Thanatos), o instante gozoso da pulsão erótica (Eros).
O último conto de Céu em Fogo intitula-se Ressurreição. Bastante longo,
este texto, além de apresentar uma série de elementos atrelados à biografia de
Mário de Sá-Carneiro, também dá conta de uma reflexão sobre o dandismo, sobre
o homoerotismo e sobre as artes finissecular e moderna, temas que serão tratados
mais pormenorizadamente em capítulos posteriores. Aqui, cabe apenas discorrer
sobre a relação que Ressurreição estabelece com o tema da morte.
Na verdade, a morte surge, neste conto, atrelada, como em tantos outros
escritos de Sá-Carneiro, a Eros e Thanatos. O enredo gira em torno de uma
relação homoerótica triangular – Inácio – Paulette – Etienne –, que se efetiva por
meio da mediação psicológica do fantasma feminino. Morta, Paulette (recorrência
e variante de Marta de A Confissão de Lúcio) continua a ser o objeto do desejo de
Inácio e Etienne, possibilitando a união homoafetiva entre ambos. Se, consoante
Rafael Santana
193
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
as palavras de Bataille, o erotismo é a aprovação da vida até na morte, a metáfora
do texto de Sá-Carneiro poderia indicar que um impulso de morte (Thanatos) foi
capaz de gerar um impulso de vida (Eros), uma vez que Paulette ressuscita,
simbolicamente, a partir da união homoerótica entre Inácio e Etienne, como
aponta o próprio título do conto.
4.4
SOBRE AS FIGURAÇÕES DA MORTE
hoje, dia de todos os demónios
irei ao cemitério onde repousa Sá-Carneiro
a gente às vezes esquece a dor dos outros
o trabalho dos outros o coval
dos outros
ora este foi dos tais a quem não deram passaporte
de forma que embarcou clandestino
não tinha política tinha física
mas nem assim o passaram
e quando a coisa estava a ir a mais
tzzt... uma poção de estricnina
deu-lhe a moleza foi dormir
preferiu umas dores no lado esquerdo da alma
uns disparates com as pernas na hora
apaziguadora
herói à sua maneira recusou-se
a beber o pátrio mijo
deu a mão ao Antero, foi-se, e pronto,
desembarcou como tinha embarcado
Sem Jeito Para o Negócio
(Mário Cesariny – Manual de Prestidigitação)
O tema morte/suicídio permeia, como vimos, toda a obra em prosa do
autor de A Confissão de Lúcio, mas é sobretudo na sua poesia o lugar onde se
enxerga mais claramente a ideia de um suicídio anunciado, projeto ao qual o
Esfinge Gorda levou a cabo no fatídico e apoteótico dia 26 de abril de 1916, às 20
horas, no Hotel de Nice. Na grande capital latina, onde Sá-Carneiro diz descobrirse um poeta-diletante, escreve ele, em 1913, o – hoje famosíssimo – poema
Dispersão, no qual declara em tom de profecia:
E sinto que a minha morte –
Minha dispersão total –
Existe lá longe, ao norte,
Numa grande capital.
Rafael Santana
194
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Vejo o meu último dia
Pintado em rolos de fumo,
E todo azul-de-agonia
Em sombra e além me sumo.
(DI, p.62)
Não se suicidou o poeta numa grande capital ao norte, como S.
Petersburgo, por exemplo, que tanto admirava, mas em Paris, cidade na qual,
reiteradas vezes, disse sentir um imenso orgulho em existir, lá estando. Em estudo
sobre o Modernismo, Fernando Cabral Martins assinala que o sintagma nominal
“grande capital” foi lido em Lisboa, onde se editou o poema Dispersão, como
sinônimo indissociável de Paris, cidade-símbolo para Sá-Carneiro. Nas quadras
que se seguem, o poeta vaticina para si próprio um fim em azul-de-agonia, ou seja,
uma morte artística, na qual o seu ser se evolaria em sombra, tal como feneceram,
voluntária ou metaforicamente, muitos dos seus personagens romanescos, todos
eles também artistas. Em A queda, poema que fecha o conjunto de Dispersão, o
sujeito lírico – a quem se pode associar biograficamente a Mário de Sá-Carneiro –
afirma, de forma paradoxal, morrer à míngua, de excesso, verso que emblematiza
paradigmaticamente a metáfora da sua morte:
Se acaso em minhas mãos fica um pedaço d’ouro,
Volve-se logo falso... ao longe o arremesso...
Eu morro de desdém em frente dum tesouro,
Morro à míngua, de excesso.
(DI, p.72)
Já dizia Bataille que morrer e sair dos limites são a mesma coisa.
Excessivo, dispendioso, transbordante, Sá-Carneiro é entretanto um artista
angustiadamente cônscio de não lograr o seu desejo de ultrapassar o limiar dos
portais do triunfo e da apoteose, mas de quase ultrapassá-los seja no âmbito da
vida propriamente dita, seja na esfera da arte. Nessas zonas intermédias, ou
melhor, nesses entrelugares, o poeta manifesta a ânsia agônica por espasmos de
além, por um golpe de asa que lhe permitisse, de algum modo, a comunhão com a
Rafael Santana
195
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
totalidade, morrendo de sede em frente ao mar, suplício de Tântalo, ou, como ele
próprio o define, morrendo à míngua por desejar tão excessivamente.
Passando pela vida como um astro, em trajetória artística meteórica que se
concretiza em apenas quatro anos, Mário de Sá-Carneiro, amante da beleza,
exilado de si e de Portugal, dedica-se à produção de uma arte penetrante e
incomodativa que, velut in speculo, reflete exemplarmente o seu mal-estar físico e
espiritual. Sem domingos em família, sem amanhã nem hoje, vivendo ternuras de
ontem e incomodado com as formas arredondadas do seu próprio corpo; assim se
autodefine o poeta de Dispersão, inscrevendo, como fruto macerado da sua
sensibilidade extremada, o seu incrível drama em texto 83 especular. Voando
demasiado alto, onde as asas já não eram capazes de sustê-lo, cai Sá-Carneiro no
fundo do abismo, donde se ergue ascensionalmente como artista para todo o
sempre.
Em artigo já largamente visitado pela crítica, David Mourão-Ferreira
(1981) propõe uma leitura dos escritos sá-carneirianos a partir do mito de Ícaro e
Dédalo. Segundo ele, a relação entre pai e filho – Dédalo e Ícaro – poderia ser
cotejada metaforicamente à tutela, sempre declarada, de Fernando Pessoa a Mário
de Sá-Carneiro. O arquiteto que projetou o labirinto de Creta e que criou asas de
cera para que ele e o filho pudessem de lá escapar quando aprisionados pelo Rei
Minos, possibilitou a Ícaro, jovem deslumbrado, a experiência de um voo que ele,
eufórico, não soube controlar, o que acabou por levá-lo à morte. Chegando
demasiado perto do sol no seu ousado voo artístico, Mário de Sá-Carneiro, tal
qual Ícaro, desaba e morre: “Um pouco de sol – eu era brasa, / Um pouco mais de
azul – eu era além. Para atingir faltou-me um golpe d’asa” (DI, p.22), diz o poeta
em Quasi. E, com efeito, não chega Sá-Carneiro tão perto do sol como para
transformar-se em brasa, mas dele se aproxima o suficiente como para derreter as
83 Utilizo a expressão cunhada por Vilma Arêas, no seu Anotações sobre o drama-em-texto de
Sá-Carneiro (1994, p.59-70).
Rafael Santana
196
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
suas frágeis asas. Para David Mourão-Ferreira, a morte de Sá-Carneiro
simbolizaria o desejo inconsciente “de repetir, como realização suprema, a própria
morte de Ícaro” (1981, p.132). Não ultrapassando o desejado, é como se o poeta
de Dispersão decidisse esmagar-se a si próprio para lograr definitivamente o seu
triunfo, como ele mesmo atesta nos versos finais de A queda:
Não pude vencer mas posso-me esmagar,
– Vencer às vezes é o mesmo que tombar –
E como inda sou luz num grande retrocesso,
Em raivas ideais ascendo até ao fim:
Olho do alto o gelo, ao gelo me arremesso...
(DI, p.72)
Ciente de que o suicídio não é um ato de covardia, mas de bravura
extrema, Mário de Sá-Carneiro exalta, junto com os personagens que criou e que
vimos até o momento analisando, a coragem daqueles que tiveram o gênio de
arder até ao fim, de dar o grande salto, de mergulhar nas profundezas dos abismos,
erguendo para si algo de intensamente belo. “Vencer às vezes é o mesmo que
tombar”, diz o poeta em A queda. Ascendendo até ao cume, ou melhor, subindo
até aonde as suas asas não eram capazes de suportar, cai o artista, tal qual Ícaro,
no grande mar de espuma, deixando também ele a sua marca na História.
Suicidando-se, desperta Sá-Carneiro uma grande empatia como escritor.
Artística, sua morte torna-se sinônimo de literatura, num processo análogo em que
vida e obra passam a ser lidas indissociavelmente. O suicídio pelo qual muitos dos
seus personagens romanescos optaram em busca de fazer ascender a sua
existência em apoteose passa a ser lido como um prenúncio do seu próprio
suicídio
espetacular,
“ritual
de
morte
funambulescamente
anunciado”
(LOURENÇO, 1990, p.9), cena completamente teatral, a um só tempo horrenda e
sublime, de todo insólita nos anais da suicidária modernidade portuguesa.
Eduardo Lourenço, mapeando a história dos artistas suicidas em Portugal,
afirma que a morte de Mário de Sá-Carneiro encerra todo um ciclo de depressão
iniciado pelos amantes do mórbido e pelos inconformados com a vida, superando
Rafael Santana
197
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
em intensidade e em teatralidade o próprio suicídio de Antero de Quental, poeta
que, matando-se em pleno local público, escandalizou horrendamente toda uma
geração. O suicídio de Sá-Carneiro não causou, em Portugal, tanta repercussão
como o de Antero, uma vez que o poeta de Indícios de Oiro atentou contra a
própria vida em solo francês, bem longe, portanto, do território pátrio. Contudo, o
ritual de preparação da morte, que Sá-Carneiro anunciara literariamente em
poesia, em ficção e em epistolografia, tal como uma espécie de obra teatral que
um dia finalmente se iria estrear, torna o seu suicídio num fenômeno sui generis e
sem imitação possível na história da literatura portuguesa. Em carta a Fernando
Pessoa, datada de 2 de dezembro de 1912, o poeta confessa ter um desejo violento
de triunfar, diga-se de desaparecer, sendo o suicídio uma das suas opções, embora
naquele momento ainda não o aceitasse por completo.
Ao longo da sua brevíssima vida literária, é como se Mário de Sá-Carneiro
se tivesse repetido, todos os dias, aquelas palavras que o autor de As horas pôs
muito inteligentemente na boca de Virginia Woolf ao fazê-la sua personagem: It is
possible to die. It is possible to die, até que um dia finalmente alcançasse a força
necessária para fazê-lo. Em carta a Fernando Pessoa, datada de 2 de dezembro de
1912, o artista declara: “[...] quando eu medito horas no suicídio, o que trago disso
é um doloroso pesar de ter de morrer forçosamente um dia mesmo que não me
suicide” (COL, p.725, grifos do autor). Princípio, A Confissão de Lúcio,
Dispersão, Céu em Fogo, todas estas obras trabalham, como tentei assinalar, com
o tema da morte e do suicídio. Todavia, é sobretudo nos seus Últimos Poemas o
lugar onde Sá-Carneiro apresenta de forma mais condensada tudo aquilo que
vinha desenvolvendo sobre as mortes voluntária e metafórica em escritos
anteriores. No poema autobiográfico Caranguejola (1915), por exemplo, anuncia
abulicamente o poeta:
Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará.
Pra que hei-de então andar aos tombos, numa inútil correria?
Tenham dó de mim. Co’a breca! Levem-me pra enfermaria –
Isto é, pra um quarto particular que o meu Pai pagará.
Rafael Santana
198
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Justo. Um quarto de hospital – higiénico, todo branco, moderno e tranquilo;
Em Paris, é preferível – por causa da legenda...
Daqui a vinte anos a minha literatura talvez se entenda –
E depois estar maluquinho em Paris fica bem, tem certo estilo...
(UP, p.78)
Antes de qualquer pretensão de análise do texto em si, é necessário atentar
para o título, tão estranho, deste poema. O vocábulo caranguejola admite,
segundo o dicionário, um sentido literal e outro figurado. Literalmente,
caranguejola quer dizer crustáceo semelhante ao caranguejo, a sublinhar que
Mário de Sá-Carneiro gostava de usar metáforas animais para definir os seres
humanos, utilizando ele próprio o termo lepidóptero – insetos que passam por
diversas metamorfoses até chegarem ao estágio de borboletas ou mariposas – para
se referir aos espíritos insensíveis, vulgares e sem complexidades psicológicas,
noutras palavras, aos burgueses. Seria possível, portanto, que Sá-Carneiro tivesse
utilizado o vocábulo caranguejola no seu sentido mais usual, uma vez que o
crustáceo que o representa é um animal gordo e desajeitado, tal como ele muitas
vezes se autodefiniu. A própria cadeia semântica do poema aponta para a ideia da
falta de aptidão para com a vida: “Se me doem os pés e não sei andar direito, / Pra
que hei-de teimar em ir para as salas, de Lord?” Ou ainda: “De que me vale sair,
se me constipo logo? / E quem posso eu esperar, com a minha delicadeza?...” (UP,
p.78). Sentindo-se inadaptado à vida, Mário de Sá-Carneiro parece decidir exilarse na sua arte, padecendo liricamente, até ao fim, da sensação de ser quase, e de
certo modo só efetivando o ato nas construções dramáticas dos seus personagens,
espelhos de si, até que enfim a arte volvesse em vida.
Em sentido figurado, caranguejola que dizer ainda armação de madeira
de pouca solidez. Ora, o poema de Sá-Carneiro também se presta a uma leitura
por meio desta cadeia semântica. Não suportando o peso de semelhante bagagem
(sensibilidade extrema e avessa ao mundo), o Esfinge Gorda, armário superlotado
e excessivo, desaba de forma torrencial. Em carta a Fernando Pessoa, o poeta mais
Rafael Santana
199
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
ou menos assim define o título do seu texto: “Dou-lhe esse título porque o estado
psicológico de que essa poesia é síntese afigura-se-me em verdade uma
caranguejola – qualquer coisa a desconjuntar-se, difícil de se manter” (COL,
p.943). Excessivo, demasiado pesado, o armário artístico se rompe, dispersandose, lançando o seu material ao mundo.“Toda a poética de Mário de Sá-Carneiro é
uma poética do excesso” (LOURENÇO, 1990, p.10), diz Eduardo Lourenço, eis aí
talvez a sua mais perfeita definição.
No que concerne à leitura do excerto poético autobiográfico, é interessante
notar que Sá-Carneiro aventa para si próprio aquela morte simbólica que tantas
vezes conferira aos seus personagens romanescos: a loucura. Trancado num
quarto de hospital, deseja ele passar o resto da existência maluquinho, em Paris,
pois estar doido na capital francesa tem lá o seu chic. E é em Paris, cidade pela
qual sempre declarou imenso amor, que o poeta decide dar cabo da sua vida,
justificando a sua causa mortis a partir de complicações psicológicas e de
problemas de financeiros. Na sua carta despedida a Fernando Pessoa, diz ele em
alta tonalidade lírica:
Paris, 31 de marco de 1916
Meu Querido Amigo,
A menos dum milagre na próxima 2ª feira, 3 (ou mesmo na véspera) o seu
Mário de Sá-Carneiro tomará uma forte dose de estriquinina (sic) e
desaparecerá deste mundo. É assim tal e qual – mas custa-me tanto a escrever
esta carta pelo ridículo que sempre encontrei nas “cartas de despedida”... não
vale a pena lastimar-me, meu querido Fernando: afinal tenho o que quero, o
que tanto sempre quis – e eu, em verdade, já não faria nada por aqui... já dera
o que tinha a dar. Eu não me mato por coisa nenhuma: eu mato-me porque
me coloquei pelas circunstâncias – ou melhor: fui colocado por elas, numa
áurea temeridade – numa situação para a qual, a meus olhos, não há outra
saída. Antes assim. É a única maneira de fazer o que devo fazer. Vivo há
quinze dias uma vida como sempre sonhei: tive tudo durante eles: realizada a
parte sexual, enfim, da minha obra – vivido o histerismo do seu ópio, as luas
zebradas, os mosqueiros roxos da sua ilusão. Podia ser feliz mais tempo, tudo
me corre, psicologicamente, às maravilhas: mas não tenho dinheiro. Contava
firmemente com certa soma que pedira ao meu pai há quinze dias. Ela não
chegou – e como resposta um telegrama à legação em que o meu Pai
pergunta quanto dinheiro preciso eu para ir para Lisboa... houve decerto um
mal-entendido, ou falta de recepção dum meu longo telegrama expedido em
19. Segunda-feira preciso inadiavelmente de 500 francos. Como a menos
dum milagre eles não podem chegar... aí tem o meu querido amigo. É
mesquinho: mas é assim. E lembrar-me que se não fosse a questão material
eu podia ser tão feliz – tudo tão fácil... Que se lhe há-de fazer... Mais tarde ou
Rafael Santana
200
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
mais cedo, pela eterna questão pecuniária, isto tinha que suceder. Não me
lastimo, portanto. E os astros tiveram razão...
Hoje vou viver o meu último dia feliz. Estou muito contente. Mil anos me
separam de amanhã. Só me espanta, em face de mim, a tranquilidade das
coisas... que vejo mais nítidas, em melhor determinados relevos porque as
devo deixar brevemente. Mas não façamos literatura. Pelo mesmo correio (ou
amanhã) registradamente enviarei o meu caderno de verso que você guardará
e de que você pode dispor para todos os fins como se fosse seu. Pode fazer
publicar os versos em volume, em revistas, etc. Deve juntar aquela quadra:
“Quando eu morrer batam em latas” etc. Perdoe-me não lhe dizer mais nada:
mas não só me falta o tempo e a cabeça como acho belo levar comigo alguma
coisa que ninguém sabe ao certo, senão eu. Não me perdi por ninguém:
perdi-me por mim mas fiel ao meus versos:
“Atapetemos a vida
Contra nos e contra o mundo...”
Atapetei-a sobretudo contra mim – mas que me importa se eram tão densos
os tapetes, tão roxos, tão de luxo e festa...
Você e o meu Pai são as únicas duas pessoas a quem escrevo. Mas dê por
mim um grande abraço ao Vitoriano e outro ao José Pacheco. Todo o meu
afeto e a minha gratidão por você, meu querido Fernando Pessoa num longo,
num interminável abraço de Alma.
O seu, seu
Mário de Sá-Carneiro
(COL, p.969-970, grifos do autor)
Escrita cerca de quinze dias antes que o suicídio de Sá-Carneiro ocorresse
de fato, esta carta de despedida reflete claramente o seu drama psicológico.
Embora o autor de Indícios de Oiro negue quaisquer complicações de ordem
psíquico-mental, alegando mesmo estar deveras feliz e sentindo-se muito bem,
percebe-se nestas linhas finais a incoerência do discurso de um sujeito
atormentado, que ora diz que tudo lhe corre psicologicamente às maravilhas, ora
diz não ter cabeça para explicar em mais detalhes a situação em que se encontra.
No que concerne à justificativa do suicídio, destaca Sá-Carneiro a falta de
dinheiro, devido ao desencontro de correspondências entre ele e o pai. Na
verdade, Carlos Augusto de Sá-Carneiro, era esse o nome do pai, passava, em
1916, por graves problemas de ordem financeira, já não mais podendo financiar a
vida dispendiosa do filho em Paris. Nas últimas cartas a Fernando Pessoa, Mário
de Sá-Carneiro dá a entender que, cedo ou tarde, terá forçosamente de deixar a
capital francesa, partindo para Lisboa, onde lhe restavam alguns familiares, ou
para a África, onde se encontrava trabalhando o seu pai, já quase falido. Contando
Rafael Santana
201
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
sempre com a custódia paterna, que muito generosamente financiava o seu ócio
artístico, Mário de Sá-Carneiro, artista de si próprio, alheio a si e ao mundo do
trabalho, não aventava outra forma de vida que não sob a sua tutela, imaginandose sempre aos seus cuidados: “Tenham dó de mim. Co’a breca! Levem-me pra
enfermaria / – Isto é, pra um quarto particular que o meu Pai pagará”, diz ele em
Caranguejola. Esgotados os recursos de Carlos Augusto de Sá-Carneiro,
engenheiro militar que cumpria missão em África, Mário de Sá-Carneiro tinha um
motivo concreto, que, sem explicá-lo inteiramente, justificava ao menos em parte
o seu querer deixar a vida, projeto sobre o qual já vinha construindo tantos textos
há vários anos.
Cônscio do seu direito de morrer, mas cioso em perpetuar o seu nome
como artista, Sá-Carneiro deixa a sua obra literária a cargo do amigo Fernando
Pessoa, a quem pede que não se olvide de acrescentar o poema “Quando eu
morrer batam em latas” aquando da publicação do seu volume de versos, porque –
sabia-o ele muito bem – essas quadras são uma espécie de continuação do show
que, artificialmente, forjou para a sua morte. Fazendo-se agora, no lugar dos seus
suicidas inventados, o personagem principal do seu próprio monólogo, SáCarneiro enverga, na noite do gran finale, o seu melhor fato, convidando ainda o
amigo José Araújo para testemunhar o seu falecimento, numa espécie de
espetáculo teatral com artista e público espectador. Cometendo um suicídio
teatralizado, Mário de Sá-Carneiro quer manter ainda o mesmo tom de festa no
seu post-mortem, recomendando a todos no poema Fim:
Quando eu morrer batam em latas,
Rompam aos saltos e aos pinotes,
Façam estalar no ar chicotes,
Chamem palhaços e acrobatas!
Que o meu caixão vá sobre um burro
Ajaezado à andaluza...
A um morto nada se recusa,
E eu quero por força ir de burro!
(UP, p.84)
Rafael Santana
202
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Festa do excesso, com muitos ruídos, com muitas cores exóticas e com
grotescas figuras: assim quer Sá-Carneiro que seja o seu funeral. Tal como um
circo que chega a uma nova cidade e por ela percorre a fazer um pequeno
espetáculo de amostra, o Esfinge Gorda convoca a todos para acompanharem o
seu cortejo, exigindo-lhes apenas que façam, ao longo do caminho, estrondos e
malabarismos. Adverte-lhes ainda de que não se esqueçam de chamar palhaços e
acrobatas para completar a cena, numa espécie de festa libertária e carnavalesca,
onde há espaço tanto para amadores quanto para profissionais. É esta a sua festa, a
completar cenas anteriormente inventadas de desaparecimentos inexplicados, de
fusões luminosas.
Ao analisar o poema Fim, Eduardo Lourenço chama a atenção para o fato
de Mário de Sá-Carneiro ter colocado “no centro do seu espetáculo a evangélica
criatura [o palhaço] que na Idade Média presidia a Festa dos Loucos” (1990, p.9).
Com efeito, no mundo medieval, onde disputaram por longo tempo costumes
pagãos e cristãos, o carnaval era considerado uma espécie de escape à repressão,
ou melhor, um mundo onde tudo era permitido e onde todos os costumes se
apresentavam precisamente às avessas. O carnaval medieval tinha, como uma das
suas propostas, a de que os indivíduos vivessem intensamente, ainda que por
alguns poucos dias, o contrário da vida oficial – religiosa, cristã, casta,
disciplinada e reservada. Presidida pelo bufão, figura cômica que ironiza a todos e
se ri de todos os costumes, a Festa dos Loucos – como era chamado o carnaval na
Idade Média – representava justamente o espaço da loucura e da transgressão, isto
é, da quebra dos interditos.
No que concerne a Mário de Sá-Carneiro, repare-se que o artista parece
requerer para si um velório carnavalesco, semelhante à Festa dos Loucos, no
poema Fim, celebração grotesca em que se destaca precisamente a loucura, que
tanto valorizou em toda a sua obra. Latas, chicotes, palhaços, acrobatas e, até
mesmo, um burro ajaezado à exótica moda da Andaluzia são convocados para o
Rafael Santana
203
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
seu espetáculo itinerante, espécie de teatro mambembe, aquele que, na Idade
Média, representa os primórdios do que hoje chamamos circo.
No que se refere ao burro, cabe ressaltar que, semelhante à Festa dos
Loucos – era celebrada no mundo medieval a Festa do Asno – na qual se
costumava levar uma besta (símbolo do satânico) paramentada ao centro da igreja,
onde se lhe prestavam, em paródia, cultos e reverências. Os sacerdotes,
mascarados e vestidos de mulher, celebravam, com cânticos profanos, alguns ritos
litúrgicos em louvor e em honra do animal, numa inversão total de papéis 84 .
Espetáculo grotesco, dessacralizado, é assim (louco e risível) que Sá-Carneiro
quer que transcorra o seu velório, sem respeito algum às convenções religiosas e
sociais.
Ettore Finazzi-Agrò lê com extrema pertinência esse ritual da morte em
Sá-Carneiro:
[...] Solidariedade antiquíssima, esta entre o palhaço e a morte, mas que a arte
moderna revivificou exatamente no sentido dum atravessamento dos limiares
proibidos que o clown facilita na sua dupla veste de símbolo vital e de
emblema fúnebre, misto de agilidade suprema e de estado embaraço. O que
devemos ler na morte excessiva de Sá-Carneiro é, a meu ver, esta tentativa
lúcida e lúdica de se familiarizar com o excesso, de chegar ao excesso através
dum exceder-se a si próprio. [...] ‘morte por brincadeira’, o avesso da morte
sublime’, acreditada pelos românticos e cujos numes tutelares são,
justamente, palhaços e acrobatas[...].
(FINAZZI-AGRÒ, 1992, p.162).
84 A respeito da Festa dos Loucos e da Festa do Asno, escreve Mikhail Bakhtin: “A festa dos
loucos é uma das expressões mais claras e mais puras do riso festivo associado à Igreja na
Idade Média. Outra dessas manifestações, a ‘festa do asno’, evoca a fuga de Maria levando o
menino Jesus para o Egito. Mas o centro dessa festa não é Maria nem Jesus (embora se vejam
ali uma jovem e um menino), mas o asno e seu ‘hinham!’ Celebravam-se ‘missas do asno’.
Possuímos um ofício desse gênero redigido pelo austero eclesiástico Pierre de Corbeil. Cada
uma das partes acompanhava-se de um cômico ‘Hin Ham!’. No fim da cerimônia, o padre, à
guisa de bênção, zurrava três vezes e os fiéis, em vez de responderem ‘amém, zurravam
outras três. O asno é um dos símbolos mais antigos e mais vivos do ‘baixo’ material e
corporal, comportando ao mesmo tempo um valor degradante (morte) e regenerador. Basta
lembrar Apuleio e seu Asno de ouro, os mimos de asnos que encontramos na Antiguidade e,
finalmente, a figura do asno, símbolo do princípio material e corporal nas lendas de São
Francisco de Assis. A festa do asno é um dos aspectos desse motivo tradicional
extremamente antigo. A festa do asno e a festa dos loucos são festas específicas nas quais o
riso desempenha um papel primordial; nesse sentido, são análogas aos seus parentes
consanguíneos: o carnaval e o charivari” (2008, p.67-68).
Rafael Santana
204
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
Mas não apenas a temática do poema Fim é medieval, na medida em que
retoma a ideia do teatro itinerante. O próprio conceito que Sá-Carneiro propaga ao
longo de toda a sua obra muito se coaduna com a postura que a Idade Média
assumiu em relação à morte 85. Em estudo sobre o mundo medieval, Philippe Ariès
assinala que o desespero diante da morte, isto é, a sua não aceitação, as lágrimas
excessivas e o luto prolongado são sobretudo atitudes do indivíduo burguês que,
não aceitando a ideia do destino coletivo da espécie – a morte, da qual não se
pode escapar –, perdera a naturalidade diante desse acontecimento, manifestando
uma postura e uma tristeza exageradas, a que o filósofo chama de selvagem.
No avesso dessa leitura burguesa da morte, e parecendo repetir para si
mesmo, na vida e na arte, a ideia de que It is possible to die, é como se Mário de
Sá-Carneiro lograsse retornar pouco a pouco àquela antiga familiaridade que a
Antiguidade Clássica e a Idade Média mantinham com a morte. Se, nas palavras
de Philippe Ariès, a morte é, no mundo medieval, uma cerimônia pública
presidida e organizada pelo próprio morto, é, pois, precisamente a isso que
assistimos em Fim, espécie de poema-testamento, no qual Sá-Carneiro dita
carnavalescamente as regras desregradas do seu velório.
Inadaptado que sempre foi à existência quotidiana e trivial, Mário de SáCarneiro teve contudo a capacidade de reinventar a vida num mundo onde tudo
lhe parecia ser desastre, onde tudo lhe soava a fatalidade, fazendo da morte um
acontecimento artístico e não um fato melancólico e, mais que tudo, uma escolha
e não uma subordinação. Artista de si mesmo, ou Narciso em Sacrifício, como o
chamou Fernando Paixão (2003), Sá-Carneiro reinventou não só a vida, mas a
própria morte, pois sempre soube que só a invenção artística é capaz de salvar das
águas do esquecimento. Ciente de que ser artista da própria vida é também ser um
pouco artista da própria morte, o Esfinge Gorda deixou a invenção tomar conta do
85 Isto, ressalte-se, apenas no que concerne à familiaridade com o tema da morte, já que a
Idade Média, cristianíssima que foi, condenava veementemente o suicídio.
Rafael Santana
205
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 4
luto que, fatalmente, poderia ter assumido diante de uma existência que
considerava adversa, transformando a sua morte não exatamente num meio de
livrar-se do fardo da vida, mas sobretudo num devir, numa força positiva.
Em postura que somente a capacidade artística é capaz de forjar, SáCarneiro captou sentidos outros para a morte, sentidos que os indivíduos comuns
quase nunca são capazes de enxergar, dela fazendo um acontecimento
inusitadamente belo. Um belo e paradoxal movimento de vida por meio da morte,
evitando, desta forma, que a sua vida se transformasse num depressivo canto do
cisne. Muito pelo contrário, toda a sua obra é uma paradoxal festa do excesso em
meio à melancolia. Ao reinventar a vida por intermédio da arte, Mário de SáCarneiro, artista suicida, morre sem morrer, legando à posteridade a sua literatura,
única vida a que se dedicara afinal. Consciente, do Princípio – sua primeira
narrativa – ao Fim – seu último poema –, de que toda pulsão de morte é
igualmente capaz de gerar uma pulsão de vida, Mário de Sá-Carneiro reinventa a
própria morte como artista e suicida-se artisticamente, numa cena teatral nunca
dantes assistida na história da suicidária modernidade portuguesa.
Rafael Santana
206
CAPÍTULO 5
O EROTISMO E O HOMOEROTISMO
[...] Saudosamente recordo
Uma gentil companheira
Que na minha vida inteira
Eu nunca vi... Mas recordo
A sua boca doirada
E o seu corpo esmaecido,
Em um hálito perdido
Que vem na tarde doirada. [...]
(Sá-Carneiro – Dispersão)
Na sua monumental História da Sexualidade, Michel Foucault sinaliza que
nunca o sexo foi considerado tão tabu, e por isso mesmo foi tão cuidadosamente
encerrado nos restritos domínios do ambiente privado, como na chamada Era
Vitoriana. Circunscrito ao espaço das quatro paredes da alcova do casal, o sexo foi
compreendido pela sociedade burguesa oitocentista como um fenômeno – pelo
menos no que concerne ao discurso ideológico – atrelado exclusivamente ao
exercício da procriação, com vistas à formação da família conjugal. Utilitarista e,
portanto, com uma visão centrada na ética do trabalho, o mundo burguês fez da
prática sexual uma atividade responsável por atender à demanda de produção de
uma sociedade que tinha apostadas na força do labor as suas bases fundamentais.
Sendo o gozo naturalmente incompatível com uma visão pragmática da ética
burguesa, o sexo foi teórica e forçadamente reduzido ao prazer mínimo e restrito
ao lugar da reprodução, único capaz de lhe conferir uma utilidade e uma função
sociais.
Não obstante a repressão sexual na Era Vitoriana, Foucault assinala que
nunca houve tamanha proliferação dos discursos sobre o sexo como no século
XIX, tempo histórico que fez dessa atividade um tema da política, da economia,
da pedagogia, da justiça, da medicina, da sociologia, da psicanálise. Contudo, essa
diversificada literatura sobre o sexo numa sociedade conservadora não implicava
necessariamente um discurso da transgressão, com vistas a burlar a norma e o
interdito. Propagando “uma sexualidade economicamente útil e politicamente
conservadora” (FOUCAULT, 2011, p.44), esses escritos visavam sobretudo a
promover uma espécie de normatização da atividade sexual que, racionalizada,
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
poderia contribuir para a efetivação e para a perpetuação do discurso do poder,
assentado na ideologia da produção para o progresso. Aliás, Foucault sinaliza que
períodos de repressão parecem apontar, na contramão da situação histórica, para
uma intensa produção literária sobre o proibido, entendendo por literatura não
apenas a ficção ou a arte, mas os documentos escritos em geral. Não é, portanto,
por acaso que Foucault ratifica a questão da superabundância do discurso sexual
como um fenômeno que se iniciara no século XVII, período em que a
Contrarreforma fez da confissão um ato no qual o indivíduo buscaria expurgar as
suas emoções narrando pormenorizadamente os seus pecados, especialmente
aqueles relacionados ao sexo.
Incitando o discurso sobre a sexualidade, o século XVII interessava-se por
“todas
as
insinuações
da
carne:
pensamentos,
desejos,
imaginações,
voluptuosidades, movimentos da alma e do corpo” (Ibidem, p.25). Assim, no que
concerne ao âmbito da vivência religiosa, o ato da confissão exigia uma
declaração detalhada do confessando para que o sacerdote pudesse determinar a
devida penitência e a direção espiritual mais adequada ao pecador, que deveria
exercitar um autocontrole sobre os desejos da carne, canalizando a sua energia
sexual para os propósitos de Deus. Daí o erotismo pulsante da literatura barroca,
mesmo a religiosa, eivada de espasmos destinados à figura do criador. Consoante
as palavras de Foucault, o sexo adquire existência discursiva na época clássica,
existência que se manifestava no exercício de se “fazer da sua sexualidade um
discurso permanente” (Ibidem, p.39), em que o jogo dos prazeres servia ao
propósito de corroborar a norma canonizada e requerida pelas instâncias do poder.
Noutras palavras, a pastoral católica fez do sacramento da confissão uma tarefa de
dizer sobre si mesmo a outrem – pensamentos, sensações e prazeres que tivessem
alguma afinidade com o sexo –, para que assim se pudesse exercer uma atividade
de controle e de repressão daqueles impulsos sexuais que estivessem de algum
modo desviados da esfera da procriação e/ou do serviço a Deus.
Rafael Santana
209
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
E se o seiscentos, como diz Foucault, incitou o homem a um discurso
superabundante sobre a sua sexualidade, o setecentos acabou de certo modo por
normatizar este discurso que, ampliado, tornou-se campo de estudo do direito
canônico, da pastoral cristã e da lei civil. Fazendo do sexo um tema relacionado à
pedagogia, o século XVIII buscou adequar a atividade sexual à ordem da
economia, transformando as potências reprodutivas do ser humano numa grande
força de trabalho. Como assinala Foucault, o século das luzes foi o momento
histórico em que pela primeira vez uma sociedade pensou “que seu futuro e sua
fortuna estão ligados não somente ao número e à virtude dos cristãos, não apenas
às regras de casamento e à organização familiar, mas à maneira como cada qual
usa seu sexo” (Ibidem, p.32). Assim, o setecentos assiste a uma proliferação dos
discursos sobre a sexualidade, esmiuçados agora em páginas de diversas áreas do
saber, principalmente das ciências sociais. Segundo Foucault, os estudos
setecentistas sobre a sexualidade prepararam o terreno para a grande explosão
discursiva sobre o sexo ocorrida na Era Vitoriana, período histórico que mais
tentou conter e controlar a atividade sexual. Expandindo as suas pesquisas para a
área da medicina, o século XIX canonizou o campo da sexualidade como objeto
da ciência e instaurou como modelo tutelar uma heterossexualidade atrelada à
atividade procriatória.
E foi no espaço da literatura, não canônica nem científica mas artística,
que o exercício da transgressão da norma se tornou possível no âmbito da escrita.
“Trapaça salutar, esquiva, logro magnífico” (BARTHES, 2007, p.16), como a
definiu Roland Barthes na sua Aula, a literatura permite que o indivíduo burle o
discurso do poder, desrespeitando a norma imposta pela sociedade. Irreverente, a
escrita literária, não obstante os interditos sociais, não deixou de fora o tema da
sexualidade transgressora, também ela uma linguagem, abrindo espaço para
figuras banidas e/ou marginalizadas pelo discurso da ideologia. Subvertendo a
norma ao inscrever a existência de uma sexualidade praticada pelo mero prazer,
cujas finalidades estariam distanciadas do mero intuito da reprodução – como
Rafael Santana
210
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
seria o caso de prostitutas, masoquistas, adúlteras e homossexuais –, a literatura
acolhe toda uma galeria de indivíduos à margem da sociedade rompendo as
barreiras do interdito.
Segundo Antoine Compagnon (2006), a literatura pode propagar os
valores estabelecidos e normatizados por um segmento social, mas pode também
– e muitas vezes o faz – transgredir a norma, funcionando como instrumento de
subversão. Exemplificando o seu pensamento, ele aponta a poesia de Charles
Baudelaire, artista que valoriza as mulheres que ferem a norma burguesa da
conduta feminina, retratando na sua poesia a figura da lésbica, da prostituta, da
mulher fatal e da mulher excessivamente maquiada (tocada pela artificialidade),
enquanto paradigmas de uma sexualidade desviada da procriação e da esfera do
natural. Mário de Sá-Carneiro, na esteira de Baudelaire e dos artistas
finisseculares, também propõe outras formas de experimentação do sexo na sua
literatura. Neste capítulo, interessa-me mormente a questão do homoerotismo e do
erotismo citadino.
5.1
O HOMOEROTISMO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO
Olha em volta de mim. Todos possuem –
Um afecto, um sorriso ou um abraço.
Só para mim as ânsias se diluem
E não possuo mesmo quando enlaço.
(Sá-Carneiro – Como Eu Não Possuo)
A partir da sua ida para Paris em fins de 1912, Mário de Sá-Carneiro
iniciava um novo período da sua existência e da sua trajetória literária,
vivenciando a partir de então um tempo caracterizado pelo convívio com artistas
de postura completamente eclética e exótica, muitos deles homossexuais, como
era o caso de Santa-Rita Pintor. A atmosfera parisiense de princípios de
novecentos propiciou ao artista recém-chegado de uma Lisboa conservadora e
provinciana o contato com pessoas, estilos culturais e tendências estéticas muito
diversificadas, que o seduziram de imediato. Desse convívio eclético e das férteis
Rafael Santana
211
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
conversas sobre a arte com músicos, pintores, escultores, escritores – artistas
hipersensíveis e de diferentes nacionalidades, que, assim como ele, gozavam o
privilégio da experiência parisiense –, resulta a experimentação literária de temas
ainda não explorados no seu primeiro volume de contos, Princípio, nem tampouco
na sua poesia, cuja produção mais significativa data de 1913, quando Sá-Carneiro,
diretamente de Paris, escreve, perplexo, a Fernando Pessoa, relatando ter-se
descoberto um poeta das horas vagas. Desde então, Pessoa passaria a ser o maior
apreciador e crítico da sua obra quer no que tange à produção em verso, quer no
que tange aos escritos em prosa.
A verdade é que Mário de Sá-Carneiro, desde a adolescência, já havia tido
algumas incursões, ainda muito incipientes, no âmbito da poesia, cujo estilo e cuja
temática muito se assemelham aos padrões da escola romântica, sem contudo
alcançar a exímia qualidade dos grandes poetas desse gênero, uma vez que os seus
chamados Primeiros Poemas estão majoritariamente relacionados ao amor juvenil
e ao despertar da paixão 86 . A vivência na Paris da modernidade inicial
novecentista permitiu a Sá-Carneiro um aguçamento da sua visão de mundo,
sendo a produção urdida nesse período indiscutivelmente a mais significativa da
sua obra.
Em 1913, Sá-Carneiro escreve o poema Como Eu Não Possuo e relata a
Fernando Pessoa, em carta datada de 31 de maio desse mesmo ano, que o eixo
central dos versos que ora se apresentavam – “Não sou amigo de ninguém. Pra o
ser / Forçoso me era antes possuir / Quem eu estimasse, ou homem ou mulher”
(DI, p.67) – funcionaria como uma espécie de mote para o desenvolvimento de
uma novela que pretendia escrever em breve, e que se deveria chamar A Confissão
de Lúcio. Em Como Eu Não Possuo, o sujeito lírico declara angustiadamente não
saber fixar-se nem sentir afeição alguma por quem quer que fosse, impasse
86 Em 1905, aos 15 anos de idade, Sá-Carneiro escreve, por exemplo, o poema Menina da
Trança de Ouro, cujo tema é o do amor à primeira vista: “Menina da trança de ouro / Idolatro
o seu cabelo, / Amo, adoro este tesouro / Vivo somente de vê-lo [...]” (1995, p.170).
Rafael Santana
212
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
manifestado por uma insólita forma de vivenciar o campo dos afetos, desejando
possuir aqueles a quem estimasse. Assinalado pela impossibilidade da realização,
o desejo expresso pelo eu lírico de experimentar afetos permanece apenas num
campo hipotético, e o poema, do primeiro ao último verso, exacerba
dolorosamente a consciência do vazio, sendo reiteradas as expressões e sentenças
que apontam para a ideia da frustração: “e não possuo”, “quero sentir”, “não
posso”, “falta-me”, “não logro”, “castrado de alma” (Ibidem).
Estava, pois, lançado o leitmotiv que mais tarde seria recuperado pelo
poeta Ricardo de Loureiro, também ele um artista marcado pelo sentimento da
ausência. Ricardo de Loureiro retoma, através do discurso, os versos do seu
criador, aos quais acrescenta ainda a ideia de que impossível seria a união carnal
entre duas criaturas do mesmo sexo, a não ser que uma delas mudasse de sexo.
Desde então, naquilo que concerne especificamente ao homoerotismo masculino
na ficção de Sá-Carneiro, a figura da mulher torna-se o elemento capaz de
viabilizar relações homoeróticas entre homens. Os personagens masculinos
criados pelo Esfinge Gorda, muitos deles com vincadas tendências homossexuais,
não aceitam a possibilidade da união afetivo-carnal entre dois corpos do mesmo
gênero e manifestam uma ânsia pelo universo feminino, buscando saciar os seus
desejos homoeróticos por meio de variadas metamorfoses psicossexuais ora
assumindo alegoricamente o corpo da mulher, ora invocando uma figura feminina
imaginária que, interposta fantasmaticamente entre os corpos masculinos que a
desejam, permite o contato erótico simbólico entre os iguais. Já o dissemos
anteriormente, mas não será despiciendo repetir que esses processos de
ultrapassagem do interdito ocorrem respectivamente na novela A Confissão de
Lúcio e no conto de Céu em Fogo, Ressurreição, narrativas em que Sá-Carneiro
trabalha e problematiza o tema da homossexualidade. Na primeira, o
homoerotismo se concretiza a partir da personagem de Marta, alegoria feminina
de Ricardo de Loureiro, ou melhor, figura criada pelo poeta como modo de
viabilizar os seus desejos homoeróticos por Lúcio Vaz e Sérgio Warginsky; na
Rafael Santana
213
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
segunda narrativa, Paulette Doré, uma jovem atriz de teatro morta precocemente,
interpõe-se de forma fantasmática entre Inácio de Gouveia e Etienne Dalembert,
dois homens que a desejam, permitindo triangularmente o contato homoerótico de
ambos.
É, pois, dessa forma que Mário de Sá-Carneiro dá conta de inscrever em
letra o homoerotismo masculino no seu tempo histórico declaradamente
homofóbico. Ressalte-se que na sua produção literária é sempre a mulher, ousada
e fálica, aquela que possibilita a concretização das relações homossexuais entre os
seus personagens masculinos, que se sentem, muitos deles, inadequados no corpo
em que nasceram, pesando-lhes sobremaneira a obrigação de assumir um
comportamento viril, espécie de violência simbólica contra a sua hipersensível
condição psicológica. Fátima Inácio Gomes, no seu livro O Imaginário Sexual na
Obra de Mário de Sá-Carneiro, sinaliza que nos seus escritos “podemos isolar
referências ao onanismo, ao travestimento, à androginização, ao voyeurismo,
referências que, mais não seja, evidenciam uma inconformidade do Eu-ideal com
o Eu-real, do sentir anímico face ao rótulo comportamental que o corpo
inflexivelmente impõe [...]” (2006, p.35). E repare-se que é nessa mesma clave
que Sá-Carneiro parece escrever o homoerotismo masculino no universo da sua
poesia.
Eu queria ser mulher pra me poder estender
Ao lado dos meus amigos, nas banquettes dos cafés.
Eu queria ser mulher para poder estender
Pó de arroz pelo meu rosto, diante de todos, nos cafés.
Eu queria ser mulher pra não ter que pensar na vida
E conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro —
Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro
A falar de modas e a fazer «potins» — muito entretida.
Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios
E aguçá-los ao espelho, antes de me deitar —
Eu queria ser mulher para que me fossem bem estes enleios,
Que num homem, francamente, não se podem desculpar.
Eu queria ser mulher para ter muitos amantes
E enganá-los a todos — mesmo ao predileto —
Como eu gostava de enganar o meu amante loiro, o mais esbelto,
Com um rapaz gordo e feio, de modos extravagantes...
Rafael Santana
214
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse,
Eu queria ser mulher para me poder recusar...
(DI, p.148)
Escrito no ano de 1916, pouco antes, portanto, do suicídio de Sá-Carneiro,
este poema resume em breves linhas o perfil e a postura das mais significativas
figuras femininas da sua obra, além de evidenciar, no campo do universo
masculino, o desejo da experimentação de uma sexualidade mais complexa (Eu
queria ser mulher para que me fossem bem estes enleios, / Que num homem,
francamente, não se podem desculpar) e mais perversa (Eu queria ser mulher
para mexer nos meus seios / E aguçá-los ao espelho, antes de me deitar), que
aliviaria em quem a vivenciasse o descompromisso com a vida utilitária (Eu
queria ser mulher pra não ter que pensar na vida / E conhecer muitos velhos a
quem pedisse dinheiro), permitindo-lhe a exploração de um gozo do supérfluo, do
luxo, da licenciosidade, que, no conjunto da escrita sá-carneiriana, só seria
possível mediante uma espécie de metamorfose do corpo do homem em corpo de
mulher ou, de outro modo, pela interposição imaginária da figura feminina entre
aqueles que a desejam. Inadaptados a si próprios, os homossexuais masculinos de
Sá-Carneiro manifestam muitas vezes a aguda e torturante consciência de
habitarem um corpo inadequado, fator que os impele a respeitarem uma conduta
social que em nada se adéqua à sua índole psicossexual. Marcados por uma
sensibilidade extremada, esses personagens exteriorizam uma febre voluptuosa
pelo universo feminino e desejam tornar-se mulheres, pois só assim lhes caberiam
os enleios, isto é, os trejeitos e as atitudes extravagantes que a sociedade não é
capaz de tolerar num homem. E repare-se que esses eus masculinos querem
transformar-se, não na esposa, na dona de casa ou na mãe de família, mas sim em
mulheres fálicas, irreverentes às normas, que rompem com os padrões burgueses a
partir das suas atitudes transgressoras: maquiar-se diante de todos, relacionar-se
sexualmente com velhos em troca de dinheiro, ter muitos amantes, praticar o
adultério por puro hedonismo, fazer fofoca, contemplar os seios diante do espelho,
Rafael Santana
215
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
excitar, enfim, a todos que lhes dirijam olhares desejosos, pelo mero prazer de ter
em mãos o poder da recusa. Em Sá-Carneiro, somente a figura feminina é capaz
de viabilizar relações homoeróticas entre os seus personagens masculinos, tema
que o autor experimentou ficcionalmente em A Confissão de Lúcio e em
Ressurreição, narrativas que serão aqui o objeto de leitura que enfatizará
especialmente a questão do homoerotismo.
O tema do homoerotismo pode ser tratado de forma explícita como núcleo
da estória ou tão simplesmente como um dos argumentos da obra, ou ainda de
forma velada e alegórica, numa espécie de quase ocultismo intencional da matéria
discursiva. É este último o caso da novela A Confissão de Lúcio, considerada pela
crítica como um dos primeiros textos da literatura portuguesa que ousaram tratar o
tema da homossexualidade como poiesis e não como patologia social, como o
fizera o romance realista-naturalista do século XIX. Diante do conservadorismo
da sociedade portuguesa, Mário de Sá- Carneiro, em princípios do século XX,
apresenta uma inusitada relação homoerótica entre dois amigos – Lúcio Vaz e
Ricardo de Loureiro –, por intermédio de uma figura feminina alegórica: a
personagem de Marta.
Diante do triângulo amoroso que se forma, e que constitui a trama da
segunda parte de A Confissão de Lúcio, Fernando Arenas, em texto sobre o
homoerotismo na ficção sá-carneiriana, sinaliza a possibilidade de empreender
nessa narrativa “uma leitura feminista da triangulação do desejo, assim como uma
leitura queer do prisma de homofobia que informa e distorce o desejo” (2005,
p.159). Lembrando sempre que o narrador autodiegético da novela é um dos
personagens da tríade assim constituída (Lúcio – Ricardo – Marta), revela-se-nos,
depois de um longo período de hesitações e dúvidas por parte de Lúcio – que
ardilosamente mantém o destinatário do seu texto à mercê dessa lenta revelação –,
que Ricardo de Loureiro teria criado uma espécie de duplo feminino de si mesmo,
no intuito de viabilizar entre os dois uma relação homoerótica sofisticadíssima.
Rafael Santana
216
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Por outras palavras, o poeta, numa espécie de processo de duplicação especular,
criara um outro feminino de si, de modo a lograr amar plenamente o seu amigo
Lúcio Vaz, companheiro por quem devotava uma grande ternura. Lembre-se que
para Ricardo de Loureiro os afetos só poderiam concretizar-se no seu mundo
interior a partir do momento em que ele beijasse, mordesse ou, enfim, possuísse a
pessoa a “quem estimasse”, fosse ela mulher ou homem. “Mas uma criatura do
nosso sexo, não a podemos possuir”, diz o artista, “Logo eu só poderia ser amigo
de uma criatura do meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos de sexo” (CL,
p.376, grifos do autor). Estava aí, portanto, colocado o impasse que não permitia a
Ricardo a experimentação do gozo de uma relação homoerótica, nem tampouco a
retribuição da amizade que os seus amigos Lúcio Vaz e Sérgio Warginsky lhe
dedicavam, motivo pelo qual, dizia ele, “os afetos não se materializam dentro de
mim!” (Ibidem, grifos do autor).
Mas não apenas o referido impasse encontrava-se aí lançado. Nascia,
também a partir dele, a ideia de que, num futuro próximo, se daria a criação da
desconcertante figura de Marta. Com efeito, um pouco antes da cena da morte de
Ricardo, o poeta dirá a Lúcio o que representara para ele a presença da sua
companheira:
– Sim! Marta foi tua amante, e não foi só tua amante... Mas eu não soube
nunca quem eram os seus amantes. Ela é que mo dizia sempre... Eu é que
lhos mostrava sempre!
“Sim! Sim! Triunfei encontrando-a!... Pois não te lembras já, Lúcio, do
martírio da minha vida? Esqueceste-o?... Eu não podia ser amigo de
ninguém... não podia experimentar afetos... Tudo em mim ecoava em
ternura... eu só adivinhava ternuras... E, em face de quem as pressentia, só me
vinham desejos de carícias, desejos de posse – para satisfazer os meus
enternecimentos, sintetizar as minhas amizades...”
Um relâmpago de luz ruiva me cegou a alma.
O artista prosseguiu:
Ai, como eu sofri... como eu sofri!... Dedicavas-me um grande afeto; eu
queria vibrar esse teu afeto – isto é: retribuir-to; e era-me impossível!... Só se
te beijasse, se te enlaçasse, se te possuísse... Ah! Mas como possuir uma
criatura do nosso sexo?...
“Devastação! Devastação! Eu via a tua amizade, nitidamente a via, e não a
lograva sentir!... Era toda de ouro falso...”
“Uma noite, porém, finalmente, uma noite fantástica de branca, triunfei!
Achei-A... sim, criei-A! criei-A... Ela é só minha, entendes?, é só minha!
Compreendemo-nos tanto, que Marta é como se fora a minha própria alma.
Pensamos da mesma maneira; igualmente sentimos. Somos nós dois... Ah!, e
Rafael Santana
217
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
desde essa noite eu soube, em glória soube, vibrar dentro de mim o teu afeto
– retribuir-to: mandei-A ser tua! Mas estreitando-te ela, eu próprio quem te
estreitava... Satisfiz a minha ternura: Venci! E ao possuí-la, eu sentia, tinha
nela, a amizade que te devera dedicar – como os outros sentem na alma as
suas afeições. Na hora em que a achei, tu ouves?, foi como se a minha alma,
sendo sexualizada, se tivesse materializado. E só com o espírito te possuí,
materialmente! [...]”
(CL, p.410-411, grifos do autor)
A asserção recuperada em estilo direto pela memória de Lúcio permite
concluir que Ricardo admite com as suas próprias palavras que a existência de
Marta se deve tão somente a uma criação do seu imaginário. Melhor dizendo,
Marta seria para Ricardo de Loureiro a sua própria arte aplicada à vida, ou seja, o
modo de alcançar a apoteose feminina que ele tanto desejava 87. Seria, enfim, um
modo de viabilizar o contato entre dois corpos do mesmo sexo, porque, como diz
o próprio Ricardo: “Ela é só minha! É só minha! Só para ti a procurei...”. Com
efeito, o desejo homoerótico masculino sempre aparece na obra de Mário de SáCarneiro como algo inviável, assinalado pela frustração, devido à impossibilidade
da união carnal entre dois corpos do mesmo gênero.
Ressalte-se contudo que essa mesma impossibilidade não se manifesta
quando se trata da relação homossexual entre dois ou mais corpos femininos. Em
A Confissão de Lúcio, a personagem da americana é claramente lésbica – sem que
isso a afaste do universo dos desejos masculinos –, e na sua primeira aparição na
narrativa ela vem acompanhada de duas “inglesas adoráveis” (CL, p.354), ambas
suas namoradas, como a antecipar simbolicamente a relação homoerótica triádica
que se formaria num momento posterior da novela, findas as suas lições sobre a
voluptuosidade/arte a Lúcio e a Ricardo 88 . A homossexualidade feminina é aí
Segundo Fernando Cabral Martins, “A Confissão de Lúcio pode ser lida, a par de Dispersão,
como uma resposta narrativa ao desejo de encontrar o outro. Por isso reabilita a sexualidade.
Mas uma outra sexualidade desta vez, luminosa: a da alma” (1997, p.220-221).
87
Refiro-me à leitura de Teresa Cristina Cerdeira que, em A Confissão de Lúcio: um Ensaio
sobre a Voluptuosidade, afirma o seguinte: “No limite dos sentidos, A Confissão de Lúcio pode
ser lida como um ensaio sobre a voluptuosidade que se desdobra em três tempos: a
teorização, a encenação e a experimentação. Na tradição orgíaca das bacantes, uma figura
feminina transgressora emerge na cena social masculina de uma Paris fin-de-siècle, para
desencadear intelectualmente, contra todas as normas convencionais, o conceito da arte da
88
Rafael Santana
218
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
tratada como fenômeno estético, em torno do qual se teoriza e se experimenta a
voluptuosidade como matéria artística. Não por acaso a americana, ao expor a sua
teoria dos novos sensualismos ao círculo de artistas com que se encontrava no
Pavilhão de Armenonville, defende não o sexo natural, mas sim uma sexualidade
psíquica, em detrimento de uma carnalidade fálica e viscosa do contato dos
corpos. Ou seja, o que a americana procura sustentar não é o sexo na sua
fisicalidade, mas antes uma espécie de onanismo mental, de cópula puramente
cerebrina e estética, em que o jogo cênico ocuparia o centro das relações eróticas.
Na esteira de Baudelaire, Mário de Sá-Carneiro apresenta um verdadeiro fascínio
pela figura da lésbica, que na sua obra aparece quase sempre excessivamente
maquiada e entretecida de pedrarias, manifestando um comportamento excêntrico
e desdenhoso, que fere de forma voraz a moral e o universo de valores burgueses.
Decerto que o homoerotismo feminino foi, e ainda é, o mais tolerado pela
sociedade, visto que o lesbianismo não raramente se afigura como objeto de
fetiche para grande parte do público masculino, o que, de um outro ângulo,
também poderia ser lido como a reprodução de conceitos ligados ao machismo e
ao sexismo, dos quais as mulheres foram – e ainda são – um alvo de predileção.
Segundo Fernando Arenas, a homofobia social que não permitiu a Sá-Carneiro a
efetivação de uma união patente entre dois personagens masculinos na sua obra
revela ao mesmo tempo “uma lógica misógina que torna a mulher indispensável”,
uma vez que, em se tratando do triângulo amoroso Lúcio – Marta – Ricardo, “a
figura
feminina
é
manipulada,
negociada
e,
finalmente,
eliminada
ontologicamente” (2005, p.165). Todavia, há que se ter em conta que Mário de
Sá-Carneiro publica A Confissão de Lúcio no princípio do século XX, no seio de
uma sociedade conservadora e castradora, intolerante para com aqueles que se
volúpia ou da volúpia como arte, muito antes que do simples exercício da voluptuosidade na
arte. Revertendo até à radicalidade o modelo platônico da escala do amor, essa estranhíssima
figura da ‘americana’ – que surge tão inopinadamente quanto se desvanecerá – adentra, qual
nova Diotima, a comunidade intelectual de uma Paris boêmia para definir a volúpia como o
mais alto grau de uma espiritualidade corpórea [...]” (2005, p.2-3).
Rafael Santana
219
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
desviavam da norma. Caso emblemático disso é o do poeta António Botto, que se
viu impelido ao exílio no Brasil após a publicação do seu volume de versos
declarada e escandalosamente homoeróticos, intitulado Canções (1920). Em
relação a Mário de Sá-Carneiro, eu diria que homoerotismo masculino apresentase numa perspectiva dignificante na sua obra, se a cotejarmos com a de outros
autores que escreveram em períodos mais ou menos próximos ao seu. Em O
Barão de Lavos (1891), por exemplo, um dos primeiros romances portugueses
cujo enredo gira em torno do tema da homossexualidade, o homoerotismo
masculino é tratado a partir de um discurso médico-cientificista – bem de acordo
com os padrões mais consensuais da narrativa naturalista – perpetuando, deste
modo, preconceitos contra a figura do homossexual. Oscilando numa zona
intermédia entre o romance de Abel Botelho e os poemas de António Botto, ou
melhor, assumindo o lugar do quase, a poesia e a ficção de Mário de Sá-Carneiro
ousam tratar o tema da homossexualidade através de um prisma respeitável, sem
deixar contudo de aduzir problemas relativos aos preceitos e preconceitos da
sociedade e do tempo histórico em que foram produzidos 89, e quiçá de apresentar
problemas de aceitação sexual do próprio autor, cuja dificuldade em lidar com o
seu corpo e com a sua índole psicossexual parecia afigurar-se-lhe uma questão
sem saída. Não por acaso Sá-Carneiro se autoapelidou, muito ironicamente, de
Esfinge Gorda, sintagma que aponta a um só tempo para o complexo e o
enigmático da sua condição psicológica e também para o extremo desconforto em
relação às formas do seu próprio corpo, que o descontentou durante toda a sua
vida.
A esse respeito, assinala Ana Luísa Amaral: “Não chegando a desenvolver uma clara
desmontagem dos estereótipos, Sá-Carneiro situa o seu olhar a partir do campo de
ambivalências que o tempo do modernismo lhe propôs e o género sexual pressupõe. Por isso
as personagens que criou se situam no “intermédio” – o instante de suspensão, equivalente
da ficcionalização performativa da experiência de criação – o qual, sendo uma zona de
diluição de limites, paradoxalmente abarca os mecanismos punitivos que estão na base da
sua infracção (bastaria pensar no conjunto de textos que compõem Céu em Fogo, onde as
personagens encaram o fim da vida como o último território por mapear e onde o suicídio
não é o fim da vida mas, acima de tudo, um acto heróico – a derradeira coragem estética). A
solução possível residirá, para Sá-Carneiro, na teatralização do lírico” (2008, p.13, grifos da
autora).
89
Rafael Santana
220
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Em fevereiro de 1916, Sá-Carneiro terminava de escrever o poema
autobiográfico Aqueloutro, cuja temática sinaliza o dilaceramento de uma
personalidade ultrassensível. Repare-se que o sujeito lírico assinala que o
exercício artístico fazia de si próprio uma espécie de mentiroso, de fingidor, mas
não só. O poema é aberto com o sintagma nominal “O dúbio mascarado” (UP,
p.130), o que talvez aponte para as múltiplas máscaras que Sá-Carneiro assumiu
na literatura e na vida.
Em A Confissão de Lúcio, Ricardo de Loureiro, numa das muitas
“conversas de alma” (CL, p.366) que tivera com o amigo ao longo dos dez meses
da sua estada na cidade de Paris, ao discorrer sobre o conceito de beleza, fizeralhe a seguinte revelação: “– Ah! como eu me trocaria pela mulher linda que ali
vai... Ser belo! ser belo!... ir na vida fulvamente... ser pajem na vida... Haverá
triunfo mais alto?...” (CL, p.374). E prosseguia o artista: “‘Meu Deus! Meu Deus!
Como em vez deste corpo dobrado, este rosto contorcido – eu quisera ser belo,
esplendidamente belo!” (Sá-Carneiro 1973:67). E atrelando sempre o conceito de
beleza ao âmbito específico do universo feminino, ainda diria:
– Ah! Meu querido Lúcio – tornou ainda o poeta –, como eu sinto a vitória de
uma mulher admirável, estiraçada sobre um leito de rendas, olhando a sua
carne toda nua... esplêndida... loura de álcool! A carne feminina – que
apoteose! Se eu fosse mulher, nunca me deixaria possuir pela carne dos
homens – tristonha, seca, amarela: sem brilho e sem luz... Sim! num
entusiasmo espasmódico, sou todo admiração, todo ternura, pelas grandes
debochadas que só emaranham os corpos de mármore com outros iguais aos
seus – femininos também; arruivados, suntuosos... E lembra-me então um
desejo perdido de ser mulher – ao menos, para isto: para que, num
encantamento, pudesse olhar as minhas pernas nuas, muito brancas a
escoarem-se, frias, sob um lençol de linho...
(CL, 375, grifos meus)
Ricardo de Loureiro lançava aí o tema que o seu criador revisitaria num
outro momento em Feminina, poema que reitera precisamente a ideia de um
sujeito masculino descontente com o seu corpo, e que manifesta por isso mesmo o
desejo de tornar-se mulher. A Confissão de Lúcio, escrita em momento anterior ao
referido poema, apresenta o gozo das formas femininas como sendo a verdadeira
Rafael Santana
221
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
apoteose artística, beleza a ser contemplada como fenômeno estético, vertigem
erótica capaz de promover o delírio dos sentidos por meio do fascínio da
autocontemplação.
Recuperando
agora
a
sequência
narrativa
que
desencadeará
o
aparecimento da figura de Marta, observamos o seguinte: Ricardo de Loureiro,
por motivos que o narrador-personagem não deixa claros, decide regressar de
Paris a Lisboa. Lúcio, que não pudera acompanhar o amigo à gare do Quai
d’Orsay, esteve, durante um ano, dolorosamente afastado da sua companhia, até
que também decide retornar a Portugal, e só então reencontra um Ricardo
francamente feminilizado.
Mas como o seu aspecto físico mudara nesse ano que estivéramos sem nos
ver!
As suas feições bruscas haviam-se amenizado, acetinado – feminilizado, eis a
verdade – e, detalhe que mais me impressionou, a cor dos seus cabelos
esbatera-se também. Era mesmo talvez desta última alteração que provinha,
fundamentalmente, a diferença que eu notava na fisionomia do meu amigo –
fisionomia que se tinha difundido. Sim, porque fora esta a minha impressão
total: o seus traços fisionômicos haviam-se dispersado – eram hoje menores.
E o tom da sua voz alterara-se identicamente, e os seus gestos: todo ele,
enfim, se esbatera.
Eu sabia já, é claro, que o poeta se casara há pouco durante a minha ausência.
Ele escrevera-mo na sua primeira carta; mas sem juntar pormenores, muito
brumosamente – como se se tratasse de uma irrealidade. Pelo meu lado,
respondera com vagos cumprimentos, sem pedir detalhes, sem estranhar
muito o fato – também como se se tratasse de uma irrealidade; de qualquer
coisa que eu já soubesse, que fosse um desenlace.
(CL, p.377-378, grifos do autor)
A longa citação permite refletir acerca do processo de dispersão identitária
sofrido por Ricardo de Loureiro. Para tanto, reparemos nos primeiros traços
físicos e psicológicos que a essa personagem são atribuídos aquando do seu
primeiro encontro com Lúcio Vaz: “Adivinhava-se naquele rosto árabe de traços
decisivos, bem vincados, uma natureza franca, aberta – luminosa por uns olhos
geniais, intensamente negros” (CL, p.359). Como se percebe, muito diferente é o
perfil atribuído ao poeta em dois momentos distintos da diegese, ainda que esse
perfil seja traçado por um mesmo narrador. Se as feições de Ricardo, num
primeiro momento, são descritas como bruscas, se os seus traços são marcados
Rafael Santana
222
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
como decisivos e bem vincados – fator que parece conferir uma certa virilidade à
face do personagem – e se a sua natureza psicológica é considerada como sendo
franca, aberta e luminosa; num segundo momento, esses mesmos traços acabaram
de certo modo por difundir-se, por dispersar-se ou mesmo por metamorfosear-se,
à medida que as feições bruscas e os traços fisionômicos do poeta se tornavam
mais amenos, mais acetinados, o que equivaleria a dizer que se tornavam, enfim,
mais femininos. Na verdade, não apenas os traços físicos de Ricardo são tocados
pela feminilidade, mas também a voz, os gestos e até mesmo o modo de portar-se.
No que tange à organização discursiva, logo após descrever as mudanças
físicas sofridas por Ricardo, Lúcio começa a discorrer sobre o casamento do
poeta, como se quisesse apontar que esse rito de passagem e o processo de
feminização por ele sofrido estavam intimamente relacionados. De fato, há toda
uma atmosfera enigmática que circunda a relação de Ricardo e Marta, assinalando
o narrador que esse evento estaria de tal maneira envolto em mistérios que mais se
lhes afigurava – a ele e a Ricardo – uma irrealidade, um desenlace cujas pulsões
motivadoras tinham menos de referencial que de simbólico.
Com efeito, Marta assemelha-se tanto ao marido que, ao discorrer sobre as
reuniões em casa de Ricardo, Lúcio destaca que ela sempre dava as suas opiniões
acerca da arte, evidenciando, como Ricardo, uma “larga cultura” e uma “finíssima
inteligência”, numa “maneira de pensar que nunca divergia da do poeta”. Pelo
contrário, dirá Lúcio, “integrava-se sempre com a dele, reforçando, aumentando
em pequenos detalhes, as suas teorias, as suas opiniões” (CL, p.380). Se
atentarmos para os pormenores da narrativa, perceberemos que a Marta não é dada
uma existência independente, parecendo estar mais ligada ao campo do virtual
(psíquico) do que ao campo do real, como se fosse uma representação alegórica.
Segundo Paul Zumthor (apud. COQUIO), a alegoria decadentista tem por objetivo
rejeitar toda mimèsis do objeto ao qual se aplica. Se a interpretação alegórica é
aquela que procura compreender a intenção oculta de um texto pelo deciframento
Rafael Santana
223
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
das suas figuras, Marta é, em A Confissão de Lúcio, uma espécie de alegoria do
desejo homoerótico entre duas personagens masculinas, ou melhor, o modo
possível de realização e de experimentação de tal desejo.
Um dos primeiros estranhamentos que o narrador-autor manifestara em
relação à união de Ricardo e Marta foi o fato de o seu amigo ter-se submetido ao
casamento
convencional,
ideia
que
tanto
lhe
repugnava.
Como
ato
demasiadamente ligado ao sistema de valores da burguesia, o casamento é por isso
mesmo rechaçado pelo artista decadentista e pelos seus herdeiros modernistas. E
não param por aí os enigmas relacionados a essa união. Para além do fato de
Marta sempre manifestar as mesmas opiniões de Ricardo, o que realmente mais
incomodava a Lúcio era o fato de ele não poder saber nada a respeito do passado
da sua amante, fator que evidentemente reiterava o clima de mistério que a
circundava. Marta, dirá Lúcio, “[...] não tinha recordações; essa mulher nunca se
referira a uma saudade da sua vida”, como se de fato não tivesse um passado,
mas “apenas um presente!” (CL, p.382, grifos do autor). A própria ação de
perguntar a Marta sobre o seu passado afigurava-se a Lúcio uma grande
indelicadeza, como se ele estivesse a adentrar um tema proibido e demasiado
velado. Mais sonhada do que real, Marta é uma personagem pertencente aos
labirintos da incoerência da memória, sendo por isso mesmo uma representação
muitíssimo interessante daqueles anos que principiaram o novecentos, tempo
assolado pelos recentes mistérios da psicanálise que invadiram, com mais
perguntas que respostas, o início do século XX.
5.2
O HOMOEROSTIMO EM RESSUREIÇÃO
As companheiras que não tive,
Sinto-as choras por mim, veladas,
Ao pôr do sol, pelos jardins...
Na sua mágoa azul revive
A minha dor de mãos finadas
Sobre cetins...
(Sá-Carneiro – Sugestão)
Rafael Santana
224
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Encerrando a novela Céu em Fogo, o conto Ressurreição apresenta, tal
como em A Confissão de Lúcio, dois sujeitos masculinos que passam a desejar-se
através da mediação de um terceiro, formulando-se, também aí, uma relação
homoerótica sofisticadíssima, que se concretiza a partir daquilo que René Girard
chamou de desejo triangular, muito embora o conceito formulado pelo teórico
francês não se referisse especificamente à questão do homoerotismo, mas, de
modo mais geral, à presença de um mediador que se interpõe entre o sujeito
desejante e o objeto desejado, possibilitando triangularmente o acesso do sujeito
ao objeto. Diferentemente de A Confissão de Lúcio, Ressurreição não escamoteia
o tema homossexualidade por detrás de uma personagem alegórica, não obstante o
processo de união homoafetiva entre os personagens masculinos principais
também se estabeleça pela mediação psicológica de uma figura feminina.
Contudo, apesar da necessidade da mediação feminina na relação homoerótica
entre os personagens masculinos de Ressurreição, a crítica costuma salientar que
este conto é o único na obra de Sá-Carneiro em que o autor apresenta o
homoerotismo como uma realidade patente. Maria José de Lancastre afirma que,
em Ressurreição, Sá-Carneiro finalmente conseguiu “afirmar narrativamente a
homossexualidade, homossexualidade esta latente em toda a sua obra e que, até
então, não tinha encontrado a sua nítida expressão” (1992, p.49). O conto é aberto
pela voz de um narrador onisciente, que relata a atração homossexual entre o
protagonista Inácio de Gouveia, romancista português dandy e depressivo, e
Etienne Dalembert, um desconhecido ator francês de teatro. Como já foi referido
anteriormente, Inácio de Gouveia, adepto ao dandismo finissecular, abomina
veementemente o sexo natural e manifesta predileção pelos desejos e pelas
voluptuosidades que passam pelo crivo da intelectualização que, na ótica do
dandy, seria a única capaz de sublimar os desejos considerados mais grosseiros,
transformando-os em puros objetos de deleite estético. Amante da volúpia e do
belo, Inácio de Gouveia pergunta-se num tom claramente irreverente e
desdenhoso: “Onde encontrar beleza nos contatos do cio? Beleza... Mas haverá
Rafael Santana
225
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
ridículo mais torpe?... Ah!, o horror dos sexos – cartilagens imundas, crespas,
hilariantes... E os suspiros da cópula; as contrações picarescas, suadas... Infâmia
sem nome! (CF, p.546). Tal qual a personagem da americana de A Confissão de
Lúcio, Inácio de Gouveia abomina a mesmice do sexo reprodutor e sugere a
experimentação de outras formas de sexualidade, sensualismos inusitados e ainda
não explorados, geralmente ligados aos campos do psiquismo e do onanismo, que
dispensam a junção dos corpos, ou que transformam o contato carnal num
fenômeno estético, ligado ao conjunto das artes. Interessante insistir na similitude
das definições da sexualidade que nos dois casos volatizam a fisicalidade através
de sintagmas que apontam para a recusa dos amplexos brutais, para as secreções
imundas do corpo, através de uma transfiguração do erotismo em que os espasmos
são regulados pela fantasia. Na esteira desses paralelos entre A Confissão de Lúcio
e Ressureição, leem-se também as teorias de Inácio de Gouveia :
Tudo isto enfim, meu querido amigo – dissera-lhe ele por último – todas estas
complicações, estas estranhezas mórbidas – se resumem numa palavra:
onanismo. Eis o que nós somos, ambos: onanistas completos, admiráveis.
Com efeito, mesmo ao possuirmos uma mulher em cópula normal,
praticamos um ato de onanista, visto que a possuímos, não propriamente na
sua carne, mas em alguma coisa mais bela, mais vaga, mais sexualizada, que
imaginamos para o seu corpo. Os nossos espasmos, regula-os sempre a nossa
fantasia. Por mim, esvaio-me apenas no momento que escolhi.
(CF, p.570)
Em História da Loucura, Michel Foucault assinala que o século XIX
condenou práticas sexuais como a masturbação e a homossexualidade,
identificando-as ao campo das doenças mentais por serem incompatíveis com a
noção de família burguesa e com a ética do trabalho. Desiludidos com os
descaminhos do mundo científico-progressista, os artistas finisseculares e os seus
discípulos modernistas tendem a valorizar aquelas práticas que ferem a moral
vitoriana, e o tema da loucura, com todas as suas variantes possíveis, apresenta-se
como uma obsessão das suas artes, adquirindo neles forma e conteúdo. Não por
acaso a personagem de Inácio de Gouveia, espécie de retrato autobiográfico do
seu criador, diz que a sua arte manifesta-se numa espécie de escrita masturbatória,
Rafael Santana
226
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
o que não seria outro fenômeno senão o da própria loucura aplicada às formas
textuais.
Em relação à homossexualidade, o sujeito responsável pela mediação dos
afetos entre Inácio de Gouveia e Etienne Dalembert é Paulette Doré, atrizinha
medíocre de music-halls, mediana tanto em talento quanto em beleza. Inácio e
Etienne, em momentos distintos da narrativa, vivem uma paixão frustrada por
Paulette, indiferente para com as normas que a sociedade ditava para o seu sexo,
mulher cujo envolvimento com o mundo dos narcóticos e cuja sexualidade
promíscua e exacerbada não lhe permitiam a experiência de relacionamentos
duradouros.
Abandonado pela atriz antes mesmo de ter com ela sequer algum tipo de
contato mais íntimo, Inácio de Gouveia perpetua o desejo por aquela com quem
um dia aspirara a viver um romance, sendo a irrealização amorosa o que manterá
viva a chama da sua paixão. Transferindo o desejo amoroso para a esfera do
psíquico, Inácio suga de certa forma o ser do seu mediador, incorporando-o em si
próprio: “Triste amor... triste amor... Mal a conhecera, e no entanto como lhe
fizera bem... Ampliara-a... ampliara-a... Paulette agora vivia no seu mundo
interior” (CF, p.571, grifos do autor).
Em relação a Etienne, é ele mesmo quem abandona Paulette para viver
uma aventura amorosa com uma dançarina de ópera-cômica, atitude da qual muito
se arrepende posteriormente, manifestando a vontade de reatar a relação anterior.
Sofrendo por um amor irrealizado, e tendo como objeto do desejo uma mulher em
comum, Inácio e Etienne aproximam-se cada vez mais, até ao momento em que se
tornam amigos íntimos.
Por enxergar em Etienne uma projeção de si mesmo, uma continuação das
suas próprias ideias, e por conseguinte uma espécie de duplo da própria Paulette,
que vivia imaginariamente no seu mundo interior, Inácio de Gouveia sente-se
Rafael Santana
227
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
cada vez mais atraído pelo ator melancólico de quem se aproximava, e com quem
passava, quase diariamente, as tardes e as noites. E o desejo entre ambos é
marcado por um crescente processo de reciprocidade, fato que a narrativa faz
questão de salientar. Ao passo que Inácio de Gouveia, “se pensava na
rapariguinha, logo de súbito lhe ocorria a lembrança do ator” (CF, p.579), Etienne
compartilhava com o Inácio uma “comunhão de sensações” (CF, p.578), nutrindo
pelo amigo uma verdadeira ternura. Ao lado deles, entregue às drogas e à
promiscuidade, Paulette morre precocemente, intensificando o desejo amorosoerótico-carnal entre os seus ex-companheiros. Inácio começa a manifestar uma
vontade cada vez mais forte de beijar o amigo, e a lembrança viva daquele ser que
ambos amaram, “o mútuo desdobramento psíquico da Saudade comum” (CF,
p.581) por Paulette, faz com que “os seus corpos nus, masculinos, se entrelacem”
(Ibidem), sendo a figura da atriz simbolicamente ressuscitada através dessa união:
Ressurreição é afinal o titulo do conto.
Assim, lograva Inácio o gozo de uma experimentação sexual que, embora
física, lhe surgia como sendo a própria manifestação da arte. Nas palavras do
narrador: “Num instante pela primeira vez total, possuíra! possuíra enfim
exclusivamente – e em Íris: limpo de Ser, num êxtase de Auréola” (CF, p.581582). Utopias como possuir totalmente, com absoluta exclusividade, em plena
luminosidade aureolada são os modos de definição desse novo erotismo que pela
primeira vez na obra de Sá-Carneiro se realiza pela união de corpos masculinos
apenas mediados pelo fantasma feminino. Se, para Inácio de Gouveia, o artista é
aquele que, mesmo ao se apossar de alguém em cópula considerada normal,
pratica o onanismo e alcança desta forma não o logro da carne, mas o logro de
algo mais belo, sutil e sexualizado, a sua relação homoerótica com Etienne parece
adequar-se perfeitamente ao conceito que formulara. Com efeito, estetizando-se o
desejo carnal, isto é, fazendo, numa postura idêntica à do artista decadentista, com
que o sexo, demovido para um outro plano, consiga ocupar o lugar sublime da
arte, os amantes se mantêm isentos de uma fisicalidade corpórea, se
Rafael Santana
228
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
considerarmos que o ato sexual entre ambos se manifesta transmudado pela
fantasia. Se, em A Confissão de Lúcio, Marta é para Ricardo de Loureiro a sua
arte aplicada à vida, Paulette é, em Ressurreição, a ascensão de uma forma de arte
inesperada e surpreendente, através da qual Inácio de Gouveia, artista que sempre
buscou vincular as suas obras ao serviço da beleza, se vê pela primeira vez
triunfante e envolto em diademas, gozando o privilégio de assistir à
materialização do conceito esteticista finissecular de que a vida imita a arte, no
enredo da sua própria existência.
5.3
O EROTISMO CITADINO
A vida moderna é um ócio agitado, uma
fuga dentro da agitação ao movimento
ordenado.
(Fernando Pessoa – Obra em Prosa)
Lugar construído com vistas ao comércio, à troca material e à troca de
experiências, espaço marcadamente civil, onde se emprega um constante exercício
de sociabilidade, a cidade foi, ao longo da história, uma grande consumidora do
imaginário humano. Habitando a cidade e, ao mesmo tempo, sendo por ela
habitado, o homem acabaria por ampliar e por fortalecer os diversos significados
possíveis para a esfera do ambiente urbano, compreendendo-o não apenas como
um local de negociação e de produção, mas talvez – e sobretudo – como um
espaço acentuadamente lúdico, ou seja, como um lugar propício à atividade
criadora. Palco das representações sociais, onde os estranhos têm de aprender a
conviver mutuamente na sua diferença e no seu quotidiano, a cidade torna-se o
espelho no qual se refletem as relações entre as distintas camadas da vida em
sociedade, transmitindo as imagens de um mundo assinalado pelo jogo das
representações.
E seria especialmente na cidade burguesa do século XIX que o difícil
exercício da convivência social quiçá melhor se transmutasse nas suas múltiplas
Rafael Santana
229
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
máscaras, estetizando-se não raro através da matéria artística. Como se sabe, os
grandes ambientes urbanos são um fenômeno culturalmente típico de oitocentos,
e, em se tratando de literatura, talvez nenhum outro escritor como Charles
Baudelaire tenha intuído poeticamente, e de forma tão expressiva, a experiência
de habitar a metrópole moderna, abrindo caminho para que outros artistas, na sua
linha discursiva, também o fizessem. Abrigando no seu corpo uma multidão de
seres distintos e de classes distintas, a cidade vitoriana, da qual provêm as grandes
metrópoles do século XX, torna-se o espaço onde se materializa uma cultura
centrada no indivíduo, avessa aos laços e valores do sistema do Antigo Regime,
pautados na noção da coletividade e da res publica. Lugar onde convivem a um só
tempo o luxo, o glamour, a pompa, a moda, a miserabilidade, a doença, a
promiscuidade e os diversos problemas de ecologia, o espaço cosmopolita é
compreendido como um ambiente marcado pelas diferenças, no qual os
indivíduos, respeitando as particularidades de cada um, seriam submetidos
diariamente a novos processos de aprendizagem ao absorverem a cultura do outro
e, muitas vezes, ao se tornarem outros por meio da troca de experiências entre os
dessemelhantes, num convívio social que Roland Barthes (2001) classifica como
sendo uma espécie de relação erótica.
Para Barthes, todos “os objetos que fazem parte de uma sociedade têm um
sentido” (2001, p.209), e assim também seria concebido o espaço citadino,
estrutura que se prestaria a uma tarefa de leitura e a um convite à descodificação.
Apostando numa semiologia do discurso urbano, Barthes interpreta a cidade como
um espaço plural e significante, ou melhor, como uma linguagem que fala aos
seus habitantes, e onde o exercício da sociabilidade implicaria, amiúde, uma
relação essencialmente erótica entre os seus moradores, relação em que forças
subversivas e de ruptura concorreriam para a formação de atividades frisadamente
lúdicas e/ou transgressoras. Aqui, interessa-me sobretudo investigar como Mário
de Sá-Carneiro dá conta, em termos literários, da sua experiência de habitar por
vários anos a cidade de Paris – metrópole futurista pela qual manifesta uma
Rafael Santana
230
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
adoração que beira a fronteira do sexual –, transformando a sua vivência
biográfica no espaço cosmopolita da grande capital latina em tema de poesia, de
ficção e de epistolografia.
5.4
A HERANÇA BAUDELAIRIANA
Paris change! mais rien dans ma mélancolie
N'a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des
rocs 90.
(Charles Baudelaire – Le Cygne)
O discurso literário é, em sua essência, um discurso da mutabilidade. Da
Antiguidade Clássica à Idade Média, do mundo moderno à contemporaneidade,
muitas foram as formas de expressão do literário, assim como muitos também
foram os objetos do seu interesse. Da tradicional ideia da arte como tentativa de
representação do mundo, até uma concepção que a modernidade vem exacerbar, e
a partir da qual o referente se torna a própria matéria artística, o conceito de
literatura sofreu diversas e constantes metamorfoses. Não obstante a mutabilidade
da literatura e da arte, bem como a das suas formas de expressão, um elemento de
suma importância quer em poesia, quer em prosa, permaneceu praticamente
inalterado durante um largo fosso temporal: o espaço. Da Antiguidade Clássica à
Era Medieval, passando ainda pela chamada Era Clássica, o espaço retratado na
literatura esteve circunscrito muitas vezes, quando exterior, à esfera natureza e/ou
do ambiente rural ou, quando interior, à esfera intimista, isto é, relacionado a um
processo de sondagem da subjetividade, quase sempre masculina 91. E foi apenas a
“Paris mudou! porém minha nostalgia / É sempre igual: torreões, andaimes, lajedos, /
Arrabaldes, em tudo eu vejo alegoria, / Minhas lembranças são mais pesadas que rochedos.”
(BAUDELAIRE, 2004, p.100. Trad. Pietro Nassetti).
90
Ao afirmar que a retratação do espaço foi praticamente a mesma ao longo de séculos de
literatura, quero dizer com isso que as grandes metrópoles, cuja existência data do período
pós-Revolução Industrial, foram transformadas em tema de literatura apenas a partir do
século XIX, estando Charles Baudelaire à frente desse processo. A crítica especializada em
Baudelaire costuma afirmar que, antes do artista maldito, o modelo espacial de referência
era o ambiente campestre. Mesmo o Romantismo, estética do século XIX, manifestou muitas
91
Rafael Santana
231
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
partir da literatura produzida pela pena dos artistas do século XIX que a retratação
espacial sofreu uma espécie de radicalização, num processo iniciado por Charles
Baudelaire – primeiro artista a eleger o espaço cosmopolita como objeto poético –
, processo ao qual alguns dos seus discípulos deram continuidade ao longo do
século XIX e no princípio do século XX.
Charles Baudelaire, conhecido também pelo epíteto de o artista maldito, é
comumente apontado e celebrado, na literatura ocidental, como a grande figura
representativa da modernidade. Devido ao seu tom profanador e à sua postura
iconoclasta no que se refere aos campos tanto da arte como da vida, o poeta seria
tomado como patrono e titular de algumas estéticas ulteriores, a saber: o
Parnasianismo, o Decadentismo, o Simbolismo e o Modernismo. Por conta da
retomada dos seus postulados éticos e estéticos por outros artistas, assim como
pelo que sua poesia apresenta de inovador em relação à lírica tradicional,
Baudelaire é considerado hegemonicamente, pela crítica, o escritor a quem coube
prefaciar a modernidade. Propagando na sua obra conceitos avessos aos
instituídos pela sociedade do seu tempo, Baudelaire fizera da sua arte uma espécie
de instrumento cortante, porque ligada ao prazer hedonista de desrespeitar a pauta
dos sagrados valores da burguesia, tais como bondade, honestidade, moral,
importância da família, ética do trabalho, mulher progenitora, mãe e esposa,
louvor a Deus etc. Dandy por excelência, e defensor heráldico de uma postura
aristocratizante tanto na arte quanto na arte da vida, esse poeta encarnou uma
atitude defensiva para com a cultura massificadora, atrelada por demais à
ideologia burguesa, pela qual manifestava um profundo desdém. Com efeito,
percebe-se em Baudelaire uma relação ambígua, a um só tempo de atração e
repulsa pela civilização e pelo progresso, além de uma resistência declarada à
opinião pública, ao senso comum, aos partidos parlamentares e ao puritanismo da
vezes predileção pela paisagem rural ao optar pela filosofia rousseauniana. Charles
Baudelaire teria sido, deste modo, o primeiro artista a eleger o espaço cosmopolita como
objeto poético.
Rafael Santana
232
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
classe burguesa. Neste desejo intenso e intencional de desagradar, de ir em sentido
contrário ao gosto, encontramos no seu famosíssimo livro – As Flores do Mal
(1957), representante máximo das suas ideias singulares – a experimentação
literária de conceitos e temas ímpares, tais como o satanismo, a revolta, o repúdio
à natureza e a concepção da poesia não como produto da inspiração, mas como
formulação do pensamento 92.
Mas é sobretudo a retratação do espaço urbano, descrito paradoxalmente
nas suas dores e nas suas delícias, que fará de Baudelaire o pai da poesia moderna.
Segundo Michael Hamburger (1991), a especificidade distintiva da poesia
baudelairiana reside precisamente na singularíssima capacidade inovadora do
poeta, ao unir pela primeira vez na história da literatura dois elementos até então
antagônicos: o contemporâneo e o intemporal. Deste modo, para além de recorrer
aos chamados universais que, desde a Antiguidade Clássica, cumpriam uma
função didática e/ou pictórica na escrita literária, a poesia baudelairiana apresenta
uma série de outras imagens, até então completamente inusitadas, em que a cidade
surge como uma espécie de alegoria da modernidade, de uma modernidade
decadente e crepuscular. Ou seja, não são apenas as imagens efêmeras da agitada
vida sociocultural parisiense, dos seus requintes ultracivilizacionais, dos seus
bulevares, cafés e music halls que preenchem a escrita de Baudelaire. Na sua
poesia, o efêmero se presentifica sobretudo pelos paradoxos criados a partir da
justaposição de temas antagônicos (flores/mal), principalmente no confronto entre
a cidade e a natureza. O sujeito lírico aparece integrado a essa nova configuração
Pode-se perceber estas alusões em alguns poemas, tais como Hino à beleza (BAUDELAIRE,
2004, p.34); o poema “Porias o universo inteiro em teu bordel / Mulher impura! [...]” (Ibidem,
p.38), no qual o sujeito lírico relata a sua perplexidade perante uma mulher despótica; o
poema Sed non satiata – Cansada, mas não saciada – (Ibidem, p.39), em que o eu lírico se
declara impotente para cessar a sede sexual de uma femme fatale, ao mesmo tempo que se
lamenta pelo fato de não poder tornar-de uma mulher (Proserpina) para lograr tal fim,
referindo-se metaforicamente aos atos lésbicos da sua amante. Além disso, nos Escritos
íntimos baudelairianos, se pode perceber igualmente essa repulsa pelas mulheres que se
adéquam ao padrão familiar burguês do casamento e da maternidade, assim como uma
negação de alguns valores cristãos como bondade, honestidade e retidão.
92
Rafael Santana
233
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
espacial, numa insólita fusão entre a experiência estética e a experiência histórica
da modernidade, como bem assinala Jürgen Habermas (1990).
Seduzido e massacrado pelo aparato civilizacional, o sujeito lírico da
poesia baudelairiana, a um só tempo eufórico e abúlico, lança-se na busca de
prazeres vários como forma de escapar ao tédio da cidade (O Spleen de Paris).
Em Paisagem, poema de abertura dos famosos Quadros Parisienses, nos quais o
espaço cosmopolita é cantado em todas as suas contradições, o eu lírico, tal qual
insólito poeta romântico, propõe deitar-se “junto ao céu” para compor os seus
“castos monólogos”, na faina de cantar não uma natureza harmônica, idílica e
auratizada – como o fizeram os românticos mais ortodoxos –, mas sim o caótico
espaço urbano que, apesar das disparidades que apresenta, ofereceria ao poeta
iconoclasta a oportunidade de retratar um belo até então inusitado – a “hora
parda”, as “torres e chaminés”, os “mastros da cidade”, os “rios de carvão”
(BAUDELAIRE, 2004, p.95-96) que vão ao firmamento –, porque cultuado pelo
viés da transgressão.
Assinalando na sua poesia “um discurso da crise” (SISCAR, 2010, p.42),
Baudelaire fizera do corriqueiro, do banal e de tudo aquilo que era considerado
escandaloso do ponto de vista moral o próprio cerne da sua poesia, rompendo
assim com o modelo beletrístico até então associado à poesia lírica e à literatura
ocidental como um todo. Na sequência dos Quadros Parisienses, o sujeito lírico,
no poema metalinguístico muito sugestivamente intitulado Sol, apresenta o poeta
como aquele que pratica uma “estranha esgrima”, o que não seria outro exercício
senão o da laboriosa tarefa de domar as palavras ou, noutros termos, a luta entre o
escritor e as palavras. E seria mesmo interessante notar que é precisamente aí,
neste espaço até então considerado antipoético – lugar avesso à inspiração –, onde
o poeta fareja “por todos os acasos a rima” (BAUDELAIRE, 2004, p.96),
encontrando as suas frases tombadas nas calçadas da cidade, a flanar por avenidas,
travessas e becos desconhecidos.
Rafael Santana
234
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Poeta palpável, mais próximo à esfera terrena, eis aí uma outra imagem
possível para Charles Baudelaire, artista a um só tempo heráldico e “popular”.
Poeta que canta em todos os termos o tema da perda da aura, da perda do poder
demiúrgico ou do lugar poético do vaticínio, conferindo paradoxalmente à figura
do poeta a imagem de uma nova espécie de “profeta”. Não exatamente a imagem
do vate romântico, cuja palavra seria portadora de uma verdade inspirada, e cujas
atitudes estariam relacionadas a uma pedagogia construtiva, mas uma visão da
ruína, do avesso da beleza clássica, do deslocamento do sujeito, albatroz ao
mesmo tempo inadequado e grandioso. Atente-se no entanto para o fato de que ao
cantar o mundo em termos da ruína, ao pôr lado a lado o antigo e o moderno, ao
reequacionar o conceito de belo, ao conferir estatuto poético ao abjeto, Baudelaire
teoriza em poesia sobre a postura que deveria ser assumida pelo artista da
modernidade – dandy em todas as esferas da vida –, formulando uma nova espécie
de “pedagogia”, justamente no avesso do modelo tradicional oitocentista.
Em O Demônio da Teoria, Antoine Compagnon afirma que a literatura
baudelairiana assume um papel subversivo na sociedade francesa do seu tempo,
um papel diametralmente oposto ao aparelho ideológico do estado. Acrescenta
ainda que
[...] os grandes escritores (os visionários) viram, antes dos demais, para onde
caminhava o mundo: “O mundo vai acabar” – anunciava Baudelaire em
Fusées [Lampejos], no início da idade do progresso – e, realmente, o mundo
não cessou de acabar.
(COMPAGNON, 2006, p.37)
Com efeito, é Baudelaire o poeta responsável por anunciar aquela sensação
de fim do mundo, de fim dos tempos, sensação que seria reforçada pelos estetas
decadentistas e levada até ao extremo pelos artistas do Modernismo europeu.
Repare-se que, no já citado poema Sol, o sujeito lírico encerra o seu discurso
afirmando que o novo poeta, ou seja, o poeta da rua é aquele que “sabe aureolar a
coisa mais abjeta” (BAUDELAIE, 2004, p.96) – aura insubmissa –, o que poderia
Rafael Santana
235
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
ser traduzido, em Baudelaire, na descrição dos mendigos, dos cegos, dos
lavradores, dos trapeiros, culminando na célebre imagem da carniça, transformada
inusitadamente pelo discurso do poeta numa insólita alegoria
93
do amor.
Significativamente, se em Baudelaire o poeta é aquele que perde a aura e a coroa,
se ele é aquele que em teoria abdica dos dons proféticos conferidos ao artista, ele
é também – recorde-se – a própria encarnação metafórica do sol, capaz por isso
mesmo de poetizar os elementos e objetos mais triviais, ou mesmo considerados
apoéticos pelo senso comum, promovendo a um só tempo uma dessacralização e
uma ressacralização da poesia.
Neste sentido, se a experiência caótica da cidade moderna provoca
necessariamente a perda da aura, Baudelaire parece apontar, por outro lado, para a
ideia de que só seria possível vivenciar plenamente a experiência poética ao
mergulhar intensamente na indefinida e prolífica massa urbana, o que obriga o
poeta a se desvencilhar alegoricamente da sua coroa. Inscrita a partir de uma
dinâmica tensão entre polos antagônicos – Spleen e Ideal –, a poesia baudelairiana
incorpora a imagem do movimento, que consiste em ir ao fundo do desconhecido
para encontrar o abismo e o que ele tem de novo. Assim, a perda da aura deve ser
compreendida não exatamente como um simples sintoma de rebaixamento do
poeta e da poesia, mas talvez como o único modo possível de vivenciar a
modernidade mais plenamente e de traduzi-la em poemas, conferindo-lhe forma e
sentido. Daí os famosos Pequenos Poemas em Prosa (1864) do artista maldito,
compostos com o intuito de captar de forma mais precisa as diversas nuances da
vida moderna e citadina, narrada na sua transitoriedade, na sua fragmentação, na
sua diversidade e na sua fluidez.
Na estética baudelairiana, todos os objetos que fazem parte de uma
sociedade têm um sentido, como a antecipar as reflexões de Roland Barthes, que
Utilizo o termo alegoria no seu sentido benjaminiano. Nas páginas subsequentes deste
capítulo, voltarei a tratar deste conceito, discorrendo sobre a significação que o teórico
alemão a ele confere ao opô-lo ao conceito de símbolo.
93
Rafael Santana
236
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
afirma que “tudo que significa no mundo está sempre, em maior ou menor grau,
misturado com a linguagem” (BARTHES, 2001, p.206). Como assinalei
anteriormente, quero compreender como o cenário parisiense toma corpo na
produção romanesca de Mário de Sá-Carneiro, herdeiro direto do legado literário
de Baudelaire e dos seus discípulos decadentistas. Para tanto, sirvo-me das
reflexões de Barthes sobre o discurso metafórico da cidade, expressas no ensaio
intitulado Semiologia e Urbanismo, publicado em A Aventura Semiológica.
5.5
A SEMIOLOGIA DO ESPAÇO URBANO
A cidade é um discurso, e esse discurso é
verdadeiramente uma linguagem: a cidade
fala a seus habitantes, falamos nossa
cidade, a cidade em que nos encontramos,
habitando-a simplesmente, percorrendo-a,
olhando-a.
(Roland Barthes – A Aventura Semiológica)
Ao refletir sobre a linguagem humana no seu âmbito não verbal, diz
Barthes: “Decifrar os signos do mundo sempre quer dizer lutar com certa
inocência dos objetos” (2001, p.178), o que significa dizer que o mundo seria um
império de signos que se prestariam a uma leitura. Barthes apostava numa
semiologia do espaço urbano, compreendido por ele como um discurso
significante, lugar onde o homem moderno empreenderia diariamente as suas
diversas leituras, vivenciando o fenômeno da sociabilidade na natureza
eminentemente metafórica do discurso da cidade. Utilizando como ponto de
partida as ideias legadas por Saussure, e expostas por seus discípulos no famoso
Curso de Linguística Geral (1915), Roland Barthes começava, a partir dos anos
sessenta do século XX, a ultrapassar os limites deixados pelos estudos do mestre
genebrino, restritos tão somente aos fatores internos da língua, e, num projeto
ousado, propunha a leitura do teatro do mundo, do império de signos do mundo.
Atentando para a relação existente entre a linguagem e os objetos, por exemplo,
num texto sugestivamente intitulado A Cozinha dos Sentidos, pergunta-se:
Rafael Santana
237
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Uma roupa, um carro, uma iguaria, um gesto, um filme, uma música, uma
imagem publicitária, uma mobília, uma manchete de jornal, eis aí,
aparentemente, objetos completamente heterogêneos.
Que podem ter em comum? Pelo menos o seguinte: todos são signos. Quando
me movimento na rua – ou na vida – e encontro esses objetos, aplico a todos,
às vezes sem me dar conta, uma mesma atividade, que é a de certa leitura: o
homem moderno, o homem das cidades, passa o tempo a ler.
[...]
Todas essas “leituras” são importantes demais na nossa vida, implicam
demasiados valores sociais, morais, ideológicos para que uma reflexão
sistemática não tente assumi-las: é essa reflexão que, por enquanto pelo
menos, chamamos de semiologia.
(BARTHES, 2001, p.177-178, grifos do autor)
E no famosíssimo texto da sua aula inaugural no Collège de France,
Barthes discorre sobre a relação existente entre a linguística e a sua própria
proposta de semiologia:
Por seus conceitos operatórios, a semiologia, que se pode definir
canonicamente como a ciência dos signos, saiu da linguística. Mas a própria
linguística, um pouco como a economia (e a comparação não é talvez
insignificante), está em vias de estourar, parece-me por dilaceramento: por
um lado, ela está atraída por um polo formal, e seguindo essa inclinação,
como a economia, formaliza-se cada vez mais; por outro lado, ela se apodera
de conteúdos cada vez mais numerosos e cada vez mais afastados de seu
campo original; assim como o objeto da economia está hoje em toda parte, no
político, no social, no cultural, do mesmo modo o objeto da linguística é sem
limites: a língua, segundo uma intuição de Benveniste, é o próprio social. Em
resumo, quer por excesso de ascese, quer por excesso de fome, escanifrada ou
empanzinada, a linguística se desconstrói. É essa desconstrução da
linguística que chamo, quanto a mim, de semiologia.
(BARTHES, 2007, p.28-29, grifos nossos)
Embora Barthes tome como ponto de partida as ideias de Saussure, a sua
preocupação reside, diferentemente da de seu mestre, em estudar o “como os
homens dão sentido às coisas que não são sons” (2001, p.206). Diante disso,
parece
fácil
inferir
que
a
semiologia
barthesiana
procurava
focar-se
prioritariamente na análise de tudo aquilo que representasse o lado não pragmático
da linguística, de tudo aquilo que excedesse o signo como miragem meramente
formal, de tudo aquilo que, enfim, fosse signo, visto que “o espaço humano em
geral [...] sempre foi significante” (2001, p.220). No seu célebre livro Aula, o
ensaísta francês, ao considerar as relações entre liberdade e opressão, afirma o
seguinte a respeito da linguagem: “não se pode [...] haver liberdade senão fora da
Rafael Santana
238
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
linguagem. Infelizmente, a linguagem humana é sem exterior: é um lugar
fechado” (2007, p.15). Como estrutura fechada em si, como classificação, a
linguagem seria, segundo Barthes, opressiva e, até mesmo, fascista, qualificação
que causara espanto, mas que ele justifica imediatamente dentro da lógica do
poder não como aquela que impede de dizer, mas como aquela que, na verdade,
obriga a dizer, ou seja, que obriga a enunciar sentenças de acordo com um
conjunto de normas e regras que tolhem a individuação do verbo em nome do
gregarismo. Ora, se a língua é aquela que se submete à norma, circunscrevendo o
espaço da liberdade de expressão, caberá à literatura – força subversiva que é –
romper com a norma imposta e “trapacear com a língua” ou, diz Barthes mais
radicalmente, “trapacear a língua” (Ibidem, p.16). Ludibriando a língua, a
literatura consegue conquistar a liberdade que existe apenas no exterior da
linguagem, ao combatê-la no seu próprio interior. Para Barthes, o conceito de
literatura corresponde não a um conjunto de obras, mas a uma prática de escrita, a
um tecido no qual ficam impressas as pegadas desta prática. Mais que isso, a
literatura é um teatro de palavras, uma encenação da linguagem, cujo objetivo
seria precisamente a realização do desejo do impossível: a representação do real.
Mas o “real não é representável” (Ibidem, p.21), dirá Barthes, uma vez que não há
paralelismo possível entre a ordem pluridimensional do mundo e a ordem
unidimensional da escrita.
Ora, essa consciência da impossibilidade de representação do real é
justamente aquela que, em relação às artes, norteia todo o pensamento moderno e
contemporâneo, e no caso específico de Mário de Sá-Carneiro – escritor imerso
num tempo histórico e num movimento artístico que pregam a ideia da crise da
mimèsis –, tal ideia constitui a base do seu pensamento literário. Segundo Antoine
Compagnon, “recusar o interesse pelas relações entre literatura e realidade”
significa, de alguma maneira, “adotar uma posição ideológica antiburguesa e
anticapitalista” (2006, p.107). E é precisamente essa a posição tomada por SáCarneiro e por toda a geração de Orpheu, uma vez que a sua literatura recusa
Rafael Santana
239
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
filiação à sociedade vitoriana, além de cantar, na aurora da modernidade inaugural
do século XX, a ruína do edifício ético burguês e do mundo científicoprogressista.
5.6
A RELAÇÃO ERÓTICA COM PARIS
Europa! Europa! Encapela-te dentro de
mim, alastra-me da tua vibração, ungeme da minha época.
(Sá-Carneiro – A Confissão de Lúcio)
No conjunto da obra de Mário de Sá-Carneiro, seja ela poética, romanesca
ou epistolar, uma mesma ideia é reiterada de forma obsessiva: a necessidade de
escapar ao tédio de um mundo evidente e de imiscuir-se no mistério. Em Céu em
Fogo, coletânea de contos dispersos que, como vimos, formam um todo coerente,
uma espécie de texto de textos, o narrador autodiegético de A Grande Sombra
enuncia esta amarga e dolorosa sentença: “Em vão busco ainda acompanhar-me
de fantasmas... Tudo vive esta vida ao meu redor...” (CF, p.435, grifos do autor).
E prossegue o desencantado narrador: “Meu Deus... meu Deus... Como hei-de
suportar esta luz sem fim – inevitável e obcecante...” (Ibidem, p.434). Atente-se aí
para o eixo basilar da obra de Mário de Sá-Carneiro, o desejo de escapar ao real
através do logro do mistério, desejo que se faz presente não apenas nas sugestões
simbolistas, das quais o narrador faz uso por meio do acúmulo de reticências,
senão também – e sobretudo – pelos enunciados cujo significado torna claramente
expresso o anseio de lograr o impossível: evadir-se da vida, elidir o real
quotidiano. Neste afã, o eu narrador tentará escapar ao desinteressante e
insuportável dia-a-dia ungindo a sua existência com o mistério. “Na minha atração
pelo Mistério freme densamente qualquer coisa de sexual” (Ibidem, p.424), diz o
narrador de Mário de Sá-Carneiro. E o mistério, buscá-lo-ia este eu desalentado
naqueles elementos aparentemente mais simples, teoricamente banais, que
interessam ao vulgo apenas pela função que exercem na sociedade, isto é, pela sua
capacidade utilitária. Tais elementos, desloca-os o irreverente narrador da sua
Rafael Santana
240
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
funcionalidade primeira, básica ou padrão, imbuindo-os paradoxalmente (e tomo a
palavra no seu sentido etimológico de desvio da doxa) de uma densa carga erótica.
Ao analisar a relação existente entre erotismo e poesia, Octavio Paz – A
Dupla Chama – afirma “que o primeiro é uma poética corporal e a segunda uma
erótica verbal” (1994, p.12). E observemos que o ensaísta fala de erotismo e não
exatamente de sexualidade, pois para ele o ato sexual e o erotismo representam
dois fenômenos categoricamente distintos: no primeiro, o prazer estaria
intimamente ligado à ideia da procriação e, neste sentido, a uma função e a uma
utilidade sociais; no segundo, o ato teria um fim em si mesmo ou finalidades
diversas, para além da atividade da reprodução. Portanto, a esterilidade não só
estaria diretamente relacionada ao ato erótico, como se apresentaria como
condição necessária à sua manifestação. Saltando em metáfora para a escrita
literária, Octavio Paz a concebe dentro deste mesmo viés, uma vez que, na
cristalização verbal do discurso da literatura, a linguagem se desvia da sua
finalidade primeira: a comunicação. Em relação a Mário de Sá-Carneiro, eu diria
que, ao deslocar os elementos de que se apropria nas suas obras da sua
funcionalidade comum, o artista imbui esses elementos aparentemente tão simples
de uma forte carga erótica, constituindo aquilo que a escrita decadentista – da qual
o autor de Dispersão é prócer incontestável – nomeia de exercício do paradoxo.
Urdindo a sua obra a partir de um discurso alegórico, insubordinado a um
“significado ou conceito fixo, esclerosado, anquilosado”, ou seja, “a uma
ideologia burguesa, mercantil, capitalista, sob o signo do total e avassalador
utilitarismo, que os estetas todos combatem até à morte” (MUCCI, 2004, p.15),
Mário de Sá-Carneiro, na tentativa de vencer o tédio, e ao mesmo tempo na
consciência da impossibilidade de lográ-lo, faz da sua escritura um aparelho
desconstrutor da doxa, isto é, do senso comum. Utilizando-me das reflexões de
Walter Benjamin (1984) sobre os conceitos de símbolo e de alegoria, eu diria que
a literatura sá-carneiriana, fragmentária par excellence, poderia ser facilmente lida
Rafael Santana
241
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
no avesso do símbolo seja pela recusa do conceito de totalidade, seja pela
constante provocação de novos sentidos, vale dizer, pelo processo imagético
inusitado a que submete os elementos de que se apropria, num processo típico da
modernidade. No que concerne especificamente ao ambiente urbano, Mário de SáCarneiro, na linha discursiva de Baudelaire, fará da cidade um espaço alegórico
em aberto, ou ainda, um local que oferece ao artista entediado a possibilidade de
fugir do spleen. Transformando o espaço cosmopolita num corpo a ser percorrido
voluptuosamente em todas as suas zonas erógenas, Sá-Carneiro escreve, descreve
e pinta Paris – cidade pela qual manifesta uma verdadeira atração sexual – em alta
tonalidade erótica:
Paris da minha ternura
Onde estava a minha Obra –
Minha Lua e minha Cobra,
Timbre da minha aventura.
Ó meu Paris, meu menino,
Meu inefável brinquedo...
– Paris do lindo segredo
Ausente no meu destino.
Regaço de namorada,
Meu enleio apetecido –
Meu vinho de Oiro bebido
Por taça logo quebrada...
Minha febre e minha calma –
Ponte sobre o meu revés:
Consolo da viuvez
Sempre noiva da minha Alma...
Ó fita benta de cor,
Compressa das minhas feridas...
– Ó minhas unhas polidas,
– Meu cristal de toucador...
Meu eterno dia de anos,
Minha festa de veludo...
Paris: derradeiro escudo,
Silêncio dos meus enganos.
Milagroso carrossel
Em feira de fantasia –
Meu órgão de Barbaria,
Meu teatro de papel...
Minha cidade-figura,
Minha cidade com rosto...
– Ai, meu acerado gosto,
Minha fruta mal madura...
Rafael Santana
242
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Mancenilha e bem-me-quer,
Paris – meu lobo e amigo...
– Quisera dormir contigo,
Ser todo a tua mulher!...
(IO, 1995, p.107)
Este poema, Abrigo – cujo título dá conta do acolhimento paradoxal da
cidade, “meu lobo e amigo” –, é um dos quarenta e seis textos que compõem a
parte da obra poética sá-carneiriana intitulada Indícios de Oiro, a mais
imageticamente decadentista de todas, se cotejada com as quatro partes restantes,
a saber: Dispersão, Últimos Poemas, Poemas Dispersos e Primeiros Poemas. Em
Indícios de Oiro, os temas mais recorrentes da literatura finissecular são
disseminados, de forma aristocrática, da primeira à última poesia: o dandy, o
andrógino, a femme fatale, o mito de Salomé, a Paris cosmopolita e heráldica, eis
aí alguns tópicos da predileção do sujeito lírico dos poemas de Sá-Carneiro,
tópicos sobre os quais esse eu disperso sempre discorre voluptuosa e
eroticamente.
Bem sei... É que, para mim, tudo quanto me impressiona se volveu
sexualizado – e em sexo apenas o oscilo, o desejo e o sofro... Eis pelo que
sempre cataloguei, excitantemente e a par, os corpos nus, esplêndidos; as
cidades tumultuosas da Europa – os perfumes e os teatros rutilantes,
atapetados a roxo – as paisagens de água, ao luar – os cafés de ruído, os
restaurantes de noite, as longas viagens – o murmúrio contemporâneo das
fábricas, das grandes oficinas – a loucura e as bebidas geladas – certas flores,
como as violetas e as camélias – certos frutos, como o ananás e os morangos,
na sua acidez toda nua, de caprichos afilados.
(CF, 1995, p.425)
Como se pode ver, o poema e o excerto narrativo acima manifestam um
denominador comum: o erotismo do espaço urbano que Sá-Carneiro assume na
sua sexualidade 94. E repare-se que a cidade de Paris é, no poema Abrigo, cantada
através de vocábulos que formam pares antitéticos – Lua e Cobra, febre e calma,
lobo e amigo – disparidades que, a meu ver, assinalam a um só tempo as duas
faces da moeda citadina: o puro e o impuro, o belo e o horrendo, o genial e o
94
O que Octavio Paz considera erotismo Sá-Carneiro chama de sexo.
Rafael Santana
243
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
rastaquouère ou, muito baudelairianamente, as flores e o mal. Assim Paris é
cantada em A Confissão de Lúcio; assim em Céu em Fogo; assim na produção
poética e epistolar de Mário de Sá-Carneiro. E é precisamente sobre esta cidade
díspar, com contradições patentes, que o autor de Dispersão derrama todo o seu
amor, e que os seus personagens romanescos, tal como os eus líricos da sua
poesia, gritam toda a sua paixão. Com efeito, é Paris uma cidade claramente
personificada na obra sá-carneiriana. “Minha cidade com rosto”, chama-lhe o
poeta em Abrigo, encerrando o seu discurso com estes três apoteóticos versos:
“Paris – meu lobo e amigo... / – Quisera dormir contigo, / Ser todo a tua
mulher!...”. No trecho retirado de Céu em Fogo, Paris não é, por sua vez, cantada
de forma distinta. A grande capital latina, numa espécie de panegírico
sensacionista à moda de Álvaro de Campos, é descrita freneticamente em termos
de gozo, ressaltando o narrador a sua concretude e fisicalidade. Fálica e ativa,
assim Paris se lhes apresenta a Mário de Sá-Carneiro e às figuras criadas pelo seu
discurso literário. Ousaria mesmo dizer que, não diferentemente de Álvaro de
Campos, o mais moderno dos heterônimos pessoanos, Mário de Sá-Carneiro e as
suas criaturas de papel também manifestam homoeroticamente o desejo de serem
invadidos, penetrados, rasgados, enfim, pela civilização cosmopolita sua
contemporânea, tornando-se também eles passentos “A todos os perfumes de
óleos e calores e carvões / Desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável”
(PESSOA, 2006, p.306) que, na obra literária de Mário de Sá-Carneiro – lisboeta
provinciano com aspirações megalomaníacas –, não corresponderia a outro espaço
senão ao da cidade de Paris, voluptuoso corpo urbano “ultracivilizad[o] e banal”
(CL, p.355).
Em Sensacionismo, o Capítulo sobre a Relação entre a Arte Moderna e a
Vida Moderna (1916?), Fernando Pessoa (2005) afirma que a sua época – à qual
nomeia de a era das máquinas – caracteriza-se por um crescente internacionalismo
que se manifesta socialmente numa espécie de decadência do sentimento nacional.
Tal decadência viria, segundo Pessoa, implicar uma quase necessária valorização
Rafael Santana
244
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
do estrangeiro, dado que as grandes nações europeias, entregues ao instinto
mercantil, passam a ser consideradas mais ricas culturalmente, porque, trazendo
dentro de si próprias tudo aquilo que é típico doutras civilizações, resumem no seu
cosmopolitismo o espírito não só da Europa, mas o espírito universal. Em se
tratando da literatura sá-carneiriana, vemos que o autor comunga, ipsis litteris,
com os conceitos pessoanos acerca do moderno fenômeno citadino, quando, por
exemplo, ao descrever os perturbadores convidados da festa decadentista da
americana em A Confissão de Lúcio – “estranhas mulheres”, “russos hirsutos e
fulvos”, “escandinavos suavemente louros”, “meridionais densos”, “um chinês” e
“um índio” – faz com que o narrador termine por afirmar que o ambiente em que
se encontrava condensaria perfeitamente “o Paris cosmopolita – rastaquouère e
genial” (CL, p.361), espaço da alteridade, ambiente que o artista não raras vezes
opõe, com total desdém, ao território da sua própria nação.
Cumpre ressaltar aqui que é sempre a partir do ponto de vista de um
lisboeta provinciano e desejoso de negar a sua condição natural que Mário de SáCarneiro descreve e pinta Paris. Fernando Pessoa, na primeira parte do seu artigo
O Provincianismo Português (s/d), afirma recordar-se de um dia ter dito o
seguinte ao autor de Indícios de Oiro, que ele considerava um grande artista e
também um dos seus melhores amigos:
V. é europeu e civilizado, salvo em uma coisa, e nessa V. é vítima da
educação portuguesa. V. admira Paris, admira as grandes cidades. Se V.
tivesse sido educado no estrangeiro, e sob o influxo de uma grande cultura
europeia, como eu, não daria pelas grandes cidades. Estavam todas dentro de
si.
O amor ao progresso e ao moderno é a outra forma de provincianismo. Os
civilizados criam a moda, criam a modernidade; por isso não lhes atribuem
importância de maior. Ninguém atribui importância ao que produz. Quem
não produz é que admira a produção.
(PESSOA, 2005, p.336)
Tendo recebido uma educação mais ou menos sofisticada, Sá-Carneiro
manifesta um verdadeiro deslumbramento pelas grandes cidades e pelos luxos e
Rafael Santana
245
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
requintes ultracivilizacionais do mundo moderno 95 , cantado por ele, muito
baudelairianamente, nos seus mistérios gozosos e dolorosos, no seu fascínio a um
só tempo atrativo e repulsivo. Assinalando na sua obra o caráter ocidental de
Portugal, não é entretanto para cantar a pátria em termos camonianos que o
escritor faz questão de frisar este vocábulo tão insistentemente recuperado ao
longo da história da literatura portuguesa. No avesso do canto épico do grande
vate lusitano, Sá-Carneiro aponta a degradação que a “metrópole” lisboeta
esconde sob as marcas do progresso e inverte o saldo épico da nação, descrevendo
a terra natal, a sua “terra ocidental ao fim da Europa” (CF, p.427), como um local
triste e assolado pela mediocridade. “As ruas tristonhas de Lisboa do Sul, desciaas às tardes magoadas rezando o seu nome: O meu Paris... o meu Paris” (CL,
p.371), diz Ricardo de Loureiro; “minha terra medíocre, nesta cidade ocidental, ao
sul da Europa” (CF, p.427), reitera o narrador de A Grande Sombra, assinalando a
sua ojeriza por Portugal e por Lisboa, tomada aqui como metonímia da nação.
“Lisboa era uma casa estreita, amarela – parentes velhos que não deixavam sair as
raparigas – luz de petróleo, tons secos, cheiro de alfazema...” (Ibidem, p.544),
finaliza o narrador de Ressurreição, rejeitando a concepção burguesa de família e
o atraso cultural e econômico da sua nação, que não tem as luzes nem as cores,
nem os ricos perfumes de Paris. Sonhando com vastos impérios, com grandes
capitais e com luxuosíssimas terras situadas ao norte, as criaturas ficcionais de SáCarneiro – não raramente atreladas à biografia do seu criador – intentam despojarse da sua condição de ocidentais embebendo-se da voluptuosa “atividade febril
contemporânea” (Ibidem, p.427). E é precisamente no contraditório, caótico, mas
também erótico espaço urbano que a concretização de tal desejo poderia tornar-se
possível.
Em Sá-Carneiro, temos, por um lado, o artista que recusa o mercantilismo do burguês
capitalista; por outro, esse mesmo artista que se encanta com o progresso das grandes
metrópoles, que são o resultado do projeto burguês. No entanto, o que interessa a SáCarneiro nos grandes centros urbanos é na verdade a contemplação da vida moderna sem
dela participar ativamente, sem contribuir, de uma forma considerada pragmática, para o
progresso do mundo.
95
Rafael Santana
246
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
As grandes cidades... o triunfo de ascender nas Praças monumentais a
colunas simbólicas –, e da sua altura – estátua, deixar perder os olhos por
toda a casaria... Possessa, a vista ziguezagueia-nos por ruas, por avenidas,
entre parques... espraia-se-nos infinitamente pelo mar dos telhados... E é um
formigueiro de edifícios que, do alto, surgidos em panorama, se entrecruzam,
se interseccionam, se engolfam uns pelos outros – indestrinçáveis,
alucinantes...
Momento a momento o turbilhão nos volve mais confusos... Breve perdemos
a noção da distância... uma vertigem nos rodopia... até que, em nossa face,
todo o horizonte se desloca – e se vela, ocupado em miragem por outra
cidade de mistura...
Ondulamos de erro... arrepiam-se-nos os olhos, sagrados... febricitamos de
pairar...
... E a vida corre aos nossos pés, a vida – entanto!...
(CF, p.428, grifos do autor)
Atravessada pelo Sensacionismo e pelo Interseccionismo, a metrópole
futurista é considerada na escritura de Sá-Carneiro como um espaço onde todos os
sentidos convergiriam ao mesmo tempo, em múltiplas pulsações sinestésicas.
Desfrutando desse ambiente fálico, marcado por um excesso febril, o indivíduo
citadino perdia a noção do tempo, do espaço e de si próprio, num processo
vertiginoso que o levava à contemplação de uma outra realidade, fusão da
paisagem real e da paisagem criada a partir da convergência de todas as
sensações, manifestadas euforicamente. Assim, o aforismo pessoano “A realidade,
para nós, surge-nos diretamente plural” (2005, p.175) parece adequar-se
perfeitamente à obra de Sá-Carneiro, que canta as grandes cidades em todo o seu
erotismo, em todas as suas atividades transgressoras, em todas as suas
possibilidades de criação de mundos alternativos. Repare-se que o eu narrador de
A Grande Sombra manifesta, tal qual o poeta Álvaro de Campos, uma espécie de
lassidão pós-coito de tanto gozar do espaço cosmopolita, apresentando um misto
de cansaço e tristeza após o retorno à realidade vulgar: a vida. Em Ressurreição,
assinala o narrador a respeito da personagem de Inácio de Gouveia, artista
português, tal como o seu criador, apaixonado e excitado pela cidade de Paris:
Ah, como por exemplo ele se olhava grande por tão admiravelmente sentir o
seu amor por Paris, a esbater-se em saudade, longe dele – incerto de o oscilar
de novo, tão cedo...
– Paris!
As grandes avenidas, os bulevares tumultuantes, e à noite o Sena, sob as
pontes heráldicas, arfando de mil luzes...
Rafael Santana
247
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
La Cité... Nossa senhora de Paris! – a Catedral Tragédia enlaçando-se ao ar,
temível, pálida e exorcismos; a vibrar sombra gelada, a projetar mistérios – a
Igreja fantástica, para além das suas linhas a pedra, suscitando todo um
arcaboiço em Alma; criando, maravilhosa, um movimento esguio e sonoro,
translúcido e úmido, ritmizado em escoamento, erguendo-se ao céu, fugitivo,
a esvair-nos de altura cendrada...
Lá dentro abóbadas, naves de pasmos – milagre e medo na luz de imagens
que os vitrais coam...
– Avenida da Ópera!
A Rua Europeia, a Rua das Raças – larga, pejada de trânsito, sonora a grande
vida – imensa de Cor, cegante de Ação!...
Praça Vendôme, às cinco horas, Rua da Paz dos cetins e esmeraldas –
princesas de unhas lustrosas, vermelhas – oiro, véus, rendas, plumas,
zibelinas – cortesãs e Atrizes, ídolos maquilhados da minha época, frágeis e
agudos, nervosos...
Montmartre dos narcóticos, às festas noturnas – lantejoulas, escumalha,
filigranas – danças da Andaluzia, canções da Itália – ó bebedeira esquiva do
Champanhe, insônia platinada dos beijos de carmim...
Jardins românticos a amor e tradição...
Palácios reais, escadarias, arcos...
Plintos, colunas, obeliscos...
Sol-poente a arder em horizontes de bruma...
Longes de torres de aço, altas chaminés das oficinas – pontes, andaimes,
guindastes, cremalheiras – fábricas titânicas, silvos de locomotiva – vibrações
de Progresso, murmúrios de Amanhã...
– Paris aristocrático!
– Paris dos bas-fonds!
– Paris da colmeia!
Paris! Paris! Orgíaco e solene, monumental e fútil...
(CF, p.543-544)
A longa citação permite discutir sobre uma estrutura que é cantada a partir
do acúmulo e do excesso seja pela descrição do espaço cosmopolita propriamente
dito, seja pela apresentação dos habitantes de uma cidade atravessada pela cultura
de todos os povos. Em relação à ambiência citadina, enumera o narrador, com
volúpia e erotismo, numa alta féerie sensorial: as grandes avenidas, os bulevares
tumultuantes, as abóbadas, a Avenida da Ópera, a Rua Europeia, a Rua das Raças,
Montmartre dos narcóticos, colunas, obeliscos, torres de aço, fábricas titânicas.
Eis aí um ambiente cantado em toda a sua pluralidade e em toda a sua agitação,
diante do qual o indivíduo contempla a realidade quotidiana como mero
espectador, sem dela participar ativamente, por recusar para si a ideia do trabalho.
Descrito num processo de justaposição, o espaço citadino abriga seres das mais
variadas culturas e etnias, interessando ao narrador o destaque daqueles que se
diferenciam da massa pelas suas atividades transgressoras e lúdicas: cortesãs,
Rafael Santana
248
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
atrizes, ídolos maquilhados, todos eles marcados pela fragilidade e pela nevrose,
ferindo desta forma o espírito positivista e a sua premissa máxima: “mente sã,
corpo são”. Orgíaca, Paris assinala-se pelo erotismo e pelo dispêndio, e o narrador
faz questão de frisar a sua monumentalidade e a sua futilidade, ou seja, o seu lado
sedutor, não pragmático e não utilitário. É, pois, desta forma que o narrador de SáCarneiro admira a Paris das camadas populares (Paris dos bas-fonds), a qual
contempla como algo pitoresco e exótico, e também a Paris das elites
ultracivilizadas (Paris aristocrático), da qual desfruta eroticamente a intensa vida
cultural. Segundo Roland Barthes, a cidade – espaço da alteridade – seria uma
espécie de discurso, uma espécie de linguagem, e, como tal, obedeceria a uma
estrutura plenamente imbuída de carga erótica.
[...] O erotismo da cidade é o ensinamento que podemos retirar da natureza
infinitamente metafórica do discurso urbano. Utilizo essa palavra erotismo na
sua acepção mais ampla: seria derrisório assimilar o erotismo de uma cidade
apenas ao bairro reservado a esse tipo de prazer, pois o conceito de lugar de
prazer é uma das mistificações mais tenazes da funcionalidade urbana; é uma
noção funcional e não uma noção semântica; emprego indiferentemente
erotismo ou socialidade. A cidade, essencial e semanticamente, é o lugar de
encontro com o outro, e é por essa razão que o centro é o ponto de reunião de
toda a cidade; o centro da cidade é instituído antes de tudo pelos jovens,
pelos adolescentes. Quando estes exprimem a sua imagem da cidade, sempre
têm tendência a restringir, a concentrar, a condensar o centro; o centro é
vivido como o lugar de troca das atividades sociais e eu diria quase das
atividades eróticas no sentido amplo do termo. Melhor ainda, o centro da
cidade é sempre vivido como o espaço onde agem e se encontram forças
subversivas, forças de ruptura, forças lúdicas. O jogo é um tema que muitas
vezes é destacado nas pesquisas sobre o centro; existem na França uma série
de pesquisas atinentes à atração de Paris sobre a periferia e, através dessas
pesquisas, observou-se que Paris, enquanto centro, para a periferia, era
sempre vivida semanticamente como o lugar privilegiado onde está o outro e
onde nós mesmos somos o outro, como o lugar onde se brinca. Ao contrário,
tudo que não é o centro é exatamente o que não é espaço lúdico, tudo que não
é a alteridade: a família, a residência, a identidade.
(BARTHES, 2001, p.229)
Andando a esmo pelas inebriantes ruas de Paris, Mário de Sá-Carneiro
experimentava em si próprio o processo de devir-outro, fazendo dessa experiência
um tema de ficção e de poesia. Na quarta parte do conto A Grande Sombra, ao
discorrer sobre as viagens e as grandes cidades, revela o eu narrador:
Depois de vagabundear incerto algum tempo por outros países, esqueço-me
de quem sou [...] Duvido se serei eu-próprio – convenço-me de que não sou...
Rafael Santana
249
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Nunca pude crer que fôssemos totais: o meio que nos envolve é também um
pouco de nós, seguramente.
(CF, p.427)
Ao flanar pelas grandes urbes em busca do outro, é também com a
alteridade, com um outro de si, que Mário de Sá-Carneiro e as suas criaturas de
papel se encontram. Na sua vasta correspondência literária com Fernando Pessoa
– epístolas urdidas num tom absolutamente ficcional –, Sá-Carneiro relata, em
carta datada de 10 de dezembro de 1912, ter conhecido em Paris um português, tal
como ele, radicado em França, chamado Guilherme de Santa-Rita, hoje mais
conhecido pela alcunha de Santa-Rita Pintor. Estranha figura, Guilherme de
Santa-Rita, dandy e antiburguês declarado, afirma – diz Sá-Carneiro a Fernando
Pessoa – que “no artista o que menos lhe parece importar é a obra. O que acima de
tudo lhe importa são os seus gestos, os seus fatos, as suas atitudes. Assim, não usa
relógio porque os artistas não usam relógio” (COL, p.728). Para Santa-Rita, o
artista valeria tanto mais pelo interessante do seu aspecto físico e pelo genial da
sua conduta – ambos diferenciais numa sociedade estabelecida sob a égide dos
princípios morais, dos moldes e das convenções – do que verdadeiramente pelo
que pode haver de essência nas suas obras. Ora, é justamente esse português sui
generis com quem Mário de Sá-Carneiro travou amizade em Paris aquele que
inspirou o escritor, entre os anos de 1913 e 1914, a criar a personagem de
Gervásio Vila-Nova, tutor às avessas de A Confissão de Lúcio, como veremos
mais detalhadamente no próximo capítulo. Manifestando um misto de admiração e
repulsa por Guilherme de Santa-Rita, Sá-Carneiro, em carta datada de 18 de
outubro de 1915, declara a Fernando Pessoa: “Santa-Rita Pintor é de há muito um
meu inimigo íntimo. Nem pode perdoar a cena do Montanha nem A Confissão de
Lúcio” (Ibidem, p.918). Em carta anterior, datada de 25 de setembro de 1915, SáCarneiro, discorrendo sobre o futuro do terceiro número de Orpheu e sobre a
possibilidade de que Santa-Rita fosse o novo diretor da revista, escreve o seguinte
a Pessoa, vinculando diretamente o pintor à personagem de Vila-Nova: “Claro que
Rafael Santana
250
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 5
Santa-Rita maître do Orpheu acho pior que a morte. ‘Eu, aqui de longe, nada de
positivo posso fazer, nem decidir’ – será o tema, o resumo da minha carta ao
Gervásio Vila-Nova” (Ibidem, p.907). E repare-se que o grande dandy da obraprima de Sá-carneiro manifesta as mesmas ideias de Guilherme de Santa-Rita quer
no que concerne à vida propriamente dita, quer no que tange à sua concepção do
fazer artístico, que pressupõe a superposição da estética à ética. Manifestando um
verdadeiro desdém aristocrático por tudo aquilo que fosse português, ocidentallusitano no seu nascedouro, Mário de Sá-Carneiro apegara-se àqueles temas,
figuras e elementos decadentistas surgidos na França fin-de-siècle e também
àqueles em voga na modernidade inaugural do século XX, fazendo da cidade de
Paris um espaço da alteridade, porque para ele, artista iconoclasta a quem pesava a
condição de português, nascido numa terra à margem da civilização e do
progresso, e reclusa no extremo Ocidente ou na periferia da Europa, só a grande
metrópole latina poderia representar o avesso da família, da residência e da
identidade, em breves palavras, do senso comum da ótica e da ética burguesas.
Rafael Santana
251
CAPÍTULO 6
O DANDY E A FEMME FATALE
Lord que eu fui de Escócias doutra vida
Hoje arrasta por esta a sua decadência,
Sem brilho e equipagens.
Milord reduzido a viver de imagens,
Para às montras de joias de opulência
Num desejo brumoso – em dúvida iludida...
(- Por isso a minha raiva mal contida,
- Por isso a minha eterna impaciência.)
(Sá-Carneiro – O Lord)
Esquivo sortilégio o dessa voz, opiada
Em sons cor de amaranto, às noites de incerteza,
Que eu lembro não sei d’Onde – a voz duma Princesa
Bailando meia nua entre clarões de Espada.
(Sá-Carneiro – Certa Voz na Noite, Ruivamente...)
Dandies
e
femmes
fatales
são
figuras
hiper-representativas
da
modernidade, e não por acaso despertaram o interesse de artistas como Charles
Baudelaire e Oscar Wilde, teorizadores de uma ética e de uma estética do
dandismo e da perversão feminina do modelo burguês. Avesso ao mundo do
trabalho e aos chamados "bons valores", o dandy é uma criatura que prima pela
expressão singular do artista na sociedade de massa, assumindo um
comportamento de resistência frente ao mundo estandardizado que busca subjugar
até mesmo a arte às torpes regras da mercadoria. Para Baudelaire, o dandismo
seria uma espécie de último traço de heroísmo dos tempos de decadência. Ou seja,
a filosofia dandy seria um fenômeno que ressurge toda vez que a História se
apresenta como vivência da catástrofe, vale dizer, como consciência iniludível da
ruína. Neste sentido, poder-se-ia dizer que o dandy não é apenas uma figura típica
da modernidade oitocentista e finissecular, mas uma personalidade que costuma
surgir
em
períodos
nos
quais
a
modernidade
estética
se
expressa
fundamentalmente como resistência à decadência, ou melhor, como estetização
artística da crise. Em termos benjaminianos, dir-se-ia que dandy pode ser lido
como a própria alegoria de uma modernidade que se erige a partir da experiência
do choque. Por outras palavras, o dandy é um sujeito cujo posicionamento ético se
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
manifesta esteticamente como irreverência, rebeldia e desdém, isto é, como
conduta a um só tempo crítica e artística.
Desejoso de frisar a sua diferença frente à massa descaracterizada, o dandy
afirma a sua individualidade no reverso da uniformização, rejeitando quaisquer
comportamentos e discursos padronizados. Trajando a máscara da indiferença, o
artista-dandy assume uma postura de superioridade diante dos homens comuns, a
quem
considera,
frivolamente,
seres
menores,
porque
massificados.
Antidemocrático, o dandy nega com toda a veemência a pauta de valores da
sociedade burguesa, desprezando e relativizando tudo aquilo que se circunscreve à
ordem da moral. Avesso à família, ao matrimônio, ao trabalho e à artemercadoria, essa figura oximórica proclama reacionariamente uma espécie de
ritual ascético frente às sociedades de massa, estabelecendo, como forma de
rejeição
ao
mundo
burguês,
o
especialíssimo
e
aristocrático
modelo
comportamental dos eleitos. Propagando uma conduta que se traduz por uma arte
de portar-se, por uma arte de vestir-se e por uma arte da conversa, o artista-dandy
converte vida e obra em conceitos indissociáveis do próprio dandismo.
Segundo Dolf Oehler, “O dandismo é ao longo do tempo aquilo que o
suicídio é num único momento: rejeição categórica do meio social, e não raro ele
desemboca no suicídio...” (1997, p.206). Lutando ferozmente contra a trivialidade
da existência, diga-se, contra o prosaísmo de uma vida quotidiana racionalmente
organizada de acordo com as regras do mundo do trabalho, o dandy, herói de uma
modernidade vivenciada sob a égide do choque, acaba muitas vezes por sucumbir
ao final da sua lide, assinalando com tal fim trágico a poesia de uma existência de
artista insurreto que, enquanto tal, não poderia eleger para si próprio outro
desenlace que não o da autoconsumição. Para o dandy, o suicídio afigura-se o
último gesto triunfal de uma conduta eminentemente artística. Levando a lição
baudelairiana do culto ao artifício até às raias da extremidade, o dandy torna a sua
própria morte num fenômeno antinatural, rindo-se aristocraticamente do espírito
Rafael Santana
254
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
filisteu daqueles que o cercam. Em atrito permanente com os seus antagonistas
sociais – os burgueses e suas teorias pseudodemocráticas e pseudoigualitárias –, o
dandy erige como modelo comportamental um culto egoistamente narcísico de si
mesmo, elegendo a indiferença para com o outro como o princípio básico da sua
filosofia.
Claro está que este outro é compreendido como uma personalidade
mediana, como um lepidóptero, nas palavras de Sá-Carneiro, tornando-se por isso
mesmo o alvo-mor da língua ferina e irreverente do dandy. Se, por um lado, o
dandy é aquele que, ao rejeitar os seres medíocres, promove desdenhosamente um
culto narcísico de si próprio, por outro lado, ele é também uma espécie de
pedagogo às avessas, de professor perverso, que elege para aprendizes tão
somente aquelas criaturas dotadas de alguma complexidade psicológica e
sensibilidade de espírito. Portando-se pedantemente como o detentor de um
segredo, o dandy exibe altiva e autoritariamente o seu conhecimento enigmático
para o discípulo que decide iniciar nas sendas artísticas, entregando-lhe aos
poucos a chave do mistério. Se a aprendizagem do dandismo pode ser oferecida a
uma potencial criatura superior, isto é, a um futuro membro da casta dos eleitos, o
processo iniciático a que essa criatura será submetida não é nada simples, e a
relação entre tutor e aluno não raro oscilará numa zona fronteiriça entre a
admiração e a inveja, entre o amor e o ódio, entre a reverência e a competição.
Retomo aqui, para ler o dandismo, a teoria do desejo triangular que René
Girard desenvolve em Mensonge Poétique et Vérité Romanesque. Para ele, seria
uma ilusão romântica pensar que podemos desejar a partir nós mesmos, isto é,
acreditar que os nossos desejos são autônomos e que, portanto, somos donos da
nossa própria vontade. Com efeito, é com a ascensão da sociedade burguesa, e
especialmente com o advento do Romantismo, que o conceito de originalidade
começa a ser propagado com grande força. Se, para o artista romântico, a fonte
primordial da arte reside na inspiração, o produto dessa inspiração só poderia ser
Rafael Santana
255
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
de fato o resultado de uma manifestação espontânea – e portanto sincera – de um
sujeito original. Se, como se sabe, a cultura burguesa assenta os seus principais
pilares de sustentação no indivíduo, na família conjugal e na ética do trabalho, o
que daí se pode destacar é a consciência da autonomia do sujeito, cujo percurso
seria considerado singular e irrepetível. Rejeitando a noção aristocrática do ser
humano como membro indissociável de uma classe ou de uma coletividade, a
cultura burguesa aposta no individualismo, ou melhor, na singularidade de cada
homem, que, autônomo, poderia alcançar o seu lugar ao sol a partir dos seus
próprios pensamentos e das suas próprias atitudes, noutras palavras, a partir de
valores pessoais. Desta forma, cada ser humano seria considerado único e, por
isso mesmo, dono dos seus próprios pensamentos, desejos e ações.
Segundo René Girard, o conceito de autonomia seria contudo uma falácia,
ou melhor, uma mentira romântica que muitos autores oitocentistas não fizeram
senão propagar. Histórias de amor à primeira vista e de sujeitos que passam a
amar-se recíproca e espontaneamente são, aliás, abundantes nas páginas de grande
parte da literatura produzida na primeira metade do século XIX, disseminando a
ilusão romântica da autonomia dos desejos. Contudo – argumenta o filósofo
francês –, as melhores e mais subversivas narrativas são aquelas que desvelam de
algum modo o paradigma (mediador) que possibilitou o acesso do sujeito
desejante ao objeto do seu desejo. Por outras palavras, os romances mais
sedutores são aqueles que descortinam propositadamente a verdade romanesca,
por meio da revelação do mediador e das consequências da mediação.
Ora, se a autonomia e a espontaneidade dos desejos são mera ilusão, e
mais, se o acesso do sujeito desejante ao objeto desejado nunca se dá de forma
direta, mas sempre através da mediação de um terceiro, claro está que todo desejo
só poderia constituir-se ou efetivar-se triangularmente, noutras palavras, pelo
intermédio do outro. É, pois, a partir dessa consciência que René Girard formula a
sua teoria do desejo mimético ou triangular, que pressupõe a presença de um
Rafael Santana
256
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
sujeito desejante e de um objeto desejado a ocuparem os vértices da base do
triângulo, e de um mediador que, encabeçando o vértice mais alto, seria capaz de
estabelecer o acesso entre o sujeito e o objeto. Para René Girard, todo desejo é
sempre mediado por um modelo. Ou seja, não desejamos individualmente, mas
sim a partir de paradigmas pré-existentes, vale dizer, a partir do desejo do outro.
Em resumo: só desejamos porque alguém ou algo despertou em nós o desejo.
No cerne da sua teoria do desejo mimético, Girard destaca dois tipos de
mediação: a externa e a interna. Para ele, a mediação externa seria aquela em que
o sujeito desejante não apresenta nenhum tipo de rivalidade para com o seu
mediador. Pelo contrário, ele o venera, desejando reproduzir suas ações. Quanto
maior for a distância entre o sujeito e o mediador – assinala Girard –, tanto menos
rivalidade haverá. Dom Quixote aprecia Amadis de Gaula, e por isso mesmo quer
transformar-se num cavaleiro medieval extemporâneo. Emma Bovary admira as
heroínas românticas, sonhando levar uma vida semelhante à das personagens que
lê. Repare-se que, em ambos os casos, o mediador entre o sujeito desejante e o
objeto desejado é o livro ou, mais precisamente, a literatura, não podendo haver
aí, portanto, nenhum princípio de rivalidade.
Já na mediação interna há uma íntima proximidade entre o sujeito e o
mediador, e tal proximidade favoreceria a rivalidade entre aquele que deseja e
aquele que medeia o acesso ao objeto desejado: o mediador atrai e repele a um só
tempo o sujeito desejante. Na mediação interna, o “sujeito está persuadido de que
seu modelo se julga demasiadamente superior a ele para aceitá-lo como discípulo”
(GIRARD, 2009, p.34), o que, por sua vez, gera paradoxalmente a admiração e o
rancor do aprendiz. Assim é que Girard assinala que
Julien Sorel faz tudo o que Emma não pode fazer. No começo de O Vermelho
e o Negro, a distância entre herói e mediador não é inferior à de Madame
Bovary. Mas Julien vence essa distância; ele abandona sua província e se
torna o amante da orgulhosa Mathilde; sobe rapidamente a uma posição
brilhante. Essa proximidade do mediador se reproduz nos demais heróis do
romancista. É ela que diferencia essencialmente o universo stendhaliano dos
universos que já enfocamos. Entre Julien e Mathilde, entre Rênal e Valenod,
Rafael Santana
257
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
entre Lucien Leuwen e os nobres de Nancy, entre Sansfin e os fidalguetes da
Normandia, a distância é sempre pequena o suficiente para permitir a
concorrência dos desejos. Nos romances de Cervantes e de Flaubert, o
mediador ficava exterior ao universo do herói; ele está agora no interior
desse mesmo universo.
(GIRARD, 2009. P.32-33, grifos meus)
Ora, o que é o dandy senão um grande mediador entre o sujeito desejante –
que toma pedantemente como seu discípulo – e o objeto do seu desejo, noutras
palavras, ser um artista? Ou melhor: o que é o dandismo senão um grande
processo iniciático que possibilitará ao discípulo o logro paulatino dos seus
perversos desejos? Autoproclamando-se um ser superior, o dandy assume, com
vimos, a capa do esnobismo e da indiferença ao apresentar frivolamente uma
conduta teatral, a um só tempo genial e rastaquouère:
O dandismo está ligado à grande questão da ascese para o desejo. [...] O
dândi se define pela afetação de frieza indiferente. Mas essa frieza não é a do
estoico, é uma frieza calculada para inflamar o desejo, uma frieza que vive
repetindo aos Outros: “Eu me basto a mim mesmo.” O dândi quer levar os
Outros a copiar o desejo que ele garante experimentar por si próprio. Expõe
sua indiferença nos lugares públicos como quem expõe um imã à limalha de
ferro. Universaliza, ele industrializa o ascetismo para o desejo. Não há nada
menos aristocrático do que essa atividade; ela desmascara a alma burguesa do
dândi. Esse Mefistófeles de cartola gostaria de ser o capitalista do desejo.
(GIRARD, 2009, p.190)
Figura não raramente encontrada nos romances de mediação interna, o
dandy é aquele que possibilita o acesso do sujeito desejante ao objeto desejado.
Assim, todo o seu pedantismo é na verdade um modo de chamar a atenção do
outro para que o tome como modelo tutelar e para que o copie tanto filosófica
quanto comportalmente. Entretanto, se, por um lado, o dandy capitaliza o desejo
ao “industrializar”, de certa forma, o seu acesso, por outro lado, tal capitalização
aponta para qualquer coisa de muito mais perverso e inusitado do que se possa
imaginar. Embora chame a atenção de todos devido à sua conduta teatral, tudo o
que o dandy de fato não quer é que o seu pensamento e as suas atitudes se
convertam em filosofias ou comportamentos facilmente imitáveis e, portanto,
caricaturais. Se o dandy capitaliza o desejo – e propaga até mesmo a ideia de que
Rafael Santana
258
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
a arte se revela por sua exterioridade absoluta –, isso deve ser lido tão somente no
sentido daquele que almeja seduzir e, ao mesmo tempo, ferir o outro pelo viés do
choque. Ou seja, a exterioridade um tanto afetada que o dandy revela
propositadamente àqueles que o contemplam é apenas uma espécie de perversa
propaganda de si próprio. E é somente aos indivíduos a quem escolhe como
discípulos que ele revelará, nos bastidores a que apenas os eleitos podem ter
acesso, a essência artística do próprio dandismo, noutras palavras, o segredo da
arte.
Manifestando-se como um rito iniciático, o dandismo é metaforicamente
uma escola, ou melhor, uma espécie de sala de aula dirigida por um professor
perverso, cujo trabalho é o de desconstruir a doxa, relacionada, obviamente, aos
valores ideológicos. Se o termo pedagogia está atrelado, desde tempos muito
remotos, à ideia de uma educação que visa à inserção do indivíduo na sociedade,
já que, ao construí-lo, converte-o num cidadão de bem, a pedagogia do dandy
visa, muito pelo contrário, a uma educação transgressora e, portanto, às avessas.
Se a pedagogia do dandy permite a ascese para o desejo, o caminho que o seu
aprendiz terá de percorrer pressupõe o inverso de todo um modelo consagrado
desde Platão. Com efeito, a Paideia ateniense caracterizava-se por um ideal de
formação conjugado à pederastia, no qual um amante mais velho (erasta) tomava
como discípulo um rapaz mais jovem (erômeno). Ora, no contexto finissecular,
Oscar Wilde é o artista-dandy que mais explicitamente se apropria – em rasura, é
claro – deste paradigma educativo quer na vida propriamente dita, quer na ficção,
em que dissemina transgressora e perversamente as suas ideias sobre o dandismo.
Partindo do modelo de Huysmans, mas empreendendo já um gesto
laudatório e corruptor, Wilde consagra como novo paradigma do dandismo a
figura do artista que se exibe pedantemente como um brilhante conversador, como
um mestre do paradoxo, e que está quase sempre acompanhado por um discípulo
mais jovem. Deste modo, o próprio dandismo wildiano surge como uma espécie
Rafael Santana
259
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
de processo educativo-iniciático inserido no fascínio amoroso, o que, ressalte-se,
não impede que o discípulo admire e repudie, a um só tempo, o seu mestre.
Ao urdir em metáfora o belíssimo discurso que apresentou ao tribunal para
defender-se da acusação de sodomia, Wilde, desdenhoso para com as convenções
vitorianas, advogou a favor do amor que não ousa dizer seu nome, assinalando:
“The ‘love’ that dare not speak its name in this century is such a great
affection of an older for a younger man as there was between David and
Jonathan, such as Plato made the very base of his philosophy and such as you
find in the sonnets of Michaelangelo and Shakespeare — a deep spiritual
affection that is as pure as it is perfect, and dictates great works of art like
those of Shakespeare and Michaelangelo and those two letters of mine, such
as they are 96 [...]”
(WILDE, 2013, p.4990-4991)
Talvez pareça estranha a conceituação do homoerotismo masculino como
uma afeição pura e perfeita, se levarmos em conta a tonalidade provocativa e
sobretudo profanatória que ele assume no contexto do fim de século. Se, na
Antiguidade Clássica, a pederastia pressupunha um processo educativo que se
justificava politicamente pela futura inserção do indivíduo – iniciado nos
caminhos do Bem, da Beleza e da Verdade – na polis, constituindo-se aquilo que,
na esteira de Platão, se conhece por ascese, o que poderia haver agora de perfeito,
diga-se, de espiritual, nesse homoerotismo finissecular que se inscreve
debochadamente pelo viés da transgressão? Se, nas palavras de Diotima de
Mantineia, o amor é uma espécie de escala ascensional, ou melhor, um percurso
que se inicia a partir da visão da Beleza, e que se vai completando, de forma
gradativa, à medida que indivíduo experimenta diversos corpos belos, até poder
desligar-se definitivamente do apego à matéria 97, o erotismo e o homoerotismo –
O amor que não ousa dizer seu nome neste século é um grande afeto de um homem mais
velho por um jovem, tal como houve entre David e Jônatas, como aquele de que Platão fez a
própria base da sua filosofia, e tal como encontramos nos sonetos de Michelangelo e de
Shakespeare – uma profunda afeição espiritual que é tão pura quanto perfeita, e que dita
grandes obras de arte como aquelas de Shakespeare e Michelangelo, e aquelas duas cartas
minhas, tal qual são [...] (Trad. minha).
96
A esse respeito, diz José Américo Pessanha (In: Os Sentidos da Paixão): [...] “a estilização do
comportamento sexual, a estetização do desejo, manifesta-se também na escolha do seu
97
Rafael Santana
260
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
tal como se inscreveram no fim de século – pressupõem exatamente o percurso
contrário, isto é, a descida do espírito à carne. Ou, de forma ainda mais perversa, a
materialização carnal do próprio espírito: “[...] só com o espírito te possuí,
materialmente! (CL, p.411)”, diz Ricardo a Lúcio, no momento em que lhe
confessa ter criado a figura de Marta para lograr experimentar os seus desejos
homoeróticos.
Em A Confissão de Lúcio, o dandismo aparece, tal qual nos escritos de
Oscar Wilde, como uma espécie de grande processo iniciático. O que de fato
assistimos nesta novela de princípios do século XX é a incursão de um indivíduo
– desejoso de ser um grande artista – no contexto da Paris finissecular (o ano
de1895 é o passado ao qual Lúcio retorna ), onde começa a conviver com todo um
círculo de dandies que lhe dão verdadeiras aulas, verdadeiras lições perversas e
transgressoras. Gervásio Vila-Nova, a americana e até mesmo o próprio Ricardo
de Loureiro são, todos eles, dandies que despertam a atração e o repúdio de Lúcio.
Diante dessa tertúlia enigmática, dessa especialíssima cúpula de “sacerdotes”
heréticos e profanadores, Lúcio se põe tal qual um aprendiz que revela, entre
seduzido e perturbado, a presença dos seus mediadores. Curiosamente ou não, o
personagem de Sá-Carneiro – tal como Oscar Wilde de fato o fizera na vida – diz
escrever a sua confissão como discurso de defesa (e lembremos que aquilo que o
enunciado da sua narrativa revela ainda brumosamente é a experimentação de um
amor
homoerótico),
nele
engendrando
toda
uma
linguagem
densa
e
metaforicamente orgásmica.
Neste último capítulo de reflexões sobre a obra em prosa de Mário de SáCarneiro, quero aduzir como o conceito de dandismo aí se constrói quer no que se
objeto. Este deve ser o mais belo e o mais nobre, independentemente de ser ou não do
mesmo sexo. Por isso é que vemos em Platão a passagem do amor aos rapazes (Erótica) ao
amor à verdade (Filosofia). O mais belo e mais nobre objeto de amor é encontrado desde que
os termos iniciais da relação erótica – homem/rapaz, amante/amado, erasta/erômeno – vão
sendo substituídos, numa ascese erótica progressiva, até se transformar afinal na relação
entre sujeito (amante) e objeto (amado) de contemplação” (2009, p.92).
Rafael Santana
261
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
refere à temática propriamente dita, quer no que concerne ao trabalho de
linguagem que se convencionou chamar de écriture-dandy. Para tanto, tomo como
corpus de análise a novela A Confissão de Lúcio, texto em que o dandismo se
inscreve de forma, a meu ver, mais plena.
6.1
O DANDISMO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO
[...] Caiu-me a Alma ao meio da rua,
E não a posso ir apanhar!
(Sá-Carneiro – Sete Canções de Declínio – 7)
Há Ouro marchetado em mim, a pedras
raras,
Ouro sinistro em sons de bronze medievais –
Joia profunda a minh’Alma a luzes caras,
Cibório triangular de ritos infernais.
(Sá-Carneiro – Taciturno)
No eclético círculo de artistas com que Mário de Sá-Carneiro trava
conhecimento na Paris de 1912, já o sublinhamos, o que mais se destaca e que
mais de perto parece ter seduzido o seu olhar é Guilherme de Santa-Rita ou –
como comumente se lhe chama – Santa-Rita Pintor. A primeira vez que SáCarneiro a ele se refere é numa carta a Fernando Pessoa, datada de 28 de outubro
de 1912, apresentando-o desta forma:
Querido amido,
Tenho andado muito com o Guilherme de Santa-Rita.
É um tipo fantástico, não deixando no entanto de ser interessante.
Imagine você que a uma mesa do “Bullier”, em frente duma laranjada e tendo
por horizonte o turbilhão dos pares dançando uma valsa austríaca – de súbito,
a propósito já não dei de quê, me desfechou esta:
“ – porque eu, sabe você, meu caro Sá-Carneiro, não sou filho da minha
mãe...”
Julguei estar sonhando, mas ele continuou:
“– o meu pai, querendo dar-me uma educação máscula e rude, mandou-me
para fora de casa quando era muito pequeno. Fui para uma ama cujo marido
era oleiro. Essa ama tinha um filho. Uma das crianças morreu. Ela disse que
fora o seu filho. Entretanto a instância de minha mãe e devido a eu ter ido
com uma companhia de saltimbancos, tendo sido encontrado em Badajoz (eis
os saltimbancos do Jaime Cortesão, coisa que aliás ele me confessara ser
blague), voltei para a casa dos meus pais. Em 1906, porém, a minha ama
morreu e deixou uma carta para minha mãe em que lhe confessava que quem
morreu fora o filho dela. Logo eu não era filho da minha mãe, mas sim da
minha ama. É este o lamentável segredo, a tragédia da minha vida. Sou um
intruso. Ah! mas hei-de dar uma satisfação à sociedade! É por isso que eu
Rafael Santana
262
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
quero ser alguma coisa nesta vida! E abençoo a minha verdadeira mãe que,
para eu ser mais feliz, não teve hesitação em perder-me, em dar-me a outra
mãe! Eu quando escrevo Augusto assino sempre, humildemente, Guilherme
Pobre. E foi por isto que, quando estive em Lisboa, não quis ir para minha
casa, fiquei num hotel.” (Diga-me você, Pessoa, se isto é verdade.)
Depois desta longa tirada que me deixou boquiaberto, eu sorri e comentei
“que era muito interessante... um verdadeiro romance folhetim...”. Saímos. E
cá fora, ainda falando no caso, ele ria nervosamente, sinistramente,
encostando-se a mim...
Que diz você a isto, Fernando? Peço-lhe que faça comentários e que, em todo
o caso, não divulgue a história, pois ele me pediu o máximo segredo... É
espantoso! E de mais nessa mesma noite ele jurara-me que se deixara por
completo de blagues.
(COL, p.719, grifos do autor)
Portando-se, na vida e na arte, como um artista singular, Guilherme de
Santa-Rita exercita o paradoxo em todos os momentos possíveis. Embora quase
sempre postule as suas opiniões de forma altiva e pedante, este dandy português
conta ao Esfinge Gorda uma rocambolesca estória de ficção – muito próxima a um
drama burguês de folhetim –, dizendo-lhe ser essa a sua própria história de vida.
Recuperando, em ficção epistolar, a ficção do Santa-Rita Pobre, Sá-Carneiro
declara a Pessoa o seu pasmo diante dessa figura performática, que o inebria e o
perturba a um só tempo. E repare-se que, mesmo solicitando ao poeta que não
divulgasse a pseudo-história familiar do amigo que então conhecera, já que
supostamente se tratava de um segredo, o que Mário Sá-Carneiro de fato acabará
por fazer mais adiante é trazer esse assunto à tona, aquando da publicação de A
Confissão de Lúcio. No universo ficcional desta sua narrativa, Gervásio VilaNova, personagem mais que explicitamente inspirada em Guilherme de SantaRita, e cujos aforismos e cujas blagues tanto encantam o narrador da novela, é ele
próprio um quase reflexo de Santa-Rita Pintor, por outras palavras, quase um seu
duplo. Deste modo, o dramalhão burguês da suposta infância do pintor reverbera,
em ficção da ficção, n’A Confissão de Lúcio:
Depois de muito conversar sobre teatro e de Gervásio ter proclamado que os
atores – ainda os maiores, como a Sara, o Novelli – não passavam de meros
cabotinos, de meros intelectuais que aprendiam os seus papéis, e de garantir
– “creiam os meus amigos que é assim” – que a verdadeira arte apenas existia
entre os saltimbancos; esses saltimbancos que eram um dos seus estribilhos e
sobre os quais, na noite em que nos encontráramos em Paris, logo me narrara,
em confidências, uma história tétrica; o seu rapto por uma companhia de
Rafael Santana
263
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
pelotiqueiros, quando tinha dois anos os pais o haviam mandado,
barbaramente, para uma ama da serra da Estrela, mulher de um oleiro, do
qual, sem dúvida, ele herdara a sua tendência para a escultura e de quem, na
verdade, devido a uma troca de berços, era até muito possível que fosse filho
[...].
(CL, p.356, grifos do autor)
E não apenas na reduplicação da pseudo-história familiar de Santa-Rita é
que se torna possível a sua associação à personagem de Gervásio Vila-Nova. Para
aquele: “[...] vale muito mais o Artista do que as suas obras; isto é: o aspecto
exterior do artista, os seus cabelos, os seus fatos, a sua conversa, as suas blagues
– o seu eu, em suma, como coisa primordial – a sua obra, como coisa secundária”
(COL, p.784, negrito meu); para este: “[...] o artista não se revela pelas suas obras,
mas sim, unicamente, pela sua personalidade. Queria dizer: ao escultor, no fundo,
pouco importava a obra de um artista. Exigia-lhe porém que fosse interessante,
genial, no seu aspecto físico, na sua maneira de ser – no seu modo exterior [...]”
(CL, p.357-358). Não obstante diga valorizar um artista pela sua exterioridade
absoluta, Santa-Rita, segundo as epístolas ficcionais de Sá-Carneiro, “refere-se
sobretudo à sede de dominar. Mas não artisticamente, socialmente” (COL, p.728,
grifo do autor). Deste modo, perceba-se o quanto o próprio Sá-Carneiro descreve
o dandy como uma figura oximórica: artista performático, diga-se, sem conteúdo,
mas com inusitadas pretensões políticas.
Guilherme de Santa-Rita afigura-se a um só tempo brilhante e irritante aos
olhos do Esfinge Gorda, que a ele se refere constantemente em diversas cartas que
endereça a Fernando Pessoa. Ora interessante, ora fatigante, “sempre em
desacordo, largas horas palestramos” (COL, p.728), confessa o autor de
Dispersão, prosseguindo: “[...] como eu me revolto quando aventando o ar, de
narinas abertas, olhar olhando ao alto, e por altissonante o eterno Santa-Rita me
leciona [...]” (Ibidem, p.733, grifo do autor). Pedantemente, no sentido mesmo
etimológico daquele que se porta como um pedagogo, Santa-Rita leciona a SáCarneiro, por considerá-lo – parece – uma criatura inferior a si. Reduplicadas
Rafael Santana
264
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
especularmente no discurso de Gervásio Vila-Nova, as lições de Guilherme de
Santa-Rita reverberam na escrita de Lúcio:
– Sabe, meu querido Lúcio – uma vez contara-me o escultor –, o Fonseca diz
que é um ofício acompanhar-me. E uma arte difícil, fatigante. É que eu falo
sempre; não deixo o meu interlocutor repousar. Obrigo-o a ser intenso, a
responder-me... Sim, concordo que a minha companhia seja fatigante. Vocês
têm razão.
Vocês – note-se em parênteses – era todo o mundo, menos Gervásio...
(CL, p.355-356)
Apesar de condenar aqueles que aprendem o seus papéis, Gervásio leciona
aos seus interlocutores, exigindo-lhes que sejam intensos, isto é, a que lhe
retruquem. Estabelecendo um ensino às avessas, em discordância com o próximo
e com os cânones, o dandy exercita o paradoxo, fascinando e irritando os outros,
ou seja, os – a seu ver – pseudo-artistas que o acompanham.
Recém-chegado da provinciana Lisboa, Lúcio adentra a Paris fin-de-siècle
para tentar dar, supostamente, um fim útil à sua vida. Ora, não deixa de ser isto
um espelho biográfico da história do próprio Mário de Sá-Carneiro, que se
transferiu para Paris com a escusa de estudar Direito na Sorbonne. Tal como
Lúcio, Sá-Carneiro entrega-se na capital francesa a uma vida de diletantismo,
interessando-se apenas por imiscuir-se em círculos artísticos. Lúcio, personagem
marcado pelo desalento finissecular, inadaptado ao utilitarismo da sociedade
vitoriana e nela sentindo-se gauche e desencontrado, assim se nos apresenta no
primeiro capítulo da sua novela:
Por 1895, não sei bem como, achei-me estudando Direito na Faculdade de
Paris, ou melhor, não estudando. Vagabundo da minha mocidade, após ter
tentado vários fins para a minha vida e de todos igualmente desistido –
sedento de Europa, resolvera transportar-me à grande capital. Logo me
embrenhei por meios mais ou menos artísticos, e Gervásio Vila-Nova, que eu
mal conhecia de Lisboa, volveu-se-me o companheiro de todas as horas.
(CL, p.353, grifo do autor)
De fato, o narrador deixa claro que, mais do que àquilo que pudesse dar
um fim útil à sua vida, sua mudança para a cidade de Paris estaria relacionada ao
desejo de saciar a sua sede de Europa, isto é, de lograr o exílio cultural pelo qual
Rafael Santana
265
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
tanto ansiava. Atentemos para certas marcas discursivas: o narrador não diz ter
ido estudar Direito em Paris, o que daria à viagem uma finalidade explícita. Ao
contrário disso, sugere apenas: “achei-me estudando Direito na Universidade de
Paris”, num discurso modalizador que só faz reiterar a ideia de acaso, de ato
contingente e não necessário. Como o seu autor, recém-chegado da provinciana
Lisboa, esse sujeito dilacerado parece adentrar a cena da Paris cosmopolita para
receber algumas lições teóricas sobre a concepção decadentista da arte, lições que
lhe seriam advindas inicialmente do contato com os dois grandes mestres que, por
ventura, viria a admirar: o primeiro, Gervásio Vila-Nova; o segundo, uma figura
em quem reconheceria a sedução e o espanto, e que ao longo da narrativa seria
simplesmente referida como “a americana”.
Tal como os dandies wildianos, que, como vimos, têm como uma das suas
funções a de prestar assistência ao herói ou heroína da estória, as personagens de
Gervásio e da americana desempenham em A Confissão de Lúcio o papel das mais
significativas figuras que o narrador descreverá. Não obstante o escultor venha a
suicidar-se logo nos primeiros capítulos da novela, e a grande sáfica, a artista da
voluptuosidade, venha a desaparecer deste mundo de palavras de uma forma
completamente misteriosa, poder-se-ia dizer, ainda assim, que ambos representam
duas peças-chave para a progressão da situação dialógica entre as personagens
Lúcio e Ricardo, figuras centrais da diegese. Ora, essa situação, nos enredos
decadentistas – como não deixa de ser também o de A Confissão de Lúcio –, é
geralmente conferida à figura do dandy, pelo fato de essa personalidade
manifestar-se quase sempre como um exímio conversador ou, por outras palavras,
como um formulador de inebriantes paradoxos. E é precisamente para isso que
aponta o próprio narrador da novela, ao apresentar-nos, nas primeiras linhas da
sua escritura, a singularíssima personagem de Gervásio Vila-Nova:
Ao falar-nos, brilhava ainda mais a sua chama. Era um conversador
admirável, adorável nos seus erros, nas suas ignorâncias, que sabia defender
intensamente, sempre vitorioso; nas suas opiniões revoltantes e belíssimas,
nos seus paradoxos, nas suas blagues. Uma criatura superior – ah! sem
Rafael Santana
266
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
dúvida. Uma destas criaturas que se enclavinham na memória – e nos
perturbam, nos obcecam. Todo fogo! todo fogo!
(CL, p.354)
Gervásio é descrito como um conversador admirável que, tal qual um
dandy, alinhava os emaranhados fios do seu discurso em oximoro. Todo fogo, este
artista português deslocadamente inserido no contexto da Paris finissecular – 1895
é o ano em que o protagonista o conhece – fascina e obseca a Lúcio, que o toma,
entre irritado e admirado, como o seu mediador. Não por acaso, Lúcio entretece o
seu discurso caoticamente – e em excesso – exercitando na escrita aquilo que
aprendera com Gervásio Vila-Nova. Sobre isso, atente-se para a camada
significante do texto, composta a partir de reiterações excessivas, de uma
pontuação exacerbada e de inúmeras construções paradoxais, como, por exemplo,
esta de as opiniões de Gervásio serem a um só tempo “revoltantes e belíssimas” e,
além disso, de serem sempre vitoriosa e intensamente por ele defendidas, por mais
equivocadas e ignorantes que pudessem parecer. Claro está que o que aí se
acentua é aquilo que no contexto da literatura finissecular se convencionou
chamar de exercício do paradoxo, conceito do qual Lúcio sedutoramente se
apropria, engendrando-o na própria urdidura que constrói. Nutrida pela filosofia
discursiva não só de Gervásio mas também da americana, a escritura de Lúcio
converte-se ela própria numa écriture artiste, ou melhor, numa écriture-dandy, ao
proclamar a grandeza da arte e ao exaltar o brilho da prática textual, “exercitada
com fervor maneirista” (MUCCI, 1994, p.67).
Perfeitamente enquadrada no modelo herdado do contexto do fim de
século, a figura andrógina de Gervásio exerce um extremo fascínio no narrador: “a
verdade é que em redor de sua figura havia uma auréola. Gervásio Vila-Nova era
aquele que nós olhamos na rua, dizendo: ali deve ir alguém” (CL, p.353). Ora,
sabemos que, já em meados do século XIX, Baudelaire havia cantado o tema da
perda da aura, como que a apontar para uma espécie de dessacralização do artista,
da poesia e, mais largamente, da própria arte. Assim sendo, o que poderia
Rafael Santana
267
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
significar essa espécie de auréola extemporânea, que rodeia tanto a figura de
Gervásio quanto a da americana? Em Baudelaire, é paradoxalmente a perda da
aura o acidente que possibilita o logro de uma nova aura insubmissa – para
retomarmos aqui o conceito cunhado por Edson Rosa da Silva –, que não deixa de
ser, ao fim e ao cabo, a aura perversa do dandy. Deste modo, se a perda da aura
pode – e deve – ser lida pelo viés da queda, da caída do poeta-anjo no espaço
infernalmente sedutor que é o da cidade cosmopolita, lembre-se, por outro lado,
que é essa mesma queda dessacralizadora o elemento capaz ressacralizar –
profanamente, é claro – o artista e a sua obra. Assim, a auréola de Gervásio,
artista declaradamente dandy, nada mais é do que uma herança metamorfoseada
daquela aura insubmissa que se erigira desde Baudelaire.
Por destoar dos padrões comportamentais da sociedade vitoriana e
desprezar por completo o seu sistema de valores, em Gervásio encontramos
representadas ficcionalmente diversas formas de ruptura com a visão de mundo
burguesa. Dandy por excelência, o escultor de A Confissão de Lúcio é uma figura
extravagante, cujos traços fisionômicos apontam para um “feminilismo histérico e
opiado” (CL, p.353), exatamente de par com a sua concepção em relação à postura
de um verdadeiro artista. Ou seja: para Vila-Nova, o artista valeria mais pelo seu
aspecto físico e pela genialidade da sua conduta do que verdadeiramente pelo
essencialismo das suas obras. Daí a sua adoração por aqueles que não só
produzem obras de arte, mas que também vivem a sua Arte; daí a sua afinidade
com os pederastas e com as prostitutas:
– Ah, pelo meu lado, confesso que os adoro... Sou todo ternura por eles. Sinto
tantas afinidades com essas criaturas [os artistas]... como também as sinto
com os pederastas... com as prostitutas... Oh! é terrível, meu amigo, terrível...
[...]
– Porque isto, meu amigo, de se chamar artista, de se chamar homem de
génio, a um patusco obeso como o Balzac, corcovado, aborrecido, e que é
vulgar na sua conversa, nas suas opiniões – não está certo; não é justo nem
admissível.
(CL, p.357-358)
Rafael Santana
268
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
Pedantemente, tal qual um perverso pedagogo, Gervásio revela a Lúcio a
sua afinidade com os pederastas e com as prostitutas, seres à margem, que
constroem a sua história em desvio voluntário. Se a pederastia ateniense era
tomada pela sociedade do seu tempo como uma espécie de educação inclusiva e
civilizadora por via do fascínio amoroso, a pederastia finissecular, muito pelo
contrário, era tomada pelos dandies – novos artistas malditos – como um modo
perverso e debochado de educar avessamente os seus discípulos, convertendo-os
em párias, isto é, em criaturas propositadamente inadequadas às convenções
sociais. Mas, evidentemente, se o processo agora não era de inclusão no Bem
social, a exclusão do que já não podia ser considerado o Bem não seria menos
valioso eticamente.
Ressalte-se que, em primeira instância, não há de fato nenhuma espécie de
contato sexual entre Gervásio e Lúcio. No entanto, recorde-se que esta narrativa
de Sá-Carneiro se constrói – do início ao fim – toda ela em espelhamentos, e é o
próprio Lúcio quem assinala que “[...] Ricardo surgia-me com revelações
estrambóticas que lembravam um pouco os snobismos de Vila-Nova” (CL, p.398).
Ora, seria Ricardo um duplo de Gervásio 98? Ou ainda: seria Marta (com quem
Lúcio afirma ter-se relacionado sexualmente) um duplo da americana, projetandose, velut in speculo, na figura do poeta, como uma espécie de duplo do duplo?
Respostas definitivas para essas perguntas são impossíveis, até porque o maior
Lélia Parreira Duarte já apontava para uma leitura nesse sentido: “Atente-se, afinal, na
novela, para os seguintes elementos nela presentes, que concorreriam para desmistificá-la
como mimese e representação: a duplicidade de papéis exercidos por algumas personagens e
a constante preocupação com os temas da representação, da criação, do fingimento, a
presença de máscaras, espelhos, duplos (não seria Ricardo de Loureiro um duplo de Gervásio
Vila-Nova, e não seria Marta um duplo de Ricardo de Loureiro?). Atente-se ainda para a já
mencionada evidência de que finalização, leitura, representação ou execução de obras de
arte, na narrativa, coincidem com acontecimentos fundamentais do seu enredo, de forma a
deixar no leitor a impressão de correspondência entre a obra concluída e o episódio narrado
ou, mais ainda, a dúvida quanto à verossimilhança dos fatos, vistos então apenas como
retalhos anexados sem que se forme um todo coerente, ou demonstrações da artificialidade
da obra construída, que procura assim tornar claro o seu caráter de ficção (DUARTE, 1992,
p.171).
98
Rafael Santana
269
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
gozo do mistério é a busca da revelação, o processo e não o seu produto, que a
escritura não pretende desvelar.
Importa ainda destacar que, se a pederastia ateniense sempre esteve
evidentemente atrelada à ideia de um desenvolvimento cívico e espiritual –
portanto a uma metafísica construtiva –, a pederastia-dandy, no avesso desse
modelo, apresenta-se como uma espécie de espiritualidade herética e perversa,
que levará o erômeno, ainda que por escolha própria, ao caminho da
autoconsumissão. Por outras palavras, o discípulo que se submete à iniciação ao
dandismo estabelece com o seu mediador uma espécie de pacto fáustico,
entregando-se de corpo e alma a uma aprendizagem corruptora, em que o tutordandy, tal qual um daimon, mediará altivamente o acesso do educando ao
universo mágico e enigmático da arte, que ele, encantado, deseja devassar a
qualquer preço.
Reproduzindo o paradigma legado pelo belo jovem George Bryan
Brummell, que, na Inglaterra do início do século XIX, muito antes de Oscar
Wilde, teria sido, nas palavras de Pedro Paula Garcia Ferreira Catharina, “o
primeiro ‘déspota da elegância’” (2006, p.66-67), Gervásio abdica de um modelo
comportamental e literário convencionais, fornecendo à elite intelectual e artística
do seu tempo um padrão cultural de elegância e de arte aristocráticas: a arte da
conduta; a arte do vestir-se; a arte da conversa. Ora, é evidente que os
antagonistas sociais de Gervásio são a própria sociedade burguesa e o seu sistema
de valores. Isto se torna mais que explícito, por exemplo, numa das últimas lições
aristocráticas que Lúcio dele recebera acerca da concepção decadentista da arte,
ao lhe ser sinalizada a importância de manifestar-se como um écrivain-dandy
perante a sociedade:
– Creia, meu querido amigo, você faz muito mal em colaborar nessas
revistecas lá de baixo... em se apressar tanto a imprimir os seus volumes. O
verdadeiro artista deve guardar quanto mais possível o seu inédito. Veja se eu
já expus alguma vez... Só compreendo que se publique um livro numa
Rafael Santana
270
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
tiragem reduzida; e a 100 francos o exemplar, como fez o... (e citava o nome
do russo chefe dos selvagens). Ah! eu abomino a publicidade!...
(CL, p.365-366)
Como se pode ver, somente por se lhe afigurar demasiado utilitarista e
burguesa, a publicidade não agrada a Gervásio 99 . Para um dandy decadentista
como ele, a arte ocupa o âmbito do sagrado, não devendo cair jamais no
mercantilismo mundano e no gosto do público. Por outras palavras, o segredo da
arte deve ser revelado apenas aos eleitos, permanecendo desdenhosamente vedado
aos seres medianos. Antidemocrático, o dandismo manifesta-se como uma espécie
de sociedade secreta. Detentor do enigma, Gervásio insurge-se contra tudo aquilo
que não lhe pareça conter o requinte e a sensibilidade necessários à distinção entre
a elite – aristocracia da cultura – e o povo – aquele que, segundo ele próprio, não é
capaz de sentir a beleza da arte. E foi justamente por esse motivo que, por
exemplo, no dia em que o escultor apresentara a americana a Lúcio no Pavilhão
de Armenonville, o escultor não aceitara as lições teóricas acerca da
voluptuosidade como forma de arte, por ela proferidas orgasmicamente:
Gervásio insurgiu-se: “Não; a voluptuosidade não era uma arte. Falassem-lhe
do ascetismo, da renúncia. Isso sim!... A voluptuosidade ser uma arte?
Banalidade... Toda a gente o dizia ou, no fundo, mais ou menos o pensava.”
E por aqui fora, adoravelmente dando a conhecer que só por se lhe afigurar
essa a opinião mais geral, ele a combatia.
(CL, p.357)
Como grande defensor de uma arte que se estabelece a partir de um
posicionamento teatral, ou melhor, como adepto confesso de um ascetismo que se
manifesta na renúncia ou na recusa dos valores utópicos que nortearam os projetos
do mundo burguês, Gervásio se coloca declaradamente contra as teorias da
Este era também um dos chavões de Guilherme de Santa-Rita: “[...] Santa-Rita diz conhecer
toda a literatura, e ler Platão, Homero, Sófocles, Comte, Nietzsche, Darwin, etc., etc... Eu creio,
aliás, muito pouco nos seus largos conhecimentos literários... não creio mesmo nada, meu
amigo [Fernando Pessoa]... Por isso talvez ele não discute... Dos artistas de hoje, a par do
Parreira, apenas tem culto por um literato cubista, Max Jacob, que ninguém conhece, e que
publicou dois livros em tiragens de cem exemplares. A primeira pessoa que não leu esses
livros é ele... aliás cada volume custa sessenta e cinco francos. Mas é genial, porque é cubista”
(COL, p.728).
99
Rafael Santana
271
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
americana sobre a voluptuosidade/arte, que em princípio se lhe afiguraram
circunscritas à esfera do senso comum. Ora, sabemos que a ideia da
voluptuosidade como expressão artística está muitíssimo apartada – ao menos no
que se refere ao discurso canônico – dos valores consagrados pela burguesia,
classe social que tentara atrelar o sexo ao pragmatismo da procriação. Em
verdade, as discordâncias entre Gervásio e a americana nada mais são do que um
dos tantos exercícios do paradoxo desta enigmática narrativa de Sá-Carneiro.
Cabe assinalar ainda que é paradoxalmente aí – nessas aparentes contradições –
que as figuras de ambos se complementam, permitindo que o narrador-autor
assinale: “Como os dois perfis se casavam bem na mesma sombra esbatidos –
duas feras de amor, singulares, perturbadoras, evocando mordoradamente
perfumes esfíngicos, luas amarelas, crepúsculos de roxidão. Beleza, perversidade,
vício e doença” (CL, p.357). Por outras palavras, Gervásio e a americana podem
ser lidos como duplos um do outro, revelando-se especularmente como uma
espécie de reflexo invertido de si próprios. Em resumo: não obstante alguma
divergência de opinião entre ambos, estes dois dandies podem ser considerados
perfeitas efígies do movimento finissecular. Em relação à “mulher fulva” (CL,
p.363), é o próprio escultor quem, paradigmaticamente, a descreve como tal:
– Sabe, meu caro Lúcio, apresentaram-me ontem uma americana muito
interessante. Calcule, é uma mulher riquíssima que vive num palácio que
propositadamente fez construir no local onde existiam dois grandes prédios
que ela mandou deitar abaixo – isto, imagine você, em plena Avenida do
Bosque de Bolonha!
(CL, p.354)
Como bem se pode ver, Gervásio descreve-a como uma mulher
extravagante, palaciana e aristocrática, fazendo-a cumprir, já de entrada, alguns
dos principais requisitos da arte finissecular. Antiburguesa como ele, ou sendo
ainda um seu duplo que exercita debochada e pedantemente o paradoxo, é a
americana quem se insurge na novela de Sá-Carneiro contra a visão moralista e
tradicional do sexo. Na esteira dos conceitos de Des Esseintes – o dandy de À
Rafael Santana
272
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
Rebours, romance de Huysmans publicado em 1884 –, a personagem da
americana advoga a favor de uma espécie de sexualidade psíquica em detrimento
de uma carnalidade fálica e natural do contato dos corpos, representante de toda
uma literatura de marca naturalista. Ou seja, o que a americana procura sustentar
não é o sexo físico, mas sim uma espécie de onanismo mental, de cópula
puramente cerebrina e estética, em que o jogo cênico se apresenta como elemento
principal. Ao esteta fin-de-siècle, é preferível a teatralização do sexo à sua
realização. Por isso mesmo, diz a americana:
– Acho que não devem discutir o papel da voluptuosidade na arte porque,
meus amigos, a voluptuosidade é uma arte – e, talvez, a mais bela de todas.
Porém, até hoje, raros a cultivaram nesse espírito. Venham cá, digam-me:
fremir em espasmos de aurora, em êxtases de chama, ruivos de ânsia – não
será um prazer bem mais arrepiado, bem mais intenso do que o vago calafrio
de beleza que nos pode proporcionar uma tela genial, um poema de bronze?
Sem dúvida, acreditem-me. Entretanto o que é necessário é saber vibrar esses
espasmos, saber provocá-los. E eis o que ninguém sabe; eis no que ninguém
pensa. Assim, para todos, os prazeres dos sentidos são a luxúria, e se
resumem em amplexos brutais, em beijos úmidos, em carícias repugnantes,
viscosas. Ah! mas aquele que fosse um grande artista e que, para matériaprima, tomasse a voluptuosidade, que obras irreais de admiráveis não
altearia!... Tinha o fogo, a luz, o ar, a água, e os sons, as cores, os aromas, os
narcóticos e as sedas – tantos sensualismos novos ainda não explorados...
Como eu me orgulharia de ser esse artista!...
(CL, p.356)
Pedantemente, a americana profere – dans une parole dandy – uma grande
aula sobre a sua teoria da voluptuosidade como forma de arte ao círculo que a
rodeava. Se mesmo o grupo de orgulhosos e pretensamente hipersensíveis artistas
que ali estavam não se mostrara – burguesmente – capaz de separar o erotismo da
mera sexualidade, coube a esta estranhíssima e enigmática figura não nomeada
inovar, ou melhor, ampliar, diante de uma tertúlia marcadamente falocêntrica, os
mistérios artísticos da sexualidade. Com efeito, não poderia ser concedido a outra
personagem o dever desta instigante revelação, uma vez que a sexualidade
feminina sempre se mostrou, diante do olhar assustadoramente perscrutador do
homem, como um mistério quase impenetrável. Segundo Octavio Paz, “O
erotismo é invenção, variação incessante; o sexo é sempre o mesmo” (1994, p.16).
Decadentista, a personagem da americana abomina a mesmice do sexo
Rafael Santana
273
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
convencional e reprodutor, em prol de um gozo estéril e estético, que é o próprio
gozo da arte. Ao decadentista, a carnalidade natural do contato dos corpos o
remete por demais à natureza, que ele abomina. Na cena finissecular, valoriza-se o
cultural em detrimento do natural, e talvez seja por isso que a americana manifeste
ojeriza os prazeres que se resumem em amplexos brutais, em beijos úmidos e em
carícias repugnantes e viscosas, preferindo fremir em espasmos de aurora por
meio dos arrepios misteriosos das luzes, dos fogos multicolores e dos requintes
viciosos da luz. Todos esses sensualismos novos ainda não explorados traduzirse-iam numa espécie de espiritualidade corpórea (passe o oximoro), que lhe
proporciona, consoante as suas palavras, “uma verdadeira excitação sexual, mas
de desejos espiritualizados de beleza” (CL, p.357, grifos do autor).
– Eu confesso-lhes que sinto uma verdadeira excitação sexual – mas de
desejos espiritualizados de beleza – ao mergulhar as minhas pernas todas
nuas na água de um regato, ao contemplar um braseiro incandescente, ao
deixar meu corpo iluminar-se de torrentes eléctricas, luminosas... Meus
amigos, creiam-me, não passam de uns bárbaros, por mais requintados, por
mais complicados e artistas que presumam aparentar!
(CL, p.356-357, grifos do autor)
Ora, repare-se que há aí, neste perturbante dizer da americana, qualquer
coisa que aponta para um desvio do conceito de belo. Se, para Diotima de
Mantineia, o amor é uma espécie de via iniciática, isto é, de processo pedagógico
despertado pelo fascínio dos belos corpos até à chegada futura a um estágio de
abandono da matéria, diga-se, de desapego da experiência erótica em prol da
contemplação de uma ideia absoluta, de uma abstração, o amor e o erotismo
propostos pela nova escala transgressora da americana pressupõem exatamente o
caminho contrário, por outras palavras, uma carnalização do espírito e vice-versa:
“Desciam-nos só da alma os nossos desejos carnais” (CL, p.363, grifos do autor),
para reiterar o que já destacamos no primeiro capítulo desta tese. Promovendo a
sua orgiástica festa decadentista, essa enigmática personagem, na esteira de toda
uma gama de artistas malditos que cultuaram o belo pelo viés transgressão, logra
demover um paradigma de beleza consagrado desde a Antiguidade, triunfando
Rafael Santana
274
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
com a realização de uma – passe o oximoro – orgia de carne espiritualizada em
ouro (Ibidem, p.361, grifos meus). Na sua claudicante Orgia do Fogo, como mais
tarde a denominou o poeta Ricardo de Loureiro, o que a americana celebra muito
perversamente é o domínio da hybris sobre o métron, da ultrapassagem da justa
medida, vale frisar, do logro do dispêndio voluntário: Escoava-se por nós uma
impressão de excesso (Ibidem, grifos do autor), diz Lúcio ao contemplar os
diversos espetáculos da festa. E não nos esqueçamos de que essa superabundância
ou essa poética do excesso caracteriza o próprio discurso do narrador que, ao urdir
a sua insólita confissão, parece por em prática tudo aquilo que aprendera com os
dandies que o iniciaram nos domínios da arte.
Em relação à festa propriamente dita, repare-se que toda a atmosfera
onírica, ritualística e algo mística desse evento parece conferir-lhe uma espécie de
aura herética e teatral, como se todos os convivas ali presentes estivessem diante
de um (des)sacralizado rito de passagem. Insisto novamente: desde o fim do
século XIX, o dandismo manifesta-se como uma espécie de sociedade secreta ou
de seita perversa, em que se celebra uma espiritualidade outra – nada religiosa
mas sim teatral – que ao fim e ao cabo não deixa de ser o culto à própria arte. Em
A Confissão de Lúcio, a “sacerdotisa” profana a quem cabe presidir tal rito é a
personagem da americana que, como bem assinala Teresa Cristina Cerdeira, se
mostra tal qual uma nova Diotima.
Com efeito, se já no Banquete de Platão, Diotima de Mantineia surge
como uma figura inexplicavelmente estranha, pois que, num contexto
sociocultural que propagava a ideia de que as mulheres não eram dotadas de
inteligência e, mais que isso, em que se compreendia o próprio exercício amoroso
– o único capaz de levar o ser humano ao topo da escala do conhecimento – como
uma prática que só se poderia concretizar de forma plena entre homens, uma
sacerdotisa dum tempo antigo vem ditar, no lugar de Sócrates, a verdadeira
essência do amor, colocando-se como um ser sábio e intelectualmente sofisticado.
Rafael Santana
275
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
Assim, se Platão já transgredia ao conferir a revelação dos enigmas do amor a
uma figura feminina, Mário de Sá-Carneiro, ao apropriar-se – consciente ou
inconscientemente – do discurso do filósofo grego, acabava por empreender uma
espécie de transgressão da transgressão ao criar a personagem da americana –
sáfica, sofisticada e inteligentíssima –, a quem coube, no universo ficcional de A
Confissão de Lúcio, reverter até à radicalidade a escala proposta por Diotima. Se,
na pederastia ateniense, o amor entre homens era supostamente capaz de conferir
ao sujeito o logro de tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, na pederastia
finissecular, a mulher surge perversa e irreverentemente como o mais sublime dos
seres; daí que os decadentistas vinculem o próprio conceito de beleza às formas
femininas.
Repare-se que, mesmo nas relações entre homens, o que está em jogo na
literatura de fim de século e na do primeiro Modernismo é quase que uma espécie
de lesbianismo enviesado. Em A Confissão de Lúcio, Gervásio Vila-Nova é
apresentado pelo narrador como uma figura andrógina e tocada por uma histeria
feminina, o que, por si só, já aponta para a retomada de todo um imaginário sobre
os enigmas da mulher. A esse respeito, recorde-se que na medicina da Grécia
antiga o termo hysterikos apontava precisamente para as mudanças de humor por
conta da irregularidade do fluxo menstrual, oscilações que deixariam a mulher
histérica. Não é aleatório, portanto, que Sá-Carneiro atrele o feminilismo de
Gervásio ao conceito de histeria 100 . Se, na cultura grega e em outras culturas
patriarcais, a mulher foi sempre enxergada como um ser menor, na cultura
declaradamente antiburguesa de fins do século XIX e do princípio do século XX a
suposta desvalia feminina, e sobretudo o assombroso enigma sobre a sua
sexualidade, converteram-se em sinônimo de afronta para com as convenções de
uma sociedade marcadamente falocêntrica. Daí a superabundância de personagens
masculinas finisseculares tocadas pela feminilidade e de personagens femininas
100 Sobre isso, recorde-se ainda Fernando Pessoa, que se autoclassifica como um histeroneurastênico, dizendo ter uma inteligência de homem e uma histeria de mulher.
Rafael Santana
276
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
tocadas pela virilidade. É a mulher quem assume no contexto do fim de século um
posicionamento fálico e ativo, e não gratuitamente Gervásio Vila-Nova diz que
são sempre as suas amantes que o possuem.
Para além de tudo isto, repare-se ainda que, por mais de uma vez, o
narrador de A Confissão de Lúcio atrela a feminilidade dos personagens
masculinos à esfera do não trabalho, isto é, à inadequação aos valores utilitários.
Com efeito, a Era Vitoriana não só apostou no trabalho como um grande
instrumento civilizador como também acabou por relacioná-lo ao próprio conceito
de masculinidade. Em O Século de Schnitzler, Peter Gay acentua que
[...] trabalho e caráter, outro ideal vitoriano, eram companheiros inseparáveis.
O trabalho era o verdadeiro caminho para um bom caráter. Defensores da
causa da virilidade, como Theodore Roosevelt, preocuparam-se com o que
consideravam traços lamentáveis de decadência entre os vitorianos do fim do
século. [...] o que deplorava, em essência, era o grave perigo que a ociosidade
representava para a virilidade. O trabalho árduo era a única cura para a
enfermidade dos tempos. ... Quando os homens se veem demasiadamente
confortáveis e levam vidas demasiadamente luxuosas, sempre existe o risco
de que a fraqueza corroa como um ácido a masculinidade de suas fibras.
(GAY, 2002, p.215)
Ora, pensando na tradição da literatura portuguesa oitocentista, Eça de
Queirós parece ser o escritor que aponta com mais insistência para o não trabalho
como sinônimo de “efeminamento”. Pseudos-dandies como Carlos da Maia, João
da Ega e, mais de perto, Jacinto de A Cidade e as Serras, não obstante sejam
apresentados como personagens heterossexuais e com abundantes experiências
eróticas com mulheres, não deixam de ser perscrutados – detalhe a detalhe – pelo
olhar caleidoscópico do narrador de Eça, que corrosivamente critica e ironiza a
ociosidade da aristocracia portuguesa, geradora de barões pretensamente
refinados, mas não raro frágeis e inaptos ao mundo do trabalho 101. Claro está que,
Monica Figueiredo, em texto de pesquisa para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
sugere: “talvez fosse importante questionar a fisionomia do homem oitocentista para
perguntar por que a sua imagem parece tão destoante quando comparamos aquilo que nos
dizem os livros de História Oficial com aquilo que encenam os principais romances do século
XIX. [...] De certa forma, o que se quer entender é como um século que apostou no progresso
e no desenvolvimento, que estabeleceu valores que norteariam os dois séculos vindouros,
também foi capaz de gerar uma literatura criadora de heróis adoecidos, inaptos e
101
Rafael Santana
277
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
no universo ficcional do autor de Os Maias, o não trabalho não é exatamente um
índice de homossexualidade dos seus personagens, muito embora alguns deles
sejam tocados por uma certa feminilidade, como seria o caso de um Gonçalo
Ramires. Em Eça, a recusa ao mundo do trabalho aponta, antes, para a própria
degradação dos personagens, cuja ruína individual costuma coincidir – em
metonímia – com a decadência da própria pátria. Afinal, já dizia Eduardo
Lourenço que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza”
(LOURENÇO, 2010, p.128). Neste sentido, ao apontarem para a inadequação da
aristocracia à esfera do trabalho, escritores como Eça estavam a apostar no
trabalho como um grande elemento regenerador do homem e, mais largamente, da
própria nação.
Aliás, uma parcela significativa da literatura portuguesa do século XIX
parece apostar na força de trabalho como um possível instrumento civilizador.
Garrett, no avesso de toda uma tradição épica que privilegiou a partida, decide
viajar lucidamente pela sua terra, apontando a falência do mar ao rejeitar um
modelo econômico que se instituiu a partir da espoliação das riquezas do outro e
que acabou por criar, em Portugal, uma cultura de parasitas; Herculano, ao
adentrar o passado histórico, investe claramente na recuperação do imaginário de
uma Idade Média pré-Expansão Ultramarina, isto é, de um país que ainda investia
a sua força laboral no processamento da terra; Camilo, com toda a sua ironia,
ridiculariza tanto o velho quanto o novo Portugal 102, apresentando a vida citadina
de uma Lisboa que se quer pretensamente metonímia de uma nação moderna e
civilizada como uma quase extensão torpe e anacrônica dos morgadios medievais,
superficiais, todos incapazes de um único gesto que justificasse o orgulho histórico que não
raras vezes acompanhou o tempo referencial que os fez nascer. Tempo marcado por uma
agressividade viril, responsável pela criação de uma ‘Idade de Ferro’” (2007, p.15-16).
102 Vale citar a arguta reflexão de Eduardo Lourenço: “Num certo sentido, pode dizer-se
mesmo que a história não existe para Camilo senão como uma coleção de anedotas factuais,
sobretudo de destinos que independentemente do tempo representam essencialmente a
mesma cena, em três ou quatro versões: Queda com expiação e redenção, Queda sem
expiação nem redenção, Queda sem expiação e com redenção (irónica)” (2006, p.64, grifos do
autor).
Rafael Santana
278
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
que – mesmo no século XIX – continuavam a privilegiar uma aristocracia para
quem viver de rendas era uma prática louvável, à qual até mesmo a classe
trabalhadora aspirava 103; Antero de Quental relaciona as causas da decadência dos
povos peninsulares à Expansão Ultramarina, ao Absolutismo e à Contrarreforma,
que, juntos, não permitiram o desenvolvimento de uma classe média em Portugal,
noutras palavras, de uma grande força de trabalho; Cesário Verde busca
“minimizar no presente a monumentalização do passado” (SILVEIRA, 2003,
p.162, grifos do autor), apostando no trabalho como uma grande força positiva:
dos agricultores que lavram a terra ao cheiro honesto e salutar a pão, o trabalho
parece ser, na poesia de Cesário, uma grande aposta no futuro; por fim, Eça de
Queirós apresenta na sua obra uma aristocracia aburguesada que, mesmo diante de
todos os recursos necessários ao desenvolvimento do seu trabalho, se recusa a
executá-lo, apesar de os seus personagens manifestarem a dolorosa sensação de
haverem falhado a vida. Em resumo: embora conscientes da disparidade entre
discurso e prática, ou melhor, da reificação da ética do trabalho que norteia a
pauta de valores da sociedade burguesa, os grandes escritores do século XIX
português ainda parecem apostar numa utopia regeneradora e quiçá na conquista
futura de um mundo mais justo, mais fraterno e mais igualitário, isto é, num
mundo que enfim concretizasse plenamente os valores que ele mesmo traíra.
A literatura do século XX português também não deixa de acertar as
contas com a memória da sua tradição cultural. Resta saber em que sentido essa
revisão é levada a cabo no contexto antiburguês da geração de Orpheu.
Evoco novamente as palavras de Eduardo Lourenço: “Empiricamente, o povo português é
um povo trabalhador e foi durante séculos um povo literalmente morto de trabalho. Mas a
classe historicamente privilegiada é herdeira de uma tradição guerreira de não-trabalho e
parisitária dessa atroz e maciça «morte de trabalho» dos outros. Não trabalhar foi sempre,
em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o
trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos colectivamente a
maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”
(2010, p.128-129, grifos do autor).
103
Rafael Santana
279
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
Se a ética do trabalho é de fato a grande aposta do século XIX e das suas
manifestações político-culturais, ela é contudo explicitamente invertida no fim de
século e no princípio do século XX. Por outras palavras, se o oitocentos não raro
atrelou a ideia do ócio ao perigo do efeminamento masculino, o fim de século e o
início do novecentos não rejeitaram exatamente este conceito, mas o retomaram
como motivo de provocação e de deboche para com a pauta de valores do burguês
lepidóptero. Na poesia pessoana, por exemplo, Álvaro de Campos se coloca como
pertencente “[...] a um gênero de portugueses / Que depois de estar a Índia
descoberta / Ficaram sem trabalho” (PESSOA, 2006, p.304). E repare-se que,
diante da constelação dos heterônimos, o Campos desempregado surge ora como
uma personalidade feminina e histérica, ora como um ser abúlico e desalentado.
Frente aos fálicos marinheiros da Ode Marítima, o poeta põe-se a contemplar –
com violentos desejos homoeróticos – os másculos corpos daqueles que
trabalham:
O dia é perfeitamente já de horas de trabalho.
Começa tudo a movimentar-se, a regularizar-se.
[...]
Com certeza que tu, Cesário Verde, o sentias.
Eu eu até às lágrimas que o sinto humanissimamente.
Venham dizer-me que não há poesia no comércio, nos escritórios!
[...]
(PESSOA, 2006, p.333-334)
E ainda mais especificamente:
Ser o meu corpo passivo a mulher-todas-as-mulheres
Que foram violadas, mortas, feridas, rasgadas pelos piratas!
Ser no meu ser subjugado a fêmea que tem de ser deles!
E sentir tudo isso – todas essas coisas de uma só vez – pela espinha!
[...]
Ó meus peludos e rudes heróis da aventura e do crime!
Minhas marítimas feras, maridos da minha imaginação!
[...]
(PESSOA, 2005, p.325)
Desejando
femininamente
violentamente,
passiva,
Campos,
mas
ocioso,
colocando-se
admira
a
numa
condição
masculinidade
dos
trabalhadores, dos piratas, dos criminosos, dos ladrões, daqueles que, enfim,
Rafael Santana
280
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
tentam dar um fim útil à sua vida, seja por meios lícitos ou ilícitos. Em Campos, o
não trabalho é propositada e debochadamente atrelado a uma homossexualidade
histérica, que fere a família burguesa. Em Sá-Carneiro, o não trabalho também é
uma constante da sua obra: Gervásio, Lúcio e Ricardo, por exemplo, são
personagens marcadas pela histeria e pelo ócio que propicia a criação artística:
“Dentro da vida prática também nunca me figurei. Até hoje, aos vinte e sete
anos, não consegui ainda ganhar dinheiro pelo meu trabalho. Felizmente não
preciso... E nem mesmo cheguei a entrar nunca na vida, na simples Vida com
V grande – na vida social, se prefere. É curioso: sou um isolado que conhece
meio mundo, um desclassificado que não tem uma dívida, uma nódoa – que
todos consideram e que entretanto em parte alguma é admitido... Está certo.
Com efeito, nunca me vi “admitido” em parte alguma. Nos próprios meios
onde me tenho embrenhado, não sei por que senti-me sempre um estranho”.
(CL, p.367)
O não trabalho é, portanto, associado à inadequação dos personagens às
convenções sociais seja na sua existência quotidiana, seja na vivência da sua
própria sexualidade. Atente-se ainda para o fato de que é Lúcio – personagem que
vive a sua sexualidade em interdito – quem assinala, fascinado, que o olhar que as
mulheres lançavam para Gervásio era como que uma espécie de mirada que
direcionassem para uma criatura do seu próprio sexo, “formosíssima e luxuosa,
cheia de pedrarias” (CL, p.353). Deste modo, perceba-se que, mesmo naquelas
relações aparentemente heterossexuais, o que inusitadamente ocorre em A
Confissão de Lúcio é quase que um lesbianismo às avessas.
Também nas relações homoeróticas entre Lúcio e Ricardo através da
mediação psicológica da figura de Marta o que aí se destaca é precisamente o
logro da beleza a partir da conquista do feminino. Ricardo, descontente com a
fealdade, diga-se, com a masculinidade do seu corpo, sonhava ser mulher para
poder contemplar-se artisticamente, mirando em onanismo as suas formas
mármore. E ressalte-se que, numa espécie de duplicação especular do próprio
Gervásio, é Marta quem possui, femininamente, o corpo de Lúcio. Afinal, para os
estetas finisseculares e para aqueles que se colocam como os seus herdeiros, a
beleza reside desdenhosamente nas formas femininas. Se às mulheres, desde os
Rafael Santana
281
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
tempos mais remotos, foi quase sempre associado o domínio do mistério e da
feitiçaria, elas são tomadas no fim de século e no Modernismo emergente do
século XX como seres por meio dos quais os artistas insurretos podiam promover
o choque e o escândalo, dando mais uma das suas bofetadas na face do burguês
lepidóptero.
Deliciosamente apresentadas pelo narrador de A Confissão de Lúcio como
as grandes debochadas, as lésbicas e as femmes fatales povoam grande parte da
produção literária de Mário de Sá-Carneiro, sendo a figura da americana
possivelmente a mais sedutora de todas elas. Significativamente, os cabelos de
fogo da personagem, o excesso de cores que caracteriza a sua indumentária, as
gemas preciosas que cobrem o seu corpo e sobretudo a sua dança misticamente
lúbrica e serpenteante acabam por adentrar a materialidade da escrita de Lúcio,
prosa poética que se inscreve em excesso, que se constrói em desvio, repleta que é
de metáforas, de sinestesias, de oximoros. Tal qual uma nova Salomé, a fálica
personagem da americana logra muito perversamente a junção de Eros e Thanatos
no seu bailado macabro, que seduz e mata a um só tempo. Agindo tal qual uma
sacerdotisa profana, a sáfica artista da voluptuosidade inicia pedantemente os seus
seguidores nos domínios do mistério, e não por acaso a orgiástica festa que
promove é descrita como uma espécie de rito de iniciático, de sociedade secreta, a
que somente aos eleitos é permitida a entrada. Neste sentido, de forma alguma são
aleatórios os vocábulos relacionados ao campo semântico do misticismo religioso
– sacerdotal, litúrgico, esfíngico, quimérico – de que o narrador-autor por
diversas vezes se utiliza para descrever tanto os corpos quanto a personalidade das
personagens de Gervásio e da americana, figuras, como já foi apontado,
especularmente complementares.
Este misticismo – como já assinalei em momento anterior – não tem
absolutamente nada a ver com a esfera religiosa ou com a recuperação dos valores
religiosos enquanto tais. Aliás, todos os elementos místico-oníricos que pululam
Rafael Santana
282
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
no contexto artístico finissecular visam a ampliar, profanamente, o domínio da
arte e de preservar o seu mistério, mantendo-o vedado à plebe ignara. Se o
positivismo e a democracia tecnocrática em princípio desvelaram os segredos da
arte ao torná-la acessível a um público mais abrangente, o que os artistas
finisseculares e os seus herdeiros modernistas se esforçaram por promover ao
recuperarem temas e termos relacionados ao misticismo religioso foi na verdade
intentar devolver o estatuto “sagrado” à esfera do artístico. Por outras palavras:
perdera-se a aura, mas essa perda implicava, muito perversamente, a busca de uma
nova aura profana e, portanto, mais adequada a vestir a cabeça do artista da
modernidade.
Ao pintar as suas duas telas sobre o mito de Salomé – Salomé Dansant
Devant Hérode e L’Aparition –, Gustave Moureau recuperava o misticismo
bíblico como forma de corroborar a ideia da necessidade do mistério na esfera da
arte. Representante de uma espiritualidade teatralmente perversa, a dançarina
bíblica que exigira como recompensa artística a cabeça de João Batista numa
bandeja de prata convertera-se, para os estetas finisseculares, no próprio signo da
profanação dos valores canônicos, o que não significa dizer a ausência de uma
espiritualidade, que neste contexto é vivida e recuperada sobretudo como teatro,
como ampliação da arte. Vida e arte são – reitero – conceitos indissociáveis do
próprio dandismo.
Tão Dandy quanto a Salomé de Moreau, a americana de A Confissão de
Lúcio promove uma festa teatral e alucinante, em que o misticismo se converte
sobretudo num modo de ampliar os domínios do artístico. Atente-se para certos
elementos que concorreriam para uma teatralização da espiritualidade: do lacaio
que, à porta do palácio, recolhe os convites tal como na entrada de um teatro às
cortinas que vedam o acesso ao palco; das bailarinas que dançam seminuas à
apresentação final e espasmódica da mulher fulva, tudo aí é apresentado como
fingimento, como jogo cênico, como representação. A consciência da teatralidade
Rafael Santana
283
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
não impede que se profanize o próprio sagrado em prol da arte. Deste modo, a
americana – que se coloca desde a sua primeira aparição como uma artista – é
deliciosamente apresentada pelo narrador como uma espécie de perversa
sacerdotisa do fogo.
Quimérico e nu, o seu corpo sutilizado erguia-se litúrgico entre mil
cintilações irreais. Como os lábios, os bicos dos seios e o sexo estavam
dourados – num ouro pálido, doentio. E toda ela serpenteava em misticismo
escarlate a querer dar-se ao fogo...
Mas o fogo repelia-a...
Então, numa última perversidade, de novo tomou os véus e se ocultou,
deixando apenas nu o sexo áureo – terrível flor de carne a estrebuchar
agonias magentas...
Vencedora, tudo foi lume sobre ela...
E outra vez desvendada – esbraseada e feroz, saltava agora por entre
labaredas, rasgando-as: emaranhando, possuindo, todo o fogo bêbado que a
cingia.
Mas finalmente saciada, após estranhas epilepsias, num salto prodigioso,
como um meteoro – ruivo meteoro – ela veio tombar no lado que mil
lâmpadas de esbatiam de azul cendrado.
Então foi apoteose:
Toda a água azul, ao recebê-la, se volveu vermelha de brasas, encapelada,
ardida pela sua carne que o fogo penetrara.... E numa ânsia de se extinguir,
possessa, a fera nua mergulhou... Mas quanto mais se abismava, mais era
lume ao seu redor...
... Até que por fim, num mistério, o fogo se apagou em ouro e, morto, o seu
corpo flutuou heráldico, sobre as águas douradas – tranquilas, mortas
também...
(CL, p.364, grifo do autor)
Dançando liturgicamente, entre cintilações, com o corpo dourado, envolta
em misticismo – os termos são utilizados pelo próprio narrador –, num bailado
sedutor e serpenteante, a americana põe em cena as suas teorias sobre a
voluptuosidade/arte, legando aos discípulos que escolhera para futuros eleitos as
suas últimas lições. Atente-se para a simbologia do fogo, elemento que caracteriza
num primeiro momento as personagens de Gervásio e da americana, e que
reverbera ainda num segundo momento, aquando das relações triádicas entre
Lúcio, Marta e Ricardo. Com efeito, se o fogo é, por um lado, um signo que
aponta para a ideia de extinção, por outro lado, ele pode ser lido como índice de
renascimento, ou melhor, de ressurreição, e não por acaso está metaforicamente
relacionado, em muitas mitologias, a diversos ritos de iniciação. Ligado a todo um
imaginário mítico, o fogo tem sido pressentido, desde as épocas mais remotas da
Rafael Santana
284
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
história da humanidade, como fonte de domínio e de poder, de sabedoria, de
purificação e de adoração, o que de certo modo acabaria por enfatizar o seu
caráter divino e, nesta mesma linha, a sua dimensão animista 104. Na mitologia
grega, o fogo já fora apontado como o elemento sagrado responsável por haver
concedido vida aos seres humanos, depois de ter sido furtado aos deuses pelas
mãos do incauto Prometeu que, por sua vez, pagara um terrível preço por tamanha
ousadia. E não param por aí os relatos lendários relacionados ao fogo, desde os
registros da Antiguidade. Um dos melhores exemplos do seu caráter divino talvez
esteja expresso no mito das Vestais, sacerdotisas virgens consagradas a Vesta, a
Héstia grega, rainha do fogo sagrado da lareira. Às Vestais romanas era
incumbida a tarefa de manter sempre acesas as chamas das lareiras do templo da
deusa, porque, segundo a crença da época, tais chamas seriam responsáveis por
permitir a perpetuação do próprio Império de Roma. Em algumas culturas ainda
mais arcaicas do que a grega e a romana, como a cultura celta, crê-se que durante
as cerimônias sagradas de ritos iniciáticos eram sacrificados não apenas animais
vivos como também seres humanos, que se entregavam ao fogo voluntariamente,
doando-se aos deuses por vontade própria. Por fim, no que concerne ao
cristianismo, o fogo é ainda o símbolo do divino na sua representação do Espírito
104 Veja-se sobre isso o inultrapassável texto de Gaston Bachelard – A Psicanálise do Fogo.
Também em relação a isso, diz Junito de Souza Brandão: “Quanto ao fogo propriamente dito,
a maior parte, dos aspectos de seu simbolismo está sintetizada no hinduísmo, que lhe
confere uma importância fundamental. Agni, Indra e Sûrya são as ‘chamas’ do nível telúrico,
do intermediário e celestial, quer dizer, o fogo comum, o raio e o sol. Existem ainda dois
outros: o fogo da penetração ou absorção (Vaishvanara) e o da destruição, que é um outro
aspecto do próprio Agni. Consoante o I Ching, o fogo corresponde ao sul, à cor vermelha, ao
verão, ao coração, uma vez que ele, sob este último aspecto, ora simboliza as paixões,
particularmente o amor e o ódio, ora configura o espírito ou o conhecimento intuitivo. A
significação sobrenatural se estende das almas errantes, o fogo-fátuo, até o Espírito Divino:
Brahma é idêntico ao fogo. O simbolismo das chamas purificadoras e regeneradoras se
desdobra do Ocidente aos confins do Oriente. A liturgia católica do fogo novo é celebrada na
noite de Páscoa. O divino Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos sob a forma de línguas de
fogo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o fogo é elemento que purifica e limpa,
tornando-se, destarte, o veículo que separa o puro do impuro, destruindo eventualmente
este último. Por isso mesmo, o fogo é apresentado como instrumento de punição e juízo de
Deus. Cristo fala de um fogo que não se apagará. Deus será como um fogo, distinguindo o
bom do menos bom. Sua força, que tudo penetra, purifica também: nesse sentido é que o
batismo de Jesus havia de agir como fogo” (2004, p.276-277).
Rafael Santana
285
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
Santo, além de ser a marca da presença do Deus vivo na liturgia católica, no
espaço sagrado da igreja.
Essa dimensão anímica e sagrada do fogo é tomada, no universo ficcional
de A Confissão de Lúcio, como uma forma aurática de ampliar o domínio da arte,
ou melhor, de explorar as suas infindas possibilidades, apontando para qualquer
coisa de uma espiritualidade perversa, teatralizada, dessacralizada. No contexto da
geração de Orpheu, os textos místico-iniciáticos de Fernando Pessoa talvez sejam
o melhor exemplo dessa metamorfose da espiritualidade em teatro, em literatura,
em fingimento, enfim. No crepúsculo do século XIX, o Decadentismo e o
Simbolismo recorriam com frequência a elementos místico-religiosos para
caracterizar os artistas considerados eleitos, e não é aleatório que Mário de SáCarneiro, herdeiro do legado finissecular, descreva quase sempre os personagens
das suas obras em prosa, bem como os sujeitos líricos da sua poesia, com
elementos circunscritos ao campo semântico do sagrado. Por outras palavras: em
Sá-Carneiro o culto ao sagrado converte-se na contemplação da própria arte –
teatralmente apresentada –, daí a escolha, nada aleatória, da figura do dandy como
uma espécie tutor às avessas, de “sacerdote” profano.
Seduzindo, num misto de atração e de repulsa, o jovem Lúcio, Gervásio,
que é caracterizado pelo próprio narrador como sendo um ser superior, submete o
seu amigo a uma espécie de perverso processo iniciático, lançando-o
gradativamente nas sendas do dandismo ao lhe ensinar a manifestar aversão ao
senso comum, à arte propaganda e, de um modo geral, à pauta de valores da
sociedade burguesa. Por sua vez, à personagem da americana também não é
conferido um lugar de menos valia nesse projeto narrativo. Tão dandy quanto
Gervásio, porque fálica e, portanto, tocada pela androginia, à americana é
concedida a função do desvirtuamento da doxa, naquilo que concerne à temática
do sexo propriamente dito. Levando até à radicalidade o conceito de Octavio Paz,
que opõe o erotismo à mera sexualidade, a personagem de Sá-Carneiro manifesta
Rafael Santana
286
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
uma verdadeira ojeriza ao sexo natural e à sua possível atividade procriatória. Ao
eleger o cultural, ou melhor, ao manifestar predileção pelo simulacro e pelo jogo
cênico como caminhos inusitados, como sensualismos novos a partir dos quais o
gozo também poderia ser experimentado, a americana reformula a própria teoria
do texto decadentista, um texto dandy, escrito numa prosa poética e erótica, que se
orgulha em proclamar o prazer autorreferencial da escritura.
E se Gervásio e a americana desaparecem muito rapidamente da trama
discursiva de A Confissão de Lúcio, isso não os torna, de forma alguma,
personagens menos importantes ou inferiores no contexto da novela. Uma vez
realizada a função que lhes tinha sido conferida neste projeto narrativo – iniciar
Lúcio e Ricardo nas sendas do dandismo –, é chegada a hora de que essas
personagens-dandies cumpram fatalmente o seu destino trágico, assinalando deste
modo a poesia da sua própria existência. Gervásio suicida-se; a americana, por sua
vez, desaparece misteriosamente, sem que dela se tenha mais nenhuma notícia.
Contudo, as lições de ambos já estavam dadas a Lúcio e a Ricardo, figuras
centrais da narrativa de Sá-Carneiro, lições que esses discípulos aplicariam
distintamente na arte e na arte da vida, porque já haviam sido seduzidos, atraídos,
encantados, desviados, enfim.
Ao atrelar desde o princípio o conceito de dandismo ao caminho fatal da
autoconsumição, A Confissão de Lúcio apresenta o elemento fogo como sendo um
dos signos mais recorrentes do seu tecido discursivo. Deste modo, Gervásio, uma
criatura superior, intensa, brilhante, uma verdadeira chama viva, cumpre um
destino que evidentemente não poderia ser outro que não o de consumir-se a si
próprio, porque figura excessivamente luminosa. Por sua vez, a personagem da
americana, a artista do fogo, da voluptuosidade propriamente dita, também viria a
consumir-se a si mesma ao desaparecer metafórica e literalmente, de forma assaz
misteriosa, após o desenlace da sua desconcertante festa decadentista, da sua
Orgia do Fogo. E se o dandy é realmente um mestre, um sábio, uma figura que
Rafael Santana
287
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
submete os seus discípulos a uma espécie de fáustico processo iniciático,
lançando-os não raro nas sendas do próprio dandismo, damo-nos conta, ao
observarmos o destino de Lúcio Vaz e de Ricardo de Loureiro, de que a eles é –
tal qual aos seus mestres – apontada a mesma via de autoconsumição: Ricardo de
Loureiro, o poeta das Brasas, pareceria não poder gozar de outro destino que não
o da consumição de si próprio, através da criação da incandescente e espectral
figura de Marta. Lúcio Vaz, escritor de A chama, num gesto de não menos
consumição de si próprio, viria a atirar ao fogo a sua obra mais importante,
optando por ser, a partir daquele momento, como o seu amigo Gervásio VilaNova: um artista “predestinado para a falência” (CL, p.353), “incapaz de se
condensar numa obra” (CL, p.354). Como se vê, a Lúcio e a Ricardo é conferido,
de certo modo, o mesmo destino trágico das personagens de Gervásio e da
americana: suicídio + desaparecimento, se entre eles interpusermos a figura não
menos alucinante de Marta.
Considerada estruturalmente, A Confissão de Lúcio subdivide-se em três
eixos temporais: o primeiro, o prólogo, que representa o presente da escrita; o
segundo, o capítulo inicial, em que o narrador-personagem discorre sobre a sua
ida a Paris num tempo passado e sobre a sua sede de imersão no mundo artístico;
por fim, o terceiro, quando Lúcio, após a festa da americana, abdica do convívio
com Gervásio, vindo a confessar que a amizade com o poeta Ricardo de Loureiro
marca tanto o início como o fim da sua vida. Inicialmente, assistimos a uma
narrativa que, não obstante as hesitações de Lúcio, se desenvolve em ritmo
acelerado, culminando num clímax orgiástico que é a festa da mulher fulva.
Depois deste grande desenlace ou desta espécie de epílogo voluntariamente
deslocado, a novela de Sá-Carneiro ganha um novo ritmo, muito mais lento, que é
o ritmo da divagação ou do discurso da memória. Claro está que, desde o seu
estranho prólogo, A Confissão de Lúcio se inscreve como uma narrativa de
memórias. No entanto, após descrever a cena parisiense, Lúcio parece mergulhar
ainda mais profundamente no seu mundo interior, voltando todo o seu pensamento
Rafael Santana
288
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
para a relação que estabelece com Ricardo/Marta. Por outras palavras, a partir do
terceiro momento da diegese, o narrador-autor parece escrever de forma um tanto
mais brumosa, pondo-se lentamente a divagar.
Em Modernismo: o Fascínio da Heresia, Peter Gay assinala que o pendor
acentuado do artista moderno para a introspecção o levava não raramente a
construir uma espécie de autorretrato nas suas obras. Consoante as palavras do
teórico inglês, “Os modernistas em todos os campos da cultura parecem ter
embarcado num expresso para o futuro. Mas os revolucionários mais sensacionais
daqueles anos foram os pintores” (2009, p.113). Destacando nomes como Van
Gogh, Gauguin, Cézanne e Ensor, Peter Gay assinala ainda que
[...] Os modernistas [...] estavam às voltas com seus próprios egos
problemáticos. A paixão pelo autorretrato entre os modernistas não se
esgotava na exuberância. Esse trabalho tinha um lado depressivo
considerável; além da pura satisfação com a competência profissional, o
artista se empenhava profundamente em expor a desgraça.
(GAY, 2009, p.118).
Muito para além de um simples narcisismo, o autorretrato expressa antes
de tudo uma angústia, modo de o artista modernista expor, de forma altiva e
desdenhosa, a sua própria desgraça. Nascida no seio da pintura, a técnica do
autorretrato foi de pronto absorvida no âmbito da escrita. A Confissão de Lúcio,
por exemplo, é certamente o modo literário de trabalhar com essa técnica.
Decididos, para lembrar Peter Gay, “a expor o íntimo do seu ser sem reticências
burguesas” (2009, p.123), os personagens especulares desta narrativa de SáCarneiro revelam muito de si próprios, sem na verdade revelarem absolutamente
nada, mostrando-se oximoricamente como Esfinges sem mistério, a lembrar os
próprios versos do poeta: “Só de ouro falso os meus olhos se douram / Sou
Esfinge sem mistério no poente / A tristeza das coisas que não foram / Na
minh’alma desceu veladamente” (1996, p.21), que constituem um dos mais belos
autorretratos que Sá-Carneiro construiu de si. Sempre a divagar, Lúcio também
Rafael Santana
289
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
não deixa de compor diversos autorretratos no seu discurso da memória,
projetando muito de si próprio nos outros e vice-versa.
Frisei anteriormente que A Confissão de Lúcio é uma narrativa que se
constrói a partir de espelhamentos. Neste sentido, as reuniões artísticas em casa de
Ricardo parecem ser uma reiteração da cena parisiense, na qual um seletíssimo
círculo de artistas se reunia em torno de Gervásio e da americana no Pavilhão de
Armenonville. Se, em Paris, Lúcio se coloca como uma espécie de discípulo a um
só tempo encantado e incomodado com a presença destes dois dandies, em
Lisboa, ele se põe como uma espécie de discípulo/amante de Ricardo/Marta, que
igualmente o atraem e o repelem. Na verdade, a obra-prima de Sá-Carneiro é uma
grande narrativa de mediação interna, e é Lúcio quem surge, nesse mundo de
palavras, como um grande aprendiz.
Em considerações sobre a narrativa proustiana, René Girard assinala que o
objeto do desejo (ser um artista) sempre se constitui, para o aprendiz de dandy,
num meio de alcançar o ser do seu mediador. Mais que isso: para aquele que se
põe como discípulo de um dandy, a tentativa de absorver o ser do seu mediador
apresenta-se não raro sob a forma de um desejo de iniciação. Ora, em A Confissão
de Lúcio, esse processo de vampirização em que se anela absorver o ser do outro a
qualquer custo se evidencia do início ao fim da diegese. Lúcio quer ser igual a
Gervásio (artista dandy); Ricardo quer ser belo como uma mulher (a americana),
enxergando na sexualidade feminina o logro da própria arte. Rememorando, por
exemplo, o seu primeiro encontro com o círculo de artistas-dandies no Pavilhão
de Armenonville, diz Lúcio:
A desconhecida estranha impressionara-me vivamente e, antes de adormecer,
largo tempo a relembrei e à roda que a contemplava.
Ah! como Gervásio tinha razão, como eu no fundo abominava essa gente – os
artistas. Isto é, os falsos artistas cuja obra se encerra nas suas atitudes; que
falam petulantemente, que se mostram complicados de sentidos e apetites,
artificiais, irritantes, intoleráveis. Enfim, que são os exploradores da arte
apenas no que ela tem de falso e de exterior.
Mas, na minha incoerência de espírito, logo me vinha outra ideia: “Ora, se os
odiava, era afinal por os invejar e não poder nem saber ser como eles...”
Rafael Santana
290
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
Em todo o caso, mesmo abominando-os realmente, o certo é que me atraíam
como um vício pernicioso.
(CL, p.358, grifos do autor)
Como se pode ver, Lúcio alega sentir um misto de atração e repulsa pelos
artistas-dandies, que cultuam a arte pelo que ela tem de exterior, que se
apresentam pedantemente como seres superiores, isto é, complicados de espírito,
artificiais. Na verdade, o que Lúcio assiste num primeiro momento é à
exterioridade absoluta que o dandy propositadamente quer revelar. Tomando
Gervásio e a americana como os seus mestres, como os seus grandes modelos
(mediadores), o personagem de Sá-Carneiro aos poucos absorve as suas lições,
aplicando-as seja na sua produção artística, seja na sua própria vida. Urdindo o
seu discurso em primeira pessoa, Lúcio coloca-se como um aprendiz de dandy do
início ao fim da narrativa que constrói. Se se pode dizer que, numa espécie de
duplicação especular, Ricardo de Loureiro tornou possível a criação da figura de
Marta a partir das teorias sobre a voluptuosidade/arte da americana, lembre-se, por
outro lado, que o poeta é descrito, desde o momento em que Lúcio o vê pela
primeira vez, como um dandy que chama a sua atenção: “[...] Brilhantíssima aliás
a conversa do artista [Ricardo], além de insinuante, e pela primeira vez eu vi
Gervásio calar-se – ouvir, ele que em todos os grupos era o dominador” (CL,
p.360). Tal como Gervásio e a americana, Ricardo é descrito pelo narrador como
um conversador admirável, atributo que – como vimos a respeito da obra de
Oscar Wilde – mais de perto define a postura do dandy.
O senso comum costuma atribuir ao dandy uma excentricidade advinda
quase que exclusivamente da sua vestimenta. Nada mais errôneo! Nos seus
inéditos sobre imagem e moda, Roland Barthes nos ensina que a vestimenta do
dandy não necessariamente tem de ser – como em geral se pensa – escandalosa ou
extravagante. Segundo Barthes, o traje masculino – e sabemos que o dandismo é
um fenômeno quase exclusivamente masculino – ter-se-ia padronizado e
uniformizado a partir de inícios do século XIX. Escamoteando o sistema de
Rafael Santana
291
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
distinções hierárquicas do Antigo Regime, e situando-se num tempo em que se
propagavam princípios igualitários e democráticos, os trajes da aristocracia, que
permitiam de certo modo a leitura de uma classe pretensamente eleita pelo próprio
querer divino 105, foram relegados a uma esfera de menos valia, deixando de ser
possíveis na sociedade do Novo Regime. Frente a esta situação, o dandy que, por
um lado, almejava distinguir-se da massa e que, por outro lado, se via cerceado
por um vestuário masculino estandardizado e industrial, encontra uma única saída
para diferenciar-se da plebe, da odiada chusma: a riqueza dos detalhes. A esse
respeito, escreve Roland Barthes:
Já que não se podia mudar o tipo fundamental do vestuário masculino sem
atentar contra o princípio democrático e laborioso, foi o detalhe (“um nada”,
“um não-sei-quê”, “um jeito” etc.) que assumiu toda a função distintiva da
indumentária: um nó de gravata, um tecido de camisa, botões de um colete, a
fivela de um sapato passaram então a ser suficientes para marcar as mais
finas diferenças sociais; simultaneamente, a superioridade da condição social,
impossível agora de ostentar sem rebuços, em vista da regra democrática, era
mascarada e sublimada sob um novo valor: o bom gosto, ou melhor – pois a
palavra é justamente ambígua – distinção.
(BARTHES, 2005, p.346)
O dandismo masculino não se manifesta – naquilo que concerne à
vestimenta – por meio do uso de trajes extravagantes. Pelo contrário, o que
caracteriza um dos grandes propósitos do dandy é o de distanciar-se ao máximo
do vulgo, e, bem o sabemos, isso muitas vezes é feito por meio das suas vestes e
atitudes. Porém, tais vestes e tais atitudes não deveriam, em hipótese alguma, ser
demasiado exóticas, porque, como bem assinala Barthes, o dandy nunca poderá
“cair na excentricidade, que é uma forma eminentemente imitável” (2005, p.349).
Como vimos, o dandismo finissecular, que não é outro senão aquele que retoma as
matrizes baudelairianas, consiste não numa conduta exacerbada, mas sim numa
Segundo Roland Barthes, “Durante séculos, houve tantos trajes quantas classes sociais.
Cada situação social tinha suas vestes, e não havia nenhum constrangimento em fazer do
modo de vestir um verdadeiro signo, pois a própria disparidade dos estados era considerada
natural. Assim, por um lado, o vestuário era submetido a um código inteiramente
convencional, mas, por outro lado, esse código remetia a uma ordem natural, ou melhor,
divina. Mudar de vestes era mudar ao mesmo tempo de ser e de classe, pois ambos se
confundiam” (2005, p.344).
105
Rafael Santana
292
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
espécie de simplicidade absoluta, que não é senão o caminho às avessas da
excentricidade vulgar, assinalando no entanto uma outra excentricidade mais
profunda. E é exatamente esta simplicidade assumida não como cópia, mas como
resistência, que reparamos, por exemplo, no modo de vestir-se de Gervásio VilaNova, tutor perverso de A Confissão de Lúcio. Na narrativa de Sá-Carneiro, ele é
descrito da seguinte forma:
[...] Perturbava o seu aspecto físico, macerado e esguio, e o seu corpo de
linhas quebradas tinha estilizações inquietantes de feminilismo histérico e
opiado, umas vezes – outras, contrariamente, de ascetismo amarelo. Os
cabelos compridos, se lhe descobriam a testa ampla e dura, terrível,
evocavam cilícios, abstenções roxas; se lhe escondiam a fronte,
ondeadamente, eram só ternura, perturbadora ternura de espasmos dourados e
beijos sutis. Trajava sempre de negro, fatos largos, onde havia o seu quê de
sacerdotal – nota mais frisantemente dada pelo colarinho direito, baixo,
fechado. Não era enigmático o seu rosto – muito pelo contrário – se lhe
cobriam a testa os cabelos ou o chapéu. Entanto, coisa bizarra, no seu corpo
havia mistério – corpo de esfinge, talvez, em noites de luar. Aquela criatura
não se nos gravava na memória pelos seus traços fisionômicos, mas sim pelo
seu estranho perfil. Em todas as multidões ele se destacava, era olhado,
comentado – embora, em realidade, a sua silueta à primeira vista parecesse
não se dever salientar notavelmente: pois o fato era negro – apenas de um
talhe um pouco exagerado –, os cabelos não escandalosos, ainda que longos;
e o chapéu, um bonet de fazenda – esquisito era certo –, mas que em todo o
caso muitos artistas usavam, quase idêntico.
(CL, p.353)
Embora a figura de Gervásio chame a atenção de todos e se destaque por
onde quer que passe, o próprio narrador ressalta o fato de não haver motivação
alguma para que isto aconteça, já que o traje da personagem é sempre negro, cor
que em princípio seria representativa de imagens de seriedade, de austeridade e,
mais radicalmente, de luto. De fato, é a partir de pequenos detalhes que Gervásio
Vila-Nova logra distinguir-se no meio da multidão, dela se diferenciando pelo
contraste da sua figura que radicaliza a oposição ao vulgo através de uma
vestimenta que, paradoxalmente, possui um “quê de sacerdotal”; um “colarinho
direito, baixo, fechado”; por uns “cabelos não escandalosos, ainda que longos” e
por um chapéu estranho, mas que “muitos artistas usavam, quase idêntico”.
Acentuando o perfil deste dandy português, há como que uma duplicação da sua
recusa através do contraste voluntário entre ideologia e aparência. Ou seja:
Rafael Santana
293
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
mantendo-se aparentemente ortodoxo, a convivência de ideias e de propostas
extravagantes num aspecto de conformidade ao vulgo radicaliza no entanto a
impressão de surpresa e de atração que causa. Por outras palavras: aceitando
aparentemente os valores burgueses ao vestir-se de negro, Gervásio exerce uma
violência redobrada sobre esses mesmos valores, instaurando, a partir da
simplicidade tradicional do seu traje, uma verdadeira extravagância no campo das
ideias. Ele é um artista, mas diferentemente do artista burguês – sério, austero e
reto – e que vincula geralmente a sua arte a um propósito social – o dandy-mor de
A Confissão de Lúcio – esfíngico, estranho e histérico – nem sequer produz,
ferindo os valores burgueses com profunda veemência. Ora, é precisamente esta
extravagância outra, oximórica, que faz com que o dandy seja visto como um
pedante aos olhos de todos, muito especialmente aos olhos do seu próprio
discípulo.
Já dizia René Girard que nas narrativas de mediação interna – como é o
caso de A Confissão de Lúcio – o sujeito está persuadido de que seu modelo se
julga demasiadamente superior a ele para aceitá-lo como discípulo. E é justamente
para isto que o próprio Lúcio parece apontar, quando descreve uma das suas
muitas conversas com Ricardo, outra figura marcada pelo pedantismo:
Não pode imaginar, Lúcio, como a sua intimidade me encanta, como eu
bendigo a hora em que nos encontramos. Antes de o conhecer, não lidara
senão com indiferentes – criaturas vulgares que nunca me compreenderam,
muito pouco que fosse. Meus pais adoravam-me. Mas, por isso exatamente,
ainda menos me compreendiam. Enquanto que o meu amigo é uma alma
rasgada, ampla, que tem a lucidez necessária para entender a minha. É já
muito. Desejaria que fosse mais; mas é já muito.
(CL, p.376, grifos meus)
De acordo com as caóticas memórias de Lúcio, Ricardo de Loureiro
considerava-o superior aos demais seres com quem convivera até então,
lepidópteros insensíveis, incapazes de compreender a sua alma. Todavia, repare-se
que, embora o poeta assinale que o amigo é uma alma rasgada, diga-se,
fragmentada (dispersa), tendo portanto a lucidez necessária para entender a sua
Rafael Santana
294
Lições do Esfinge Gorda
Capítulo 6
complexidade de espírito, o autor de A Chama estaria, ainda assim, muitíssimo
apartado da total comunhão espiritual desejada por Ricardo, que não deixa de
classificá-lo metaforicamente como um lepidóptero (Desejaria que fosse mais;
mas é já muito), apesar de o ter elogiado inicialmente. E se, como já apontara
Lúcio num momento anterior, o poeta por vezes tinha atitudes que – numa via
especular – lembravam os esnobismos de Gervásio Vila-Nova, recorde-se, a esse
respeito, que o escultor, antes mesmo que Lúcio travasse conhecimento com
Ricardo, o classificara como “uma natureza simples” (CL, p.357), por outras
palavras, como um lepidóptero. Como se pode ver, Lúcio pensa que todos os
artistas com quem convivera se consideravam demasiadamente superiores a ele;
daí a sua paradoxal admiração e repulsa pela roda de dandies que o cercava; daí
que em princípio os “odiasse”, invejando-os por não poder nem saber ser como
eles.
Deste modo, Lúcio se coloca numa espécie de entrelugar, ou melhor, num
estágio intermédio, experimentando dolorosamente a sensação de ser quase 106 .
Quase artista, quase um dandy, Lúcio se põe, entre irritado e seduzido, como
aprendiz de Gervásio, da americana, de Ricardo e de Marta, figuras que se
duplicam especularmente ao longo da narrativa. Contudo, last but not least, ele
também acaba, ao final da sua lide, por tornar-se ele próprio um dandy,
incorporando tudo aquilo que aprendera com os seus mestres na materialidade da
sua própria escrita – densa, erótica, antiutilitária, antidemocrática e antipopular – e
portanto flagrantemente vazada sob o signo do dandismo.
A esse respeito, vale lembrar o brilhante ensaio de Pedro Eiras, em que assinala a respeito
de A Confissão de Lúcio: “Se tudo é escala entre a terra burguesa e o céu inefável da arte, se a
condição intermédia é a mais dolorosa (porque o lepidóptero nem sequer sente a ânsia e o
artista já a venceu), resta a Lúcio fazer explodir, de dentro, a vida que o prende. Lúcio não
pode regressar à boçalidade lepidóptera, está demasiado acordado; nem atingir o céu
inefável, que transcende as palavras de que se serve; mas, dentro da inevitável escala
vertical, talvez possa dinamitar o degrau que ocupa” (2011, p.151).
106
Rafael Santana
295
CONCLUSÃO
A mitologia não é inofensiva. Assumir por
sua conta o mito de Orfeu significava
tomar a sério com todas as
consequências imprevisíveis o papel da
poesia no destino humano. Transformar
a existência em existência poética,
apoderar-se
dos
poderes
que,
sabiamente, talvez, a mitologia confere
apenas a um semideus e tentar dominar
com eles as várias faces de um destino
adverso até converter toda a realidade
em realidade poética não era, não é, uma
aventura vulgar. A importância única da
geração de Orpheu reside nessa
aceitação sem limites da seriedade da
poesia, ou, se se prefere, da poesia como
realidade absoluta.
(Eduardo Lourenço – Tempo e Poesia)
Fernando Pessoa um dia definira a literatura do seu tempo num único
enunciado: “A arte moderna é arte de sonho” (2005, p.296). A aceitação sem
limites da seriedade da poesia – a que argutamente se refere Eduardo Lourenço –
praticaram-na os de Orpheu tanto na arte quanto na arte da vida. Por outras
palavras, a concepção do mundo e da existência quotidiana como intrincados nós
que só poderiam ser desfeitos, ou melhor, levemente atenuados, mediante a
vivenciação poética é uma constante do pensamento dos artistas do primeiro
Modernismo português. O sonho – metonímia de uma arte tomada em alquimia
metafórica como exercício capaz de metamorfosear a realidade impura em ouro –
é perseguido com veemência por artistas como Pessoa e Sá-Carneiro, que
recuperavam da cultura helênica a noção de que só a arte seria capaz de forjar a
beleza e conferir sentido à vida, imperfeita por natureza. Assim, as incursões
oníricas, consideradas desde tempos muito remotos como propiciadoras da criação
artística, surgem no contexto de Orpheu como um trabalho órfico, oficinal, isto é,
como uma necessária catábase ao mundo ctônico, onde os artistas se iniciam
poeticamente nos mistérios, guardando a sete chaves os segredos da arte.
Orfeu, ancestral mitológico de toda a poesia, é eleito, pelo grupo de jovens
artistas que em 1915 se reunia em torno de uma revista homônima, como o
paradigma daquele que se recusou a aceitar uma realidade adversa, diga-se,
Lições do Esfinge Gorda
Conclusão
impura, tentando convertê-la metaforicamente em ouro através dos encantos da
sua cítara. Inconformado pela morte de Eurídice, o poeta trácio, fidelíssimo à
memória da sua amada, repelia o amor das jovens que dele se acercavam,
passando a conviver apenas com alguns efebos da sua confiança. Conta uma
variante do mito que, após voltar, desolado, do Hades, Orfeu começara a formar
um pequeno grupo masculino que seletamente escolhia, reunindo-se com ele
numa vivenda cerrada – espécie de sociedade secreta –, onde aos poucos o
iniciava nos mistérios da vida e da arte:
Educador da humanidade, [Orfeu] conduziu os trácios da selvageria para a
civilização. Iniciado nos “mistérios”, completou sua formação religiosa e
filosófica viajando pelo mundo. De retorno do Egito, divulgou na Hélade a
ideia da expiação das faltas e dos crimes, bem como os cultos de Dioniso e os
mistérios órficos, prometendo, desde logo, a imortalidade a quem neles se
iniciasse.
(BRANDÃO, 2007, p.142)
Primeiramente educador de um pequeno grupo masculino, Orfeu acabaria
por converter-se posteriormente em sinônimo de educador da humanidade ao
gerar a corrente filosófica que ficaria conhecida por orfismo; muitíssimos séculos
mais tarde, o movimento órfico português, na esteira da poética do fingimento,
tornou-se também ele corolário de uma educação, como bem acentua Jorge de
Sena no seu já tão revisitado prefácio à Poesia I. Retomando o mito em rasura,
em metamorfose, os artistas insurretos do Modernismo de 1915 reuniram-se
simbolicamente sob o nome do pai mitológico da poesia como modo de recusar a
atmosfera sociocultural de um Portugal provinciano.
Se a corrente órfica surgida durante o período helenístico ora tendia para o
culto ao apolíneo, ora ao dionisíaco, os artistas de Orpheu, na linha do
pensamento de Fernando Pessoa, se colocaram perversa e transgressoramente
como indisciplinadores de almas, recuperando e relendo a cultura greco-latina sob
o signo do simulacro. Deste modo, os escritos da modernidade inaugural do
século XX português se afiguraram aos olhos de uma sociedade pretensamente
Rafael Santana
298
Lições do Esfinge Gorda
Conclusão
bem comportada como uma literatura de manicômio ou – diria eu também– como
uma educação às avessas.
Foi no gesto teatral e bombástico que cada artista geração de Orpheu
investiu, de maneiras bastante diversificadas, na oposição a uma realidade
inóspita, e o desejo de alcançar o avesso perpassa, não raro, vários dos seus
escritos. Pessoa, na já clássica definição de Álvaro de Campos, se autodenomina
um novelo embrulhado para o lado de dentro; Sá-Carneiro confessa almejar o
logro da beleza errada (às avessas, portanto); Almada ergue-se odiosamente, na
cena espetacular do Modernismo ascensional de 1915, como um “Pederasta
apupado d’imbecis” (NEGREIROS, 1997, p.85), abalando, até à radicalidade, as
bases canônicas de um Portugal religioso, herdeiro de uma mentalidade católica, e
propagador dos ecos extemporâneos de uma História marcada pelo peso da
Contrarreforma.
Quando estudei as propostas da geração de Orpheu pela primeira vez,
incomodou-me certa ideia de um esteticismo absoluto que, lido ao pé da letra,
pareceria contribuir para a formulação de uma arte integralmente acastelada na
sua torre de marfim e desvinculada, portanto, de quaisquer preocupações
extraliterárias. Ora, a soberba poética assumida pelos artistas fin-de-siècle e
reiterada – no caso português – pelos escritores de Orpheu pode ser lida
literalmente “como manifestação de desdém pelos baixos extratos sociais, o que
lhe atribuiria a condição de sintoma de sua inaptidão à realidade” (SISCAR, 2012,
p.27). Diante disso, comecei a indagar até que ponto essa negação à democracia e
ao senso comum não apontaria, avessamente, para uma outra espécie de fazer
democrático, ou melhor, para a busca de novos valores autênticos. Afinal, como
nos ensina Marcos Siscar, “não há democracia sem soberba, sem o voo que
permite vislumbrar os vazios [...]; não há visão sobre o real, ainda que o mais
abjeto, que não envolva um passeio nas nuvens” (Ibidem, p.66, grifo do autor).
Rafael Santana
299
Lições do Esfinge Gorda
Conclusão
Fernando Pessoa sintetizara a arte do seu tempo na palavra sonho,
simbólica pedra filosofal capaz de transmutar metais inferiores em ouro; gesto a
um só tempo revolucionário e teatral que define a poética dos principais artistas da
sua geração. No que concerne especificamente a Mário de Sá-Carneiro, a busca do
ouro absoluto é, como vimos, uma obsessão da sua literatura, deparando-se ele
com a dolorosa sensação do falhanço na sua confessada “luta impossível contra a
realidade” (CF, p.432). Indícios de ouro parecem ser o seu máximo logro nessa
batalha! A alquimia não se realiza plenamente, e o poeta termina por se
autoclassificar como “O corroído, o raimoso, o desleal, / O balofo arrotando
Império astral, / O mago sem condão, o Esfinge Gorda...” (UP, p.83). Noutros
termos, voo e queda fazem parte da experiência oximórica da soberba da
modernidade, e foi pensando nisso que procurei estruturar esta tese.
Assim é que, num primeiro momento, busquei compreender a beleza
errada – que Sá-Carneiro assinala ter sido a mira final da sua obra – como uma
educação às avessas herdada dos artistas finisseculares, que, por sua vez, se
colocavam como herdeiros diretos do legado de Baudelaire. Entrecruzando o olhar
entre literatura e artes plásticas, tentei mostrar o quanto o conceito de belo esteve,
muitas vezes, atrelado à ideia de educação, e o quanto a beleza errada sácarneiriana seria, na verdade, o eco às avessas, ou melhor, o belo dilacerado,
metamorfoseado, de uma tradição anterior.
Adentrando mais especificamente os domínios de Orpheu, sobretudo os
labirínticos textos em prosa de Sá-Carneiro, intentei aduzir o dandismo como uma
pedagogia às avessas e assinalar o quanto a educação enviesada – pressuposta pela
filosofia do dandy – se desdobra na própria materialidade da escrita do autor de
Céu em Fogo, através daquilo que se convencionou chamar de écriture-dandy.
Deste modo, percorri os temas obsessivos da sua produção literária – o mistério, a
teatralização da morte, o erotismo, o homoerotismo e o dandismo – buscando ler
neles exemplos de uma educação às avessas.
Rafael Santana
300
Lições do Esfinge Gorda
Conclusão
Sinalizando os ecos históricos e as reformulações de cada tema obsessivo
da obra de Sá-Carneiro, o meu intuito final foi o de mostrar o quanto esses temas
transgressores – quando não considerados como tabu – atrelados, todos eles, a
uma retórica discursiva “pedagógica” muito própria do dandismo, poderiam ser
lidos como verdadeiras aulas magnas direcionadas na contramão da doxa,
configurando-se como sedutoras – e por isso mesmo desviantes – Lições do
Esfinge Gorda.
Rafael Santana
301
BIBLIOGRAFIA
1.
ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Trad. António Ramos Rosa.
Lisboa: Presença, 1987.
2.
______. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Mestre
Jou, 1962.
3.
AGRÒ, Ettore Finazzi. It’s So Nice to Die at the Nice: Sá-Carneiro e a
morte participante.
In:
Anais
do
XIII Encontro
de Professores
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ,
1992, p.161-167.
4.
AGUIAR e SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da Literatura. São Paulo:
Martins Fontes, 1ª ed., 1976.
5.
AMARAL, Ana Luísa. “Durmo o Crepúsculo”: Lendo a Poética de Mário
de Sá-Carneiro a partir das Teorias Contemporâneas sobre as Sexualidades.
In: PEDROSA, Célia & ALVES, Ida (org.). Subjetividades em Devir:
Estudos de Poesia Moderna e Contemporânea. Rio de Janeiro: 7 Letras,
2008, p.9-17.
6.
AMARAL, Fernando Pinto do. O Desejo Absoluto: a Poesia de Mário de
Sá-Carneiro e a Lírica Portuguesa dos Anos 70/80. In: Colóquio/Letras n.
117-118. Lisboa: Setembro-Dezembro de 1990, p.7-12.
7.
ANDRESEN, Sophia de Melo Breyner. Luís de Camões: Ensombramento e
Descobrimento. In: Poemas Escolhidos. Lisboa: Círculo de Leitores, 1981,
p.149-164.
8.
ARÊAS, Vilma. Uma Leitura de Sá-Carneiro. In: Estudos Portugueses e
Africanos 4. Campinas: UNICAMP, 1984, p.132-158.
9.
ARENAS, Fernando. Onde Existir?: a (Im)possibilidade Excessiva do
Desejo Homoerótico na Ficção de Mário de Sá-Carneiro. In: SANTOS,
Gilda (org.). Metamorfoses 6. Lisboa: Caminho, 2005, p.159-168.
Lições do Esfinge Gorda
10.
Bibliografia
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: Do Iluminismo aos Movimentos
Contemporâneos. Trad. Denise Bottmann & Federico Carotti. São Paulo:
Companhia das Letras, 2013.
11.
______. Clássico Anticlássico: o Renascimento de Brunelleschi a Bruegel.
Trad. Lorenzo Mammì. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
12.
ARIÈS, Philippe. História da Morte no Ocidente. Trad. Priscila Viana de
Siqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
13.
ARISTÓTELES et alii. Poética. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Abril
Cultural, 1987.
14.
______. A Arte Clássica. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 1985.
15.
AUERBACH, Erich. Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 1976.
16.
______. Introdução aos Estudos Literários. Trad. José Paulo Paes. São
Paulo: Cultrix, 1972.
17.
BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. Trad. Antonio de Pádua
Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
18.
______. O Ar e os Sonhos: Ensaio sobre a Imaginação do Movimento. Trad.
Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
19.
______. A Psicanálise do Fogo. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins
Fontes, 1994.
20.
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no
Renascimento: o Contexto de François Rabelais. Trad. Yara Frateschi
Vieira. São Paulo: Hucitec UNB, 2008.
21.
______. Estética da Criação Verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo:
Martins Fontes, 2006.
22.
BARCELLOS, José Carlos. Literatura Portuguesa: Poesia. Rio de Janeiro:
CCAA, 2007.
23.
______. Literatura Portuguesa: Ficção. Rio de Janeiro: CCAA, 2007.
Rafael Santana
303
Lições do Esfinge Gorda
24.
Bibliografia
BARTHES, Roland. Aula. Trad. Leila Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix,
2007.
25.
______. O Prazer do Texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva,
2006.
26.
______. inéditos vol. 3 - imagem e moda. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
27.
______. A Aventura Semiológica. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
28.
BATAILLE, Georges. A Parte Maldita: Precedido da Noção de Despesa.
Trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Fim de Século, 2005.
29.
______. O Erotismo. Trad. Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM,
1987.
30.
BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Trad. Pietro Nassetti. São
Paulo: Martin Claret, 2004.
31.
______. Poesia e Prosa. Edição organizada por Ivo Barroso. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1995.
32.
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. Charles Baudelaire: um Lírico no
Auge do Capitalismo. Trad. José Carlos Martins Barbosa & Hemerson
Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 2000.
33.
______. Obras Escolhidas : Magia e Técnica, Arte e Política. Trad. Sérgio
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1996.
34.
______. Origem do Drama Barroco Alemão. Trad. Sérgio Paulo Rouanet.
São Paulo: Brasiliense, 1984.
35.
BERARDINELLI,
Cleonice.
Portugal
entre
Dois
Séculos.
In:
BERARDINELLI, Cleonice (org.). Mário de Sá-Carneiro. Rio de Janeiro:
Agir, 2005, p.13-29.
36.
______. Fernando Pessoa: Outra vez te revejo... Rio de Janeiro: Lacerda
Editores, 2004.
37.
BLANCHOT, Maurice. A Parte do Fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
Rafael Santana
304
Lições do Esfinge Gorda
Bibliografia
38.
______. O Espaço Literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
39.
______. O Livro por Vir. Lisboa: Relógio d’Água, 1984.
40.
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Poemas. Seleção e Organização de
José Lino Grünewald. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.
41.
BOUÇAS, Edmundo. Manobras do Truque Decadentista em Sá-Carneiro.
In: Convergência Lusíada, N°14. Rio de Janeiro: Real Gabinete Português
de Leitura, 1997, p.219-227.
42.
BRANCO, Camilo Castelo. A Queda dum Anjo. São Paulo: Ática, 2005.
43.
BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega, vol. 3. Petrópolis: Vozes,
2010.
44.
______. Mitologia Grega, vol. 2. Petrópolis: Vozes, 2007.
45.
______. Mitologia Grega, vol. 1. Petrópolis: Vozes, 2004.
46.
BÜRGER, Peter. Teoria da Vanguarda. Trad. José Pedro Antunes. São
Paulo: Cosac Naify, 2008.
47.
CALINESCU, Matei. As Cinco Faces da Modernidade: Modernismo,
Vanguarda, Decadência, Kitch, Pós-Modernismo. Trad. Jorge Teles de
Menezes. Lisboa: Veja, 1999.
48.
CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: CANDIDO, Antonio
et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2007.
49.
______. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.
50.
CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental: Modernismo.
São Paulo: Leya, 2012.
51.
______. História da Literatura Ocidental: Fin du Siècle. São Paulo: Leya,
2012.
52.
CARPINTEIRO, Maria da Graça. A Novela Poética de Mário de SáCarneiro. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1960.
Rafael Santana
305
Lições do Esfinge Gorda
53.
Bibliografia
CASSIER, Ernst. Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento. Trad.
João Azenha Jr. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
54.
CATHARINA, Pedro Paulo Garcia Ferreira. As Muitas Faces do Dândi. In:
COUTINHO, Luiz Edmundo Bouças & MUCCI, Latuf Isaias (org.).
Dândis, Estetas e Sibaritas. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2006, p.6270.
55.
CEIA, Carlos. Alegorese. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/
verbetes/A/alegorese.htm. Acesso em: 10 dez. 2012.
56.
CERDEIRA, Teresa Cristina. Projeto Capes Nuffic. (Texto Não Publicado),
2010.
57.
______. A Confissão de Lúcio: um Ensaio sobre a Voluptuosidade. In:
Anais do XX Encontro de Professores Brasileiros de Literatura Portuguesa:
No Limite dos Sentidos. Niterói: UFF – NEPA, 2005, p.1-9.
58.
______. Fernando Pessoa: A Aventura Suicida da Modernidade. In:
CERDEIRA, Teresa Cristina (org.). O Avesso do Bordado. Lisboa:
Caminho, 2000, p.67-80.
59.
CESARINY, Mário. Manual de Prestidigitação. Lisboa: Assírio & Alvim,
2004.
60.
COELHO, Nelly. Literatura e Linguagem: a Obra Literária e a Expressão
Linguística. São Paulo: Quíron, 4ª ed., 1986.
61.
COMPAGNON, Antoine. Os Cinco Paradoxos da Modernidade. Trad.
Cleonice Paes Barreto Mourão et al.. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
62.
______. O Trabalho da Citação. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2007.
63.
______. O Demônio da Teoria: Literatura e Senso Comum. Trad. Cleonice
Paes Barreto Mourão & Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2006.
Rafael Santana
306
Lições do Esfinge Gorda
64.
Bibliografia
COQUIO, Catherine. La "Baudelairité" Décadente : un Modèle Spectral.
Disponível
em:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
roman_0048-8593_1993_num_23_82_5912. Acesso em: 28 set. 2012.
65.
CUNHA, Carla. Duplo. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/
verbetes/D/duplo.htm. Acesso em: 05 jul. 2009.
66.
CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europeia e Idade Média Latina. Rio de
Janeiro: INL, 1957.
67.
DUARTE, Lélia Parreira. O Destecer Irônico da Linguagem em A
Confissão de Lúcio, de Sá- Carneiro. In: Anais do XIII Encontro de
Professores Brasileiros de Literatura Portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ,
1992.
68.
EIRAS, Pedro. Notícias do Abismo: Mário de Sá-Carneiro e A Confissão de
Lúcio.
Disponível
em:
http://www.realgabinete.com.br/
revistaconvergencia/pdf/623.pdf. Acesso em: 10 Set. 2013.
69.
______. “Não Estou Escrevendo uma Novela”: Mário de Sá-Carneiro e A
Confissão de Lúcio. Disponível em: http://www.pequenamorte.net/naoestou-escrevendo-uma-novela-mario-de-sa-carneiro-e-a-confissao-de-luciopedro-eiras/#.Usx4B_RDvHQ. Acesso em: 04 Jul. 2013.
70.
ELIADE, Mircea. Mefistófeles e o Andrógino: Comportamentos Religiosos
e Valores Espirituais Não-Europeus. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São
Paulo: Martins Fontes, 1999.
71.
FARIA, Gentil de. A Presença de Oscar Wilde na Belle Époque Literária
Brasileira. São Paulo: Pannartz, 1988.
72.
FICINO, Marsilio. De Amore: Comentario a “El Banquete” de Platón.
Trad. Rocío de la Villa Ardura. Madrid: Tecnos, 2001.
73.
FIGUEIREDO, Joao Pinto de. A Morte de Mário de Sá-Carneiro. Lisboa:
Dom Quixote, 1983.
Rafael Santana
307
Lições do Esfinge Gorda
74.
Bibliografia
FIGUEIREDO, Monica. De Vencedores Vencidos: Bento Santiago e Carlos
da Maia. Algumas Considerações sobre o Romance Oitocentista. Rio de
Janeiro: Biblioteca Nacional, 2007.
75.
FISCHER, Ernst. A Necessidade da Arte. Trad. Leandro Konder. Rio de
Janeiro: Zahar, 1977.
76.
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Trad. Ilana Heineberg. Porto
Alegre: L&PM Pocket, 2008.
77.
FOCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: a Vontade de Saber. Trad.
MariaThereza da Costa Albuquerque & J. A. Guilhon Albuquerque. São
Paulo: Graal, 2011.
78.
______. História da Loucura. Trad. José Teixeira coelho. São Paulo:
Perspectiva, 2012.
79.
GALHOZ, Maria Aliete. Mário de Sá-Carneiro. Lisboa: Presença, 1963.
80.
GARRETT, Almeida. Viagens na minha Terra. São Paulo: Martin Claret,
2005.
81.
______. Ao Conservatório Real. In: GARRETT, Almeida. Frei Luís de
Sousa. São Paulo: Martin Claret, 2004, p.21-34.
82.
______. Advertência a Folhas Caídas. In: GARRETT, Almeida. Folhas
Caídas. Porto: Porto, s/d, p.2-4.
83.
GAUTIER, Théophile. Mademoiselle de Maupin. Trad. Nestor Gomes do
Nascimento. Rio de Janeiro: Brasil Editora, s/d.
84.
GAY, Peter. Modernismo: o Fascínio da Heresia – De Baudelaire a Beckett
e mais um Pouco. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009.
85.
______. O Século de Schnitzler: A Formação da Cultura da Classe Média –
1815-1914. Trad. S. Duarte. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
86.
GIL, José. Fernando Pessoa ou a Metafísica das Sensações.Trad. Miguel
Serras Pereira & Ana Luisa Faria. Lisboa: Relógio d’Água, s/d.
Rafael Santana
308
Lições do Esfinge Gorda
87.
Bibliografia
GIRARD, René. Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Trad. Lilia
Ledon da Silva. São Paulo: É Realizações, 2009.
88.
GOLDMANN, Lucien. A Sociologia do Romance. Trad. Álvaro Cabral. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
89.
GOMBRICH, E. H. Botticelli’s Mytologies: a Study in the Neoplatonic
Simbolism of His Circle. In: Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes VIII, 1945, p.7-60.
90.
GOMES, Fátima Inácio. O Imaginário Sexual na Obra de Mário de SáCarneiro. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2006.
91.
GÓMEZ, Salvadora María Nicolás. El Dandi y Otros Tipos del Siglo XIX,
Imagen y Apariencia en la Construcción de la Modernidad. Disponível em:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 2930203. Acesso em: 15
out. 2009.
92.
HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa:
Dom Quixote, 1990.
93.
HAMBURGER, Michael. La Verdad de La Poesía: Tensiones de la Poesía
de Baudelaire a los Años Sesenta. México: Fondo de Cultura Económica,
1991.
94.
HERCULANO, Alexandre. Lendas e Narrativas. Lisboa: Ulisseia, 1998.
95.
HOCKE, Gustav R. Maneirismo: o Mundo como Labirinto. Trad. Clemente
Raphael Mahl. São Paulo: Perspectiva, 2005.
96.
HORÁCIO. Arte Poética. Trad. R. M. Rosado Fernandes. Lisboa: Inquérito,
s/d.
97.
HUYSMANS, J. K. Às Avessas. Trad. José Paulo Paes. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
98.
LAVER, James. Ensaio Bibliográfico-Crítico. Trad. Niel R. da Silva. In:
Oscar Wilde Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p.22.
Rafael Santana
309
Lições do Esfinge Gorda
99.
Bibliografia
LE GOFF, Jacques. O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval.
Trad. António José Pinto Ribeiro. Lisboa: Ed. 70, 2010.
100. ______. O Apogeu da Cidade Medieval. Trad. Antônio de Padua Danesi.
São Paulo: Martins Fontes, 1992.
101. ______. Memória. Trad. Irene Ferreira & Bernardo Leitão. In: Enciclopédia
Einaudi. Lisboa: IN-CM, 1984, p.11-50.
102. LEVIN, Orna Messer. As Figurações do Dândi. Um Estudo sobre a Obra de
João do Rio. São Paulo: Editora da UNICAMP, 1996.
103. LOPES, Óscar. Mário de Sá-Carneiro ou a Aposta Contra Cesário. In:
SANTOS, Gilda et al. (org.). Cleonice, Clara em sua Geração. Rio de
Janeiro: UFRJ,1995, p.566-582.
104. LOURENÇO, Eduardo. O Labirinto da Saudade. Lisboa: Gradiva, 2010.
105. ______. Fernando Pessoa: Rei da Nossa Baviera. Lisboa: Gradiva, 2008.
106. ______. As Saias de Elvira e Outros Ensaios. Lisboa: Gradiva, 2006.
107. ______. Heterodoxia II: Escrita e Morte. Lisboa Gradiva, 2006.
108. ______. O Lugar do Anjo: Ensaios Pessoanos. Lisboa: Gradiva, 2004.
109. ______. Pessoa Revisitado. Lisboa: Gradiva, 2003.
110. ______. Tempo e Poesia. Lisboa: Gradiva, 2003.
111. ______. Poesia e Metafísica: Camões, Antero, Pessoa. Lisboa: Gradiva,
2000.
112. ______. Mitologia da Saudade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
113. ______. Suicidária Modernidade. In: Colóquio/Letras n. 117-118. Lisboa:
Setembro-Dezembro de 1990, p.7-12.
114. LUKÁCS, Georg. A Teoria do Romance. Trad. José Marcos Mariani de
Macedo. São Paulo: Livraria Duas Cidades & Editora 34, 2007.
115. MALRAUX, André. Œuvres Complètes, Tome V. Paris: Gallimard, 2004.
Rafael Santana
310
Lições do Esfinge Gorda
Bibliografia
116. MARTINS, Fernando Cabral. O Modernismo em Mário de Sá-Carneiro.
Lisboa: Estampa, 1997.
117. MONTEIRO. Ofélia Paiva. Estudos Garrettianos. Rio de Janeiro: EdUERJ,
2010.
118. MOURÃO-FERREIRA, David. Ícaro e Dédalo: Mário de Sá-Carneiro e
Fernando Pessoa. In: MOURÃO-FERREIRA, David. Hospital das Letras.
Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1981, p.131-138.
119. MUCCI,
Latuf
Isaias.
Androginia.
Disponível
em:
http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/A/androginia.htm. Acesso em: 15 ago.
2011.
120. ______. Écriture Artiste. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/
verbetes/E/ecriture_artiste.htm. Acesso em: 02 set. 2011.
121. ______. Signo. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/S/
signo.htm. Acesso em: 02 jul. 2011.
122. ______. Semiologia. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/
S/semiologia.htm. Acesso em: 02 jul. 2011.
123. ______. Semiótica. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/ S/
semiotica.htm. Acesso em: 02 jul. 2011.
124. ______. Semiose. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/S/
semiose.htm. Acesso em: 02 jul. 2011.
125. ______. Simulacro. Disponível em: http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/
S/simulacro.htm. Acesso em: 18 ago. 2011.
126. ______. Walter Horatio Pater & A Febre do Esteticismo. In: COUTINHO,
Luiz Edmundo Bouças & CORRÊIA, Irineu E. Jones (org.). O Labirinto
Finissecular e as Ideias do Esteta. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004, p.15-30.
127. ______. Ruína e Simulacro Decadentista: uma Leitura de Il Piacere, de
D’Anunzio. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.
Rafael Santana
311
Lições do Esfinge Gorda
Bibliografia
128. NEGREIROS, Almada. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1997.
129. PAGLIA, Camille. Personas Sexuais: Arte e Decadência de Nefertite a
Emily Dickinson. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
130. PAIXÃO, Fernando. Narciso em Sacrifício: a Poética de Mário de SáCarneiro. São Paulo: Ateliê, 2003.
131. PANOFSKY, Erwin. Idea: A Evolução do Conceito de Belo. Trad. Paulo
Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
132. PAZ, Octavio. Os Filhos do Barro: do Romantismo à Vanguarda. Trad. Ari
Roitman & Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
133. ______. El Arco y la Lira. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
134. ______. A Dupla Chama: Amor e Erotismo. Trad. Wladyr Dupont. São
Paulo: Siciliano, 1994.
135. PEREIRA, José Carlos Seabra. Decadentismo e Simbolismo na Poesia
Portuguesa. Coimbra: Coimbra, 1975.
136. PERRONE-MOISÉS, Leyla. Fernando Pessoa: Aquém do Eu, Além do
Outro. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
137. PESSANHA, José Américo. Platão e as Diversas faces do Amor. In:
NOVAES, Adauto (org.). Os Sentidos da Paixão. São Paulo: Companhia
das Letras, 2009, p.83-114.
138. PESSOA, Fernando. Mensagem. Organização, introdução e notas de
Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.
139. ______. Obra Poética, Organização, Introdução e Notas de Maria Aliete
Galhoz. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006.
140. ______. Obra em Prosa, Organização, Introdução e Notas de Cleonice
Berardinelli. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005.
Rafael Santana
312
Lições do Esfinge Gorda
Bibliografia
141. PLATÃO. Crátilo. Trad. Maria José Figueiredo. Porto Alegre: Instituto
Piaget, 2001.
142. ______. O Banquete. Tradução, introdução e notas de José Cavalcante de
Souza. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
143. ______. A República. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EdUFP, 1988.
144. ______. Cartas. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EdUFP, 1975.
145. POUND, Edzard. ABC da Literatura. São Paulo : Cultrix, 2010.
146. PRAZ, Mario. El Pacto con la Serpiente. Trad. Ida Vitale. México: Fondo
de Cultura Económica, 1988.
147. ______. Literatura e Artes Visuais. Trad. José Paulo Paes. São Paulo:
Cultrix, 1982.
148. ______. The Romantic Agony. London: Oxford University Press, 1970.
149. QUEIRÓS, Eça de. Os Maias. São Paulo: Ateliê, 2003.
150. RIBEIRO, Renato Janine. A Etiqueta no Antigo Regime: do Sangue à Doce
Vida. São Paulo: Brasiliense, 3ª ed., 1990.
151. RICHARD, Noël. Le Mouvement Décadent: Dandys, Esthètes et
Quintessentes. Paris: Nizet, 1968.
152. RODRIGUES,
Adriano
Duarte.
Modernidade.
Disponível
em:
http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/M/modernidade.htm. Acesso em: 16
dez. 2011.
153. ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o Romance Moderno. In:
ROSENFELD, Anatol (org.). Texto/Contexto I. São Paulo: Perspectiva,
1996, p.75-98.
154. SÁ-CARNEIRO, Mário de. Poesia de Mário de Sá-Carneiro. Organização
de Fernando Cabral Martins. Lisboa: Presença, 1996.
155. ______. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.
Rafael Santana
313
Lições do Esfinge Gorda
Bibliografia
156. SARAIVA, António José & LOPES, Óscar. História da Literatura
Portuguesa. Porto: Porto, 2005.
157. SARAIVA, António José. Maio e a Crise da Civilização Burguesa. Lisboa:
Gradiva, 2005.
158. ______. A Expressão Lírica do Amor nas Folhas Caídas. In: SARAIVA,
António José. Para a História da Cultura em Portugal Vol.II. Lisboa:
Gradiva, s/d, p.34-39.
159. ______. Garrett e o Romantismo. In: SARAIVA, António José. Para a
História da Cultura em Portugal Vol.II. Lisboa: Gradiva, s/d, p.40-45.
160. SENA, Jorge de. Prefácio a Poesia I. In: SENA, Jorge de (org.). Poesia I.
Lisboa: Edições 70, 1977, p.15-40.
161. SILVA, Edson Rosa da. Da Representação do Horror ao Vazio da
Representação. In: Revista Brasileira de Literatura Comparada n.9. Rio de
Janeiro: ABRALIC, 2006, p.181-189.
162. ______. Da Impossibilidade de Cantar e de Contar: um Olhar Benjaminiano
sobre a Literatura. In: Semear n.10. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2004, p.93106.
163. ______. O Museu Imaginário e a Difusão da Cultura. In: Semear n.6. Rio de
Janeiro: PUC-RJ, 2002, p.187-196.
164. SILVEIRA, Jorge Fernandes da. Cesário, Duas ou Três Coisas. In:
SILVEIRA, Jorge Fernandes da (org.). Verso com Verso. Coimbra: Angelus
Novus, 2003, p.153-166. Anais
165. ______. Escrever Portugal: uma Leitura em Quatro Fragmentos e com um
Diálogo Intertextual. In: Anais do XIII Encontro de Professores
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ,
1992.
166. SIMÕES, Maria João. Posfácio à Estranha Morte do Professor Antena. In:
SÁ-CARNEIRO, Mário de. A Estranha Morte do Professor Antena. Rio de
Janeiro: 7 Letras, 2009.
Rafael Santana
314
Lições do Esfinge Gorda
Bibliografia
167. SISCAR, Marcos. Da Soberba da Poesia: Distinção, Elitismo, Democracia.
São Paulo: Lumme Editor, 2012.
168. ______. Poesia e Crise: Ensaios sobre a Crise da Poesia como Topos da
Modernidade. São Paulo: Unicamp, 2010.
169. STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais da Poética. Trad. Celeste Aída
Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 1975.
170. TODOROV, Tzvetan. As Estruturas Narrativas. Trad. Leyla PerroneMoisés. São Paulo: Perspectiva, 2006.
171. VADÉ,
Yves.
Le
Sphinx
et
la
Chimère
I.
Disponível
em:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_00488593_1977_num_7_15_5070. Acesso em: 14 out. 2012.
172. ______.
Le
Sphinx
et
la
Chimère
II.
Disponível
em:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_00488593_1977_num_7_16_5098. Acesso em: 14 out. 2012.
173. VIEIRA, Yara Frateschi. Mário de Sá-Carneiro e a Quarta Dimensão. In:
DUARTE, Lélia Parreira (org.). Anais da Semana de Estudos Mário de SáCarneiro. Belo Horizonte: Centro de Estudos Portugueses, 1994.
174. WATT, Ian. A Ascensão do Romance. Trad. Hildegard Feist. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
175. WILDE, Oscar. O Retrato de Dorian Gray. Trad. José Eduardo Ribeiro
Moretzsohn. Porto Alegre: L&PM, 2001.
176. WOLL, Dieter. Realidade e Idealidade na Lírica de Mário de Sá-Carneiro.
Trad. Maria Manuela Gouveia Delille. Lisboa: Delfos, 1968.
177. ZARADER, J. P. André Malraux et les Écrits sur l’Art. Paris : Du Cerf,
2013.
Rafael Santana
315