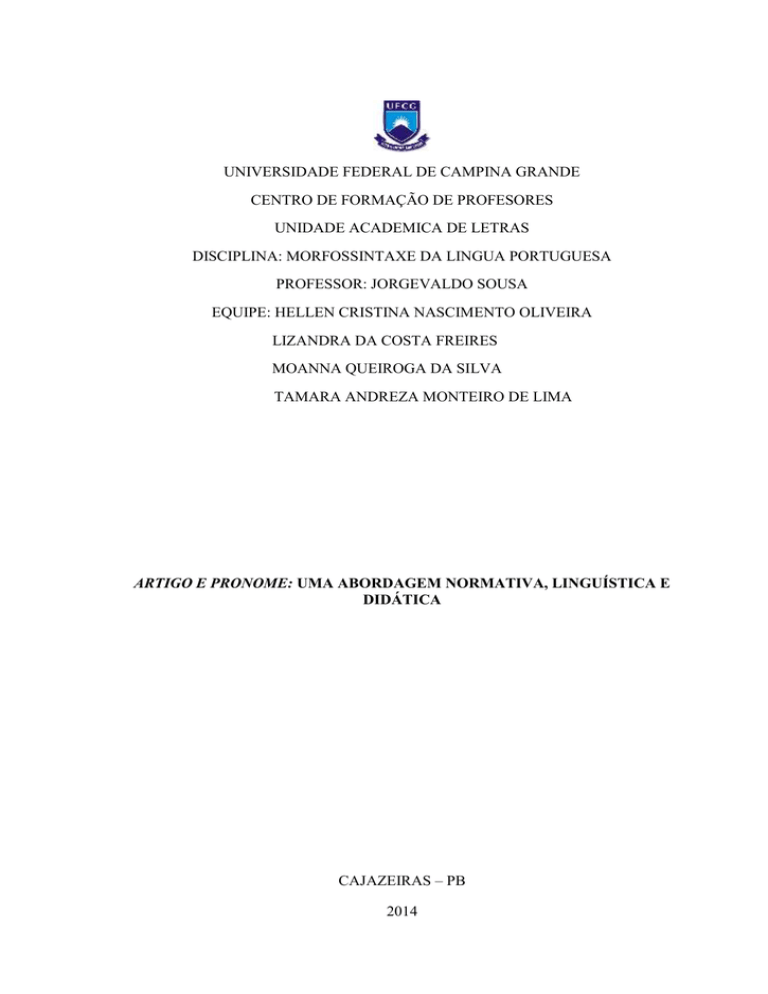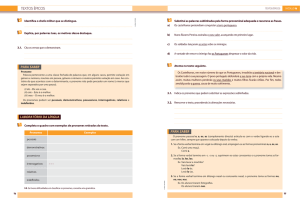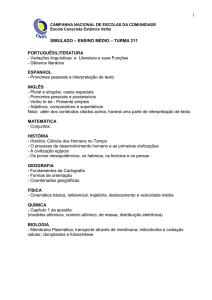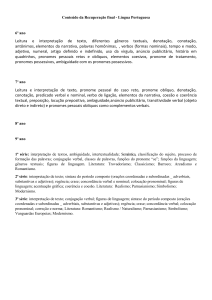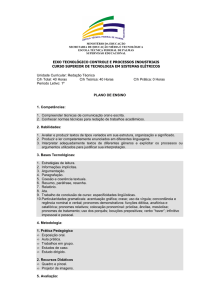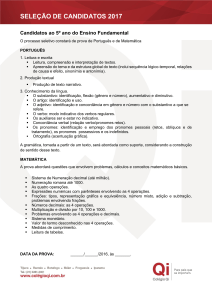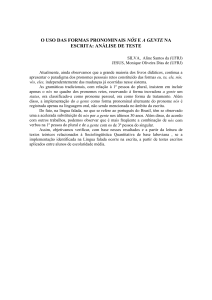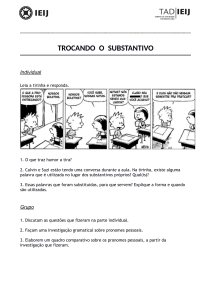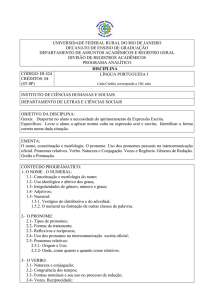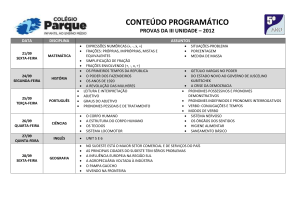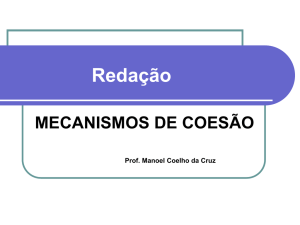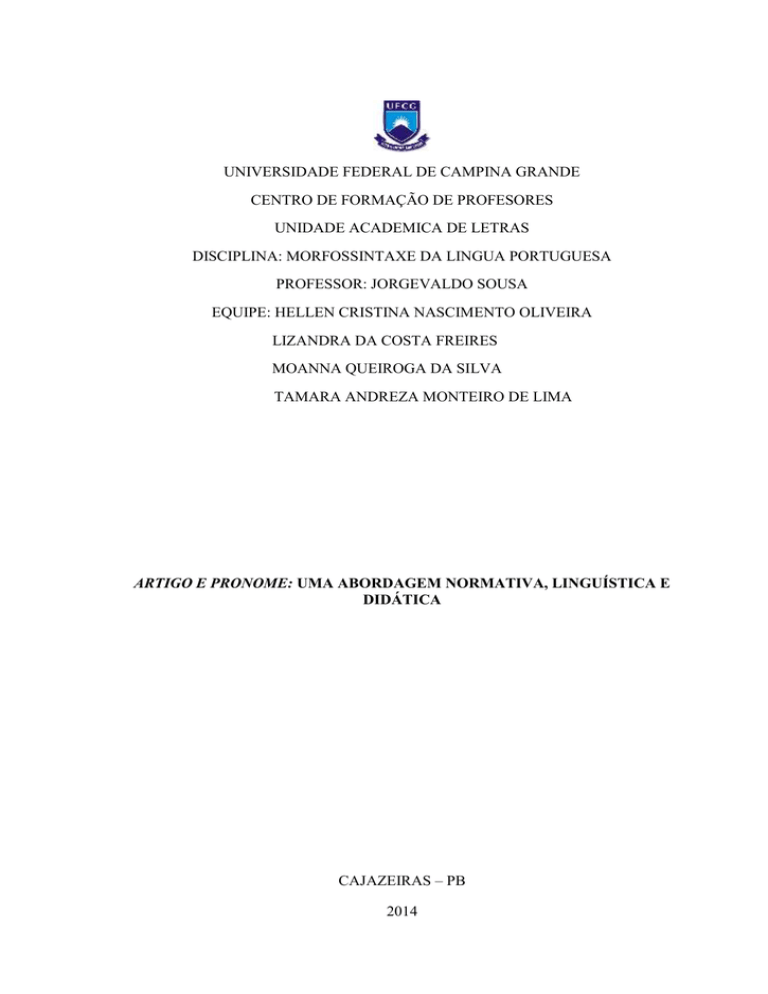
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESORES
UNIDADE ACADEMICA DE LETRAS
DISCIPLINA: MORFOSSINTAXE DA LINGUA PORTUGUESA
PROFESSOR: JORGEVALDO SOUSA
EQUIPE: HELLEN CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA
LIZANDRA DA COSTA FREIRES
MOANNA QUEIROGA DA SILVA
TAMARA ANDREZA MONTEIRO DE LIMA
ARTIGO E PRONOME: UMA ABORDAGEM NORMATIVA, LINGUÍSTICA E
DIDÁTICA
CAJAZEIRAS – PB
2014
HELLEN CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA
LIZANDRA DA COSTA FREIRES
MOANNA QUEIROGA DA SILVA
TAMARA ANDREZA MONTEIRO DE LIMA
ARTIGO E PRONOME: UMA ABORDAGEM NORMATIVA, LINGUÍSTICA E
DIDÁTICA.
Trabalho apresentado à disciplina de
Morfossintaxe
da
Língua
Portuguesa,
ministrada pelo Prof. Jorgevaldo Sousa, para
obtenção da nota parcial no Curso de
Graduação em Letras – Língua Portuguesa, do
Centro de Formação de Professores – CFP, da
Universidade Federal de Campina Grande –
UFCG.
CAJAZEIRAS – PB
2014
1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
Segundo Gurpilhares (2004), o conceito de gramática vem sendo discutido e
reformulado desde o período dos antigos gregos. Foi por volta do séc. V a.C que se iniciaram
os primeiros estudos linguísticos como ramo da filosofia a respeito, para então chegar-se à
denominação de gramática tradicional normativa. Vários pesquisadores, filósofos, deram suas
contribuições para que se constituísse o nosso “guia” de Língua Portuguesa. A gramática foi
se fundamentando por partes, ou seja, por categorias, estas por sua vez deram origem às
primeiras classes de palavras sob os aspectos morfológico, semântico e sintático.
Para a melhor compreensão acerca da gramatica, é preciso entender como nasceu a
Língua Portuguesa. Segundo Coutinho (2011), em tempos remotos a língua predominante era
o Latim como língua pura, até então se estilizar, transformando-se num instrumento literário.
Passa-se a apresentar dois aspectos de uma mesma língua: o clássico e o vulgar. Diz-se latim
clássico a língua escrita, o apuro do vocabulário, a elegância do estilo. Era uma língua
artificial, rígida, imóvel. Chama-se latim vulgar o latim falado pelas classes inferiores da
sociedade romana e, posteriormente, de todo império romano. Contido durante muito tempo,
em suas expansões naturais, pela ação dos gramáticos, da literatura e da classe culta, o latim
vulgar se expande livremente mais tarde, com a ruina do império romano e o avassalamento
dos seus domínios pelas hordas bárbaras. Esses acontecimentos resultam no aparecimento de
várias línguas neolatinas, entre elas, a Língua Portuguesa. Sendo assim, nossa língua é
resultado das evoluções do Latim vulgar nos aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos.
Na morfologia, caracteriza-se esse latim pela redução das cinco declinações do latim clássico
a três; pela redução dos casos; pela tendência para tornar masculinos os nomes os nomes
neutros quando no singular; pela substituição das formas sintéticas do comparativo e
superlativo pelas analíticas; pelo uso dos demonstrativos e dos numerais como artigos; pela
confusão nas conjunções; pela formação analógica de alguns infinitivos irregulares; pela
transformação dos verbos depoentes em ativos; pela substituição do futuro imperfeito do
indicativo por uma perífrase em que entrava o infinitivo de um verbo e o imperfeito indicativo
de habere que deu origem ao nosso condicional; pelo uso do mais-que-perfeito do subjuntivo
pelo imperativo de mesmo modo; pelo emprego de perífrases em lugar das formas passivas
sintéticas; e pelo desuso de alguns tempos da conjugação do latim clássico. No aspecto
sintático, caracteriza-se pelas construções analíticas; pelo emprego mais frequente das
preposições em vez dos casos; pela regência diferente de alguns verbos; e pela ordem direta.
Dentro dessas condições, Castilho (2010) faz um esboço teórico sobre a história do
português brasileiro. Para ele, historia social de uma língua é o estudo das condições que
levaram determinada comunidade a desenvolver uma língua própria, a receber uma língua
transplantada, ou mesmo desaparecer, levando consigo sua língua. Segundo Castilho (2010),
o português deriva do latim vulgar e expande-se pelo mundo com sua chegada à África, Ásia
e ao Brasil. A historia social do português brasileiro opera na interface de um conjunto de
disciplinas: interface com a mudança gramatical, com a demografia histórica, a variação
linguística; e a interface com a linguística textual diacrônica. Para o autor, a ninguém passou
despercebida à relação entre a expansão do império e a Língua Portuguesa. A implantação do
português no Brasil é a parte das grandes navegações empreendidas pelos portugueses, a qual
os livros de historia não se referem.
Ou seja, para se esclarecer a historia da Língua Portuguesa é preciso remetermo-nos
novamente à gramatica. Segundo Perini (2010), pouca gente espera estudar gramatica como
parte de sua formação cientifica. Os estudos gramaticais oferecem uma visão da estrutura e do
funcionamento da língua, porém não leva, nem nunca levou ninguém a desenvolver
habilidades de leitura, escrita ou fala. Para o autor, é necessário que se elabore uma gramatica
do Português Brasileiro, para que não se eternize a tradição de um povo que não estuda a
língua que fala, já que esta, em nosso país, é bastante diferente da língua escrita. Em geral se
entende que as gramaticas usuais oferecem uma descrição completa da estrutura da língua,
porém, para Perini (2010), nenhuma descrição gramatical pode ter a pretensão de ser completa
e definitiva.
Portanto, este trabalho, de cunho qualitativo-comparativo, tem no seu escopo o intuito
de fazer um passeio desde a origem da gramatica até os dias de hoje, identificando e
analisando as diferentes concepções acerca dos conceitos de Pronome e Artigo, presentes nos
manuais de linguística, gramaticas normativas e livros didáticos. Para tanto, nos
fundamentaremos nas gramáticas normativas de Bechara (2006), Celso Cunha e Rocha Lima
e nos manuais de Linguística de Castilho (2010), Perini (2010) e Macambira. Também
usaremos os livros didáticos do II Ciclo do Ensino Fundamental (5ª, 6ª e 7ª séries), da
Coleção Português: Leitura, produção e gramatica, de Leila Lauar Sarmento (2002).
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ACERCA DE ARTIGO E PRONOME NUMA
ABORDAGEM NORMATIVA, LINGUÍSTICA E DIDÁTICA.
A gramática vem sendo difundida, fragmentada e estudada por vários teóricos, tanto no
âmbito normativo quanto no âmbito linguístico, sendo assim é necessário transpor essas
teorias para que se possa entender e introduzir o seu real valor no ensino de língua materna.
Macambira (1993) afirma que as palavras existentes em qualquer língua distribuem-se
em várias classes, de acordo com as formas que adotam, as funções que exercem e o sentido
que expressam. Para o autor, as palavras devem ser classificadas de acordo com as posições
formais ou mórficas que podem assumir para manifestar certas categorias gramaticais (flexão)
ou para criação de novas formas (derivação). Sendo que, quando se esgotam as indicações
formais, a classificação deve dirigir-se para o critério sintático. Este é basicamente um critério
grupal, ou seja, a palavra é estudada de acordo com os contatos com outras formas linguísticas
dentro da sociedade. Assim, quem diz sintático está dizendo funcional, uma vez que a sintaxe
atenta para a função das palavras organizadas em grupo. As palavras devem ser vistas também
de acordo com o critério semântico, que quer dizer significativo, ou seja, a classificação
também deve atentar para o sentido que essas expressam. Macambira (idem), também
considera que a classificação tradicional das palavras em classes, desenvolvida pelos gregos e
latinos, ancora-se nos critérios mórfico, sintático e semântico. Porém, não há hierarquia entre
os critérios, ora prevalece o mórfico, ora o sintático, ora o semântico.
Para o referido autor, o vocabulário de uma língua distribui-se em duas partes: o sistema
aberto e o sistema fechado. Atende pelo nome de aberto, porque a quantidade de palavras é
ilimitada e tende a aumentar no decorrer do tempo. A esse sistema pertencem o substantivo, o
adjetivo, o verbo e o adverbio nominal. Nomeia-se fechado, porque a quantidade de palavras é
limitada e não tende a aumentar e sim a se conservar no decorrer do tempo. A esse sistema
pertencem o artigo, o numeral, o pronome, o adverbio pronominal, a preposição, a conjunção
e a interjeição. O vocabulário de uma língua também se divide em forma livre – aquela que
pode aparecer sozinha no discurso, especialmente numa pergunta ou numa resposta – e forma
presa - aquela que não pode aparecer sozinha no discurso, especialmente numa pergunta ou
numa resposta.
Sendo assim, para Macambira (1993), o artigo pode ser classificado de acordo com os
critérios mórficos, sintáticos e semânticos. Sob o aspecto mórfico, o autor concebe que, o
artigo deve ser incluído na classe dos pronomes, pois à semelhança deste, recusa os sufixos
aumentativos, diminutivos e superlativos, sendo que, não tem forma especial que o distinga
como classe gramatical: assume as flexões de gênero e número que não são classificatórias.
No aspecto sintático, pertencem à classe do artigo as formas presas o, a, os, as e um, uma,
uns, umas, que mediata ou imediatamente precedem o substantivo, e com ele formam
sintagma. São exemplos de precedência imediata: o professor, a professora, os professores,
as professoras; em que não figura outra palavra entre o artigo e o substantivo. Já a
precedência é mediata quando figura, entre o artigo e o substantivo, um vocábulo e suas
flexões, como no seguinte exemplo: o bom filho, a boa filha, os bons filhos, as boas filhas.
Sob o aspecto semântico, o artigo é a palavra assessória que particulariza ou generaliza o
substantivo. Macambira (1993) e Perini (2010) aproximam-se e complementam-se no que diz
respeito à identificação das formas e subdivisões do artigo, já que para eles existem apenas
dois: o e um (e, naturalmente, seus femininos e plurais). Para Perini (2010), os artigos se
caracterizam por ocuparem necessariamente a primeira posição do sintagma nominal. Por
exemplo, uma menina, as duas pobres meninas.
Bechara (2006) distancia-se dos teóricos anteriores quando o subdivide em dois: artigos
definidos e indefinidos. Chamam-se artigos definidos ou simplesmente artigo o, a, os, as que
se antepõem a substantivos, com reduzido valor semântico demonstrativo e com função de
adjunto desses substantivos. A tradição gramatical tem aproximado este verdadeiro artigo de
um, uns, uma e umas, chamados artigos indefinidos, que se assemelha a o, a, os e as pela
mera circunstância de também funcionarem como adjunto de substantivo, mas que diferem do
autentico artigo pela origem, tonicidade, comportamento no discurso, valor semântico e
papeis gramaticais. Pela origem, porque o, a, os, as se prendem a antigo demonstrativo latino
(illum, illa), enquanto um, uns, uma, umas representam emprego especial de generalização do
numeral um. Pela tonicidade, porque não pode funcionar sozinho na oração, como o faz o
chamado artigo indefinido que só não se confunde com o pronome indefinido pelo auxilio que
lhe emprestam os entornos linguísticos. Do ponto de vista semântico, está o primordial valor
atualizador do artigo, ou seja, o artigo definido identifica o objeto designado pelo nome a que
se liga. Deste valor atualizador decorre o fato sintático de o artigo ser dispensado quando tal
valor já vem expresso por outro identificador adnominal, ou demonstrativo (este homem), ou
possessivo (meu livro) ou equivalente a este valor. Diante do exposto, percebe-se que o citado
autor também tende a classificar o artigo como sendo parte da classe dos pronomes. Vale
ressaltar ainda que, para Bechara (2006), o artigo, junto de nome não marcado por gênero e
número, pode ser o responsável pela indicação dessas categorias gramaticais – o artista, a
artista, o lápis, os lápis.
Na perspectiva de Castilho (2010), o artigo é um marcador pré-nominal, átono,
associado necessariamente ao substantivo, com o qual constitui um vocábulo fonético. As
gramáticas portuguesas atuais consignam duas subclasses para os artigos, os definidos e os
indefinidos. As primeiras gramáticas registravam apenas as formas definidas o, a, os e as. A
subdivisão ocorreu no século XIX aparentemente por algum critério semântico. Testes
sintáticos não sustentam essa subdivisão. Em virtude das consideráveis diferenças entre
artigos definidos e definidos, o autor também considera que o artigo deva ser incluído entre a
classe dos pronomes, já que os artigos indefinidos se assemelham aos pronomes indefinidos.
Entre as diferenças entre os artigos definidos e indefinidos pode-se destacar que o artigo
indefinido tem uma forma negativa própria, nenhum¸ o que não acontece com definido
(chegou um homem/ não chegou nenhum homem, em oposição a chegou o homem/ não
chegou o homem); e que os artigos indefinidos são formas tônicas, alternando na sentença om
outras palavras da mesma classe, como certo e outro (um dia a fada disse.../ Certo dia a fada
disse).
Segundo Castilho (2010), dentre as propriedades mórficas combinatórias do artigo
destacam-se: a ocorrência do artigo em distribuição complementar com os demonstrativos
este, esse, aquele, o que mostra que artigo e demonstrativo integram a mesma classe
gramatical; como também com outros demonstrativos (próprio, semelhante, tal), o que mostra
que estes demonstrativos constituem uma subclasse; sendo categoricamente um marcador prénominal, o artigo não pode seguir-se ao substantivo (o este carro/ este o carro; carro o). Do
ponto de vista sintático, é indiferente a presença ou ausência do artigo para a boa formação
estrutural, o que altera fortemente a interpretação semântica das expressões, por isso a sintaxe
e a semântica tomam caminhos independentes. Sendo que, sob o âmbito semântico, o artigo
apresenta as seguintes propriedades de base: assinala que o referente do substantivo é
identificável, ou seja, é usado sempre que o referente do sintagma nominal (SN) é
representado como identificável pelo locutor (não... Recife é a maior cidade do mundo...
Porque aqui é onde o Capibaribe se encontra com o Beberibe para formar o oceano
Atlântico); assinala a descrição definida dos referentes expressos por substantivos (o cão é o
maior amigo do homem).
Nessa mesma linha, Cunha e Cintra (2008), definem o artigo como palavras que
antecedem os substantivos, sendo eles: o (com as variações a, os, as) e um (com as variações
uns, uma, umas); e subdivide-os em definidos e indefinidos, que seriam as formas simples do
artigo. Para os autores, o artigo definido é, essencialmente, um sinal de notoriedade, de
conhecimento prévio, por parte dos interlocutores, do ser ou do objeto mencionado; enquanto
que o artigo indefinido é por excelência um sinal da falta de notoriedade, de desconhecimento
individualizado, por parte dos interlocutores, do ser ou do objeto em causa. Portanto, seja o
artigo definido ou indefinido, ele caracteriza-se por ser a palavra que introduz o substantivo
indicando-lhe o gênero e o número. Sendo assim, qualquer palavra ou expressão antecedida
de artigo se torna substantivo (o ato literário é o conjunto do escrever e do ler); o artigo
também faz aparecer o gênero e o número dos substantivos (o pianista/ a pianista/ os
pianistas/ as pianistas).
De acordo com Rocha Lima (2001), no âmbito sintático, os artigos denotam a
determinação ou indeterminação dos nomes, dando-lhes, assim, indicação precisa – definido –
(O trem chegou atrasado); e indicação imprecisa – indefinido – (Quebrou-se o eixo de um
carro). Assim como para Cunha e Cintra (2008), Rocha Lima (idem) concebe que o artigo,
individualizando o nome, caracteriza-lhe o gênero e o número (o mapa, os pires, a faringe), e
substantiva qualquer palavra (um sim, ou um não).
Após a apresentação das definições expostas sobre o artigo dentro de uma perspectiva
normativa e linguística, traremos estas definições no âmbito didático de acordo com Sarmento
(2002), numa sequência de três volumes: 5ª a 7ª série do ensino fundamental - ciclo II.
Sendo assim, a autora define artigo como palavras que antecedem o substantivo, para
determina-lo de modo particular ou de modo vago. Ela classifica-o em: artigos definidos = o
(s), a (s) – Ex.: Bianca trouxe a amiga; e artigos indefinidos = um (ns), uma (s) – Ex: Bianca
trouxe uma amiga.
Terminada a exposição acerca do artigo, passaremos a apresentar as definições de
pronome, segundo os constructos teóricos dos autores citados anteriormente. Sendo assim, de
acordo com Macambira (1993), assim como o artigo, o pronome rejeita os sufixos
aumentativos (ão – zão), diminutivos (inho – zinho), superlativos (issimo – errimo – limo) e
adverbiais (mente). Sendo que, não se dirá: euzinho, euzão, euíssimo, eumente. O autor define,
morficamente, o pronome como um tipo de nome que admite a oposição de pessoas
gramaticais – eu oposto a tu; meu oposto a teu; este oposto a esse. Sob os aspectos sintáticos,
Macambira (idem) divide o pronome em duas subclasses: o pronome substantivo, que não se
articula como o substantivo; e o pronome adjetivo, que se articula com o substantivo, à
semelhança do adjetivo. São pronomes substantivos e adjetivos os pessoais, os possessivos, os
demonstrativos, os relativos e os numerais, todos se apresentando como definidos e
indefinidos. No âmbito semântico, a divisão coincide, conforme os pronomes denotem a ideia
de pessoa, posse, dixis, referência, número ou interrogação de maneira precisa ou de maneira
vaga.
Para Perini (2010), os pronomes podem se caracterizar como oblíquos (me/mim, te, nos,
se) e retos (eu, você, ele/ela, nós, vocês, eles/elas). Os oblíquos são formas alternantes dos
pronomes pessoais eu, você e nós, além do pronome reflexivo se. Sendo que, os pronomes
que não são oblíquos (ele/ela, vocês, eles/elas) são usados em todas as funções, sem mudança
de forma (Eu encontrei ela no cinema). Outros pronomes mudam de forma em algumas
situações; sendo que, as formas retas são usadas em função do sujeito (Eu cumprimentei a
professora; Você precisa de uns óculos novos); as formas –migo, –tigo e –nosco são usadas
depois da preposição com, e aglutinadas com ela, formando uma só palavra: comigo, contigo,
conosco (O seu Pedro trabalha conosco); as formas mim e ti aparecem depois das outras
preposições (Lava essa xícara para mim); as formas me, te, lhe e se são usadas em função de
objeto (A professora me cumprimentou); estas mesmas formas são usadas em casos paralelos
àqueles onde aparece a preposição para (Ela me deu um suéter/ cf. ela deu um suéter para o
Rodrigo). Quanto à posição dos pronomes oblíquos na oração, estes aparecem em posições
próprias na oração, sempre se posicionam antes do verbo principal da oração, por exemplo,
Me empresta esse livro, por favor; já quando há um verbo auxiliar, o obliquo se coloca depois
dele (Meu filho tem se sentido mal). Dessa forma, a posição dos pronomes pessoais só é
especial no caso dos oblíquos me, ti, lhe, nos e se. Os outros pronomes pessoais se posicionam
segundo as regras gerais que governam a posição do SN e sintagmas posicionados não
pronominais.
Para Bechara (2006), o pronome é a classe de palavras categoremáticas que reúne
unidades em numero limitado e que se refere a um significado léxico pela situação ou por
outras palavras do contexto. Do ponto de vista semântico, os pronomes estão caracterizados
porque indicam dêixis (“o apontar para”), isto é, estão habilitados como verdadeiros gestos
verbais, como indicadores, determinados ou indeterminados, ou de uma dêixis contextual a
um elemento inserido no contexto como é o caso, por exemplo, dos pronomes relativos que
apontam ou indicam um elemento presente ao falante. Ainda segundo o autor, os pronomes
podem ser classificados como pessoais, possessivos, demonstrativos (abarcando o artigo
definido), indefinidos (abarcando o artigo indefinido), interrogativos e relativos.
Para o autor citado anteriormente, os pronomes pessoais designam as duas pessoas do
discurso e a não-pessoa (não-eu, não-tu), considerada a 3ª pessoa: 1ª pessoa – eu (singular),
nós (plural); 2ª pessoa – tu (singular), vós (plural); 3ª pessoa – ele, ela (singular), eles, elas
(plural). Estas formas, que funcionam como sujeito, se dizem retas. A cada um destes
pronomes pessoais retos corresponde um pronome pessoal obliquo que funciona como
complemento e pode apresentar-se em forma átona – Ex.: A melhor companhia acha-se em
uma escolhida livraria – ou forma tônica – Ex.: As virtudes se harmonizam, os vícios
discordam entre si. Ao contrario daquelas, estas vêm sempre presas a preposição. Se a
preposição é com, dizemos comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Os pronomes
possessivos são os que indicam a posse em referencia às três pessoas do discurso: singular –
1ª pessoa: meu, minha, meus, minhas; 2ª pessoa: teu, tua, teus, tuas; 3ª pessoa: seu, sua, seus,
suas; plural – 1ª pessoa: nosso, nossa, nossos, nossas; 2ª pessoa: vosso, vossa, vossos, vossas;
3ª pessoa: seu, sua, seus, suas. Os pronomes demonstrativos são os que indicam a posição dos
seres em relação às três pessoas do discurso: 1ª pessoa – este (quando está perto da pessoa que
fala), esta, isto; 2ª pessoa – esse (quando está longe da pessoa que fala), essa, isso; 3ª pessoa
– aquele (quando se está distante da 1ª e da 2ª pessoa), aquela, aquilo. Assim como
Macambira (1993), Bechara (2006) também divide os pronomes em substantivos e adjetivos,
ou seja, o pronome pode aparecer em referencia a substantivo claro ou oculto.
Os pronomes indefinidos são os que se aplicam à 3ª pessoa quando têm sentido vago ou
exprimem quantidade indeterminada. Funcionam como pronomes indefinidos substantivos,
todos invariáveis – alguém, ninguém, tudo, nada, algo, outrem – Ex.: “Ninguém mais a voz
sentida do trovador escutou!” São pronomes indefinidos adjetivos, todos variáveis com
exceção de cada: nenhum, outro (também isolado), um (também isolado), certo, qualquer,
algum, cada (A vida a uns, a morte confere celebridades a outros). São pronomes
interrogativos os pronomes indefinidos quem (refere-se a pessoas, e é pronome substantivo),
que (refere-se a pessoas ou coisas, e é pronome substantivo), qual (indicador de seleção, são
pronomes adjetivos) e quanto que se empregam nas perguntas, diretas ou indiretas (Quem
veio aqui? Que compraste? Quantos vieram?). Chama-se interrogação indireta a pergunta que
se faz indiretamente e para qual não se pede resposta imediata; que é proferida com entonação
normal descendente; que não termina por ponto de interrogação; que vem depois do verbo que
exprime interrogação ou incerteza – perguntar, indagar, não saber – Ex.: Quero saber quem
veio aqui. Diz interrogação direta a pergunta que termina por ponto de interrogação e
caracteriza pela entonação ascendente (Quem veio aqui?). Os pronomes relativos são os que
normalmente se referem a um termo anterior chamado antecedente (O que se refere à palavra
freguês). No que diz respeito ao emprego dos pronomes, a rigor, o pronome pessoal reto
funciona como sujeito e predicativo, enquanto o obliquo como complemento (Eu saio/ Eu não
sou ele). Entre os oblíquos, a forma átona vem desprovida de preposição, enquanto a tônica
exige esta partícula.
Para Castilho (2010), na tradição gramatical ocidental, os argumentos utilizados para a
caracterização da classe dos pronomes levaram em conta suas propriedades semânticas,
discursivas e gramaticais – sintáticas e morfológicas. Assim, para definir o estatuto categorial
dos pronomes será necessário examinar essas propriedades e também sua gramaticalização.
Do ponto de vista semântico-discursivo, os pronomes representam as pessoas do discurso pelo
caminho da dêixis; e permitem a retomada ou antecipação de participantes, pelo caminho da
anáfora e da catáfora. Do ponto de vista gramatical, essa classe exibe as propriedades
morfológicas de caso; pessoa e número; e de gênero. Para o autor, no que diz respeito ao caso,
uma subclasse dos pronomes, a dos pessoais, preservou a distinção de casos herdada do latim
vulgar. É o caso dos itens nominativos (eu, tu, ele, nós), o acusativo (o), os acusativos-dativos
(me, te, se, nos) e o dativo (mim, ti, si, lhe). Os possessivos equivalem semanticamente ao
genitivo, porém não apresentam a variação lexêmica de caso encontrada entre os pessoais. As
propriedades sintáticas de adjacência e substituição agrupam os pronomes em possessivos,
demonstrativos e quantificadores, que acompanham e substituem os substantivos; e pessoais
que não acompanham nem substituem os substantivos. Na tradição gramatical os pronomes
pessoais foram considerados como “pronomes essenciais”, reduzindo-se os outros a
“pronomes acidentais”. Na nomenclatura linguística, os pronomes essenciais são considerados
como o núcleo do sintagma nominal, enquanto os pronomes acidentais possessivos,
demonstrativos e indefinidos são integrados na classe dos especificadores.
Segundo Cunha e Cintra (2008), os pronomes desempenham na oração as funções
equivalentes às exercidas pelos elementos nominais. Servem, pois, para representar um
substantivo – Ex.: Os campos, que suportaram a longa presença solar a queima-los
incessantemente...; para acompanhar um substantivo determinando-lhe a extensão do
significado. Distinguem-se na pratica duas classes de pronomes, porque os pronomes
substantivos aparecem isolados na frase, ao passo que os pronomes adjetivos se empregam
sempre junto se um substantivo, com o qual concordam em gênero e número. Assim, nas
frases, Lembranças a todos os teus/ Teus olhos são dois desejos; na primeira, a palavra teus é
pronome substantivo; na segunda, é pronome adjetivo.
Para os autores, há seis espécies de pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos,
relativos, interrogativos e indefinidos. Os pronomes pessoais caracterizam-se por denotarem
as três pessoas gramaticais: quem fala = 1ª pessoa – eu (singular), nós (plural); com quem se
fala = 2ª pessoa – tu (singular), vós (plural); 3ª pessoa – ele, ela (singular), eles, elas (plural).
A pessoa com se fala pode ser expressa também pelos chamados pronomes de tratamento, que
se constroem com o verbo na 3ª pessoa. Quanto à função, as formas do pronome pessoal
podem ser retas ou obliquas. Retas, quando funcionam como sujeito da oração; obliquas,
quando nela se empregam fundamentalmente como objeto (direto ou indireto). Quanto à
acentuação, distinguem-se nos pronomes pessoais as formas tônicas das átonas. Os pronomes
retos empregam-se na oração como sujeito (Eu era desdenhosa) e como predicativo do sujeito
(Meu Deus!, quando serei tu?). Tu e vós podem ser vocativos (Ó tu, senhor Jesus, o
misericordioso).
Da mesma forma para Rocha Lima (2001), os pronomes pessoais são formas retas ou
subjetivas, isto é, empregam-se como sujeito. São eles: 1ª pessoa – eu (singular), nós (plural);
com quem se fala = 2ª pessoa – tu (singular), vós (plural); 3ª pessoa – ele, ela (singular), eles,
elas (plural). Estas mesmas formas empregam-se na oração como sujeito e como predicativo
do sujeito (Quem me dera ser tu?), tu e vós podem ser vocativos (Ó tu, que vem de longe). O
autor divide as formas obliquas em objetivas diretas e objetivas indiretas. São formas obliquas
objetivas diretas: 1ª pessoa – me (Chamaram-me), nos; 2ª pessoa – te (Estimo-te), você, o, a,
vos, se; 3ª pessoa – o (Acompanho-o), a, os, as, se (reflexivo: plural e singular). . São formas
obliquas objetivas indiretas átonas: 1ª pessoa – me (Quer falar-me?), nos; 2ª pessoa – te, lhe
(Aconselho-lhe que não responda), vos, lhe, se; 3ª pessoa – lhe (Mande-lhe recado), lhes, se
(reflexivo: plural e singular); e indiretas tônicas: mim, nós, ti, você, vós, vocês. (Vejam a
mim). Os pronomes possessivos relacionam-se com as pessoas gramaticais: eu, tu, ele (você),
nós, vós, eles (vocês) / meu(s) – minha(s), teu(s) – tua(s), seu(s) – sua(s), nosso(s) – nossa(s),
vosso(s) – vossa(s), seu(s) – sua(s); concordam os possessivos, em gênero e numero, com a
coisa possuída, e em pessoa, com o possuidor (Nossos trabalhos). Os possessivos, quando ao
lado de substantivo, podem vir precedidos, ou não, de artigo – Ex.: O som que tua voz límpida
exala. Os possessivos, em regra, se antepõem aos nomes. O emprego dos pronomes
demonstrativos este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, condiciona-se ao lugar que estão os seres
ou coisas cujos nomes tais demonstrativos determinam.
Concluído as concepções de alguns gramáticos e linguistas a respeito da classe dos
pronomes, Sarmento (2002) com sua obra Leitura, produção, gramática define pronome
como palavras que substituem ou acompanham um substantivo. Os que substituem recebem o
nome de pronomes substantivos – Ex.: Agora só tem a mim. Aqueles que acompanham um
substantivo são chamados de pronomes adjetivos – Ex.: no bolso da minha blusa. Para ela, os
pronomes classificam-se em sete tipos: pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos,
indefinidos, interrogativos e relativos.
Na oração: Agora só tem a mim / e eu agora só tenho a ele, os pronomes destacados são
pronomes pessoais porque indicam as três pessoas do discurso. Assim: eu / nós – a pessoa que
fala o emissor (1ª pessoa); tu / vós – a pessoa com quem se fala o receptor, o interlocutor (2ª
pessoa); ele (a) / eles (as) – o assunto, a pessoa ou a coisa da qual se fala (3ª pessoa).
Enquanto que o pronome de tratamento são palavras ou expressões empregadas no trato mais
respeitoso. Normalmente, esses pronomes se relacionam com o cargo ou a profissão exercida
pela pessoa a quem nos referimos – Ex.: Vossa Senhoria parece-me satisfeito. Para a autora,
pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às três pessoas do discurso –
Ex.: Nossos compromissos foram adiados. Já os demonstrativos situam a pessoa ou a coisa
demonstrada em relação às três pessoas do discurso, posicionando-as no espaço (lugar), no
tempo e no próprio texto – Ex.: Este jogo de hoje é decisivo. / Esse jogo de ontem foi decisivo.
/ Aquele jogo do ano passado foi decisivo. Ainda para Sarmento (2002), pronomes indefinidos
são aqueles que se referem a substantivos de maneira vaga, imprecisa e genérica, às vezes
substituindo-o. Por exemplo, nesta oração: Todos os seres merecem um planeta mais
saudável. Todos se refere ao pronome indefinido adjetivo, e os seres ao substantivo. E em:
Todos merecem um planeta mais saudável. Todos passa a ser pronome indefinido substantivo.
Seguindo a linha divisória, a autora define os pronomes interrogativos como as palavras que
introduzem as frases interrogativas e os dividem em variáveis – qual, quais, quanto (s),
quanta (s) e invariáveis – que e quem. Ex.: Quem é que me espera? É importante frisar que
nem todas as palavras que introduzem frases interrogativas são pronomes interrogativos
como: como, onde, quanto e por que. E por fim traz os pronomes relativos, ou seja, a palavra
que liga orações, substituindo na segunda oração um antecedente ou termo expresso na
primeira. São eles: que, quem, o(a), qual, os (as) quais, onde (em que), quanto (a), quantos
(as) e cujos (as), podendo serem acompanhados por preposição ou não, com exceção de cujo
(s), cuja (s), todos os pronomes relativos podem ser substituídos por o (a) qual, os (as) quais
– Ex.: as regiões do norte por onde passamos possuem uma beleza tropical. Sendo que nesta
oração por onde pode ser substituído pelas quais.
3. ANÁLISE CRÍTICA DAS DEFINIÇÕES DE ARTIGO E PRONOME
Ancorando-nos no que foi fundamentado a partir dos constructos teóricos dos
gramáticos, dos linguistas e da autora dos livros didáticos, é necessário destacar alguns pontos
relevantes quanto às definições de cada autor, em nível de análise. Analisaremos os conceitos
dos autores em cheque, levando em consideração se tais autores definem as classes dos
pronomes e artigos de acordo com os critérios mórficos, sintáticos e semânticos.
Sendo assim, Macambira (1993), Perini (2010) e Castilho (2010) definem o artigo
abordando os três critérios. Macambira (idem) defende que sob o aspecto mórfico esta classe
recusa sufixos, assumindo apenas as flexões de gênero e número que não são classificatórias.
Quanto à definição a partir dos aspectos mórficos e semânticos, o autor não apresenta nenhum
exemplo que possa concretizar a teoria. Porém, no nível sintático, as definições são expostas e
exemplificadas com exatidão. Dessa forma, percebe-se que Macambira (ibidem) corresponde
em parte às perspectivas de abordagem dos critérios em sua definição, já que quando faz uso
de exemplos restringe-os apenas ao nível sintático. Comungando das mesmas ideias que o já
referido autor, Perini (2010) também dá maior destaque ao posicionamento do artigo na
oração, identificando sua função como ocupante da primeira posição do sintagma nominal. O
autor confirma sua teoria a partir de exemplos que novamente só enfatizam o nível sintático.
Castilho (2010), também faz uso dos três critérios, porém, não dá atenção demasiada a um em
detrimento do outro, bem como utiliza de exemplos para os três níveis.
Bechara (2006), ao contrário, só aborda os níveis sintático e semântico. No campo
sintático, divide-os em artigos definidos e indefinidos, destacando suas funções de adjunto do
substantivo e de identificador das categorias gramaticais junto de nomes não marcados por
gênero e número. No semântico destaca seu valor atualizador para identificar o objeto
designado. O autor não menciona o critério mórfico em sua abordagem, bem como não
apresenta exemplos dos critérios utilizados.
Cunha e Cintra (2008), assim como Rocha Lima (2001) conceituam o artigo de acordo
com os critérios mórficos e sintáticos. No plano morfológico, eles o apresenta com variações
de gênero e número (o e um – com seus respectivos femininos e plurais). No âmbito sintático,
ambos defendem que o artigo tem a função de substantivar qualquer palavra antecedida por
ele. Assim, percebe-se que os autores não mencionam o aspecto semântico, preocupando-se
apenas em delimitar suas funções e formas.
Concluída a análise da classe do artigo para os gramáticos e os linguistas, passamos a
focar nas definições didáticas de Sarmento (2002), traçando a mesma linha exploratória de
acordo com os três critérios. Sendo assim, é perceptível que a autora define o artigo de acordo
com os critérios mórficos e sintáticos. Pois ela apenas apresenta suas variações e
classificações, exemplificando vagamente os conceitos apresentados. Seus exemplos são os
mesmos
para
as
variações
apresentadas,
só
alternando
o
artigo
(Bianca trouxe a amiga/ Bianca trouxe uma amiga); explicações sobre o comportamento do
artigo na oração não aparecem. Sarmento (idem) remete ao conceito de artigo apenas no 1º
volume de sua coleção, o que pode não propiciar ao aluno o aprofundamento da classe em
séries posteriores, já que a breve definição apresentada talvez não se sustente num período de
quatro anos.
Acabada a apresentação sobre a classe dos artigos, passamos a comentar o pronome sob
a perspectiva mórfica, semântica e sintática de acordo com os teóricos já citados no tripé
normativo, linguístico e didático.
Dessa forma, Macambira (1993) determina o pronome sob os três critérios.
Morficamente, o autor concebe o pronome como um tipo de nome que admite a oposição de
pessoas gramaticais – eu oposto a tu; meu oposto a teu; este oposto a esse. Sob os aspectos
sintáticos, Macambira (idem) divide o pronome em duas subclasses: o pronome substantivo,
que não se articula como o substantivo; e o pronome adjetivo, que se articula com o
substantivo, à semelhança do adjetivo. São pronomes substantivos e adjetivos os pessoais, os
possessivos, os demonstrativos, os relativos e os numerais, todos se apresentando como
definidos e indefinidos. No âmbito semântico, a divisão coincide, conforme os pronomes
denotem a ideia de pessoa, posse, dixis, referência, número ou interrogação de maneira vaga.
Nessa perspectiva, nota-se que o autor exemplifica na sua totalidade com imprecisão, não
alcançando a devida objetivação das ideias, principalmente no campo semântico, que insiste
em demonstrar que a ideia de interrogação não se adequa a algumas divisões pronominais.
Vale ressaltar ainda, que mesmo utilizando o aspecto semântico, o teórico remete aos aspectos
sintáticos em seus exemplos, pois continua a se prender em como mostrar o emprego dos
pronomes nas orações.
Perini (2010) ancorando-se nos critérios mórfico e sintático assinala o conceito de
pronome. Para ele, formalmente os pronomes não sofrem variações. O exemplo trazido pelo o
autor está de acordo com sua proposta de desenvolver uma Gramática brasileira, pois se afasta
da tradição portuguesa: Eu encontrei ela no cinema, ao invés de Eu a encontrei no cinema. E,
sob o outro aspecto, o pronome é usado em função do sujeito enquanto formas retas. São
oferecidos exemplos condizentes com a teoria.
Bechara (2006) utiliza-se dos critérios semânticos e sintáticos em sua concepção de
pronome. No território semântico, a classe reúne unidades em número limitado, referindo-se a
um significado léxico que se caracteriza dentro do contexto da frase, porém não aplica
exemplos demonstrativos. Demarcado o nível semântico, o autor discorre sintaticamente o
pronome classificando-o e dividindo-o de acordo com suas exigências funcionais e
exemplificando segundo os seus conceitos.
Empregando dois dos critérios estudados: o mórfico e o semântico, Castilho (2010) tece
suas considerações sobre o pronome. Do ponto de vista gramatical e segundo ele, essa classe
exibe as propriedades morfológicas de caso, pessoa, número e gênero. Ao invés de explicar as
propriedades uma a uma, o autor se prende apenas ao caso, remetendo a tradição gramatical
sem apresentar nenhum exemplo. Do ponto de vista semântico, não traz exemplos, fazendo
uma abordagem pouco esclarecedora.
Aportados somente no aspecto sintático, Cunha e Cintra (2008) destacam as funções
que os pronomes desempenham na oração, apresentando exemplos satisfatórios. Porém,
esclarecer o conceito de uma classe por meio de apenas um critério pode não ser suficiente
para o apropriamento do conhecimento acerca da classe gramatical.
Para Rocha Lima (2001), o pronome é classificado de acordo com os critérios mórficos
e sintáticos. Ele destaca as funções e as formas pronominais empregadas nas orações de
acordo com a divisão dos pronomes em pessoais, possessivos e demonstrativos, sendo que,
para cada uma dessas divisões trazem exemplos que norteiam a compreensão da classe.
Findada a análise conceitual de pronome, segundo alguns gramáticos e linguistas,
iniciamos por fim, a exploração crítica a respeito do pronome de acordo com Sarmento
(2002).
Em sua coleção, fragmenta a classe pronome em três volumes consecutivos (5ª a 7ª
séries), enfocando o critério sintático para todos os níveis de apresentação. A autora fornece
exemplos capazes de orientar ao que se refere à classe, porém ao abordar apenas um aspecto,
a aquisição da aprendizagem pode ficar comprometida nas escolas, já que esse deve ser o
período cruciante para os alunos no apropriamento dos saberes.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, não acreditamos que exista a mais correta definição, e sim, contribuições
de pesquisadores a fim de formar a base da Gramática portuguesa, sendo que muitos podem
pecar em alguns aspectos e esclarecer outros.
Esse trabalho se inseriu na pretendencia de descrever o quadro de pronomes e artigos.
Alguns desses estudos são fieis à tradição gramatical portuguesa, por exemplo, Perini,
Castilho e Macambira trazem propostas inovadoras e se comprometem em descrever o quadro
pronominal usado no Brasil.
Este artigo objetivou a ampliação do estudo da Gramática, comparando e analisando as
definições sobre pronomes e artigos. Foram utilizadas Gramáticas Normativas, Manuais de
Linguística e Livros Didáticos, a fim de auxiliar futuros pesquisadores para maiores
esclarecimentos sobre as classes tratadas.
Propomos a os autores de Livros Didáticos a incorporação dos aspectos mórfico,
semântico e sintático, já que pudemos concluir que sem essa adaptação, o estudo talvez fique
limitado. Esperamos que o referido trabalho tenha contribuído de forma sucinta para o ensino
das classes de palavras: artigo e pronome.
REFERÊNCIAS
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro: Lucerna,
2006.
CASTILHO, Ataliba T. de. Gramática do Português Brasileiro. 1 ed. São Paulo: contexto,
2010.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português brasileiro. 5
ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2008.
GURPILHARES, Marlene Silva Sardinha. As bases filosóficas da gramática normativa:
uma abordagem histórica. Janus, Lorena, ano 1, n° 1, 2° semestre de 2004.
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português. 7 ed. São Paulo:
Pioneira, 1993.
PERINI, Mário Alberto. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial,
2010.
ROCHA LIMA, Carlos H. Gramática normativa da língua portuguesa. 41 ed. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2001.
SARMENTO, Leila Lauar. Leitura, produção, gramática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2002.
Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª séries. (foram utilizados 3 volumes: 5ª a 7ª séries)