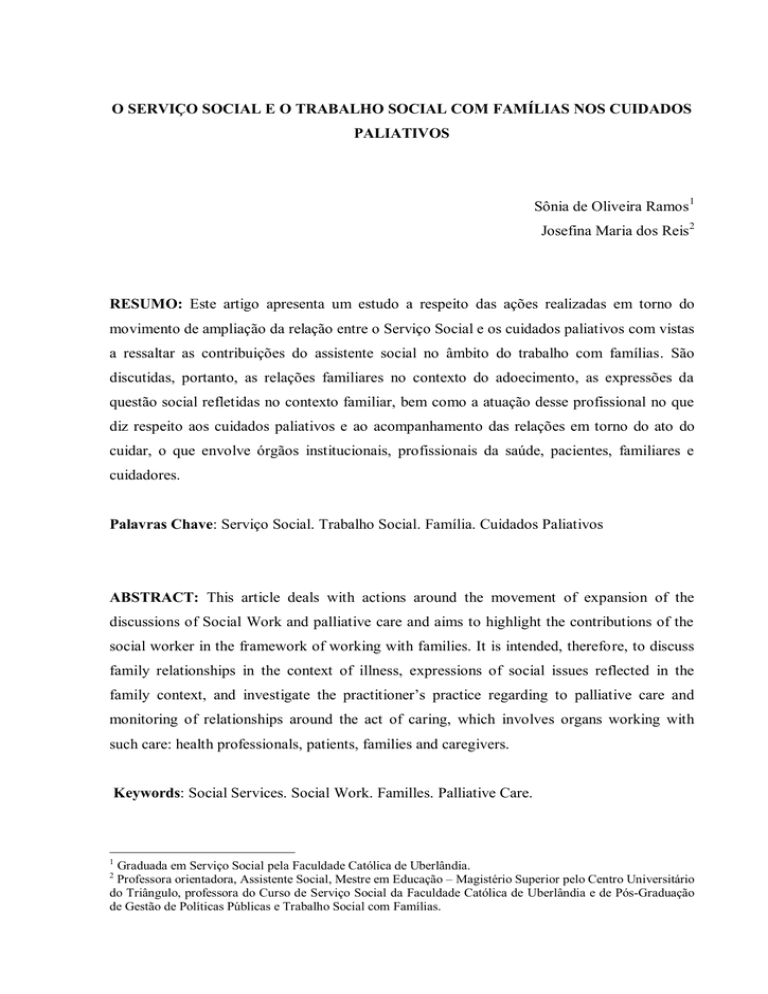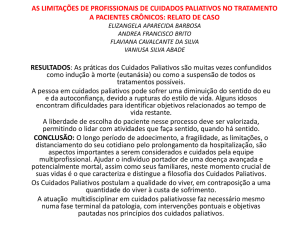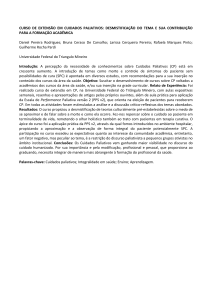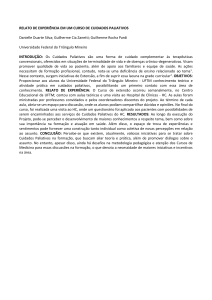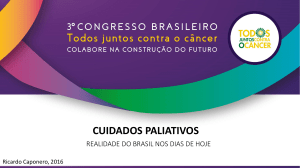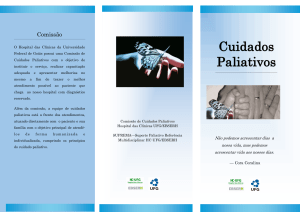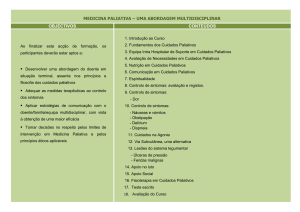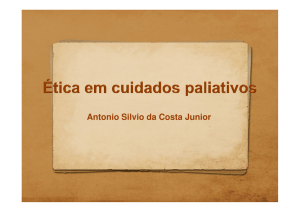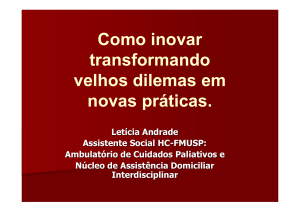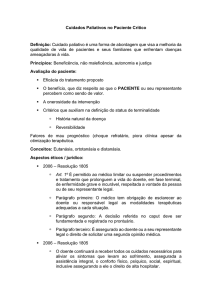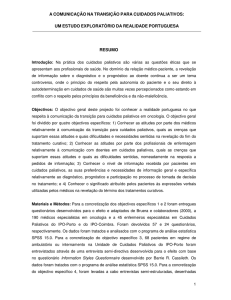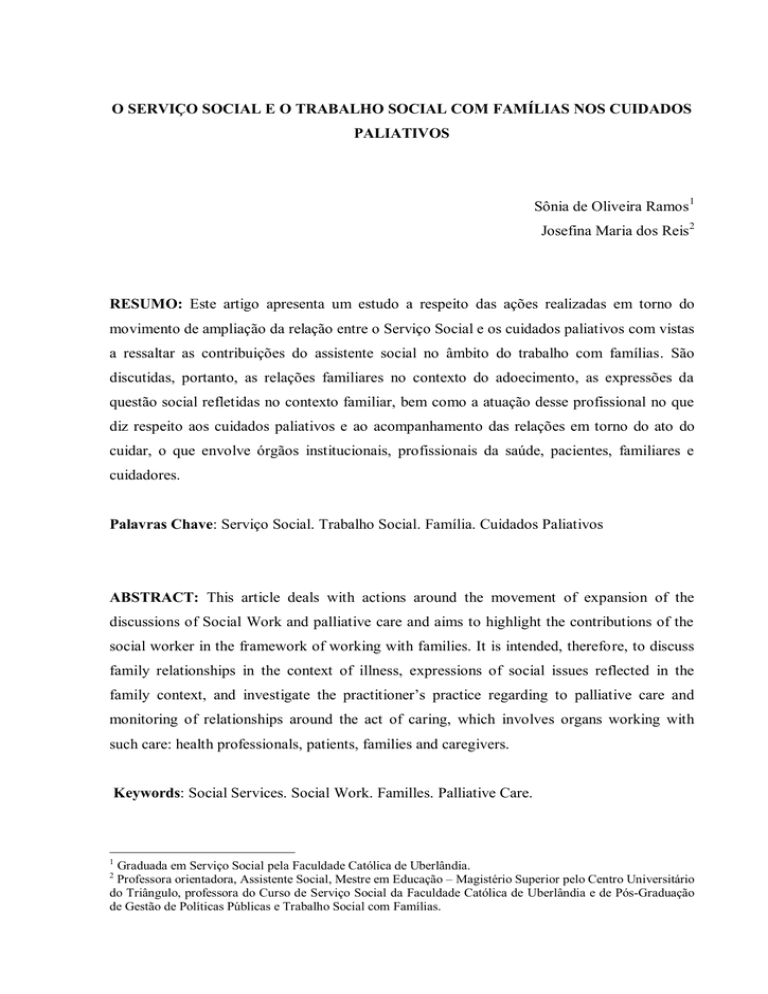
O SERVIÇO SOCIAL E O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NOS CUIDADOS
PALIATIVOS
Sônia de Oliveira Ramos1
Josefina Maria dos Reis2
RESUMO: Este artigo apresenta um estudo a respeito das ações realizadas em torno do
movimento de ampliação da relação entre o Serviço Social e os cuidados paliativos com vistas
a ressaltar as contribuições do assistente social no âmbito do trabalho com famílias. São
discutidas, portanto, as relações familiares no contexto do adoecimento, as expressões da
questão social refletidas no contexto familiar, bem como a atuação desse profissional no que
diz respeito aos cuidados paliativos e ao acompanhamento das relações em torno do ato do
cuidar, o que envolve órgãos institucionais, profissionais da saúde, pacientes, familiares e
cuidadores.
Palavras Chave: Serviço Social. Trabalho Social. Família. Cuidados Paliativos
ABSTRACT: This article deals with actions around the movement of expansion of the
discussions of Social Work and palliative care and aims to highlight the contributions of the
social worker in the framework of working with families. It is intended, therefore, to discuss
family relationships in the context of illness, expressions of social issues reflected in the
family context, and investigate the practitioner’s practice regarding to palliative care and
monitoring of relationships around the act of caring, which involves organs working with
such care: health professionals, patients, families and caregivers.
Keywords: Social Services. Social Work. Familles. Palliative Care.
1
Graduada em Serviço Social pela Faculdade Católica de Uberlândia.
Professora orientadora, Assistente Social, Mestre em Educação – Magistério Superior pelo Centro Universitário
do Triângulo, professora do Curso de Serviço Social da Faculdade Católica de Uberlândia e de Pós-Graduação
de Gestão de Políticas Públicas e Trabalho Social com Famílias.
2
Os cuidados paliativos configuram-se como uma proposta de cuidado da pessoa que se
encontra fora das possibilidades curativas. De acordo com Kovács (1992, p. 53), “a visão da
morte e o que aparece de mais temido está diretamente ligado ao contexto histórico e sócio
cultural do homem”.
Historicamente, a prática dos cuidados paliativos tem o relato mais antigo no século
IV da era Cristã. Na contemporaneidade, o progresso tecnológico e científico da medicina tem
contribuído para o controle e prevenção de doenças, o que acaba por aumentar a expectativa
de vida da humanidade.
Vivemos em uma cultura caracterizada por valores que impedem que o sofrimento, a
doença e a morte sejam aceitos pelo homem como fatos naturais. A concepção que se tem
sobre a morte e a atitude do homem diante dela estão se modificando ao longo do tempo. Esse
tema aterroriza o ser humano e, por isso, falar sobre ele pode ajudar a elaborar a ideia de
finitude humana, mas também pode provocar certo desconforto, visto que se trata de uma
realidade inevitável. Ter a certeza de que um dia a vida chega ao fim aciona uma série de
mecanismos psicológicos no ser humano, que passa a lidar com seus medos, angústias,
defesas e atitudes diante da morte. E em casos de pacientes terminais, essa situação pode se
agravar.
Atualmente, no Brasil, os serviços em cuidados paliativos e estudos e publicações
sobre a temática estão em constante crescimento. Os cuidados paliativos têm se constituído
um campo de saber e a atuação do profissional que se especializa para trabalhar na área
contribui para um atendimento que considere as necessidades do paciente, visando à sua
qualidade de vida. E embora a morte seja vista como inerente ao que é vivo, o término da vida
é uma construção social que varia de acordo com os significados que são compartilhados
pelos indivíduos, considerando o contexto histórico, social e cultural nos quais estão
inseridos.
A Origem e a evolução dos cuidados paliativos
Cuidado paliativo não é uma alternativa de tratamento, e sim, uma
parte complementar e vital de todo acompanhamento do paciente.
Dame Cicely Saunders
A história dos cuidados paliativos no Brasil é relativamente recente. Iniciativas
isoladas e discussões a respeito são encontradas desde os anos 1970. Contudo, foi na década
de 1990 que se iniciou o movimento pela implantação de unidades especializadas para esse
tipo de cuidado no nosso país. Vale ressaltar, porém, que atendimentos a pacientes fora da
possibilidade de cura acontecem desde 1986.
As unidades especializadas de cuidados paliativos devem possuir adequada estrutura
física e humana para acolher os pacientes que apresentam doenças incuráveis e terminais e
também seus familiares. Percebe-se que esse serviço é uma necessidade e uma realidade
concreta que vem se desenvolvendo cada vez mais, visto que equipes de profissionais e
instituições de saúde têm se especializado para lidar com pacientes acometidos por doenças
crônicas e com uma expectativa de vida limitada.
Os Cuidados Paliativos, seus ideólogos e instituições buscam criar uma nova
representação social do morrer, viabilizada pela construção de modalidades
inovadoras de relação entre profissionais de saúde e doentes/familiares,
inseridas em novas práticas institucionais. O funcionamento destas unidades
hospitalares de cuidados paliativos é regido por uma extensa produção
discursiva acerca do processo de tomada de decisões relativas à doença, ao
sofrimento e à morte (MENEZES, 2004, p.20).
Historicamente, a prática dos cuidados paliativos tem seu relato mais antigo no século
IV da era Cristã, com as primeiras definições sobre o cuidar. Na Idade Média, durante as
cruzadas, era comum encontrar hospices (hospedarias, em português) em monastérios que
abrigavam os necessitados.
Essa forma de hospitalidade tinham como características o acolhimento, a proteção, o
alívio do sofrimento, mais do que a busca pela cura. Essa prática deriva do modelo de
assistência inglesa que se desenvolvia nos antigos hospices e hospedarias medievais,
instituições que assistiam e hospedavam os monges e peregrinos.
De acordo com Doyle (2009, p.13), hospice é um termo utilizado para significar a
filosofia do cuidado integral e multiprofissional ao paciente com uma doença incurável, em
qualquer fase da vida. Hospedaria designa um dos locais onde esse cuidado, chamado de
cuidado paliativo, é prestado ao doente e à família.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013),
Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de
pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade
da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação
precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de
natureza física, psicossocial e espiritual.
Os progressos científicos no âmbito da medicina têm contribuído para a descoberta de
novas formas de prevenção e de controle das doenças. Assim, com o grande avanço
tecnológico na área da saúde, os hospitais que até então faziam atendimento precário
evoluíram rapidamente e se equiparam com tecnologias modernas, dando novas
possibilidades aos usuários para tratamento de doenças que até então eram consideradas sem
cura. Com isso, houve um favorecimento da tecnologia em detrimento do pessoal, sendo que
os pacientes que necessitavam dos cuidados paliativos e seus familiares ficaram desprotegidos
em suas necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais.
Um dos grandes movimentos dos cuidados paliativos aconteceu na década de 1960, no
Reino Unido. Esse movimento visava abordar o cuidado de uma forma não fragmentada, o
que significava que o atendimento ia além do órgão doente e da cura. Nesse momento,
iniciaram-se os cuidados paliativos, com o moderno movimento hospice que buscava um
atendimento adequado e humanizado dos pacientes fora da possibilidade de cura.
De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), pioneira em
cuidados paliativos, foi Cicely Saunders3 que, em 1967, fundou o St. Christopher´s Hospice,
3
Cicely Saunders, nascida em 1918, na Inglaterra, dedicou-se ao trabalho de alívio do sofrimento humano.
Graduou-se como enfermeira, assistente social e médica. Escreveu vários artigos e livros e faleceu em 2005, no
St.Christopher´s Hospice.
o primeiro serviço a oferecer cuidado integral ao paciente, desde o controle
de sintomas, alívio da dor e do sofrimento psicológico. O St. Christopher´s é
reconhecido como um dos principais serviços no mundo em Cuidados
Paliativos e Medicina Paliativa (ANCP, 2009, p.1).
Segundo a ANCP (2009, p.1), Saunders “conseguiu entender o problema do
atendimento que era oferecido em hospitais para pacientes terminais. Até hoje, famílias e
pacientes ouvem de médicos e profissionais de saúde a frase ‘não há mais nada a fazer’”. Mas
Cicely Saunders sempre refutava: “ainda há muito a fazer”.
Em 1969, no estudo “Sobre a morte e o morrer”, resultado de uma pesquisa realizada
com pacientes terminais nos Estados Unidos, a enfermeira afirmou que dentro da
humanização no atendimento ao doente terminal se faz necessário o acolhimento por parte do
médico, que sempre deverá lidar com a verdade.
De acordo com a ANCP (2009), outra personalidade que influenciou os processos de
cuidados paliativos foi Elisabeth Kubler Ross4, que identificou cinco estágios que ajudam o
paciente a ter consciência do estado terminal em que se encontra:
O primeiro estágio é a negação e o isolamento, fase na qual o paciente se
defende da ideia da morte, recusando-se a assumi-la como realidade. O
segundo estágio é a raiva, momento no qual o paciente coloca toda sua
revolta diante da notícia de que seu fim está próximo. Nesta fase, muitas
vezes, o paciente chega a ficar agressivo com as pessoas que o rodeiam. O
terceiro estágio, a barganha, é um momento no qual o paciente tenta ser bem
comportado, na esperança de que isso lhe traga a cura. É como se esse bom
comportamento ou qualquer outra atitude filantrópica, trouxesse horas extra
de vida. O quarto estágio é a depressão, fase na qual o paciente se recolhe,
vivenciando uma enorme sensação de perda. Quando o paciente tem um
tempo de elaboração e o acolhimento descrito anteriormente, atingirá o
último estágio, que é o da aceitação (ANCP, 2009).
Os conceitos estabelecidos por Saunders e Ross são referências centrais nos cuidados
paliativos e contribuem para uma definição do atendimento, que deve visar intervenções
necessárias e ser realizado por uma equipe interdisciplinar de profissionais da saúde. O
modelo de assistência paliativa propõe acumular a qualidade de vida dos pacientes e de suas
4
Dra. Elisabeth Kübler-Ross nasceu em Zurique, na Suíça. Foi médica, psiquiatra e especialista na área
específica da profissão médica, a tanatologia, e escreveu vários livros. No livro On Death and Dying ela
apresenta o conhecido Modelo de Kübler-Ross.
famílias, visando ao controle da dor e de outros sintomas. Trata-se de um trabalho que deve
englobar o cuidado nas dimensões física, psicossocial e espiritual.
No Brasil, a história dos cuidados paliativos é recente e iniciativas isoladas e
discussões a respeito são encontradas desde a década de 1980. Na fase final do regime da
ditadura militar, o sistema de saúde priorizava o atendimento do paciente no hospital e era
essencialmente voltado para a cura das doenças. De acordo com Rodrigues (2004, p.44),
nessa época, o ensino da Enfermagem e o da Medicina estavam voltados
exclusivamente para os aspectos biológicos ou seja, centrados na doença,
preconizando uma assistência fragmentada de diversos profissionais para um
mesmo paciente, sendo o trabalho predominantemente individual, o que
gerava angustia nos pacientes, ficando estes desprovidos de informações
corretas sobre sua patologia e o seu futuro, além de se encontrarem sozinhos
em um leito separado por um biombo, sem a companhia de um ente querido.
A incorporação das práticas de enfermagem, de medicina e de outras áreas aos
sistemas de assistência à saúde e uma infinidade de inovações tecnológicas vêm mudando, ao
longo das décadas, as relações entre profissionais de saúde e usuários do sistema de saúde no
Brasil.
De acordo com Figueiredo (2006, p.36), os cuidados paliativos no Brasil se iniciaram
na década de 1980, no Departamento de Anestesiologia do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando a médica Miriam Martelete5 criou o
Serviço de Cuidados Paliativos. Três anos depois, na Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, o médico fisiatra Antônio Carlos de Camargo Andrade Filho 6, recém-chegado de um
estágio na Inglaterra, onde aprendeu sobre os cuidados paliativos, deu início ao Serviço de
Dor e Cuidados Paliativos.
Segundo Machado (2009), ainda no final da década de 1980, em Florianópolis e no
Rio de Janeiro, surgem Unidades de Cuidados Paliativos. Assim, desde a década de 1990, o
campo dos cuidados paliativos no Brasil vem se expandindo.
5
Drª. Miriam Martelete. Professora Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e Chefe do Serviço de Dor e Medicina Paliativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Anestesista.
6
Dr. Antonio Carlos de Camargo Andrade Filho. Jaú, São Paulo, Brasil. Medicina física e reabilitação.
Graduado em medicina física e reabilitação. Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo (1982-1992). Titular e ex-presidente da Sociedade Brasileira para o estudo da Dor. Titular de
Medicina Física e da Associação Brasileira de Reabilitação.
Em 1997 foi fundada, em São Paulo, pela psicóloga Ana Geórgia de Melo 7, a
Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), com o objetivo de implantar e
promover os cuidados paliativos relativos a doenças crônico-evolutivas, durante a fase de
progressão e a terminalidade. Com isso, houve a formação de profissionais de saúde,
promovendo assistência e o desenvolvimento de várias pesquisas científicas (MACIEL, et al.,
2006).
Segundo a ANCP (2009), o professor Marco Túlio de Assis Figueiredo 8 realizou
importantes trabalhos ao criar e coordenar os primeiros cursos sobre filosofia paliativa na
Escola Paulista de Medicina. Seu projeto se iniciou com o Curso de Cuidados Paliativos ao
Paciente Fora de Recursos Terapêuticos de Cura, em novembro de 1994, na UNIFESP-EPM.
E em 1997, em atendimento à solicitação de alguns alunos, foi ministrado um curso sobre
Tanatologia9. No decorrer dos cursos, houve a necessidade de ampliação dos estudos sobre o
morrer, o que deu início, em 1998, à disciplina de cuidados paliativos, e, em 2000, à formação
do Ambulatório de Cuidados Paliativos.
No Brasil, a partir desse momento, os serviços no campo dos cuidados paliativos se
fizeram importantes em instituições e órgãos, como o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o
Ministério da Saúde, o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE/SP), o
Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo, a Academia Nacional de Cuidados
Paliativos.
Os cuidados paliativos conheceram um crescimento significativo a partir do ano 2000,
com a consolidação dos serviços já existentes e pioneiros e a criação de outros não menos
importantes. Hoje existem aproximadamente quarenta iniciativas em todo o Brasil. Ainda é
pouco, levando se em consideração a extensão geográfica e as necessidades do país.
Segundo a ANCP (2012),
7
Dra. Ana Geórgia de Melo. Psicóloga Clínica, Especializada em Oncologia e Cuidados Paliativos. Fundadora e
primeira presidente da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP).
8
Dr. Marco Túlio de Assis Figueiredo. Professor da Disciplina de Cuidados Paliativos da UNIFESP-EPM.
Chefe do Ambulatório de Cuidados Paliativos da UNIFESP-EPM. Sócio fundador da International Association
for Hospice and Palliative Care (USA). São Paulo, SP.
9
“Ciência interdisciplinar que estuda a relação do homem com a própria morte e com a morte do outro,
adquirindo corpo teórico com definição de conceitos e questionamentos para compreensão do comportamento
humano em relação às perdas, luto e separação, levando-nos a refletir e debater sobre nossa própria finitude.”
Disponível em: <http://www.redenacionaldetanatologia.psc.br/>. Acesso em: 17 nov. 2013.
com a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, em 2005, os
cuidados paliativos no Brasil deram um salto institucional enorme, avançou
a regularização profissional do paliativista brasileiro, estabeleceu-se critérios
de qualidade para os serviços de cuidados paliativos, realizou-se definições
precisas do que é e o que não é cuidados paliativos e levou-se a discussão
para o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Conselho Federal de
Medicina - CFM e Associação Médica Brasileira – AMB. Participando
ativamente da Câmera Técnica sobre Terminalidade da Vida e Cuidados
Paliativos. ANCP luta pela regularização da Medicina Paliativa como área
de atuação médica junto à Associação Médica Brasileira e a universalização
dos serviços de Cuidados Paliativos no Ministério da Saúde.
O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Nacional de Cuidados
paliativos elaboraram duas resoluções importantes que regulam a atividade médica
relacionada a essa prática. Em 2009, o CFM incluiu, em seu novo Código de Ética Médica
(CEM), os cuidados paliativos como princípio fundamental.
No cenário atual do Brasil, as atividades relacionadas aos cuidados paliativos ainda
precisam ser regularizadas em forma de lei. Percebe-se um desconhecimento em relação ao
assunto entre os médicos, os profissionais de saúde, os gestores hospitalares e o poder
judiciário. Há uma desinformação sobre os cuidados paliativos e sobre os opióides10, como a
morfina, para o alívio da dor. E são poucos os serviços que oferecem atenção baseada em
critérios científicos e de qualidade. A grande maioria dos serviços requer a implantação de
modelos padronizados de atendimento que garantam a eficácia e a qualidade.
Segundo a ANCP (2009),
em um futuro próximo haverá a regularização profissional, promulgação de
leis, quebra de resistências e maior exposição na mídia. Haverá uma
demanda por serviços de cuidados paliativos e por profissionais
especializados. A regularização legal e das profissões, permitirá que os
planos de saúde incluam cuidados paliativos em suas coberturas, com isso
haverá uma diminuição nos custos dos serviços de saúde o que traz vários
benefícios aos pacientes e seus familiares.
Nessa perspectiva, faz-se necessário que a equipe multiprofissional de saúde e outros
profissionais que prestam atendimento, se capacitem para lidar com o paciente em fase
10
“Substâncias obtidas do ópio; podem ser opiáceos naturais quando não sofrem nenhuma modificação (morfina,
codeína) ou opiáceos semi-sintéticos quando são resultantes de modificações parciais das substâncias naturais
(como é o caso da heroína que é obtida da morfina através de uma pequena modificação química).”
terminal, sabendo reconhecer os sintomas e o acolhendo de maneira humanizada e ativa. O
trabalho interdisciplinar no atendimento é primordial para a garantia de ações integradas,
criativas e transparentes, o que envolve o papel da humanização para com esses pacientes.
Além disso, a conscientização da população sobre os cuidados paliativos é essencial
para que o sistema de saúde mude sua abordagem voltada aos pacientes com doenças que
ameaçam a continuidade de suas vidas.
Segundo Pessini e Bertachini (2009, p.3), “a humanização dos cuidados em saúde
pressupõe considerar a essência do ser, o respeito à individualidade e a necessidade da
construção de um espaço concreto nas instituições de saúde que legitime o humano das
pessoas envolvidas”.
De acordo com a Política Nacional de Humanização dos Serviços de saúde (2004),
humanizar
é direcionar para uma maior integralidade, objetividade e acesso na atenção
à saúde é entender cada pessoa em sua singularidade, tendo necessidades
especificas, e, assim, criando condições para que tenha maiores
possibilidades para exercer sua vontade de forma autônoma e dar
possibilidade de uma transformação cultural da gestão e das práticas
desenvolvidas nas instituições de saúde, assumindo uma postura ética de
respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido, de respeito ao usuário
entendido como um cidadão e não apenas como um consumidor de serviços
de saúde (BRASIL, 2004).
O humanismo está relacionado a uma ética baseada na condição humana e nos ideais
partilhados pelos homens, assim como a um conjunto de valores que fundamentam a
compreensão dos empreendimentos científicos e tecnológicos. Pode ser expresso pelo caráter
e qualidade da atenção, levando em conta interesses, desejos e necessidades dos atores sociais
implicados nessa área.
Nos últimos anos, o interesse da sociedade, da comunidade acadêmica e científica
aumentou com relação aos cuidados paliativos. No entanto, há uma carência de serviços e de
profissionais especializados no assunto.
Segundo ANCP (2013), a Medicina Paliativa foi recentemente reconhecida como área
de atuação médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Médica
Brasileira (AMB). Para o Dr. Ricardo Tavares de Carvalho 11, diretor da ANCP, “isso significa
que mais do que nunca temos necessidades urgentes de formação especializada e de expansão
da assistência. Está na hora de trazer os cuidados paliativos para o centro dos debates das
políticas de saúde”.
Nesse contexto, o trabalho que o assistente social desenvolve consiste na identificação
das características econômicas, culturais e sociais do paciente e da sua família, no sentido de
subsidiar intervenções facilitadoras de acesso aos seus direitos sociais. E além das garantias
que dizem respeito às políticas públicas, também faz parte de suas atribuições promover a
integração das atividades de vida diária e de trabalho do paciente, cuidar para que haja
garantia da qualidade de vida nos momentos que precedem a morte e auxiliar na manutenção
do equilíbrio familiar sempre que possível.
Os Cuidados Paliativos no âmbito familiar: um campo de atuação do Serviço Social
A família é um grupo social natural fundamental para o desenvolvimento do ser
humano e é ela a principal influenciadora das ações de seus membros, ou seja, trata-se de um
sistema cujas atividades são organizadas do interior para o exterior. De acordo com Dias
(2010, p.43), o grupo familiar é um sistema aberto, dinâmico e complexo e é nele que o
indivíduo se desenvolve e aprende a se posicionar na sociedade em que vive.
No contexto social, a família é entendida a partir de suas relações que envolvem a
ética, o espaço econômico, o político, e o cultural. E graças à sua capacidade de se ajustar às
exigências sociais, a família tem conseguido sobreviver mesmo em meio a intensas crises,
sendo a matriz mais importante do desenvolvimento humano e também a principal fonte de
saúde de seus membros.
No entanto, a família também é um espaço de conflitos, no qual são enfrentadas,
diariamente, situações contraditórias que envolvem, inclusive, o cumprimento de tarefas
básicas. De acordo com Dias (2010, p.43), no cotidiano é necessário o envolvimento de cada
membro no que diz respeito às demandas internas e às demandas do seu espaço social, pois a
qualidade de vida da família depende da articulação do todo.
11
Dr. Ricardo Tavares de Carvalho. Médico Cardiologista, presidente da Comissão de Cuidados Paliativos do
Hospital das Clínicas – HC/FMUSP, diretor do Hospital Premier e membro do comitê de Terminalidade da Vida
da AMIB – Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Diretor Cientifico da Associação Nacional de Cuidados
Paliativos – ANCP
Nesse sentido, ocorrem mudanças tanto nas relações quanto na dinâmica familiar, uma
vez que os efeitos das doenças não são vivenciadas somente pelo paciente, mas também de
forma coletiva, pois o envolvimento de todos é inevitável. A doença crônica, por exemplo,
interfere de forma indelével no sistema familiar, podendo até mesmo gerar um desarranjo no
que diz respeito à sua configuração e/ou uma situação de desequilíbrio. A ameaça de perda é
uma das principais causas da vulnerabilidade e do adoecimento de outros membros da família.
Dessa forma, nessa perspectiva, “fatores estruturais e conjunturais associam-se para marcar a
premência de um repensar a saúde em uma dimensão ampliada” (NUNES, 1994, p.15).
Em um contexto de adoecimento, a família enfrenta mudanças psicossociais,
alterações em seu cotidiano e as difíceis rotinas da unidade de saúde. E à medida que o
paciente se ajusta às condições da doença, ao desconforto, à dor e a outras consequências do
tratamento médico, torna-se, cada vez mais, dependente do apoio emocional da família.
Com isso, os familiares precisam desenvolver não somente novas capacidades para
prestar cuidados físicos ao paciente, como também atitudes que se ajustem às necessidades
dele no que diz respeito às suas emoções, ao seu novo estilo de vida e à sua rotina.
A família é a unidade básica de todo o agrupamento, sendo de suma importância para
o desenvolvimento da personalidade humana. É o ambiente familiar que possibilita ao
indivíduo condições para se desenvolver, se educar e aprender a se posicionar na sociedade
em que vive. De acordo com Dias (2010, p.43), a família é apresentada, representada e
reapresentada por distintas definições, noções, conceitos, tipos, e até mesmo atribuições,
podendo, também, ser vista sob diferentes teorias.
A visão hierarquizada da família sofreu, com o tempo, enormes transformações quanto
à significativa diminuição do número de seus componentes e dos papeis destes dentro dela.
Com a emancipação feminina e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, o homem
deixou de ser o provedor exclusivo da família e a sua participação nas atividades domésticas
passou a ser uma exigência. O papel conjugal baseia-se na interdependência das partes do
casal, pautado na essência da sobrevivência das pessoas. São os atos de complementaridade,
cooperação, reciprocidade e compartilhamento de tarefas e sentimentos que delimitam o papel
conjugal, seja entre acordos verbais ou não.
Segundo Dias (2010, p.43),
é necessário ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais diversos
arranjos familiares, devendo-se buscar o elemento que permite enlaçar no
conceito de entidade familiar, todos os relacionamentos que tem origem em
um elo de afetividade, independentemente de sua conformação. O desafio
dos dias de hoje é achar o toque identificador das estruturas interpessoais
que autorize nominá-las como família. Esse referencial só pode ser
identificado no vinculo que une seus integrantes. O novo modelo de família
funda-se sobre os pilares da repersonalização, da afetividade, da pluralidade
e do eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica ao direito de
família. Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens ou coisas
que guarnecem a relação familiar. A família-instituição foi substituída pela
família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto para o
desenvolvimento da personalidade de seus integrantes como para o
crescimento e formação da própria sociedade, justificando, com isso, a sua
proteção pelo Estado.
Percebe-se que a dinâmica familiar é complexa e que seu processo de viver é único,
singular, embora seja partilhado com outras famílias e grupos. De acordo com Mello (2005, p.
79), a família busca, em seu interior, atender às necessidades particulares de cada um de seus
membros e se solidificar como um conjunto.
No adoecimento, a família e o paciente são referenciados como unidades de cuidados,
devendo ser vistos como únicos e ter suas necessidades atendidas da forma mais adequada
possível. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde (2009, p.18) preconiza que a
equipe desenvolva ações para incluir os familiares no processo de cuidar, não somente na
perspectiva da realização dos cuidados, mas também na possibilidade de que suas demandas
sejam atendidas.
No adoecimento, a família precisa de assistência e acesso à saúde, direitos universais
de todos. No entanto, sabe-se que, no Brasil, o sistema de saúde sofre com a falta de recursos,
o que impede a concretização da universalização dos direitos dos usuários, como preconiza a
Constituição Federal de 1988. A questão que se coloca hoje para o setor da saúde, no interior
da transição democrática, é exatamente como conciliar as profundas desigualdades sociais que
marcam a sociedade brasileira, em um contexto de crescente universalidade social da
desvalorização das políticas sociais.
Dentre as manifestações da questão social no contexto familiar, encontra-se o
adoecimento. Muitas vezes, a família é atravessada por determinantes da precariedade,
principalmente no que diz respeito às dificuldades de acesso aos serviços de saúde e à
fragilização das políticas de proteção social.
De acordo com a ANCP (2006, p. 9),
o sistema de saúde brasileiro enfrenta grandes desafios para o novo século. A
singularidade do tema requer uma discussão multissetorial que se assenta no
proposto pelo movimento internacional dos cuidados paliativos, que, nas
últimas décadas, preconizou uma atitude de total empenho e a valorização do
sofrimento e da qualidade de vida como objetos de tratamento e de cuidados
ativos organizados. A complexidade do sofrimento e a combinação de
fatores físicos, sociais, psicológicos e espirituais na fase final da vida, bem
como o envolvimento direto das famílias, obrigam a uma abordagem
multiprofissional, congregando a família da pessoa doente, os profissionais
de saúde com formação e treinos diferenciados, os voluntários preparados e
a sociedade civil.
As unidades hospitalares deparam-se, constantemente, com a falta de médicos, de
quartos para o acolhimento dos pacientes, de leitos, de medicamentos, de sala de cirurgias, de
equipamentos para exames, etc. E essa problemática atinge diretamente o organismo
complexo que é a família, o que a torna campo de atuação do Serviço Social, visto que passa a
ser objeto de intervenção do assistente social, que requer uma perspectiva totalizante, baseada
na identificação de determinantes socioeconômicos e culturais das desigualdades.
Os cuidados paliativos se fazem necessários quando o paciente tem uma doença
incurável e progressiva e quando necessita de cuidados integrais e contínuos e/ou quando está
fora da possibilidade de cura. Ele deve, dessa forma, ser inserido em uma perspectiva holística
que envolve as dimensões física, psicológica, social, econômica e espiritual.
Como esclarece a Organização Mundial de Saúde (2013, p.14), os princípios dos
cuidados paliativos são:
- Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia,
anorexia, dispnéia e outras emergências oncológicas.
- Reafirmar vida e a morte como processos naturais.
- Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clinico de
cuidado do paciente.
- Não apressar ou adiar a morte.
- Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do
paciente, em seu próprio ambiente.
- Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais
ativamente possível até a sua morte.
- Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e
psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e
suporte de luto.
Esses princípios apontam para a necessidade de se compreender como ocorre o
processo saúde-doença na vida real dos sujeitos, o que implica a compreensão de seus
diferentes espaços de convivência e influência, principalmente por se tratar de um processo
singular e complexo. Assim, o reconhecimento dos limites e das possibilidades de cuidado e
de atenção de todos os envolvidos na questão, o paciente, a família e a equipe, é de suma
importância para que a assistência proposta dê resultado.
É nesse cenário que emergem as possibilidades de atuação do assistente social em
equipe multiprofissional, no atendimento junto aos pacientes e seus familiares, o que
pressupõe uma mediação que permite uma relação mais efetiva e significativa, contribuindo,
então, para uma abordagem no sentido de melhorar a qualidade de vida dos pacientes que
estão fora das possibilidades terapêuticas de cura, a partir de intervenções que englobem a
problemática social.
Cabe, portanto, ao assistente social, como parte da equipe interdisciplinar, conhecer a
família, o paciente e os cuidadores. Para tanto, faz-se necessário traçar um perfil
socioeconômico e cultural, com o objetivo de conhecer a composição familiar, o local de
moradia, a renda, a religião, a formação, a profissão, a situação empregatícia dos membros,
bem como as condições da rede de suporte social. É necessário conhecer e compreender essa
família em seus limites e possibilidades e, por isso, a escuta e o acolhimento são ações
imprescindíveis, assim como o reconhecimento do momento adequado para a abordagem. É
preciso saber a maneira e o tempo certo de colher informações ou o momento adequado para
somente ouvir e acolher.
Nessa perspectiva, as intervenções do profissional de Serviço Social realizadas no
espaço sócio-ocupacional buscam promover a integração das atividades da vida diária do
paciente, cuidando para que haja a garantia da qualidade de vida nos momentos que precedem
a morte e auxiliando na manutenção do equilíbrio familiar sempre que possível, em uma
atuação coerente com o aparato jurídico que norteia a profissão.
De acordo com o CFESS (2010, p. 31-32),
as atribuições e competências são orientadas e norteadas por direitos e
deveres constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de
Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto
pelas(os) profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.
De acordo com Barroco e Terra (2012, p. 121), o assistente social, na sua prática
profissional, na relação que estabelece com os usuários do Serviço Social e com outros
profissionais, deve pautar sua conduta no reconhecimento da liberdade, que é o valor ético
central tanto do Código de Ética Profissional como do Projeto Ético Político, e “das demandas
políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais”.
Dessa forma, o trabalho do assistente social está em identificar as características do
paciente e da sua família, no sentido de subsidiar intervenções facilitadoras do acesso aos seus
direitos sociais e encaminhamentos para o acesso às políticas públicas. Para realizar a sua
ação, é também importante que ele conheça a instituição vinculada ao serviço de atenção em
cuidados paliativos. Dessa forma, o profissional irá se inteirar dos serviços disponíveis e dos
canais de encaminhamentos para o paciente, família e cuidadores. O profissional torna-se o
interlocutor das questões que se fazem presentes, sendo, portanto, necessário que ele saiba
criar a sua rede intrainstitucional para garantir o atendimento preciso ao paciente.
Diante do exposto, entende-se que o trabalho do assistente social em cuidados
paliativos consiste na viabilização da garantia da qualidade de vida do paciente nos seus
momentos finais, o que pressupõe a possibilidade de uma morte digna, e no auxílio à família
na manutenção do equilíbrio possível. Quando for o caso, também cabe a esse profissional o
fornecimento, aos familiares, de orientações burocráticas sobre o óbito.
O assistente social deve, portanto, trabalhar no sentido de articular o conhecimento
teórico e prático e os princípios éticos da profissão nas relações que estabelecem com o
paciente em fim de vida, visando compreendê-lo e respeitá-lo. Deve considerar a autonomia
do paciente, acolhendo as suas decisões, respeitando as suas escolhas e orientando quanto às
suas solicitações e recusas. Tudo isso em função da valorização da dignidade e da integridade
do ser humano.
Considerações finais
Na atualidade, a morte é temida e evitada, ou seja, o homem deixou de enxergar a
morte como algo que está inserido no contexto de sua vida. Ela passou a ser negada, virou um
tabu.
Dessa forma, percebe-se que a morte é vista apenas em seu sentido negativo, como um
fim do corpo físico. A partir do momento em que se possa a ter aceitação da morte como uma
possibilidade imutável, pode-se adquirir novas perspectivas diante desse fato.
No entanto, o movimento atual vai contra essa perspectiva. Uma grande parte da
humanidade foge da morte e se aliena no medo, aceitando somente a morte do outro.
Já em relação à origem e evolução dos cuidados paliativos, compreende-se que o
morrer não é apenas um fato biológico, mas um processo construído socialmente. Diante dos
avanços na medicina, houve um aumento do controle dos processos de doença e,
consequentemente, o prolongamento da vida, o que acentua ainda mais as dificuldades do ser
humano para lidar com as doenças terminais.
A humanização nos cuidados paliativos é fundamental para o processo de ampliação
do diálogo entre o profissional, o paciente e a família e é o que possibilita a integração e a
valorização dos vínculos de afetividade, respeito, responsabilidade e solidariedade.
Portanto, é nessa perspectiva que o assistente social, ao se inserir na equipe de
cuidados paliativos, deve atuar, como facilitador e interlocutor nas relações entre paciente,
família e equipe médica, trabalhando a realidade social de forma crítica, reflexiva e
propositiva, em busca de viabilizar a efetivação dos direitos.
O assistente social possui um papel predominante na concretização dessa nova forma
de cuidar, pois é essencial um olhar social que compreenda esse contexto. E a sua formação
possibilita trabalhar a realidade como um todo, em uma perspectiva de totalidade, atendendo
de forma integral paciente e família.
Referências
ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. História dos cuidados paliativos.
2009. Disponível em: <http://www.paliativo.org.br/ancp.php?p=oqueecuidados>. Acesso em:
21 set. 2013.
_______. Manual de Cuidados Paliativos. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2009.
_______. Critérios de qualidade para os cuidados paliativos no Brasil. MACIEL, M. G. S. et
al (orgs.). Rio de Janeiro: Diagraphic, 2006.
_______. O que são cuidados paliativos? Cicely Saunders e os cuidados paliativos modernos.
2009. Disponível em: <http://www.paliativo.org.br/ancp.php?p=oqueecuidados>. Acesso em:
29 set. 2013.
_______. Critérios de qualidade para os cuidados paliativos no Brasil. Maria Goretti Sales
Maciel et al.(Orgs.). Rio de Janeiro: Diagraphic, 2006.
ANDRADE, Letícia. Papel do assistente social na equipe de Cuidados Paliativos. In:
ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Manual de cuidados paliativos.
Rio de Janeiro: Diagraphic, 2009. Disponível em:
<http://www.nhu.ufms.br/Bioetica/Textos/Morte%20e%20o%20Morrer/MANUAL%20DE%
20CUIDADOS%20PALIATIVOS.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013.
BARROCO, Maria Lúcia Silva; TERRA, Sylvia Helena. Código de Ética do/a Assistente
Social comentado. Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. São Paulo: Cortez, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de
Humanização. Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/doc_base.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2013.
CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS
(CEBRID). O que são opiáceos/opióides? Disponível em:
<http://www.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/quest_drogas/opiaceos.htm>. Acesso em: 10 mai.
2013.
CFESS. Parâmetros para atuação de assistentes sociais na política de Saúde. Brasília, CFESS,
2010.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010.
DOYLE, Derek. Bilhete de Plataforma: vivências em Cuidados Paliativos.Trad. Marco Tullio
de Assis Figueiredo e Maria das Graças Mota Cruz de Assis Figueiredo. São Caetano do Sul:
Difusão, 2009.
FIGUEIREDO, Marco Tullio de Assis. Reflexões Sobre os Cuidados Paliativos no Brasil.
Revista Prática Hospitalar, São Paulo, ano VIII, n.47, p.36-40, set./out. 2006.
INSTITUTO NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Ministério da Saúde. Cuidados
Paliativos. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=474>. Acesso
em: 20 de nov. 2013.
KOVÁCS, Maria Júlia. Representações de Morte. In: KOVÁCS, Maria Júlia (org.). Morte e
desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.
KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
MACHADO, Mariana de Abreu. Cuidados Paliativos e a construção da Identidade Médica
Paliativista no Brasil. 2009. 101f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Fundação
Oswaldo Cruz, São Paulo, 2009.
MELLO, D. F. et al. Genograma e Ecomapa; possibilidades de utilização na estratégia de
saúde da família. Rev Brás Cresc Desenvol Hum, v.15, n.1, p.78-89, 2005.
MENEZES, Rachel Aisengart. Em busca da boa morte: antropologia dos cuidados paliativos.
Rio de Janeiro: Garamond: FIOCRUZ, 2004.
NUNES, Everardo Duarte. Saúde coletiva: história de uma idéia e de um conceito. Saúde e
Sociedade, v. 3, n. 2, p. 5-21, 1994.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Cuidados Paliativos. 2013. Disponível
em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=474. >. Acesso em: 10 mai. 2013.
PESSINI, L.; BERTACHINI, L. Humanização e Cuidados Paliativos. São Paulo: Loyola,
2006.
RODRIGUES, I. G. Cuidados Paliativos: análise de conceito. 2004. 200f. Dissertação
(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2004.
SANTOS, Cíntia Forcione dos. A Atuação do Assistente Social em Cuidados Paliativos:
Coletânea de textos sobre Cuidados Paliativos e tanatologia. Disponível em:
<http://www.ufpel.tche.br/medicina/bioetica/cuidadospaliativosetanatologia.pdf.>Acesso em:
13 out. 2013.