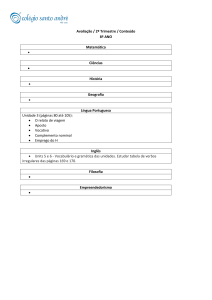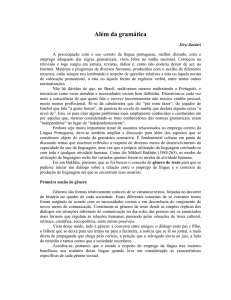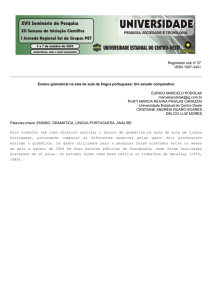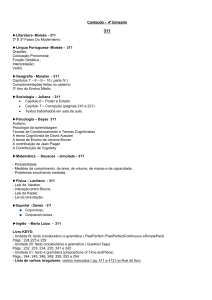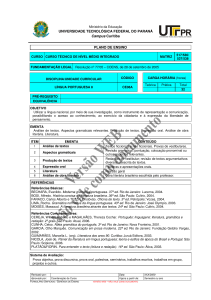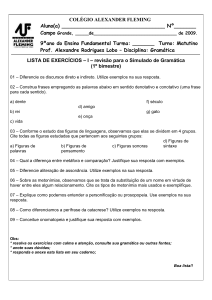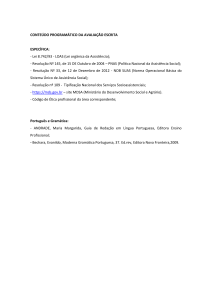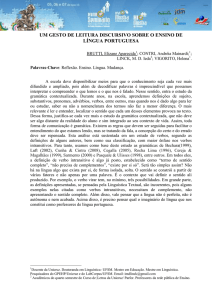![[IR/PEGAR/CHEGAR (E) V2] NA FALA E NA ESCRITA](//s1.studylibpt.com/store/data/004065330_1-15133f2daef79e96747d5ad15eb59b8a-768x994.png)
PERÍFRASE [IR/PEGAR/CHEGAR (E) V2] NA FALA E NA ESCRITA:
SUGESTÕES PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA COM BASE NO TEXTO
Maria Alice Tavares (PPgEL/UFRN)
[email protected]
Laralis Nunes de Souza (PIBIC/UFRN)
[email protected]
Josele Julião Laurentino (PIBIC/UFRN)
[email protected]
INTRODUÇÃO
Quando propõe a articulação dos processos de leitura, produção textual e
reflexão linguística para fornecer experiências ricas e variadas de emprego da gramática
da língua portuguesa, as escolas de nível fundamental e médio contribuem para que os
alunos tenham sua competência linguística ampliada, tornando-se cada vez mais aptos a
utilizar a língua de forma autônoma e crítica, tanto em sua modalidade oral quanto
escrita.
Fundamentadas no referencial teórico do funcionalismo norte-americano,
temos por objetivo fornecer subsídios para um trabalho com tópicos gramaticais que
seja baseado no texto, integrando as atividades de leitura, de escrita e de reflexão sobre
a língua. Nessa perspectiva, ilustramos, com o caso da perífrase [V1 (E) V2], como o
ensino de gramática pode ser criativo e instigante quando centrado no estudo de textos.
A seguir, descrevemos e exemplificamos a perífrase [V1 (E) V2]. Na
sequência, tecemos considerações sobre o ensino de gramática à luz do referencial
teórico funcionalista. Após, apresentamos sugestões para o trabalho com a perífrase [V1
(E) V2] na disciplina de língua portuguesa, considerando três eixos distintos do
processo de ensino-aprendizagem de gramática. Para finalizar, apresentamos nossas
considerações finais e listamos nossas referências bibliográficas.
1. A perífrase [V1 (E) V2]
Vejamos alguns exemplos da perífrase [V1 (E) V2] em textos nas modalidades
oral e escrita:
(1) Todo mundo votou no Tancredo. O Tancredo vai e morre, aí fica o Sarney pra
bagunçar toda a economia. (VOTRE; OLIVEIRA, 1995)
(2) Mas o ônibus já estava indo e ela começou a gritar e todo o ponto de ônibus assim
lotado, né? Ela começou a gritar pro motorista, mas ela estava um pouco longe. Aí o
motorista resolveu parar pra ela, né? E ela, com medo de correr, foi correndo com
vergonha, né? Não estava correndo tanto. Ela estava com sapato alto, que ela ia trabalhar.
E todo mundo lá no ônibus xingando o motorista: “Seu motorista, vamos embora, vamos
embora, vamos embora.” Não queriam esperar. E eu sei que quando ela correu, correu,
correu. Quando ela chegou lá- lá perto do ônibus, o motorista pegou e foi embora.
Deixou ela sozinha. E ela com a maior vergonha e todo mundo rindo da cara dela lá no
meio da rua e ela sem graça. (VOTRE; OLIVEIRA, 1995)
(3) Ele tava no chão, né? e o doutor Brown tava no- voando na nave. Eles se
comunicavam com walk-talk. Aí quando ele queimou- Aí começou a chover, né? aí
começou a soltar raios e tudo. Aí Martin chegou e disse: “Desça se não um raio vai
pegar o senhor e tudo, vai lhe derrubar,” né? Aí ele chegou e disse: “Espera aí que eu vou
descer.” Quando ia descer, a nave ia pousar, aí um raio atingiu a nave, aí desapareceu.
(CUNHA,1998)
(4) Uma vez (isso foi no ano retrasado, eu ainda ia fazer nove anos) a minha prima veio
aqui com uma colega que se chamava Janaína e que „tava toda vestida de vermelho. O
vestido tinha manga grande, era muito mais comprido que o vestido que a minha irmã e a
minha prima usavam, e sem nada de outra cor: só aquele vermelhão que todo mundo na
sala ficou olhando. E aqui na testa, feito jogador de tênis, a Janaína botou uma tira do
vestido que ela estava usando.
Aí eu fui e me apaixonei por ela. (NUNES, Lygia Bojunga. O meu amigo pintor. 7ª
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. p. 12)
(5) Seis da tarde como era de se esperar
Ela pega e me espera no portão
Diz que está muito louca pra beijar
E me beija com a boca de paixão... (Chico Buarque, Cotidiano, 1972)
(6) Essa minha mulher... Não sei pra que tanto desespero! Afinal, é apenas uma boneca!
Essa é a vantagem de ter uma única filha! Basta chegar e comprar um presentinho só!
(Revista Mônica Natal, n° 8, 2005)
Na perífrase [V1 (E) V2], a conjunção E é opcional, o segundo verbo (V2) é o
verbo lexical principal e o primeiro verbo (V1) é um verbo aspectualizador global cuja
função é apresentar o evento referido pelo segundo verbo como um todo indivisível,
pontual, momentâneo, repentino, súbito, surpreendente, inesperado, rápido, veloz ou até
instantâneo. Embora nem todos esses significados estejam presentes simultaneamente a
cada ocorrência, a sobreposição de dois ou mais deles é comum.
IR, PEGAR e CHEGAR são os verbos que, no português brasileiro
contemporâneo, mais frequentemente desempenham o papel de verbo aspectualizador
na perífrase [V1 (E) V2].1 Nessa função, IR, PEGAR e CHEGAR não selecionam
argumentos, sendo a estrutura argumental da perífrase atribuída ao segundo verbo.
Como verbos aspectualizadores, IR, PEGAR e CHEGAR exibem marcas de tempo,
aspecto, modo, pessoa e número idênticas às do verbo principal, e comportam-se como
uma espécie de auxiliar.
Em certos contextos, é possível observar que o falante/escritor sinaliza, através
do uso desses verbos, que há uma tomada de iniciativa por parte do participante agente
(no papel sintático de sujeito da perífrase [V1 (E) V2]) para concretizar o evento em
causa. Ou seja, o agente toma a iniciativa (em geral súbita) de fazer algo e
imediatamente o faz, sendo essa informação codificada, através da perífrase [V1 (E)
V2], em um bloco único, o que ressalta o caráter global do evento.
A esse respeito, apontamos que Borba (2002), em seu Dicionário de usos do
português do Brasil, lista „tomar iniciativa‟ entre os significados do verbo PEGAR,
apresentando os seguintes exemplos: “mãe pegou e deu uma surra no garoto”, “Vê uma
placa assim: “não cuspa no chão”, brasileiro pega e cospe na placa”. Contudo, em vários
1
Outros verbos, como VIR, VIRAR e CATAR, também são empregados como indicadores de aspecto
global na perífrase [V1 (E) V2].
casos, não é possível atribuir tomada de iniciativa ao referente do nome que
desempenha o papel de sujeito na perífrase [V1 (E) V2], como no exemplo (7):
(7) Aí essa mulher pegou ganhou uma- um menino. Pegou e morreu. Aí depois ela ficou
grávida de novo. Aí ganhou uma menina e ficou. (VOTRE; OLIVEIRA, 1995)
A perífrase [V1 (E) V2] é de uso frequente no português brasileiro,
especialmente na fala, mas também aparece na escrita, em gêneros variados, como
romances infanto-juvenis, entrevistas publicadas em jornais e revistas, histórias em
quadrinhos, tirinhas, letras de música, blogs.
Por predominar em textos marcados pela informalidade, essa perífrase
dificilmente é abordada na escola, que tende a se deter em textos de registros mais
formais – isso quando textos são trabalhados, pois, não raro, os alunos defrontam-se
mais com regras e nomenclaturas e muito pouco com atividades de leitura e produção
textual.
No entanto, abrir espaço, nas aulas de língua portuguesa, para fenômenos
gramaticais não costumeiramente trabalhados na escola, em geral por serem típicos de
contextos de interação informais, como é o caso da perífrase [V1 (E) V2], significa abrir
espaço para a compreensão e a apreciação não apenas da fala cotidiana, mas também da
literatura, da música, do jornalismo, entre outros domínios em que esses fenômenos
podem aflorar.
2. Funcionalismo e ensino
No âmbito do funcionalismo norte-americano, a gramática é entendida como
um processo emergente e variável, fruto da negociação e da adaptação, no discurso,
entre a intenção do falante e a interpretação do ouvinte, com base em suas experiências
particulares com a língua e em sua avaliação do quadro de interação em que estão
engajados no momento (HOPPER, 1987, 1998, 2008). A necessidade de ajuste dessas
diferentes experiências leva à negociação de estratégias de construção do discurso à
medida que a troca comunicativa avança. Como consequência das adaptações que
sempre se fazem necessárias, podem surgir estratégias inovadoras que, se forem
frequentemente repetidas, fixam-se como construções gramaticais.
Além das inovações, que surgem e são assimiladas através do uso, o processo
de aquisição da língua em si também se desenrola como consequência das interações
comunicativas em que se envolve o ser humano desde seu nascimento. A cada troca
comunicativa, as gramáticas individuais estão sujeitas a sofrer modificações pela
inclusão de novos modos de organizar o discurso, ou, ao menos, por alterações na
frequência com que o indivíduo passa a optar por certo modo de organização. Os
padrões gramaticais emergem, portanto, da rede formada pela experiência de um
usuário com a língua.
Em decorrência, um dos papéis do professor de língua portuguesa é o de atuar
como orientador do processo de construção e reconstrução do saber gramatical dos
alunos, incentivando-os a vivenciarem a língua em suas múltiplas faces, em situações de
uso real. Desse modo, estará criando oportunidades para a emergência de padrões
gramaticais heterogêneos, e para o refinamento das estratégias de manejo desses
padrões, com a ampliação da capacidade de adequá-los a situações de uso variadas.
Uma vez que a gramática de cada um passa por alterações à medida que as
experiências vão se somando, quanto mais intensas e mais variadas forem as situações
de uso a que for exposto o indivíduo, mais múltipla será sua gramática e maior será sua
habilidade de ajustá-la conforme demandarem as situações comunicativas de diversas
ordens – orais e escritas, mais e menos formais, envolvendo gêneros textuais variados
(cf. TAVARES, 2007; TAVARES; GÖRSKI, 2006).
Contudo, o ensino de língua portuguesa tem, em geral, tratado as questões
gramaticais de modo artificial, distanciando-as das situações de uso, e, assim, deixando
de considerar justamente os aspectos centrais de sua natureza: a gramática existe
somente quando utilizada, as relações entre formas e funções dependem da gama de
fatores que interferem a cada interação comunicativa. A gramática apresentada aos
alunos não costuma passar de uma coleção de rótulos e propriedades de itens
gramaticais (verbos, nomes, pronomes, conjunções, orações coordenadas e subordinadas
etc.) e os papéis sintáticos vinculados a eles (sujeito, predicado, adjunto etc.),
realizando-se atividades de identificação e classificação, mas raramente utilizando e
analisando tais itens e funções em seu habitat, o texto.
Além de desvinculadas do uso, as unidades gramaticais tendem a ser
trabalhadas de modo compartimentado: classes de palavras e funções sintáticas são
focalizadas uma a uma, isoladas das demais, como se não contribuíssem todas ao
mesmo tempo para a construção do texto e, ao fazê-lo, não interagissem uma com a
outra. Acrescente-se também que os tópicos gramaticais geralmente são estudados no
âmbito de orações isoladas, perdendo-se a oportunidade de levar os alunos a perceber
que as relações de sentido não se reduzem à oração e sim perpassam o texto como um
todo.
Além disso, os processos de leitura e de escrita, a oralidade, a variação e a
mudança linguística não têm, muitas vezes, espaço na sala de aula. Todavia, o ensino de
língua materna deve proporcionar o pensar sobre a língua em suas realizações diversas.
Considerando que a língua é heterogênea, é cabível promovermos na escola atividades
de análise linguística que, além da variedade padrão, abarquem outras variedades da
língua, levando em conta as relações entre formas e funções determinadas pelo uso em
diferentes situações de comunicação. Para tanto, o trabalho com o texto, tanto oral como
escrito, é indispensável.
A queixa de alunos com relação às aulas de língua portuguesa é comum. Eles
alegam que é um tédio estudar uma infinidade de regras simplesmente para obter uma
nota ao final de cada bimestre. Não podemos negar que esses alunos têm razão, porque
as normas gramaticais descontextualizadas que estudam na escola não raro estão muito
distantes das normas gramaticais com as quais os alunos de fato convivem e empregam
cotidianamente. Alguns professores, por sua vez, não deixam claro para os alunos que
as normas prescritas pela escola pertencem a um determinado tipo de gramática que se
faz necessária em certas situações; ao contrário disso, impõem-nas como sendo
essenciais para se “falar e escrever corretamente” em todas as ocasiões. Entretanto, os
alunos escrevem e leem diariamente, por exemplo, em chats pelos sites de
relacionamento e ao enviar torpedos pelo telefone celular, gêneros textuais que os fazem
desconsiderar muito do que estudam na escola com relação ao uso da língua.
O professor de língua portuguesa não deve se limitar à metalinguagem, que é a
descrição e identificação dos elementos da língua, mas ultrapassar esse nível de estudo
rumo ao nível funcional, considerando as variações formais e semânticas pelas quais as
palavras passam dependendo do contexto comunicativo. Interessa aos usuários de uma
língua conhecer não só os itens lexicais e gramaticais que a compõem, mas também a
função e o significado desses itens, ou seja, sua serventia nas práticas sociais que
envolvem o uso da língua.
Cada situação comunicativa exige formas linguísticas específicas. Isso se
aplica tanto à fala quanto à escrita. E os alunos precisam conhecer essas diferentes
formas para melhor se adequarem às diversas situações de uso da língua. Relacionada a
isso está a importância de se abordar a variação linguística na sala de aula. Até mesmo o
texto escrito, tido como mais conservador, por causa do vínculo com a ortografia oficial,
varia conforme a situação de comunicação. Assim como falar, “[...] escrever é,
simultaneamente, inserir-se num contexto qualquer de atuação social e pontuar nesse
contexto uma forma particular de interação verbal” (ANTUNES, 2009, p. 209). Então, é
engano privilegiar, no ensino, normas da língua padrão fora de contexto e estruturas
rígidas às quais os textos têm de se adequar. Os jovens se deparam com textos diversos,
a exemplo de propagandas publicitárias, entrevistas, piadas, poemas, notícias,
reportagens, crônicas, romances, e-mails, blogs, chats etc., com usos diferenciados das
formas linguísticas, e precisam compreender cada um deles. Posteriormente, poderão
estar diante desses jovens, com mais frequência, ensaios e artigos acadêmicos,
monografias e dissertações.
A escola não deve apenas proporcionar aos estudantes o domínio da gramática
normativa para usarem nas situações mais formais, mas também proporcionar o
conhecimento das demarcações socioculturais referentes ao uso da língua. Se no torpedo
escrevem “vc”, “vlw” e “tbm”, que sejam conscientes de que, numa carta-argumentativa
ao presidente comunitário, por exemplo, ou na redação do vestibular, terão de utilizar
outras formas linguísticas de que são conhecedores. E se leem na letra de uma música
“Me abraça” ou “Ela pega e me espera no portão”, que sejam conscientes dos usos que
são dados ao pronome oblíquo “me” e ao verbo “pegar” nesses casos.
O estudo de gramática só será significativo quando o professor tiver uma
perspectiva de ensino de língua portuguesa abrangente, “centrada na língua enquanto
atuação social, enquanto atividade e interação verbal de dois ou mais interlocutores e,
assim, enquanto sistema-em-função, vinculado, portanto às circunstâncias concretas e
diversificadas de sua atualização” (ANTUNES, 2003, p. 41). Um professor com essa
visão do ensino de língua certamente será atento às oportunidades e necessidades
apresentadas pelos alunos para a introdução de novos temas a serem discutidos na sala
de aula, e é daí mesmo que surgirá a oportunidade de se trazer para os estudantes
tópicos geralmente não abordados na escola, como a perífrase [V1 (E) V2], que, como
qualquer tópico gramatical, deverá ser analisada sempre em textos, ou seja, em unidades
linguísticas que tenham sentido real para os discentes, e que, por essa razão, facilitem a
emergência, na gramática individual de cada aluno, de padrões heterogêneos, adaptáveis
para as mais diferentes circunstâncias da vida prática.
3. Abordagem a fenômenos gramaticais na escola: três eixos distintos
Fornecemos, a seguir, algumas sugestões de como a gramática da língua
portuguesa pode ser trabalhada nas escolas de nível fundamental e médio de um ponto
de vista funcionalista. Organizamos essas sugestões em três eixos distintos, que
requerem uma abordagem à gramática sempre em “relação a”, isto é, sempre tendo
como objetivo o estabelecimento de vínculos entre o tópico gramatical estudado e
outros fenômenos da língua, ao invés da mera análise de um tópico esgotada em si
mesma.
Ilustramos as propostas referentes a cada um dos três eixos do processo de
ensino-aprendizagem de gramática com o caso da perífrase [V1 (E) V2], mas essas
propostas podem ser adaptadas para inúmeras categorias gramaticais, como verbos
auxiliares, conjunções, preposições, pronomes etc.
3.1 Primeiro eixo: diferentes acepções
O primeiro eixo do processo de ensino-aprendizagem de gramática giraria em
torno da comparação entre diferentes acepções, usos, peculiaridades sintáticas,
semânticas e pragmáticas de uma forma gramatical. No trabalho com a perífrase [V1 (E)
V2], professores e alunos podem pesquisar juntos, em gêneros textuais distintos, de fala
e de escrita, as várias funções que os verbos IR, PEGAR e CHEGAR desempenham,
tanto no âmbito lexical quanto no gramatical. Para tanto, o professor pode solicitar aos
alunos que levem para a escola textos diversos, de maior e menor formalidade, em que
esses verbos se apresentam, e também podem ser consultados textos na internet.
Nessa atividade, parte-se das palavras (formas linguísticas) IR, PEGAR e
CHEGAR para se chegar a suas inúmeras possibilidades de realização. O próximo passo
seria o estudo do uso aspectualizador global desses verbos em relação às outras
diferentes acepções que esses mesmos significantes podem assumir, bem como em
relação às características sintáticas, discursivas, pragmáticas, estilísticas pertinentes ao
uso de cada uma dessas acepções.
Exemplificamos mais detidamente com o verbo PEGAR. Vejamos os exemplos
a seguir, a maioria deles obtida em uma rápida consulta na internet2:
(8) “Quem nunca pegou o Celular antes dele cair no chão não sabe o que é ser NINJA!”
(9) “Peguei o bonde andando...”
(10) “O bicho vai pegar!”
(11) “Fluzão muito bem acompanhado sai pra pegar umas ondas.”
(12) “Te peguei!”
(13) “Pegou a mulher na cama com outro.”
(14) “Compressor pegou fogo.”
(15) “A menina pegou dançar (...).”
(16) “Beatriz pegou 19 anos (de prisão) mas advogado recorre outra vez.”
(17) “Daí eu menti que morava muito longe dali e ia deixar o cachorro lá na veterinária e
ia lá pegar mais dinheiro mais daí ele pegou e dedou assim mesmo.”
(18) “Daí a gente pega e faz o melhor que puder dentro das regras.” 3
2
Optamos por um recorte curto dos exemplos por questão de espaço. Para as atividades aqui
propostas, é necessário que se trabalhe com textos completos e não com orações isoladas.
3
As referências dos exemplos são, respectivamente:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Disponível em < twitter.com/guedestiago/status/66496904552398848 >. Acesso em 05 jun
2011.
Disponível em < http://pegaobonde.com/?p=1159 >. Acesso em 05 jun 2011.
Disponível em < charges.uol.com.br/.../cotidiano-o-bicho-vai-pegar/>. Acesso em 05 jun 2011.
Disponível em < blogs.lancenet.com.br/charges/.../fluzao-sai-pra-pegar-umas-ondas-muitobem-acompanhado/>. Acesso em 05 jun 2011.
Disponível em < www.duniverso.com.br/charges-te-peguei-rice/ >. Acesso em 05 jun 2011.
Disponível em < www.youtube.com/watch?v=1mBhQ2NUWSk>. Acesso em 05 jun 2011.
Disponível em < planetabuggy.forumeiros.com/t2193-compressor-pegou-fogo>. Acesso em 05
jun 2011.
Disponível em < www.vejatv.com/video-6410.A-menina-pegou-dancar-em-Teia-Cam-porpai.html >. Acesso em 05 jun 2011.
Com esses exemplos de diferentes usos de PEGAR, cada um com
características morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas particulares, seria
possível, por exemplo, se começar com os alunos a produção de um pequeno dicionário
em que constariam também outros lexemas da língua portuguesa. Como um verbete,
PEGAR deveria ser classificado pelos alunos quanto aos níveis de análise já
mencionados e, conforme tivessem contato com um uso desse verbo ainda não
contemplado, os discentes iriam ampliando seu pequeno mas significativo compêndio,
que também poderia conter informações sobre se PEGAR foi observado em contexto
formal ou informal de fala ou de escrita. Além de proporcionar aos alunos a experiência
de produção de um dicionário e de colocá-los em contato com o gênero verbete, essa
atividade seria uma oportunidade para o trabalho com a criatividade, com a síntese (dar
um conceito em poucas palavras não é nada fácil!), com a diferença entre características
e funções (um verbete deve responder primeiro a pergunta “o que é?” e não “para que
serve?”), com o trabalho e discussão em grupo etc.
3.2 Segundo eixo: função sintático-semântica
O segundo eixo do processo de ensino-aprendizagem de gramática giraria em
torno da função sintático-semântica exercida por PEGAR como aspectualizador global.
Nesse caso, esse verbo seria estudado em relação a outros verbos que exercem a mesma
função sintático-semântica na perífrase [V1 (E) V2], como IR, VIR, VIRAR, CHEGAR
e CATAR. Seria possível, ainda, o estudo comparativo da perífrase [V1 (E) V2] em
relação às locuções verbais cujos verbos auxiliares sejam aqueles elencados pelas
gramáticas como verbos auxiliares modais ou aspectualizadores (cf. BECHARA, 2010,
p. 206-208; PERINI, 2003, p. 76-77).
Como um primeiro passo, os alunos podem ser estimulados a refletir sobre
ocorrências de PEGAR e outros aspectualizadores globais em textos orais e escritos de
diferentes gêneros e graus de formalidade variados – novelas televisivas, entrevistas
jornalísticas orais e escritas, notícias publicadas em jornais e revistas, telefonemas,
cartas, piadas, conversações mais e menos formais, e-mails, tirinhas, contos, romances
infanto-juvenis, chats, blogs, mensagens no twitter etc. – para então analisá-los
comparativamente quanto a suas características.
Nessa análise, os alunos podem responder a questões como:
(a) Para que servem os verbos IR, PEGAR e CHEGAR (e outros verbos
aspectualziadores globais) nessa perífrase?
(b) Essa perífrase aparece apenas na modalidade oral da língua?
(c) Em que gêneros textuais orais e escritos essa perífrase parece ser mais frequente?
Em atividades desse tipo, são levados em conta a experiência particular de cada
aluno com a língua e o que eles observam nos textos, a fim de permitir que a turma
vivencie e, ao mesmo tempo, reflita sobre os usos dados aos verbos indicadores de
16. Disponível
em
<
http://www.oestegoiano.com.br/site/index.php/component/content/article/3-ultimasnoticias/6005-beatriz-pegou-19-anos-mas-advogado-recorre-outra-vez>. Acesso em 05 jun
2011.
17. Disponível em < http://www.racaboxer.com.br/blog/2007-04-03/henrique-um-amigo-donosso-site-e-sua-tristeza-com-a-partida-do-seu-melhor-amigo.html>. Acesso em 26 jul 10.
18. Disponível em < http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1214521>. Acesso em 14
de set 2011.
aspecto global por falantes e escritores do português atual. Essa atividade de reflexão,
por ser baseada na análise de textos orais e escritos de diferentes gêneros com graus de
formalidade variados, contribui para que os alunos aprimorem sua habilidade de
adequar os verbos aspectualizadores globais a situações comunicativas as mais diversas
possíveis.
Também é possível propor a realização de um trabalho mais abrangente, em
relação a outras categorias gramaticais, o que poderia se dar com a formação de grupos
de alunos, os quais seriam, cada um, responsáveis por criar um paradigma. O docente
pode entregar a cada grupo textos com algum item linguístico destacado. Os itens em
destaque recebidos pelo grupo devem ser participantes de um mesmo paradigma, cujo
critério de formação deverá ser depreendido pelos estudantes. Os discentes poderão não
saber o nome convencional dado ao paradigma formado, mas deverão ser estimulados a
levantarem as características comuns aos itens destacados que os colocam num mesmo
conjunto. No caso de PEGAR aspectualizador global, por exemplo, o professor poderia
selecionar, além de um texto que contivesse esse verbo, textos que contivessem outros
aspectualizadores globais, como IR, VIR, VIRAR, CHEGAR e CATAR, onde esses
verbos estariam em destaque. Nesse caso, alguns dos pontos congruentes entre as
formações a serem identificados pelos alunos seriam: (i) todos os verbos em destaque
compõem uma construção do tipo [V1 (E) V2], (ii) o primeiro verbo (V1) não tem o
mesmo sentido de quando utilizado como verbo pleno, (iii) o segundo verbo (V2) tem
sentido lexical, (iv) o primeiro verbo atribui ao segundo verbo o sentido de
“inesperado”, “rápido”, “surpreendente” etc., entre outras possibilidades. Paralelamente
a isso, outros paradigmas poderiam ser construídos pelos alunos, como o paradigma dos
substantivos abstratos, o das preposições espaciais, o dos advérbios de modo, o das
gírias e assim por diante, conforme o professor julgue necessário e produtivo.
3.3 Terceiro eixo: equivalentes semântico-pragmáticos
O terceiro eixo do processo de ensino-aprendizagem de gramática giraria em
torno da função semântico-pragmática de IR, PEGAR e CHEGAR como
aspectualizadores globais. Nessa proposta, os itens linguísticos em questão seriam
estudados em relação a seus possíveis equivalentes semântico-pragmáticos. Uma
pergunta que poderia dar o mote dessa abordagem seria “Que outras palavras ou
construções linguísticas equivalem semântico-pragmaticamente a IR, PEGAR e
CHEGAR aspectualizadores globais?”.
Uma atividade que pode contribuir para que os alunos cheguem a uma resposta
a essa pergunta é a de substituição, em textos variados, de IR, CHEGAR e PEGAR por
outros elementos linguísticos capazes de fornecer indicações similares. Por exemplo, em
uma oração como “Ele pegou e morreu”, é possível empregar, ao invés do verbo
aspectualizador PEGAR, advérbios do tipo repentinamente, subitamente,
surpreendentemente (por exemplo, em “Repentinamente ele morreu”, “Subitamente ele
morreu” ou “Surpreendentemente ele morreu”), ou construções do tipo contrariando as
expectativas (“Contrariando minhas expectativas, ele morreu”). Em uma atividade desse
tipo, é muito importante orientar os estudantes a avaliar implicações semânticopragmáticas e morfossintáticas de cada substituição. Que alterações semânticas há? Que
alterações pragmáticas há? O que muda no plano morfossintático?
Todavia, em atividades desse tipo, é preciso ter cuidado para que os alunos não
fiquem com a impressão de que é errado empregar os verbos IR, PEGAR e CHEGAR
como aspectualizadores globais. O objetivo dessas atividades não é outro senão o de
permitir que os alunos entrem em contato com diferentes modos de expressar noções de
significado vinculadas ao aspecto global. Dependendo do gênero textual, especialmente
na fala e na escrita informal, os verbos aspectualizadores globais são comuns, e podem,
futuramente, passar a ser mais e mais recorrentes em textos escritos de maior
formalidade também (cf. TAVARES, 2008). Não compete à escola barrar a mudança
linguística (embora não raro ela se empenhe nessa tarefa), e sim apresentar ao aluno as
formas linguísticas em seus contextos de uso e todas as implicações desse uso, o que
envolve desde quem usa, quando usa, por que usa, em que gêneros textuais e
modalidades da língua, com que efeito, com que intenção, e qual avaliação a
comunidade de fala tende a ter a respeito desses usos na atualidade.
Seria viável ainda a realização de uma atividade em que fosse trazida à sala de
aula uma informação do tipo “Aí eu peguei e nasci!”4, para que, levantando-se com os
alunos as características semânticas dos verbos aspectualizadores globais, sobretudo a
marca de iniciativa própria (indicadora de agentividade), fosse problematizada a
aparente incoerência de construções do tipo peguei e nasci, uma vez que nascer não é
um ato voluntário, dependente da vontade de quem nasce. Essas considerações não
poderiam, entretanto, ser feitas sem que, em algum momento, se falasse sobre o efeito
estilístico cômico que tal construção atribui ao texto de cujo título participa.
Ainda contemplando esse tópico, seria possível a seleção de um texto como o
que segue:
(19) “Tipo eu minha namorada tivemos uma discussão ai ela pegou e ficou com uma
menina la q eu odeio, agora ela diz q ta arrependida q fez isso de cabeça quente, mais eu
não consigo perdoar ela,será q um dia eu vou conseguir perdoar ela?Pois eu ainda amo
ela” 5
Esse texto foi extraído de um site em que qualquer pessoa cadastrada pode
inserir uma dúvida ou dilema de qualquer natureza e esperar as sugestões ou possíveis
soluções vindas de outros internautas, as quais, assim como as perguntas, são bastante
informais, sem relação obrigatória com dados cientificamente comprovados. Em posse
desse texto, o professor poderia apresentar aos alunos outros contextos enunciativos e
solicitar a eles que reformulassem a questão de forma mais adequada aos contextos
apresentados, os quais poderiam ser: uma consulta ao psicólogo, uma conversa com os
pais, uma confissão ao padre, uma consulta à cartomante, um julgamento num tribunal,
uma conversa com uma criança, uma carta a uma revista do tipo “Capricho” etc.
CONCLUSÃO
Neste texto, buscamos fornecer subsídios da abordagem funcionalista ao ensino
de gramática da língua portuguesa, em especial no que diz respeito à realização, nas
escolas de nível fundamental e médio, de atividades de análise linguística pautadas na
relação entre gramática e contexto de uso, relação essa que sempre deve ser considerada
ao se lidar com textos na escola, tanto na perspectiva da reflexão sobre os aspectos
gramaticais da língua quanto na perspectiva da produção e interpretação textual.
4
Essa oração é título de um texto autobiográfico cômico. Disponível
http://educacao.uol.com.br/portugues/ult1693u24.jhtm >. Acesso em 01 ago 2011.
5
em
<
Disponível em < http://www.formspring.me/pepetit/q/226188145857684580 >. Acesso em 01 ago
2011.
No que diz respeito ao ensino de quaisquer tópicos gramaticais, incluindo os
verbos aspectualizadores globais, a prioridade deve ser adotar uma prática centrada na
orientação dos alunos para a leitura e a produção textual, acompanhadas de reflexões
sobre o funcionamento da gramática da língua a fim de que melhor a compreendam e,
assim, passem a empregá-la com eficácia em textos falados e escritos necessários em
situações variadas de interlocução. Atividades como as sugeridas na seção 3 podem
estimular e desafiar o espírito crítico e reflexivo dos estudantes no que diz respeito a
questões gramaticais, auxiliando-os a se tornarem usuários competentes da língua.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. 2ª ed. São Paulo:
Parábola, 2003.
ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola,
2009.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2004.
______. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2010. p. 192-263.
BORBA, Francisco S. Dicionário de usos do português do Brasil. São Paulo: Ática,
2003.
CUNHA, Maria Angélica Furtado da (Org.). Corpus Discurso & Gramática. Natal:
EDUFRN, 1998.
HOPPER, Paul John. Emergent grammar. BLS, v. 13, p.139-157. 1987.
______ Emergent grammar. In: TOMASELLO, Michael (Ed.). The new psychology of
language. v. 1. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1998. p. 155-176.
______ Emergent serialization in English: pragmatics and typology. In: GOOD, Jeff.
(Ed.). Language universals and language change. Oxford: Oxford University Press,
2008. p. 253–84.
PERINI, Mário Alberto. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 2003.
TAVARES, Maria Alice. Os conectores E, AÍ e ENTÃO na sala de aula. In: CUNHA,
Maria Angélica Furtado da; TAVARES, Maria Alice (Orgs.). Funcionalismo e ensino
de gramática. Natal: Ed. da UFRN, 2007. p. 87-115.
_____ Perífrases [V1 (E) V2] em gêneros escritos: propostas para um ensino de
gramática baseado no texto. Linguagem & Ensino, v. 11, n. 2, p. 329-347, jul./dez.
2008.
_____; GÖRSKI, Edair M. In: SILVA, Camilo Rosa; HORA, Dermeval D.;
CHRISTIANO, Maria Elizabeth Afonso (Orgs.). Linguística e práticas pedagógicas.
Santa Maria: Palotti, 2006. p. 127-148.
VOTRE, Sebastião; OLIVEIRA, Mariângela Rios (Coords.). A língua falada e escrita
na cidade do Rio de Janeiro. 1995. Impresso.
![[IR/PEGAR/CHEGAR (E) V2] NA FALA E NA ESCRITA](http://s1.studylibpt.com/store/data/004065330_1-15133f2daef79e96747d5ad15eb59b8a-768x994.png)