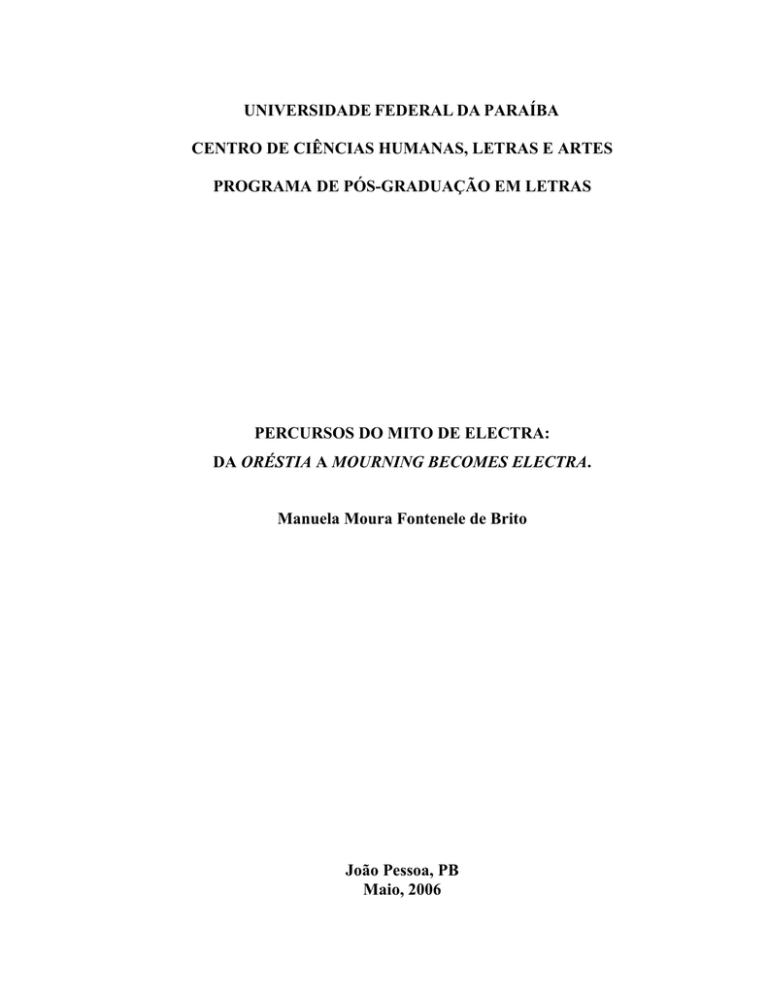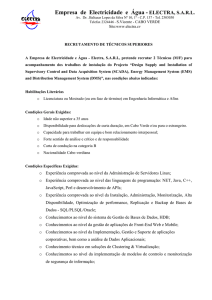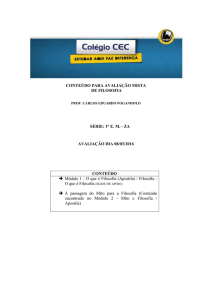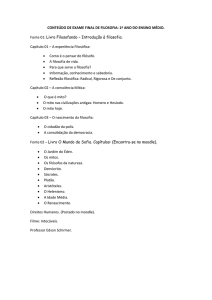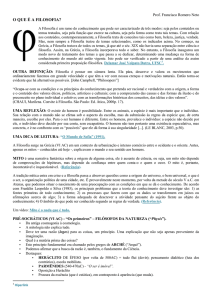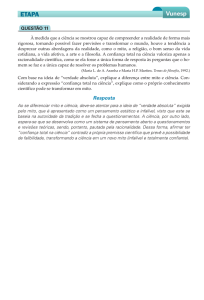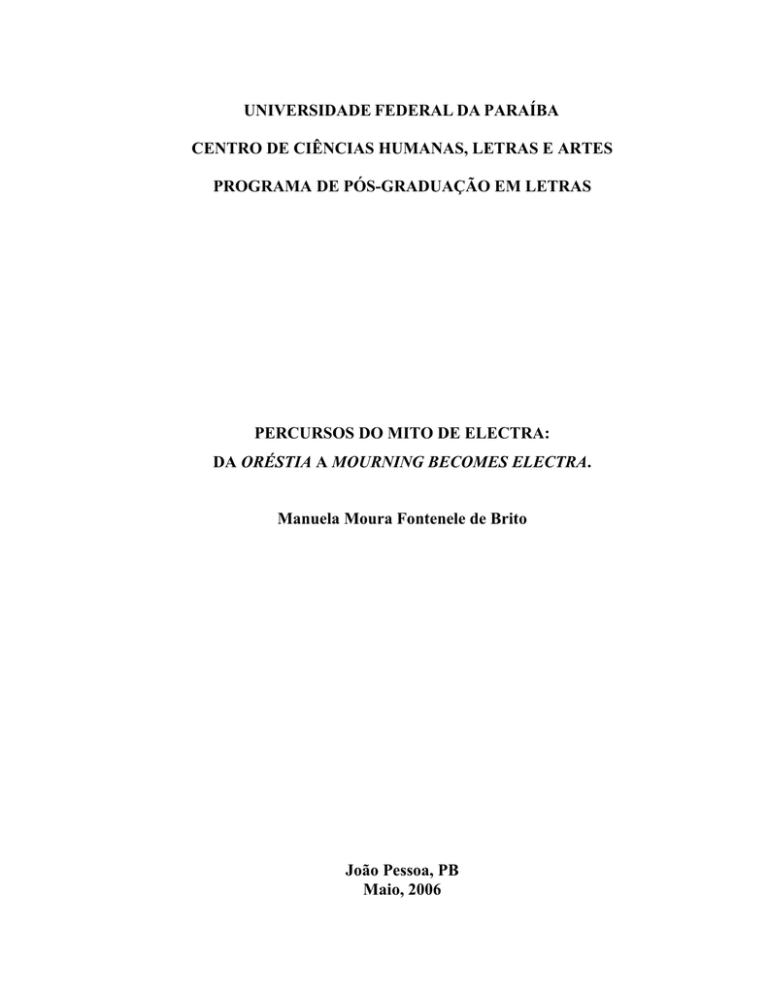
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
PERCURSOS DO MITO DE ELECTRA:
DA ORÉSTIA A MOURNING BECOMES ELECTRA.
Manuela Moura Fontenele de Brito
João Pessoa, PB
Maio, 2006
MANUELA MOURA FONTENELE DE BRITO
PERCURSOS DO MITO DE ELECTRA:
DA ORÉSTIA A MOURNING BECOMES ELECTRA.
Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Letras do Centro
de Ciências Humanas, Letras e Artes da
Universidade Federal da Paraíba, como
requisito parcial para a obtenção do
título de Mestre em Letras (área de
concentração: Literatura e Cultura).
Prof. Dr. Diógenes André Vieira Maciel - Orientador
João Pessoa, PB
Maio, 2006
PERCURSOS DO MITO DE ELECTRA:
DA ORÉSTIA A MOURNING BECOMES ELECTRA.
Por
MANUELA MOURA FONTENELE DE BRITO
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras do Centro de Ciências
Humanas, Letras e Artes da Universidade
Federal da Paraíba, como requisito parcial para
a obtenção do título de Mestre em Letras (área
de concentração: Literatura e Cultura),
aprovada, em 30/05/06, pela Banca
Examinadora formada por:
Prof. Dr. Diógenes André Vieira Maciel/UFPB – Orientador
Profa. Dra. Valéria Andrade/UFPB – Examinadora
Profa. Dra. Íris Helena Guedes de Vasconcelos/UFCG - Examinadora
AGRADECIMENTOS
Muitos encaram a defesa de uma dissertação como uma vitória, mas não vejo
este momento dessa forma, mas, sim, como o ponto culminante de uma caminhada
que teve início há muitos anos atrás e também como o ponto de partida para uma
outra caminhada que se estenderá por muitos anos ainda.
Chegar até aqui não foi fácil. Os dois anos do mestrado foram cheios de altos e
baixos, momentos de felicidade, tristeza, desespero que, com certeza, valeram a pena.
Essa jornada não teria sido possível sem o apoio de muitas pessoas a quem devo meus
sinceros e carinhosos agradecimentos: minha mãe, Lucy; minha irmã, Mariana; minha
tia, Nilza (estas três pessoas foram fundamentais); meu namorado, Marcello, por todo
o apoio e compreensão; Liane Schneider e Lauro Martins, grandes amigos!; Diógenes
Maciel, meu orientador e amigo que teve a paciência de me agüentar; Milton Marques
Jr., professor e querido amigo que despertou em mim a paixão pelos gregos; Elisalva
Madruga, coordenadora do PPGL; e a todos os meus amigos que contribuíram para a
realização deste trabalho.
RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo comparativo entre duas tragédias: a Oréstia,
trilogia grega antiga do século V a. C. escrita por Ésquilo, e Mourning becomes Electra
(Electra enlutada), trilogia norte-americana do século XX, escrita por Eugene O’Neill.
Com o objetivo de verificar como foi feita a reelaboração de um mito antigo – o mito
de Electra, inserido dentro de um mito maior, o dos Atridas – resolveu-se tomar como
objeto de estudo a segunda peça de cada trilogia, Coéforas, da trilogia esquiliana, e Os
perseguidos, de O’Neill. Como parte desse estudo também se verificou a possibilidade de
se fazer uma tragédia moderna a partir de uma tragédia antiga, uma vez que o conceito
de “trágico” é muito discutido hoje, com alguns teóricos preferindo falar em drama
moderno por causa do sentido comum que a palavra “trágico” passou a ter, enquanto
outros sustentam que é preciso saber separar os dois sentidos. Este trabalho se
fundamenta na leitura das teorias da tragédia clássica e da moderna, além de um estudo
do panorama do teatro norte-americano na primeira metade do século XX e na fortuna
crítica das obras estudadas. Aliado a isso, fez-se um estudo do mito e suas
representações, procurando-se entender como ele era visto na Grécia Antiga e como é
visto na modernidade. O estudo foi aprofundado fazendo-se uma análise comparativa
das personagens Electra/Orestes, da primeira peça, e Lavínia/Orin, da segunda, com
base nas suas relações e nas relações deles com a figura materna, elo entre os irmãos.
Na primeira peça, o personagem Orestes está em primeiro plano, o que é invertido na
segunda peça em que a personagem Lavínia domina toda a trilogia. .
Palavras-chave: tragédia, trágico, mito, Electra, drama moderno.
6
ABSTRACT
The present work presents a comparative study of two tragedies: Orestia, an
ancient Greek tragedy from the fifth century b.C. wrote by Aeschylus, and Mourning
becomes Electra, a north-american trilogy from the twentieth century a. C. wrote by
Eugene O’Neill. With the objective of verifying how the re-adaptation of an ancient
Greek myth was done – the Electra myth, which is inserted in a larger myth, the
Atridas one – it was decided to take into account the second play from each trilogy,
Choephori by Aeschylus and The Hunted, by O’Neill. As part of this study, the possibility
of doing a modern tragedy based on the ancient one was also verified, because the
concept of the word « tragic » is an object of discussion nowadays, as some theorists
prefer the expression « modern drama » as they are against the common sense that the
word had received today, while other theorists afirm that it is necessary to separate the
two concepts. This work is based on readings about classical and modern tragedies as
well as a study of the north-american theatrical scene on the first half of the twentieth
century snd the critical reviews of the plays studied. Together with these readings a
study about myth and its representation was done to check how it was seen in Ancient
Greece and how modern times faces it. The work was concentrated in a comparative
analysis of the characters Electra/Orestes, from the first play, and Lavinia/Orin, from
the second play, based on their relationships and their relationships with the mother
figure, the conection between the brothers. On the first play, Orestes is on first plan,
what was inverted on the second play, where Lavinia dominates the whole trilogy.
Key-words: tragedy, tragic, myth, Electra, modern drama.
7
SUMÁRIO
Introdução
p. 8
Capítulo I: Perspectivas histórico-críticas ou
o antigo nunca foi tão moderno
p. 11
1. Breve história: a forma dramática através dos tempos
p. 11
2. A questão da tragédia moderna
p. 27
3. Eugene O’Neill e o cenário norte-americano
p. 33
Capítulo II: Os Atridas: um mito ontem e hoje
p. 41
1. O sentido originário do mito
p. 41
2. Aproveitamento dos mitos: epopéias e tragédias
p. 43
3. Dessacralização dos mitos
p. 47
4. O mito dos Atridas: das epopéias homéricas à Oréstia de Ésquilo
p. 51
5. O mito dos Atridas: de Ésquilo à dramaturgia moderna
p. 56
Capítulo III: Do sofrimento à perseguição: Electra e Orestes
nas trilhas da vingança e do tempo
p.67
1. Electra e Orestes: trilhas da adaptação
p. 67
2. As Coéforas
p. 70
3. Os perseguidos
p. 78
Considerações Finais
p. 89
Bibliografia
p. 92
INTRODUÇÃO
A importância dos mitos para as produções culturais do Ocidente revela-se na
decisiva recorrência a este repertório, desde a Antiguidade Clássica até os tempos
modernos, por parte dos artistas, que buscam nele os temas de grande repercussão
sempre presentes e revisitados em romances, poemas, pinturas, esculturas e, claro, nas
formas dramáticas – do drama trágico antigo, passando pela ópera, pelo drama
moderno e chegando ao cinema.
Em grego, mythos designa uma ‘palavra reformulada’, podendo ser uma
narrativa, um diálogo ou a enunciação de um projeto. Os gregos buscavam exatamente
aquilo que poderia seduzir a audiência mediante o uso da palavra: unia-se o prazer
inerente à palavra falada (basta lembrar dos aedos) à utilidade da palavra escrita, pois o
texto escrito continha um ensinamento que permaneceria fixo, ao contrário das
narrativas orais, em que o conhecimento se transforma e se entrega ao sabor do tempo.
Os tragediógrafos antigos utilizam os mitos livremente, transformando-os
segundo suas necessidades estéticas e adaptando-os ao momento histórico em que
viviam. Os modernos, inspirados nos antigos, perceberam o caráter universal dos
mitos, mas sentiram a necessidade de transformá-los segundo novas formas de
pensamento, tratando os grandes temas míticos de acordo com suas exigências
específicas, relacionadas ao contexto histórico e a seus projetos estéticos.
O dramaturgo norte-americano Eugene O’Neill foi um desses autores. Tendo
despontado na primeira metade do século XX, O’Neill fez parte de um movimento offBroadway chamado Little Theatres, pequenas companhias fixas de teatro que lutavam
contra o comercialismo da Broadway produzindo, preferencialmente, peças de autores
9
norte-americanos. Dentre as peças mais famosas de O’Neill estão Desire under the elms
(Desejo sobre os olmos), Long day’s journey into night (Longa jornada noite adentro) e Mourning
becomes Electra (Electra enlutada).
Com a trilogia Mourning becomes Electra (Electra enlutada), objeto de estudo deste
trabalho, o velho tema grego da tragédia esquiliana – o mito dos Atridas – é
psicanaliticamente re-elaborado e transferido para personagens do tempo da Guerra
Civil norte-americana. A ação se passa na Nova Inglaterra, especificamente na mansão
dos Mannon, e se concentra nas relações entre os membros dessa família. Nela,
percebe-se claramente a presença do mito grego dos Atridas, que engloba o mito de
Electra, que, embora reformulado, estrutura as relações de amor e ódio que resultam
numa cadeia de crimes cometidos dentro de um mesmo grupo familiar.
Ao longo deste trabalho, pretende-se destacar de que forma o mito grego de
Electra, parte do complexo mito dos Atridas, foi adaptado numa trilogia do século XX,
tomando por base o registro mais antigo e completo que se tem dele, a trilogia grega
escrita por Ésquilo, a Oréstia, de 458 a.C. Para isso, propõe-se uma análise comparativa
com base no percurso da relação dos personagens Electra/Orestes, na segunda peça da
trilogia esquiliana intitulada Coéforas, e Lavínia/Orin, na segunda peça da trilogia de
O’Neill chamada Os Perseguidos, levando também em consideração suas relações com as
respectivas mães, Clitemnestra e Christine, que funcionam como um elo entre os
irmãos. Nesse estudo, também entra em discussão a questão da possibilidade de se
fazer uma tragédia moderna nos moldes da tragédia grega clássica.
Para que os objetivos deste trabalho fossem alcançados, foi feito um estudo das
teorias da tragédia clássica e da moderna, além de um estudo do teatro norte-americano
no início do século XX, juntamente com leituras acerca da obra de Eugene O’Neill.
Aliado a isso, fez-se necessário um estudo de mito e suas representações, de como ele
era visto na Grécia Antiga e de como é tratado na modernidade. Quanto ao estudo de
tragédia e de mito, as leituras aristotélicas foram fundamentais. De sua Poética foram
retirados os conceitos de tragédia e de mito na época clássica. Teórios como Jacqueline
de Romilly, Albin Lesky, Marcel Detienne, Pierre Vidal-Naquet e Jean-Pierre Vernant,
entre outros, fundamentaram o estudo da tragédia grega, definindo-a e pontuando suas
características, bem como a importância que essa manifestação teatral tinha para os
10
gregos antigos. No que diz respeito às teorias do drama e da tragédia moderna, a base
teórica foi formada por teóricos como Raymond Williams, Peter Szondi, Georg
Lúkacs, Emile Zola, entre outros. Para um estudo acerca do teatro norte-americano no
século XX, foram feitas leituras de Iná Camargo Costa, Oscar Cargill e John Gassner,
entre outros.
Assim, dividimos este estudo em três capítulos. No primeiro, são discutidas as
questões do trágico e da tragédia a partir da compreensão do contexto grego e do
contexto
moderno,
fazendo-se
uma
retrospectiva
histórica
dessas
teorias,
principalmente no que diz respeito à permanência e re-elaboração das formas,
culminando na apresentação do cenário do teatro norte-americano na primeira metade
do século XX. No segundo capítulo, são apresentados os conceitos de mito na
Antiguidade, principalmente entre os gregos, e como esses conceitos foram
dessacralizados. Também se discute o papel dos mitos nas epopéias homéricas e nas
tragédias gregas, fazendo-se um breve comentário sobre o mito dos Atridas em três
peças: Coéforas, de Ésquilo; Os perseguidos, de O’Neill; e Senhora dos Afogados, do brasileiro
Nelson Rodrigues. No último capítulo, foi feito o estudo comparativo das personagens
nas duas peças em questão, Electra/Orestes das Coéforas, e Lavínia/Orin, de Os
perseguidos, como citado anteriormente, para que fosse possível verificar como o mito de
Electra foi revitalizado por Eugene O’Neill, que meios ele utilizou para reconstruir esse
mito moldando-o aos conceitos modernos. Visto isso, partiu-se para uma discussão
sobre a tragédia moderna em que se concluiu que ela é possível de ser feita nos dias de
hoje sem que sua essência seja perdida, como foi mostrado pelo estudo comparativo
das duas peças já citadas.
11
CAPÍTULO I
PERSPECTIVAS HISTÓRICO-CRÍTICAS OU
O ANTIGO NUNCA FOI TÃO MODERNO
1.
Breve história: a forma dramática através dos tempos
A tragédia grega representada em festivais cívico-religiosos teve origem em uma
forma pré-dramática chamada ditirambo ou hino córico. Após algumas inovações, sua
forma madura consistia de: um coro e seu “chefe”, o corifeu; um protagonista; dois
outros atores; e figurantes. O coro cantava e dançava mas, diferentemente do
ditirambo, mantinha relações deliberadas com os atores. Já o corifeu usava uma
modalidade entre a fala e o canto nos momentos em que passava do canto coral para o
diálogo com os atores. Os três atores falavam e dividiam entre si todas as partes faladas
(ou as “personagens individuais”) e, algumas vezes, um dos atores poderia usar uma
modalidade de fala entre o recitativo e o canto, interagindo com o coro.
Em seu desenvolvimento e continuidade, não se excluindo as transformações
posteriores que sofreu (como o aumento do número de atores e a eliminação total do
coro), a tragédia grega tornou-se a base de uma forma geral, praticada em ordens
sociais e condições práticas muito diversas, que está centrada no diálogo representado
entre indivíduos, tornado propriedade cultural geral, pois pertence mais à sociologia da
espécie humana que à sociologia de uma determinada sociedade num certo local e
época.
12
Com relação ao teatro grego, as condições que propiciam o surgimento do
diálogo são precisas. Ele surgiu a partir da transformação do coro, que representava o
caráter coletivo, na passagem para a personagem individual. É o aparecimento da
segunda personagem que torna possíveis relações mais ou menos independentes entre
as personagens, o que foi intensificado com o surgimento do terceiro ator. Isso foi o
reflexo de mudanças sociais que se formalizavam na forma artística, conforme
Raymond Williams:
Pois o que é evidente dentro do teatro clássico grego é a
aparição desse elemento [o diálogo] em relações controladas
com outros elementos formais, e o surgimento de sua
modalidade peculiar – fala composta e ensaiada – em relações
controladas com outras modalidades. O momento desse
surgimento é, pois, sociologicamente preciso. Foi a interação, e
apenas sob esse aspecto, a transformação, de uma forma
tradicional (o canto coral) com novos elementos formais que,
em sua nova ênfase, incorporava relações sociais diferentes.
(WILLIAMS, 1992, p. 150)
Mas o surgimento do terceiro ator não proporcionou o que depois seria óbvio: a
distribuição de papéis entre vários atores, de modo que cada um representasse uma
personagem diferente. Isso foi uma marca dos limites da individualização dessa forma,
que, no contexto grego, ainda se mostrava parcialmente coletiva. As relações entre as
personagens distintas e a personagem coletiva mudaram a articulação dessas figuras,
pois a forma se tornou dinâmica. E essa articulação estava ligada a outras formas de
discurso e com a história prática de uma sociedade que passava por transformações
importantes.
A forma grega antiga tinha também como característica as diferentes
modalidades de voz: em canto, em recitativo e em fala. Formas simples de música
instrumental estavam integradas ao recitativo e ao canto coral, que ainda integrava a
dança. Formas convencionais de movimento estavam integradas ao recitativo e à fala
de três formas: gestos, mudança de posição e posturas. Ainda havia o uso limitado de
cenários, de figurinos e máscaras. Por isso, essa forma dramática deve ser classificada
13
de um modo mais amplo culturalmente, do que a maioria das formas dramáticas que a
seguiram.1
Historicamente, algumas funções dramáticas do coro grego foram substituídas
pelo novo elemento formal do príncipe e do criado confidente. Como a tragédia grega,
essa relação continha a discussão e o esclarecimento geral, mas não tinha a dimensão
social de um coletivo presente, noção que se perdera dentro de uma sociedade
aristocrática e cortesã. Em seu lugar havia, agora, a confissão de sentimentos privados,
na relação problemática entre a realidade privada e a possibilidade pública.
Em fins do século XVI, na Inglaterra renascentista, outras inovações formais
eram praticadas. Apresentando-se em teatros populares ao invés dos aristocráticos, o
teatro renascentista inglês significou um grande avanço, tanto no campo da
representação como no dos cenários. Com essa forma teatral, surgiu um novo tipo de
fala caracterizada por sua diversidade: lingüisticamente, ela era co-extensiva com o
âmbito total da sociedade representada. Isso significa que ela incluía tanto uma
linguagem mais tradicional, quanto as formas faladas e próprias do popular. Tal
diversidade está relacionada com uma situação social específica:
Em primeiro lugar, ela era, linguisticamente, co-extensiva com
o âmbito total de sua sociedade. Incluía, em parte de seu
âmbito, raciocínio muito abstrato ou formal, no vocabulário
dos bem educados, assim como elementos de verso formal, em
formas tradicionais e rigorosamente estruturadas. Além disso
incluía, em relações diversas, mas também regulares como
essas, a linguagem e as formas faladas comuns da guerra,
política, negócios e profissões, bem como o amplo vocabulário
e as formas faladas (inclusive as formas faladas “vulgares”) do
discurso popular mais comum. (WILLIAMS, 1992, p. 154)
Quanto à ação, o teatro renascentista inglês era também co-extensivo com uma
diversidade de tipos de relações. Esses tipos iam desde o mais formalmente público ao
publicamente ativo, passando pela intriga e pela contra-intriga, até o familiar e o
Segundo Raymond Williams (1992), duas outras formas dramáticas podem se dizer herdeiras da
tragédia grega por fazerem uso de elementos de sua forma: a ópera italiana e a tragédia neoclássica
francesa, ambas do século XVII. A primeira selecionou o canto e o recitativo coral e solista, enquanto
que a segunda selecionou a fala formal. É importante realçar que na tragédia neoclássica o coro foi
substituído por expansão das relações interpessoais e o número das personagens individuais foi
ampliado.
1
14
particular, incluindo formas de fala “interior”, ou seja, as formas de processo
intelectual e emocional eram agora representadas, bem como esses processos em
confusão e colapso.
Mas as transformações sócio-formais foram mais profundas. A tragédia
shakespeariana, por exemplo, admitia como forma expressiva uma interação de grande
abertura entre ordem social e desintegração social numa ação franca e variada em que
questões sobre a natureza humana eram representadas de forma direta. Já na tragédia
jacobiana não havia mais essa interação. O que havia eram forças de desintegração e de
dissolução em luta, juntamente com a dramatização da dissolução em processo. Era a
“guerra de todos contra todos” (cf. WILLIAMS, op. cit.).
É importante ressaltar que na forma central do Renascimento inglês questões
públicas e privadas estavam integradas dramaticamente. As peças da época, como as de
Shakespeare, procuraram representar as crises pelas quais o sistema estava passando,
geradas pelas contradições entre o público e o privado:
Na lembrança da ordem, no desejo continuado e na evidente
necessidade de ordem, nas contradições entre ordem e poder, e
nas contradições mais profundas entre uma ordem tradicional
ou um poder corrupto e as forças, agora intensamente
experimentadas, da personalidade individual e de uma
mobilidade mais geral: em todos esses elementos de uma crise
total é que essa forma notável ganhou corpo. (WILLIAMS,
1992, p. 156)
Na forma que se seguiu, a dimensão pública positiva desaparece em nome de
uma crise que se tornara mais “privada”, ou seja, a dissolução e o horror lutavam,
agora, com eles mesmos e não mais com a ordem. O drama burguês, surgido no século
XVIII em oposição à tragédia clássica, foi o que se pode chamar de “porta-voz” da
burguesia revolucionária, como diz Hauser:
O drama burguês implicava, desde o início, a relativização e
depreciação das virtudes heróicas e aristocráticas, e foi, em si
mesmo, uma propaganda da moralidade burguesa e da
pretensão da burguesia à igualdade de direitos. Toda a sua
história foi determinada por suas origens na consciência de
classe da burguesia. Não foi, por certo, a primeira e única
forma teatral a ter sua origem num conflito social, mas foi o
15
primeiro exemplo de um drama que fez desse conflito o seu
próprio tema e que se colocou abertamente a serviço de uma
luta de classes. (HAUSER, 1998, p. 580)
Para Lukács, o drama burguês é o drama moderno porque, agora, ele possuía
dimensões sociais. Esse desenvolvimento da forma dramática, ou esta ruptura com o
que se fazia antes foi, segundo Lukács, necessário neste momento em particular por
causa da situação social específica da burguesia, no que ele concorda com Hauser ao
dizer:
O drama burguês foi o primeiro a surgir do confronto de
consciência de classe; o primeiro com a intenção de expressar
os padrões de pensamento e sentimento, bem como as relações
com outras classes, de uma classe lutando por poder e
liberdade.2 (LUKÁCS, 1990, p. 425)
A principal diferença entre o drama burguês e o pré-burguês não está no fato de
que agora questões políticas e sociais recebiam um enfoque mais direto, mas sim, no
fato de que o conflito dramático se dá entre o herói e as instituições. O herói burguês
luta contra forças anônimas e seu ponto de vista é formulado como uma idéia abstrata,
uma denúncia social. Essa diferença foi a base de uma transformação decisiva no
teatro, pois agora cidadãos comuns da burguesia se tornaram os “protagonistas da ação
dramática séria e significativa, e mostrou-os como as vítimas de destinos trágicos e
representantes de elevados princípios morais” (HAUSER, 1998, p. 583). Isso nunca
havia ocorrido antes, no teatro mais antigo.
Peter Szondi discorda, em alguns pontos, de Hauser e Lukács. Para ele, não
basta a presença de personagens burgueses numa peça para que ela seja definida como
drama burguês, é preciso que a obra apresente um tema ou motivo especificamente
burguês para ser considerada como tal, ainda que o processo social não se reflita no
drama da burguesia de forma direta. Ele afirma:
[..] a ascensão da burguesia não encontra tão diretamente sua
sedimentação, por exemplo, na entrada em cena de heróis
burgueses que se rebelam contra a ordem social dominante,
“For bourgeois drama is the first to grow out of conscious class confrontation; the first with the set
intention of expressing the patterns of thought and emotion, as well as the relations with other classes,
of a class struggling for power and freedom.” (LUKÁCS, 1990, p. 425, tradução nossa)
2
16
mas é antes mediada, por um lado, pela ideologia burguesa que
Max Weber analisou e, por outro, pela modificação do conflito
dramático e do efeito trágico, que é por ela determinado.
(SZONDI, 2004, p. 83)
Discordando diretamente de Lukács, Szondi diz que não foi a partir da luta de
classes que o teatro burguês começou, mas, sim, com a abolição do que ele chama de
“cláusula dos estados”. De forma resumida, a “cláusula dos estados”, que remonta ao
século XVI, postula que os personagens trágicos devem ser reis, príncipes, generais,
enfim, pessoas pertencentes à nobreza. Portanto quando os personagens das tragédias
passaram a ser homens comuns, pertencentes à burguesia, é que se tem o início do
drama burguês. Mas ele ressalta que mais importante que ter personagens burgueses
agindo no palco, é a diferença de sentido que essa mudança opera e a diferença no
efeito que exerce sobre o público:
A história que o drama burguês narra deve ser um exemplo
para a própria conduta na vida, isto é, um exemplo negativo.
Ele deve nos precaver de tornar-nos culpados ou, se já o
somos, ele deve nos curar. (SZONDI, 2004, p. 53)
Segundo Hauser, a elevação do burguês comum à protagonista de uma tragédia
se deu porque os representantes do drama burguês não viam um sentido dramatúrgico
no fato de o herói pertencer a uma classe social mais elevada que a do homem comum,
o que diminuiria o interesse do espectador, o qual só poderia ser despertado quando
ele visse no palco pessoas de sua mesma classe social. Nesse ponto, Hauser e Szondi
concordam. Com seu estudo sociológico, Hauser vai mais além dizendo que o meio
que os dramaturgos burgueses encontraram para compensar a queda da posição social
ocupada pelo herói na tragédia clássica foi aprofundar e enriquecer seu caráter, dando
ao drama uma grande carga psicológica e gerando problemas antes desconhecidos dos
teatrólogos.
Segundo Lukács, o que está em discussão aqui é a crescente complexidade que
determina o personagem dramático. Isso pode ser visto sob diferentes perspectivas.
Neste novo drama, as personagens são mais complicadas, as questões levantadas nas
peças estão mais intricadas e unidas umas com as outras e também com o mundo
17
externo, para poder expressar esse inter-relacionamento entre o homem e o mundo ao
seu redor. Em contrapartida, o conceito do mundo externo está mais relativo no drama
burguês, uma vez que é ele que determina as ações humanas, que define o homem:
Por mais que as circunstâncias definam o homem, mais difícil
este problema parece, e mais a atmosfera parece absorver tudo
nela mesma. O homem, com contornos distintos, não mais
existe; apenas ar, apenas a atmosfera. Tudo que a vida moderna
tem introduzido como uma forma de enriquecer as percepções
e emoções parece desaparecer na atmosfera, e a composição é
o que sofre... 3(LUKÁCS, 1990, p. 428)
Essa influência da vida moderna sobre o homem, as mudanças nas relações
sociais e trabalhistas trazidas pelo capitalismo fez com que as relações humanas se
tornassem cada vez mais impessoais. Antes, no sistema feudal, havia uma relação de
dependência entre os homens que possuía o senso de unidade, o que foi racionalizado
pelo sistema burguês. Daí o homem ter desenvolvido uma visão da vida e do mundo
baseada em objetivos padrões, comuns a toda uma sociedade. Lukács chama isso de
“deslocamento” nas relações de liberdade e repressão, e formula essa transformação:
“previamente, a vida era individualista, agora os homens, ou melhor, suas convicções e
perspectivas na vida o são”4 (LUKÁCS, 1990, p. 432). No que se refere ao drama ele
diz que o drama renascentista era o dos grandes indivíduos, enquanto o burguês é o
drama do individualismo.
O maior tema do individualismo é a realização da personalidade que só pode ser
conseguida suprimindo-se as personalidades de outras pessoas. Isso gerou um novo
tratamento das relações humanas no drama, determinando o fim de personagens que
estavam apoiados em relações emotivas com outras personagens, como a figura do
servo e do confidente. Estava claro que os ideais humanos defendidos pelo drama
burguês eram incompatíveis com a concepção de tragédia clássica e do herói trágico,
“The more the circumstances define man, the more difficult this problem seems, and the more the
very atmosphere appears to absorb all in itself. Man, distinct contours, no longer exists; only air, only
the atmosphere. All that modern life has introduced by way of enriching the perceptions and emotions
seem to vanish into the atmosphere, and the composition is what suffers…” (LUKÁCS, 1990, p. 428,
tradução nossa)
3
“previously, life itself was individualistic, now men, or rather their convictions and their outlooks on
life, are” (LUKÁCS, 1990, p. 432, tradução nossa)
4
18
então, outros elementos também foram abolidos do drama como as tiragens
grandiloqüentes, consideradas falsas por Diderot, o estilo afetado da tragédia e o falso
caráter de classe, atacados por Lessing.
Descobria-se agora, pela primeira vez, que a verdade artística é
valiosa como arma na luta social, que a reprodução fiel de fatos
leva automaticamente à dissolução de preconceitos sociais e à
abolição da injustiça, e que aqueles que se batem pela justiça
não precisam temer a verdade em nenhuma de suas formas,
numa palavra, que existe uma certa correspondência entre a
idéia de verdade artística e a de justiça social. (HAUSER, 1998,
p. 584)
Pode-se dizer que isso corresponde a uma antecipação da aliança formada entre
radicalismo e naturalismo no século XIX, cujas bases foram lançadas quando alguns
autores, como Diderot, formularam os princípios mais importantes do teatro
naturalista. Um exemplo disso é a idéia da “quarta parede” imaginária sugerida por ele,
segundo a qual as peças são representadas como se não houvesse público. Tal idéia
“marca o início do reinado da ilusão total no teatro – o afastamento do elemento
lúdico e o mascaramento da natureza fictícia da representação”. (HAUSER, 1998, p.
585)
Um outro princípio do teatro burguês que serviu de base para o naturalismo é a
idéia do homem como parte e função de seu meio, visto que o ambiente em que o
homem está inserido tem um papel ativo na formulação de seu destino. Com isso, foi
colocado em discussão o problema da culpa trágica, pois os representantes do drama
burguês introduziram no teatro o homem cuja culpa é o oposto do trágico, pois está
condicionada pelo meio. A doutrina sobre personagens dramáticos de Diderot ilustra
bem o quanto materialismo e naturalismo são condicionados por fatores sociais.
Segundo ele, a posição social de um personagem é mais importante que suas qualidades
individuais. Tal doutrina fundamenta-se na suposição de que é mais fácil o espectador
identificar-se com uma peça ou com um personagem quando vê sua própria classe
social representada no palco.
Agora, o drama estava ameaçado de perder sua simplicidade pela motivação
psicológica e racional que se tornaram características do drama burguês, o que poderia
19
se tornar um problema, uma vez que a ação e a encenação perderam sua nitidez e os
personagens se tornaram mais ricos e menos claros, dificultando o entendimento da
peça. Mas foi exatamente isso que se tornou a principal atração desse novo teatro. É
certo que a sociedade burguesa ofereceu à tragédia menos material do que as épocas
passadas, mas o público burguês preferia assistir a peças com “final feliz” e não as
“angustiantes” tragédias, pois era comum na época a associação de tragédia e tristeza.
Sendo a burguesia uma classe social formada por elementos variados, como
grupos que eram solidários com as camadas mais pobres e grupos que ora estavam a
favor das classes altas ora das classes baixas defendendo idéias contrárias, ela estava
fadada à dissolução, ou auto-destruição, levando junto consigo o teatro da época que
poderia ter sido uma arma eficaz para a divulgação dos ideais burgueses. Como aponta
Hauser:
Em resumo, estamos aqui diante de uma forma literária que,
tendo começado por ser uma das mais eficazes armas da
burguesia, acabou por converter-se no instrumento sumamente
perigoso de sua auto-alienação e desmoralização. (HAUSER,
1998, p. 596)
Porém, não se pode dizer que as formas dramáticas eram apenas antecipações
ou reflexos de processos sociais gerais, pois as relações sociais concretas foram
desvendadas nas qualidades formais profundas e específicas do drama. A crise total que
atinge uma determinada sociedade é diferente do que ela é na ação social quando está
representada no teatro, e ainda deve-se considerar que quando ela é representada em
diferentes tipos de prática, não é mais a mesma ação, em virtude de mudanças e
rupturas ocorridas.5
Mas as questões sociais não foram realmente excluídas, foram substituídas por
novas relações sociais sob forma dramatizável, como na comédia de costumes, em que
se reconhece um mundo burguês, no qual o dinheiro e a propriedade constituíam o
5 Segundo Raymond Williams (1992), o drama heróico é um bom exemplo disso. Uma vez abstraídas e
isoladas as atitudes de uma ordem social soberana, ele mostrou o conflito, ao mesmo tempo
internalizado e externalizado, das ambições, desejos e limitações humanas, que não abalavam homens,
mulheres e reinos por transcorrerem dentro dos limites de uma personagem. Os conflitos do novo
individualismo e as forças sociais em luta reprimidas pela noção voluntária de soberania absoluta foram
removidos e excluídos.
20
real, mais do que o poder político, contrastando com as preocupações sociais. Por
haver uma integração entre o público e o material dramático preso à mesma vida
contemporânea, essa forma mediou e criou um conjunto de relações sociais específicas.
É o que encontramos em Szondi, quando ele fala que a forma dramática é “conteúdo
precipitado”. Tais relações aparecem formalizadas, por exemplo, no meio verbal. Isso
porque a generalização de uma forma quase-coloquial (porque artificial) de fala
dramática estava avançando e também porque a tendência a usar material
contemporâneo e local como tema para as peças estava em processo e viria a se tornar
a ênfase significativa e diferenciadora do teatro de uma nova época.
Em meados do século XVIII, as características do teatro burguês já estavam
sendo definidas, bem como os fatores que influenciaram uma transição do drama: o
primeiro foi a utilização de material contemporâneo, o que já leva ao segundo fator, o
uso de material nativo, ou seja, a congruência entre a época, o lugar e o ambiente da
ação dramática e da representação teatral se tornara possível; o terceiro fator foi a
generalização da fala dramática, que passou a ser coloquial (em prosa, não em verso); o
quarto fator foi uma extensão e abrangência sociais, ou seja, todas as vidas
independentemente da classe social, podiam se tornar material do teatro; e o quinto
fator foi um novo espírito secular , que permitiu que se retirasse do teatro (ação
dramática) toda e qualquer intervenção sobrenatural para que se pudesse atingir um
comportamento humano provável. Todos esses fatores serviram de base para as
convenções do teatro moderno, como mostra Raymond Williams (1992).
Segundo Peter Szondi, o drama burguês se opõe ao drama moderno que, para
ele, começa em Ibsen, com suas tendências filosóficas e sociais, e vai até Brecht, para
quem o leitor deve estar consciente das iniqüidades do mundo atual. Ou seja, o drama
moderno compreende o período da passagem das relações de natureza intersubjetiva
para aquelas marcadamente intrasubjetivas, sublinhando, assim, a chamada “crise” da
forma do drama. Em Teoria do drama moderno, este autor no ensina que o drama da
época moderna surgiu no Renascimento, mostrando a força do homem que acabava de
sair do mundo medieval, sua “audácia de construir, partindo unicamente da reprodução
das relações intersubjetivas, a realidade da obra na qual quis se determinar e espelhar”
(SZONDI, 2001, p. 29). Esse homem encontrava nas relações intersubjetivas o
21
essencial para existir e alcançava sua realização dramática no ato de decisão, pois ao
decidir-se pelo mundo da comunidade estava manifestando seu interior, que se tornava
presença dramática. Assim, a comunidade se relacionava com ele e a realização
dramática era atingida.
As relações intersubjetivas tinham como meio de expressão lingüística o
diálogo. Com a supressão do prólogo, do coro e do epílogo, o Renascimento presencia
o domínio absoluto do diálogo no drama, que se torna apenas a representação dessas
relações. Mas a fala dramática não deve ser entendida como expressão do autor, pois
ele está ausente no drama, instituindo apenas a conversação. Ela também não é dirigida
ao público, que deve assistir à peça calado, de forma passiva, o que faz com que ele seja
transportado para o mundo dramático, como diz Szondi: “A relação espectador-drama
conhece somente a separação e a identidade perfeitas, mas não a invasão do drama
pelo espectador ou a interpelação do espectador pelo drama.” (SZONDI, 2001, p.31)
Um elemento que contribui para esse distanciamento entre o público e o drama
é o tipo de palco criado para o drama renascentista e classicista, o “palco mágico”
assim chamado porque não tem uma passagem para a platéia e só se torna visível no
início do espetáculo, parecendo ser retomado pela peça ao final, quando cai a cortina,
como se fosse propriedade dela. Já a relação ator-papel é contrária à relação
espectador-drama, pois não visa o distanciamento e, sim, a união entre os dois para a
construção do homem dramático.
Um outro aspecto do drama dessa época é o fato dele ser primário, ou seja, ele
se representa a si mesmo. Dessa forma, sua ação e sua fala são “originárias”,
acontecem no presente, pois esta é a época do drama. Isso não quer dizer que ele seja
estático, mas que tem seu próprio tempo:
[...] o presente passa e se torna passado, mas enquanto tal já
não está mais presente em cena. Ele passa produzindo uma
mudança, nascendo um novo presente de sua antítese. O
decurso temporal do drama é uma seqüência de presentes
absolutos. (SZONDI, 2001, p. 32)
Por esse motivo, faz-se necessário que haja uma continuação temporal entre as
cenas, uma vez que cada uma possui seu passado e também seu futuro fora da
22
representação. Da mesma forma que há essa exigência pela unidade de tempo, também
há pela unidade de lugar. As mudanças de cena freqüentes devem ser evitadas em
nome da cena absoluta ou dramática. Assim se evita a intervenção do eu-épico na peça.
É desse contexto do drama clássico que tem origem o drama moderno, o drama
do final do século XIX. Como dito antes, Szondi considera que ele tem início com
Ibsen (1928- 1906), que se diferencia dos outros autores do período pelo modo como
constrói suas peças, fazendo uso da técnica analítica, que consiste em expor a matéria
dramática no próprio desenvolvimento da peça para que o mais importante se torne a
análise dos acontecimentos derivados da matéria exposta. Em outras palavras, a
matéria dramática seria uma ação já ocorrida que serviria de base para o desenrrolar da
peça, retirando-se o efeito epicizante para se atingir o trágico. Pois algo que já
aconteceu é muito mais atemorizante (por ser imutável) do que algo que pode vir a
acontecer e, portanto, evitável. Um exemplo disso é o Édipo Rei, de Sófocles.
Mas é justamente a diferença entre a estrutura dramática de Ibsen e a de
Sófocles que está o problema formal que provoca a crise do drama. Diferentemente de
Sófocles, Ibsen usa o presente como um pretexto para evocar o passado, que passa a
ser o próprio tema da peça, escapando-se do presente dramático porque o tempo não
pode ser presentificado, só um fragmento dele pode. Uma outra diferença entre os dois
dramaturgos é a verdade, que em Sófocles é objetiva e em Ibsen é a da interioridade.
Sendo objetiva, a verdade faz parte do mundo; sendo interiorizada, sobrevive a
modificações externas, é a base para os motivos das decisões manifestadas e oculta o
efeito traumático das decisões, vive no interior dos seres humanos solitários e alienados
uns dos outros, porém surge das relações intersubjetivas. Sendo assim, sua
representação dramática direta é impossível e o uso da técnica analítica se faz essencial
para que ela seja levada ao palco. Mas, como afirma Szondi:
Mesmo assim ela permanece em última instância estranha a ele.
Por mais que esteja atada a uma ação presente (no duplo
sentido do termo), ela continua exilada no passado e na
interioridade. Esse é o problema da forma dramática em Ibsen.
(SZONDI. 2001, p. 44)
23
Por outro lado, Ibsen conseguiu unir o presente e o passado que não pode ser
presentificado com maestria na maioria de suas peças ao fazer uso da funcionalização
dramática, que está voltada à elaboração da estrutura causal e final de uma ação única.
Mas, ao decidir revelar as verdades ocultas das pessoas por meio das próprias
personagens em suas peças, Ibsen as destruiu. Como diz Szondi: “em épocas hostis ao
drama, o dramaturgo torna-se o assassino de suas próprias criaturas” (SZONDI, 2001,
p. 46)
Essa interiorização, que faz com que o elemento intersubjetivo seja substituído
pelo intrasubjetivo, também foi observada por Szondi em outros autores do mesmo
período, como Tchéckov e suas reflexões monológicas, Strindberg e as transformações
internas que suprimem o intersubjetivo, Maeterlinck e a dispensa da ação, e
Hauptmann com a dramática social suprimindo a singularidade do presente, que se
torna também passado e futuro.
Assim, o drama do final do século XIX nega a atualidade intersubjetiva. E o que
determina suas características é a oposição sujeito-objeto. Nessa relação de oposição, o
caráter absoluto dos três conceitos básicos do drama são transformados e relativizados,
causando uma mudança nas características do próprio drama. O fato é relativizado em
Hauptmann pelas condições objetivas que ele deve representar; o presente é
relativizado em Ibsen pelo passado que deve ser revelado; e o intersubjetivo em
Strindberg é relativizado pela perspectiva subjetiva que ele toma. Dessa forma, o fato
se torna acessório, o presente se torna passado e o intersubjetivo dá lugar ao
intrasubjetivo.
A essa transformação formal de sujeito e objeto se contrapõe uma separação
estática no conteúdo, o que gera uma contradição interna no drama moderno. E essa
oposição é representada pelas situações épicas básicas que aparecem como cenas
dramáticas, como a introdução de uma outra personagem na peça que tem a função de
um narrador épico.
O período de transição entre o drama do século XIX e o do século XX não é
determinado apenas pelo afastamento e conseqüente contradição da forma e do
conteúdo provocados pela oposição sujeito-objeto. Para superar essa contradição faz-
24
se necessário recorrer aos elementos formais que estavam encobertos na forma
problemática antiga. E então, como diz Szondi:
[...] a mudança para o estilo em si não-contraditório se efetua à
medida em que os conteúdos, desempenhando uma função
formal, precipitam-se completamente em forma e, com isso,
explodem a forma antiga. (SZONDI, 2001, p. 95)
Dessa mudança surgiram o que Szondi chama de “experimentos formais” que
foram vistos como futilidades, como uma maneira de escandalizar o burguês ou ainda
como incapacidade pessoal, mas cuja necessidade é logo percebida quando se pensa na
mudança estilística, porque interpretados em si mesmos. Além dessas novas formas
que tentaram “solucionar” a “crise”, fazendo com que a forma resulte de um novo
conteúdo, existiram correntes que apenas tentaram “salvá-la” de diferentes maneiras.
Uma dessas correntes foi a chamada peça de conversação, que surgiu na
segunda metade do século XIX, predominando na Europa. Ela tenta “salvar” o drama
recorrendo ao diálogo porque se acreditava que o bom dramaturgo seria aquele que
escrevesse um bom diálogo. Mas o diálogo que se utiliza aqui se torna apenas
conversação, uma vez que é alienado dos sujeitos e se apresenta como autônomo,
diferentemente do diálogo no drama clássico que é o espaço coletivo onde a
interioridade das personagens se objetiva.
Os diálogos das peças de conversação giram em torno de temas do dia-a-dia,
como a industrialização, o socialismo, o voto feminino e o divórcio. Dessa maneira,
elas passam a ter a aparência de modernas ao mesmo tempo em que adquirem um
caráter exemplarmente dramático que representava mais a aparência que a realidade,
em que o diálogo é apenas conversação. E visto que a conversação não tem uma
origem subjetiva e uma meta-objetiva, ela nem define os homens e nem passa para a
ação.
A ação de que a peça de conversação necessita para se
apresentar como well-made-play lhe é emprestada de fora. Ela
incide sem motivação no drama, com a forma de
acontecimentos inesperados – e seu caráter absoluto é
destruído também por isso. (SZONDI, 2001, p. 107)
25
Uma outra tentativa de salvamento foi a peça de um só ato que surgiu no final
do século XIX escrita por dramaturgos, como Strindberg, Zola, Maeterlinck, O’Neill,
entre outros, que já sentiam que a forma do drama havia se tornado problemática. Esse
tipo de peça não é a miniatura de uma peça maior, como se pode pensar, mas uma
parte do drama que possui sua totalidade. Ela tem como modelo a cena dramática, ou
seja, ela tem em comum com o drama o ponto de partida e a situação, mas não a ação.
A tensão está atrelada à situação, uma vez que não é mais extraída do fato
intersubjetivo, daí então a necessidade de se chegar a uma situação limite, anterior à
catástrofe. Já a catástrofe se dirige ao homem e à sua ruína, ao espaço vazio e sem ação
em que ele foi condenado a viver até atingir essa ruína. Por isso, a peça de um só ato é
tida como o drama do homem sem liberdade.
Este confinamento, ao mesmo tempo em que foi uma tentativa de salvamento
do drama, foi também uma forma de se evitar o movimento em direção ao épico, no
qual muitos dramaturgos estavam tentando buscar respostas para sair da “crise” do
drama do século XIX. Numa situação de confinamento, “os homens isolados, aos
quais corresponderia formalmente o silêncio ou o monólogo, são forçados por fatores
externos a voltar ao dialogismo da relação intersubjetiva” (SZONDI, 2001, p. 113)
Nesse confinamento, os homens não têm o espaço que precisam para ficar
isolados em seus monólogos ou em silêncio, daí que, sem o espaço ideal, o discurso de
um homem fere o outro, forçando-o a responder, quebrando-se o confinamento.
Então, o estilo dramático que estava ameaçado de ser destruído pela falta de diálogo é
“salvo” quando o monólogo se torna impossível numa situação de confinamento e
transforma-se em diálogo. Porém, deve-se levar em consideração a artificialidade
característica das peças de confinamento, pois os meios utilizados para tornar possível
tal situação são tantos que o espaço temático acaba sofrendo danos. Assim, para que se
atinja o objetivo de “salvar” o drama, é preciso que a artificialidade seja superada.
Segundo Szondi, esse salvamento parece ser possível com o existencialismo, que
nada mais é do que a tentativa de um novo classicismo, que deveria superar o
naturalismo ao cortar o laço que une o homem e o meio, aumentando a alienação. Sem
estar mais unido ao meio, o homem está agora livre, e é no restabelecimento dessa
liberdade que o existencialismo se aproxima do classicismo. E da mesma forma que a
26
corrente anterior, o dramaturgo existencialista tenta salvar o drama da epicização
fazendo uso de situações de confinamento.
Mas por ter uma temática diferente, o existencialismo retira o caráter artificial
das situações de confinamento. Ao ser transposto para essa situação, o homem sente a
estranheza essencial de toda a situação que se transforma em estranheza acidental. É
esta a temática existencialista, e é por isso que o homem nunca é mostrado em seu
ambiente natural, sendo transposto para um ambiente novo. Mas o problema do
existencialismo foi pôr em questão o princípio formal do drama, a relação
intersubjetiva, quando se inverteu a idéia de que a vida social é problemática dizendo
que as relações humanas é que o são.
Uma outra tentativa de solução para a crise do drama apontada por Szondi seria
o teatro épico, que tem em Brecht seu maior representante. Este dramaturgo enumera
as transformações que o teatro dramático sofreu em sua mudança para épico: o teatro
épico narra um processo, não o incorpora; faz do espectador um observador ao
mesmo tempo em que desperta sua atividade e força-o a tomar decisões, transmite-lhe
conhecimentos ao invés de vivências e o contrapõe à ação; o teatro trabalha agora com
argumentos e não mais com sugestão; as sensações são estimuladas para chegar às
descobertas; o homem é objeto de investigação, mutável e modificador; há uma
expectativa sobre o andamento da peça, em que os acontecimentos não têm mais um
curso linear; o mundo é visto como o que vem a ser e o homem como o que tem de
ser; são mostrados os motivos do homem e não seus impulsos; é um teatro no qual o
ser social determina o pensamento e não o oposto.
Essas modificações têm em comum o fato de substituírem a
passagem recíproca de sujeito e objeto, essencialmente
dramática, pela contraposição desses termos, que é
essencialmente épica. Desse modo, na arte a objetividade
científica torna-se objetividade épica e penetra todas as
camadas de uma peça teatral, sua estrutura e linguagem, bem
como sua encenação. (SZONDI, 2001, p. 135)
Ao transpor essa teoria do teatro épico para a prática, Brecht o faz com uma
riqueza muito grande de idéias, que têm a função de isolar e distanciar os elementos do
drama tradicional convertendo-os em objetos épico-cênicos. Como exemplo disso,
27
tem-se o distanciamento do espetáculo como um todo, com o uso do prólogo, o
prelúdio ou a projeção de títulos; as personagens podem se distanciar de si mesmas ao
utilizarem a terceira pessoa para falarem de si; o ator distancia-se de seu papel; o palco
limita-se a retratar o mundo; o cenário é agora um elemento autônomo que não mais
simula uma localidade real; há ainda o distanciamento em relação à ação, que não
precisa ser linear, conseguido através de recursos como a projeção de legendas e
canções numa tela colocada no palco, ou colocando personagens no meio do público
que interrompem a ação e a comentam.
É por meio desses distanciamentos que a oposição sujeito-objeto, que está na
origem do teatro épico, converte-se em princípio universal de sua forma. E a relação
intersubjetiva é deslocada, como se houvesse uma passagem da falta de
problematização da forma para a problematização do conteúdo.
2.
A questão da tragédia moderna
Diferentemente
de
Peter
Szondi,
que
discute
as
tentativas
de
salvamento/solução do drama, Raymond Williams, em Tragédia moderna (2002), debate
a literatura trágica na modernidade, expondo idéias e experiências trágicas cobrindo o
mesmo período de Szondi – de Ibsen a Brecht – mas apresentando uma tipologia da
tragédia moderna a partir destes mesmos autores, começando com a definição da
tragédia liberal, que tem em seu centro uma situação isolada:
Um homem no ponto culminante de seus poderes e no limite
de suas forças, a um só tempo aspirando e sendo derrotado,
liberando energias e sendo por elas mesmo destruído. A
estrutura é liberal na ênfase sobre a individualidade que se
excede, e trágica no reconhecimento final da derrota ou dos
limites que se impõem à vitória. (WILLIAMS, 2002, p. 119)
A tragédia tem sido, ao longo dos séculos, o conflito entre um indivíduo e as
forças que o destroem, no centro do qual existe uma tensão entre o impulso desse
indivíduo e a resistência absoluta a essas forças destrutivas. Essa tensão foi
28
representada de várias formas até chegar à transformação do conflito trágico em vítima
trágica. Sobre esse novo sentido de tragédia, diz Williams:
Esse sentimento estende-se até uma posição comum: a nova
consciência trágica de todos aqueles que, horrorizados com o
presente, estão, por essa razão, firmemente comprometidos
com um futuro diferente: com a luta contra o sofrimento
aprendida no sofrimento: uma exposição total que é também
um envolvimento total. Sob o peso do fracasso, em uma
tragédia que poderia ter sido evitada mas que não o foi, essa
estrutura de sentimento luta agora para se formar. Contra o
medo de uma morte geral, e contra a perda de conexões, um
sentido de vida é afirmado – aprendido mais intimamente no
sofrimento do que jamais o foi na alegria – uma vez que as
conexões tenham sido feitas. (WILLIAMS, 2002, p. 263)
Tal processo teve início com a tragédia elizabetana que mostrava “um homem
individualizado, com suas próprias aspirações, com sua natureza própria, inserido
numa ação que acaba por levá-lo à tragédia.” (WILLIAMS, 2002, p. 120). A mais
importante contribuição desse período foi a permanência de uma ordem pública no
centro da qual acontece a tragédia pessoal.
Com a tragédia burguesa tem-se a mudança de status do herói, que deixa de ser o
representante de uma classe elevada para se tornar o representante da classe burguesa.
Com isso, a piedade se transforma em compaixão, o que indica um crescimento do
humanitarismo. Mas, apesar das tentativas de luta da burguesia contra a ordem social,
esse tipo de tragédia não pode ser considerado como sendo suficientemente social
porque não podia transpor as reais contradições de seu tempo. Embora os limites
sejam conhecidos, eles ainda não foram nomeados, e é só quando isso acontece que se
tem o herói trágico como um rebelde em luta contra uma sociedade falsa. Isso só
acontece com a tragédia liberal, mas antes de se chegar a ela é importante que sejam
apresentadas as contribuições da tragédia romântica.
Segundo Williams, nessa tragédia ocorre uma renovação do individualismo, os
desejos do homem voltam a ser intensos; e a sociedade é vista como convenção, como
inimiga do desejo que é absoluto, mas se insere num contexto em que o homem foge
de si mesmo, pois é culpado do crime de ser ele mesmo. Desse contexto surgiu a figura
do libertador individual, um homem que, atuando sozinho, podia mudar os limites
29
humanos e o mundo em que vivia. Recusando o papel de vítima, esse homem
transformou-se num novo tipo de herói cujo heroísmo residia na aspiração em alcançar
os limites. A tragédia liberal criou uma nova estrutura de sentimento e os maiores
representantes dela, segundo Williams, são Ibsen, referido aqui anteriormente, e Arthur
Miller, cujas tragédias foram uma tardia revitalização da tragédia liberal.
Um outro tipo de tragédia, chamada por Williams de tragédia privada, tem
como característica tratar do homem cujos desejos mais profundos são frustrados por
outros homens e pela sociedade. O que a torna diferente é que esses desejos incluem
destruição e autodestruição.
Dá-se, àquilo que é chamado desejo de morte, a condição de
um instinto geral, e o que deriva desse desejo, ou seja,
destruição e agressão, é visto como essencialmente normal. O
processo da vida é então uma luta contínua e um contínuo
ajuste das poderosas energias que se voltam para a satisfação
ou para a morte. (WILLIAMS, 2002, p. 143)
No que concerne à satisfação, sabe-se que ela assume uma dimensão
temporária, independentemente de sua intensidade, envolvendo a subjugação ou a
derrota de outros indivíduos. Já o desejo de morte pode ser menos intenso que a
satisfação, mas uma vez alcançado é permanente. Na tragédia privada, vida e morte
têm uma avaliação que foge aos esquemas tradicionais.
A tempestade que acomete a vida não é necessariamente
desencadeada por qualquer ação pessoal; ela começa quando
nascemos, e o nosso abandono a ela é absoluto. A morte, por
oposição, é uma espécie de realização, capaz de trazer,
comparativamente, ordem e paz. (WILLIAMS, 2002, p. 144)
De acordo com Williams, a obra de August Strindberg é a melhor representação
desse tipo de tragédia. Em seu mundo, as relações primárias são valorizadas e o fator
da mácula é tido como natural e é menor comparando-se à associação entre amor e
destruição, também tida como natural em todos os relacionamentos. Parte-se do
pressuposto de que homens e mulheres tentam se destruir no ato de amar, e a vida
gerada desse ato é culpada por não ser desejada não apenas por ser quem é, mas por
30
não ter um lugar definitivo para ela. Assim, a criação da vida e sua condição são
trágicas.
A influência de Strindberg pode ser notada, principalmente, no drama norteamericano de Eugene O’Neill a Tennessee Williams. O próprio O’Neill assume que foi
lendo Strindberg que soube o que seria o drama moderno e que o que existe de mais
duradouro em sua obra veio desse primeiro impulso. Todavia, O’Neill criou seu
próprio padrão dentro do drama moderno mostrando a tragédia de pessoas que, em
seu isolamento, destroem-se umas às outras porque seus relacionamentos particulares
estão errados e também porque a vida está contra elas. E, para além dessa luta,
encontramos o desejo de morte. Diferentemente de Strindberg, O’Neill identificou
com maior clareza a família como a entidade destrutiva, especialmente em Mourning
Becomes Electra (1931) e Long Day’s Journey Into Night (1941).
A próxima fase da tragédia moderna está ligada a uma crise profunda da
literatura moderna que diz respeito a uma separação da experiência em social e pessoal.
Tendo sido a tragédia moldada por essa divisão, surgiram dois tipos dela: a tragédia
social, mostrando homens arruinados pelo poder e pela fome, que vivem em uma
civilização destruída ou que se destrói a si mesma; e a tragédia pessoal, com homens e
mulheres sendo destruídos nos seus relacionamentos mais íntimos e, por outro lado,
com o indivíduo que conhece seu destino, para quem a morte e um isolamento
espiritual são formas alternativas de sofrimento e heroísmo.
Então é necessário que se escolha entre um dos tipos, embora as conexões entre
eles sejam visíveis, pois quando se dá forma ao mundo imaginário uma das duas
realidades passa a ser dominante.
Se, por um lado, a realidade é fundamentalmente pessoal, então
as crises da civilização são análogas a um desajuste ou desastre
psíquico ou espiritual. Se a realidade, por outro lado, é
essencialmente social, então os relacionamentos frustrados, a
solidão destrutiva, a perda de razões para viver são sintomas ou
reflexos de uma sociedade em desintegração ou decadente. As
ideologias, em ambos os lados, põem-se sutilmente em ação.
As explicações dos outros são meramente uma falsa
consciência ou racionalização; a verdade substancial está aqui,
ou aqui. (WILLIAMS, 2002, p.162)
31
Para Williams, dentre as obras literárias que possibilitam um estudo das etapas
desse longo processo de divisão, as duas mais importantes são Anna Karênina (18751877), de Tolstoi, e Mulheres apaixonadas (1921), de Lawrence. Em ambos os romances
têm-se um relacionamento que termina de forma trágica, com mortes que adquirem
significação a partir da ação como um todo. E a forma do relacionamento trágico é
definida pela forma de outros relacionamentos que funcionam de um modo diferente,
ou seja, é através deles que se confere ao relacionamento trágico um contexto. Mas
também é impossível lê-los sem sentir a presença de questionamentos sociais, tais
como: modos de vida severamente contrastados; a natureza do trabalho e sua relação
com o modo de vida do homem; e aspectos referentes à natureza de uma civilização.
Um outro tipo de tragédia tem início quando o ritmo do sacrifício na sua forma
original se perde, quando os heróis que tocam os espectadores/ leitores são vítimas de
fato e são vistos assim, quando o vínculo emocional se dá com o homem que morre e
não mais com a ação que o levou a isso. Essa idéia de sacrifício pode ser vista nas
obras de Eliot, Crime na catedral (1935) e The cocktail party (1949), e de Pasternak, Doutor
Jivago (1956). Mas, segundo Williams, deve-se estar atento às variações e à ambivalência
desse ritmo:
Temos de reconhecer, nessas ações, os modos sutis pelos quais
o ritmo do sacrifício é sempre dependente do contexto, e que
tipo de contexto seria esse numa obra literária que é também
uma obra de nossa própria época. Temos de reconhecer os
movimentos em que o herói se torna vítima e em que tanto o
herói quanto a vítima podem ser vistos um no lugar do outro.
Temos de reconhecer os processos de um destino escolhido ou
imposto, não só no nível do enunciado, mas também no da
ação como um todo. (WILLIAMS, 2002, p. 208-209)
Temos ainda de reconhecer o processo de transformação na sua elaboração e
reação, pelo qual renovação e culpa trocam de lugar ou se embaralham, e por meio do
qual uma morte é vista como uma derrota ou uma vitória, uma realização ou um
simples colapso. Em 1945, Albert Camus afirmou que uma grande forma moderna do
trágico se fazia necessária e estava para nascer. Mas já se foi dito que a tragédia não é
possível no século XX porque as idéias filosóficas do período não são trágicas. Porém,
32
segundo Williams, os três sistemas de pensamento característicos do período, a saber o
marxismo, o freudismo e o existencialismo, são trágicos sim, pois:
O homem pode atingir uma vida plena somente após violento
conflito; ele é essencialmente coibido e, na sua realidade
dividida, hostil a si mesmo enquanto vive em sociedade; está
lacerado por contradições intoleráveis numa condição na qual
impera um absurdo essencial. (WILLIAMS, 2002, p. 245)
Assim, parece lógico que dessas proposições de suas associações por tantas
mentes tenha surgido tanta tragédia. O estado mais avançado que se poderia alcançar é
o humanismo trágico de Camus e o compromisso trágico de Sartre. Mas será que esse é
mesmo o ponto máximo a que se pode chegar? É essa a última palavra acerca do
sofrimento geral?
Segundo Raymond Williams, o ponto máximo parece não ser esse. De acordo
com ele, Eugene O’Neill escreveu, decididamente, tragédias do homem isolado, para
quem a vida fica sem sentido externamente e cuja luta baseia-se num sentimento de
dominar a vida, dominar a ele mesmo. As pessoas, isoladas, destroem-se umas às
outras porque seus relacionamentos particulares estão errados e também porque a vida
está contra elas. Nessa luta, reside o desejo de morte. Além disso, O’Neill identificou a
família como entidade destrutiva mais claramente que Strindberg, por exemplo. Mas
seus dramas familiares são, na verdade, dramas isolados, como se pode perceber na
trilogia Mourning becomes Electra, que será estudada mais à frente.
O que se está propondo não é, fundamentalmente, um
conjunto de relacionamentos destrutivos, mas um modelo de
destino que não depende de qualquer crença exterior ao
homem. A vida em si mesma é destino, nesse padrão
fundamental que é, mais uma vez, a família intrinsecamente
auto-destrutiva. (WILLIAMS, 2002, p. 158)
A esse padrão fatal são conferidas particularidades, como a Guerra Civil norteamericana, mas são falsas particularidades. O que realmente importa é o padrão de
fatalidade imposto que confere um sentido de inevitabilidade às ações das personagens.
Por isso pode-se falar de trágico em O’Neill, assunto a que retornaremos.
33
3.
Eugene O’Neill e o cenário norte-americano
O declínio do teatro no século XIX não foi um fenômeno que ocorreu apenas
nos Estados Unidos. Esse foi o século da arte feita para a massa e, acima de tudo, foi
um século em que o romance predominou. O teatro norte-americano estava
desconectado com as idéias do Romantismo, sua ênfase no indivíduo e na vida
burguesa, pois, nos Estados Unidos do século XIX, predominava o mito da mobilidade
social, do indivíduo como uma fôrma plástica que poderia ser moldada facilmente nos
contornos do homem de negócios bem sucedido, do político em ascensão ou do herói
nacional. Os atores representavam justamente esses tipos sociais, personagens com os
quais o público se identificava porque representavam o que ele gostaria de ser. O teatro
tinha se estabelecido como um espelho do cenário nacional.
Em 1912, Winthrop Ames, herdeiro de um magnata das estradas de ferro,
recém chegado da Europa onde fora estudar e repleto de influências teatrais européias,
construiu um teatro chamado Little Theatre, dando início a um movimento de reação
contra o comercialismo que caracterizava o teatro da época e, também, a possibilidade
de se criar, a partir das experiências bem sucedidas de teatro moderno europeu, o
próprio teatro norte-americano, digno desse nome, que previa: casas pequenas e
produções mais baratas, pois eram contra o teatro comercial que se fazia; montagem de
peças de dramaturgos modernos como Bernard Shaw, Ibsen e Tchekov, que não eram
encenadas em outros teatros; criar companhias de repertório com elencos fixos; e a
montagem de peças de dramaturgos locais, segundo aponta a professora Iná Camargo
Costa em Panorama do Rio Vermelho (2001).
Os Washington Square Players, criado em 1914, mais tarde Theatre Guild
(1919), e os Provincetown Players, criado em 1915, foram os grupos teatrais que mais
se destacaram dentro do movimento dos Little Theatres. Foi do primeiro grupo a
montagem da primeira peça expressionista da dramaturgia norte-americana, The Adding
Machine (1923), de Elmer Rice. Já o segundo tem, entre seus maiores feitos, a produção
das primeiras peças de Eugene O’Neill, entre elas Beyond the Horizon, produzida na
Broadway em 1919, colocando O’Neill e o teatro norte-americano no cenário mundial.
34
As realizações que o Provincetown Players conseguiu foram consideráveis, não
se pode negar: em oito temporadas, que consistiram em dois programas de verão e seis
de inverno, foram produzidas noventa e três peças de quarenta e sete escritores norteamericanos. O’Neill foi responsável por dezesseis dessas peças. Além disso, foram eles
que estabeleceram o teatro como um foco sério da atividade artística nos Estados
Unidos; sua atuação conjunta e a ênfase na importância do trabalho em grupo,
integrando todos os elementos de performance, estabelecerem um modelo copiado por
outros grupos. Juntamente com os Washington Square Players criaram as bases do
teatro norte-americano moderno, expondo questões importantes como: as teorias
sobre teatro moderno e de vanguarda; a tragédia enquanto gênero no teatro moderno;
e a atuação do diretor e do cenógrafo no teatro, principalmente no que diz respeito à
relação desses profissionais da cena com o texto dramatúrgico. Essas questões até hoje
se fazem pertinentes.
Os caminhos de dramaturgos como O’Neill e Rice estão ligados à trajetória dos
trabalhadores europeus que imigraram para os EUA em fins do século XIX e que já
conheciam e representavam, em seus círculos dramáticos, peças de Ibsen, Hauptmann
e Gorky, por exemplo. Esses fatos não vêm à tona por questões políticas, pois um
programa do governo conhecido como Red Scare, instaurado durante a primeira
guerra, foi “a mais extensa, intensa e brutal perseguição pública e privada, da história
americana, ao movimento operário” (COSTA, 2001, p. 33), que destruiu todos os
registros relativos às atividades desse grupo no período entre 1900-1920. Por causa
dessa repressão, a história teatral dos trabalhadores norte-americanos só começa
efetivamente a partir de 1920, com seu apogeu nos anos 1930.
A crise financeira de 1929 acelerou a falência da Broadway e dos Little Theatres,
abrindo os olhos de algumas pessoas do ramo para a necessidade de um novo teatro
que dramatizasse os grandes problemas sociais da época. Assim, em 1930, o teatro
amador ganhou um novo impulso com a politização generalizada e o florescimento do
agitprop (estética de inspiração soviética). Durante esse período, surgiram vários grupos
que representavam temáticas sociais e lutavam contra o fascismo, o racismo e o Estado
burguês.
35
Em sua luta, esses grupos conseguiram grandes avanços na história do teatro
norte-americano, como a criação do National Committee Against Censorship of the
Theatre Arts (Comitê Nacional contra a Censura nas Artes Teatrais). Esse comitê foi
criado a partir de um episódio conhecido como “Batalha de Washington”, quando
jornais fascistas fizeram uma campanha contra a apresentação da peça Waiting for Lefty,
de Clifford Odets, produzida pelo Theatre Union, em 1935, em Washington. A reação
veio por meio dos trabalhadores apoiados por um outro grupo chamado New Theatre,
e a peça foi apresentada.
O fim desses grupos teatrais “de esquerda” está ligado à criação do Federal
Theatre Project pelo governo Roosevelt. Esse projeto visava criar trabalhos para os
artistas e técnicos que ficaram desempregados após a crise de 1929 em âmbito
nacional, cobrindo todos os setores das artes. Mas contra ele estavam congressistas da
facção anti-Roosevelt, burocratas que administravam as verbas do projeto, a imprensa,
veteranos do teatro profissional que se sentiam ameaçados e produtores da Broadway.
Com seu fim em 1939, a maior parte dos grupos da época que aderiram a ele foram
dissolvidos.
Eugene O’Neill teve uma dupla herança: de seu pai, James O’Neill – ator
famoso por deter os direitos da peça O Conde de Monte Cristo e por ter interpretado o
papel principal da peça por duas décadas – , ele herdou as idéias do teatro do século
XIX – notadamente, aquelas ligadas ao melodrama – que primava pelo significado
central do acontecimento; e da tradição naturalista ele herdou idéias sobre como o
meio-ambiente determina ações e caráter e a tendência de ver o cenário como uma
imagem concreta e mecanismo central do destino. Mas sua tentativa de escrever
diálogos com linguagem autêntica, seu interesse em examinar a natureza humana sob
pressão e sua preocupação em colocar seus personagens em situações extremas
determinou um estilo diferente de escrita, muito distante do melodrama. E, além disso,
possibilitou diferentes abordagens de sua obra: a mais comum é a psicanalíticobiográfica, que, após a produção de Long Day’s Journey Into Night (1956), se tornou
padrão nos 30 anos seguintes; estudos sobre tragédia e psicanálise, incentivados pela
defesa de O’Neill pela produção de tragédias no teatro moderno quando muitos foram
contra; estudos comparativos com Strindberg, fonte que inspirou O’Neill, e Ibsen,
36
entre outros; e estudos um tanto inconsistentes de raça e gênero que o acusam de
racista e misógino, como aponta Iná Camargo Costa no já citado Panorama do Rio
Vermelho (2001).
Em suas primeiras peças – Thirst (1916), Fog (1917), Recklessness, Abortion (1914),
Where the Cross is Made (1918), Before Breakfast (1916) – classes sociais e caráter se
desintegravam sob pressão. O indivíduo nessas primeiras peças é um produto de forças
arbitrárias que habita um mundo contingente onde navios são naufragados, vidas são
destruídas por gravidezes perdidas e pela tuberculose, por casamentos doentios e
aflições repentinas. Seus mares são assombrados por icebergs e a sociedade pelo
fantasma da injustiça social; o sucesso material existe apenas para ser traído por
acontecimentos e a juventude para ser destruída por doenças, pobreza e morte. Tudo
isso parece um reflexo do que O’Neill passou na juventude, como se seus fantasmas
fossem exorcizados em suas peças.
Influenciado pelos trabalhos de Schopenhauer e Freud, O’Neill procurou
retratar em algumas peças a tensão existente entre o desejo pela morte, por uma
resolução final para um desejo não-consumado, e o desejo pela vida, implícito no ser
masculino, ou no instinto sexual masculino. Foi nessa tensão que ele encontrou
algumas vezes um sentido de ironia e, em outras, o sentido do trágico:
[...] Mas tragédia, eu acho, tem o sentido que os gregos deram a
ela. Para eles, ela trazia exaltação, um ímpeto em direção à vida.
Ela os levou a entendimentos espirituais profundos e os
libertou das ganâncias insignificantes da existência. Quando
eles viam uma tragédia sendo encenada, eles sentiam suas
próprias esperanças desesperançadas enobrecidas na arte...
Qualquer vitória que possamos ganhar não é nunca aquela que
sonhamos em ganhar. 6 (BIGSBY, 1982, p. 43)
Em sua busca pela tragédia, O’Neill continuou escrevendo peças que
mostravam essa tensão vida-morte e seres derrotados pelo mundo social vivendo
sempre num ambiente claustrofóbico. Em Beyond the Horizon (1920) – sua primeira peça
“[...] but tragedy, I think, hás the meaning the Greeks gave it. To them it bought exaltation, an urge
toward life and ever more life. It raised them to deeper spiritual understandings and released them
from the petty greeds of everyday existance. When they saw a tragedy on the stage they felt their own
hopeless hopes ennobled in art… Any victory we may win is never the one we dreamed of winning.”
(BIGSBY, 1982, p. 43, tradução nossa)
6
37
a ir para a Broadway e a ganhar o prêmio Pullitzer – as visões são intencionalmente
abandonadas quando o destino intervêm para dobrar a mente aspirante em simples
ironia. The Emperor Jones (1920) é uma soma do colapso da ilusão e do caráter, numa
dissolução do universo pessoal, inspirada em episódio das revoluções e contrarevoluções no Haiti, mas que permite outras associações políticas. Considerada uma
obra-prima do expressionismo norte-americano, foi a primeira peça que deu
reconhecimento internacional ao dramaturgo e, conseqüentemente, ao drama norteamericano.
Mas com Desire Under the Elms (1924), O’Neill estava certo de que havia criado
uma tragédia, embora estivesse enganado. Novamente, questões como emoções
distorcidas, sonhos frustrados, instinto sexual, desejo, fazem com que a peça seja
totalmente o contrário do que ele entende por tragédia. Os personagens centrais da
peça – um casal – não enfrentam uma luta gloriosa com o destino ou uma busca
heróica pelo inalcançável. Pelo contrário. O casal não possui valores morais ou
espirituais.
Ainda em 1924, O’Neill escreveu All God’s Chillun Got Wings, peça na qual ele
aborda a questão do racismo e as pressões do mundo social, ao mostrar o
relacionamento entre um homem negro e uma mulher branca. Nesse mundo, a
liberdade não é acessível para todos. Uma marca do iconoclasmo social de O’Neill é
que ele é capaz de criar, a partir da questão do racismo, a metáfora da alienação numa
peça que possui um cenário naturalista e uma constante pressão expressionista, que na
verdade é um paralelo da pressão social sofrida pelos protagonistas. O registro
lingüístico de The Emperor Jones e de All God’s Chillun Got Wings revela uma decidida
afirmação do direito dos negros por parte de O’Neill, ou seja, “ao definir a fala negra
como padrão, o dramaturgo avisa que adotou o ponto de vista de quem fala assim para
contar sua história” (COSTA, 2001, p. 81).
Com The Great God Brown (1926), ele experimentou o uso de máscaras, antigas
em sua origem, mas modernas em seu conceito, como uma forma de expressar sua
insatisfação com o teatro que ele “herdou” e como uma “pista” sobre a direção na qual
ele acreditava que o teatro deveria seguir. Como ele mesmo diz, no que viria a ser um
manifesto contra o novo teatro norte-americano:
38
Eu me apego cada vez mais à convicção de que o uso de
máscaras será eventualmente descoberto como a mais livre
solução do problema do dramaturgo moderno em como, com a
melhor clareza dramática possível e economia de meios, ele
possa expressar aqueles conflitos profundos escondidos da
mente consciente e inconsciente que a investigação psicológica
continua a nos mostrar. Ele deve encontrar algum método para
apresentar esse drama interno em seu trabalho, ou confessar-se
incapaz de retratar uma das preocupações mais características e
impulso igualmente único e significante de seu tempo.7
(BIGSBY, 1982, p. 67)
Nessa peça, ele utiliza as máscaras para enfatizar o significado mais superficial
que as pessoas mostram a outras pessoas e a forma como são mal-interpretadas
justamente por usá-las. A peça é sobre o paralelo entre o processo de criação e o
mundo inventado do teatro.
Strange Interlude (1928), como O’Neill mesmo a descreve, foi uma tentativa de
fazer um novo drama psicológico mascarado, mas sem o uso de máscaras.
Expressando a dialética entre o consciente e o inconsciente, nessa peça as máscaras
foram assimiladas a um modo realista, tornando-se a face pública de uma consciência
interior, a qual o público tinha acesso a partir de agora. Além de ter se tornado
extremamente popular, fez um enorme sucesso ao ser publicada, recebendo um prêmio
Pullitzer, e, mais tarde, ao ser transformada em filme.
Mas foi com Mourning Becomes Electra (1931) que O’Neill atingiu a maturidade em
termos de criação teatral. Segundo Bigsby (1996), o tema permaneceu o mesmo, uma
imagem dominante do mundo como máscara, mas ele começou a sentir que poderia
expor esse mundo interior sem recorrer ao simples artifício do “aparte”. Interessado
em mostrar a desintegração do ego nessa peça, O’Neill optou por não fazer uso de
solilóquios porque, segundo ele, estes não revelam nada dos motivos dos personagens,
seus desejos secretos e sonhos, que não possa ser mostrado através da pantomima ou
“For I hold more and more surely to the conviction that the use of masks will be discovered
eventually to be the freest solution of the modern dramatist’s problem as to how, with the greatest
possible dramatic clarity and economy of means, he can express those profound hidden conflicts of
the conscious and unconscious mind which the probing of psychology continue to disclose to us. He
must find some method to present this inner drama in his work, or confess himself incapable of
portraying one of the most characteristic preoccupations and uniquely significant, spiritual impulses of
his time. (BIGSBY, 1982, p. 67, tradução nossa)
7
39
de diálogos. Ele também dispensou o uso de máscaras porque elas introduzem um
simbolismo óbvio de dualidade de caráter, apostando na maquiagem, no diálogo e na
habilidade dos atores em se comunicar, para substituir o que antes havia sido mostrado
através de mecanismos simples do teatro da época. O’Neill reescreve aqui a trilogia
grega chamada Oréstia, de Ésquilo, encenada no século V a.C., na qual ele baseou sua
trilogia moderna.
A trilogia esquiliana intitulada Oréstia é composta por: Agamemnon, Coéforas e
Eumênides. Em linhas gerais, trata do mito dos Atridas: Agamêmnon regressa para casa
após lutar na guerra de Tróia, mas ao chegar é assassinado pela mulher e o amante
desta. Electra e Orestes, filhos do casal, vingam a morte do pai, a mando do deus
Apolo. Após matar o amante de sua mãe e ela própria, Orestes é perseguido pelas
Erínias, divindades vingadoras de crimes dentro de uma família, e vai até Atenas, onde
é julgado e absolvido pelo voto da deusa Atena. No final as Erínias são transformadas
em divindades do bem, as Eumênides, uma vez que fica instituído o julgamento
humano no Areópago. Já a trilogia de O’Neill recupera o mito, mas o reveste de outra
roupagem para adaptá-lo ao público do século XX. Em Mourning becomes Electra,
composta de A volta ao lar, Os perseguidos e Os amaldiçoados, Ezra Mannon volta para casa
após a Guerra Civil. Lá chegando é assassinado pela mulher e o amante desta. A filha
Lavínia convence o irmão Orin a vingar a morte do pai matando o amante da mãe.
Com isso, ela provoca o suicídio da mãe. Orin, sentindo-se culpado e perseguido pelos
fantasmas dos antepassados, tenta livrar-se de sua culpa confessando o crime, mas
Lavínia não pode deixar que os segredos da família sejam expostos, e faz com que o
irmão se mate. No final, ela fica sozinha na casa que mais parece o túmulo da família.
Sua última peça, Long Day’s Journey Into Night, fala de uma fé no amor, talvez
inspirada por seu casamento, o que lhe proporciona enfrentar sua “morte” (num
sentido figurado) numa peça escrita com profunda pena, entendimento e perdão. A
peça é modelada ao redor das várias tentativas de isolamento adotadas pela sofrida
família Tyrone, enquanto que, como na maioria de seus trabalhos, o método retórico
da peça é moldado em declarações ditas e desditas, frases que são retiradas antes de
estarem completas, crueldades proibidas pela compaixão, bondades desfeitas pela
40
amargura. O mundo das personagens é um mundo de gestos incompletos,
necessidades nunca satisfeitas, desejos nunca realizados.
A figura de Eugene O’Neill, que se destacou por mais de quatro décadas no
teatro norte-americano, é marcada pela força e originalidade genuínas. Para ele o teatro
seria fútil se não abordasse grandes temas, uma vez que ele estava sempre preocupado
em abordar temas sociais. A prosa sólida, os momentos de pura poesia, o
experimentalismo consciente, o engajamento angustiado com o dilema do livre arbítrio
e do determinismo, a criação de personagens pressionadas pelos vários extremos do
mundo social, são as características de um escritor que acreditava que a tragédia era a
mais alta forma do drama, cuja imaginação esteve sempre atraída pelo excesso, mas que
esteve sempre preocupado em descobrir um caminho no qual o espírito humano
pudesse sobreviver aos rigores de uma vida dolorosa e desiludida. Como ele mesmo
afirma:
O teatro para mim é vida – a substância e interpretação da
vida.... (E) vida é luta, frequentemente, se não geralmente, luta
sem sucesso; porque a maior parte de nós tem alguma coisa no
nosso interior que nos previne de alcançar o que sonhamos e
desejamos. E então, com nosso crescimento, estamos sempre
vendo além do que podemos alcançar. Eu suponho que esta é
uma razão pela qual eu tenho me sentido tão indiferente quanto
aos movimentos políticos e sociais de todos os tipos.8
(CARGILL et all, 1961, p. 107)
“The theatre to me is life – the substance and interpretation of life... [And] life is struggle, often, if
not usually, unsuccessful struggle; for most of us have something within us which prevents us from
accomplishing what we dream and desire. And then, as we progress, we are always seeing further than
we can reach. I suppose that is ine reason why I have come to feel so indifferent toward political and
social movements of all kinds.” (CARGILL et ll, 1961, p. 107, tradução nossa)
8
41
CAPÍTULO II
OS ATRIDAS:
UM MITO ONTEM E HOJE
1.
O sentido originário do mito
Na Antiguidade, sabe-se que as narrativas míticas eram usadas como modelos
de comportamentos para as pessoas que tinham certas crenças e viviam de acordo com
elas. Mas o que é mito? A partir de várias leituras, pode-se chegar a uma definição:
Mito é uma narrativa dos tempos fabulosos ou heróicos, de significação simbólica, que
se refere à cosmogonia e também a aspectos da condição humana. Podem ser
narrativas sobre deuses ou Entes Sobrenaturais ou sobre pessoas e acontecimentos
ilusórios, elaboradas e aceitas por grupos humanos e que representam um papel
significativo em suas vidas.
Para os etnólogos, mitos servem como modelos de comportamento pois
relatam histórias que aconteceram no começo dos tempos. Os sociólogos definem
mito como uma crença coletiva, dinâmica e universal que reveste a forma de uma
imagem através de símbolos. Já para os psicólogos, para que exista mito é preciso que
exista uma crença revestida de símbolos que, ao mesmo tempo, a mascaram e
exprimem, mas que não pode ser abertamente afirmada.
Partindo desses empregos qualificados da palavra, chega-se a um significado do
que vem a ser mito:
42
Um relato (ou uma personagem implicada num relato)
simbólico que passa a ter valor fascinante (ideal ou repulsivo) e
mais ou menos totalizante para uma comunidade humana mais
ou menos extensa, à qual ele propõe a explicação de uma
situação ou forma de agir. (DEBEZIES, 1998, p. 731)
Mas segundo Pierre Brunel (1998), para se chegar a uma definição de mito é
prudente que se considere suas funções. A primeira delas é que o mito conta, ele é uma
narrativa; a segunda diz que o mito explica; e a terceira diz que o mito revela. Então se
pode dizer que o mito é uma narrativa do sagrado ocorrida nos tempos primordiais,
explicando as causas da criação ou de um acontecimento, revelando seres e deuses.
Como diz Mircea Eliade:
O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento
ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do
“princípio”. [...] o mito narra como, graças às façanhas dos
Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma
realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento [...] É
sempre, portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata de que
modo algo foi produzido e começou a ser. (ELIADE, 1986, p.
11).
Para o homem arcaico, o mito é muito importante porque lhe ensina e explica
de onde ele veio, de que ele é constituído e tudo o que está relacionado com a sua
existência e seu modo de existir no universo. O mito desempenha, então, uma função
indispensável na vida humana, pois o homem encontra nele os modelos que servem de
exemplo para seus atos.
Durante muito tempo, entre os gregos antigos, o mito teve esse significado de
relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial, com a interferência dos
deuses. No Ocidente, a mitologia grega produziu um legado de narrativas que acabou
por inspirar a literatura e outras artes, passando a constituir um arcabouço onde toda a
cultura ocidental passou a buscar inspiração.
Na civilização grega antiga, os mitos também desempenhavam funções dentro
da sociedade. Para os gregos, o mito esclarece algumas questões sobre os tempos
fabulosos, a cosmogonia, respondendo a perguntas de caráter existencial (como, por
exemplo, “de onde viemos?” ou “para onde vamos quando morremos?”) e explica
43
fenômenos naturais e biológicos. Ao mesmo tempo, ele propõe explicações para
situações diversas e modelos de comportamento, tendo, assim, uma função ética, pois
tais narrativas constroem limites para a ação humana, impedindo que o homem
ultrapasse os limites impostos pelos deuses e seja punido.
No início, os mitos circulavam em relatos orais, pois não existia a escrita ainda,
e as narrativas foram passando pelas gerações e chegando até a população através dos
rapsodos, poetas que criavam seus poemas e os transmitiam oralmente, e os aedos,
cantores que cantavam as poesias. É durante essa fase oral do mito que surgem as
narrativas épicas, sendo as mais conhecidas a Ilíada e a Odisséia, ambas atribuídas a
Homero. Não se pode deixar de salientar a importância de Hesíodo e sua Teogonia (ou o
surgimento dos deuses – relato sobre os tempos primordiais), que junto com Homero
é o mais antigo poeta grego cujas obras chegaram até nós.
Com o advento da escrita, esses e outros poemas puderam ser sistematizados, e
uma outra forma de arte literária surgiu – a tragédia. Baseadas nas narrativas míticas e
nas epopéias de Homero e Hesíodo, as tragédias gregas brilharam por muitos anos nos
palcos atenienses, no período conhecido como século de ouro da Atenas Clássica (séc.
V a. C.).
2.
Aproveitamento dos mitos: epopéias e tragédias
No contexto grego, a epopéia teria sido o primeiro gênero literário derivado do
repertório de mitos ancestrais. Dos poetas épicos, destaca-se Homero, considerado o
melhor de todos, não só por Aristóteles como também por outros filósofos e críticos
literários. Platão, grande filósofo grego, expulsa os poetas da República, mas não
expulsa Homero, por considerá-lo um educador, seus poemas eram levados às salas de
aula estando associados à primeira alfabetização. Porém, é importante salientar que, na
época de Homero, os poemas não eram escritos, pois não havia escrita, a tradição era
oral. Ele era um rapsodo, um cantor que recitava seus versos apelando apenas para a
memória. Por isso, uma das partes constantes da epopéia é a invocação; os poetas
44
(cantores) pediam ajuda às Deusas e Musas para fazerem um bom trabalho, ou seja,
para serem capazes de cantarem bem os mitos:
Quando o poeta é possuído pelas Musas, ele sorve diretamente
da ciência de Mnemósine, isto é, sobretudo do conhecimento
das “origens”, dos “primórdios”, das genealogias. [...] Graças à
memória primordial que ele é capaz de recuperar, o poeta
inspirado pelas Musas tem acesso às realidades originais. Essas
realidades manifestaram-se nos tempos míticos do princípio e
constituem o fundamento deste Mundo. (ELIADE, 1986, p.
108).
Cabe ainda lembrar que Homero viveu no período limite entre a maturidade da
mitologia e o início da crítica rigorosa que foi feita aos mitos, conforme veremos
adiante. Alguns críticos defendem a idéia de que Homero desempenhou um papel
importante na sociedade grega uma vez que suas epopéias – Ilíada e Odisséia –
forneceram bases para o estudo de um mundo real, sendo esses escritos praticamente
os únicos documentos que restaram como evidências daquela civilização na qual viveu
o poeta. E. A. Havelock considera a epopéia homérica uma enciclopédia de
conhecimentos coletivos:
Homero não apenas se pronunciou sobre os assuntos mais
importantes como a guerra, o comando dos exércitos, a
administração dos Estados, a educação do homem, mas
revelou-se mestre em todas as artes: rituais detalhados,
procedimentos jurídicos, gestos e práticas de sacrifício, modelos
de vida familiar, relações com os deuses e até instruções
completas sobre a maneira de se construir um barco fazem
parte das informações fornecidas pelos milhares de versos da
Ilíada e da Odisséia. (HAVELOCK apud DETIENNE, 1992, p.
58).
A Ilíada narra um período do décimo ano da guerra de Tróia em que os gregos,
cansados com o cerco que fazem à cidade, decidem atacar. É então que vemos vários
heróis, tanto gregos quanto troianos, se enfrentarem no campo de batalha: Aquiles,
Agamêmnon, Odisseu, Ájax, Diomedes, Menelau, Heitor, Enéias, Paris, entre outros.
A Odisséia narra o retorno de Odisseu, um dos heróis gregos, à sua terra natal (Ítaca).
Logo depois que Tróia é tomada e os tesouros são divididos, Odisseu parte para casa,
45
mas comete uma ofensa aos deuses e é condenado a vagar por muito tempo antes de
chegar ao seu destino. Após dez anos e muitas aventuras pelos mares (ninfas, sereias,
monstros, deuses, divindades, ciclopes) ele finalmente chega e vê seu reino tomado por
pretendentes à mão de sua esposa, uma vez que acreditavam estar ele morto. Com a
ajuda do filho e de um empregado, Odisseu mata os pretendentes e restabelece a paz
no seu reino.
As epopéias homéricas, por seu caráter de vasto repertório de mitos, mas
também pela tessitura desses mitos em narrativas comoventes, acabaram contribuindo
significativamente para o surgimento de uma outra forma de arte literária: as tragédias.
Os dramaturgos gregos confinaram-se quase absolutamente
num círculo restrito de histórias míticas; uns após outros, todos
recorreram a Homero e aos demais poetas do ciclo épico;
Ésquilo, Sófocles e Eurípides, para não mencionar seus
inúmeros rivais menos conhecidos cujas obras se perderam,
trabalharam e retrabalharam os mesmos temas [...] A arte do
dramaturgo antigo consiste em realçar a importância trágica do
enredo, em expor os caracteres e preparar incidentes de maneira
a excitar a atenção. (KURY, 2003, pp. 12-13).
Dentre os vários autores de tragédias, três obtiveram um destaque maior por
serem considerados os melhores de sua época, o século V a.C.: Ésquilo, Sófocles e
Eurípides. Ésquilo (525 – 455 a.C.), foi o autor de tragédias da justiça divina. Ele foi o
primeiro a diminuir a importância do coro (conjunto harmônico de atores que, como
representantes do povo junto aos personagens principais, e declamando e cantando,
narram a ação, a comentam, e freqüentemente nela intervêm com ponderações e
conselhos) e a transferir o papel principal para o diálogo, aumentando o número de
atores de um para dois. Os deuses estão presentes em toda parte no mundo esquiliano,
mas isso não quer dizer que seja um mundo ordenado. É um mundo onde a violência
reina, onde se é perseguido, onde se grita de medo. Mata-se e morre-se em busca da
justiça divina.
Mas, por meio da angústia e do temor, pelo mistério em que se
envolve o sagrado, uma mesma fé apresenta-se em toda parte,
tentando reconhecer nessas forças terríveis os traços, os sinais,
os marcos de uma justiça superior, que é simplesmente mal
46
compreendida. Essa busca da justiça confere uma dimensão
extra à obra de Ésquilo, pois amplia o alcance de cada fato e de
cada palavra. (ROMILLY, 1998, p. 50)
Sófocles (495 – 405 a.C.) foi, dos três autores, o mais premiado nos concursos,
tendo escrito tragédias dos heróis solitários. A expansão política que ele conheceu e
viveu fez com que a sociedade ateniense da época tivesse uma maior confiança no
homem. Isso marcou profundamente sua obra:
Ele coloca, portanto, o homem no centro de tudo, e entremeia
suas tragédias com obrigações conflitantes e debates sobre
condutas. Ele acredita na importância do homem e na sua
grandeza. Chega assim a conceber imagens de heróis que
ninguém conseguiria dobrar – mesmo que fossem renegados
por aqueles que os cercavam, mesmo que os deuses parecessem
zombar deles. (ROMILLY, 1998, p. 72)
São de Eurípides (480 – 406 ou 405 a.C.) as “tragédias das paixões”. Tendo
introduzido no gênero trágico muitas inovações, foi considerado um autor moderno,
mas não agradou a todos. O mundo representado em suas peças não tem nada daquela
ordem invocada por seus antecessores. Influenciado pelos sofistas, ele questionava a
ordem política e criticava os deuses, seus heróis são mais parecidos com homens
comuns ao invés de superiores a eles.
Com efeito, seu teatro é desconcertante em função de suas mil
facetas, com seus variados reflexos. Ele evoca a política com
suas lutas do dia-a-dia; ele condena, discute, protesta. Seus
personagens obedecem a uma nova psicologia, pois estão mais
próximos de nós que os heróis dos outros trágicos, e também
mais inteiros nas suas paixões – as quais Eurípides nos mostra
em toda a sua crueza. (ROMILLY, 1998, p. 102).
É nas tragédias que podemos encontrar as maiores referências aos mitos gregos:
por usarem dos mitos para construírem suas peças, os tragediógrafos acabavam por
“fixar” uma versão para aquele mito, mas apenas aqueles que tinham maior aceitação
junto ao público. Ésquilo “fixou” uma versão para o mito dos Atridas com sua trilogia
Oréstia, e foi, a partir dela, que outras versões foram escritas. Sófocles “fixou”, por
exemplo, o mito de Édipo com a tragédia Édipo Rei, ou com o que nos restou: Édipo
47
Rei, Édipo em Colono e Antígona. Já Eurípides nos deixou o mito de Medéia “fixado”
como o da mãe que mata os próprios filhos para vingar-se do marido.
Dessa forma, percebe-se a importância que as tragédias tiveram e têm até hoje,
pois os mitos ainda hoje são correntes graças a elas e a essas versões que ajudaram a
“fixá-los”. Se não fosse assim, não teríamos hoje tantas obras que fazem referências a
tais mitos e não nos encantaríamos com eles.
3.
Dessacralização dos mitos
Sabe-se que uma história transmitida oralmente, que não esteja a cargo de um
“doutor da memória”, modifica-se no espaço de algumas gerações. Por isso tantas
versões diversas de um mesmo mito. Então, seria natural pensar que quando essas
narrativas orais fossem transformadas em narrativas escritas, muito se perderia do
relato original. Alguns estudiosos acreditam nessa hipótese. Mas não se deve acreditar
que a escrita veio substituir uma tradição oral supostamente enfraquecida, mesmo
porque ela não estava fraca e o surgimento da escrita na Grécia (século VIII a.C.) não
se deu de forma repentina.
Quanto às narrativas mitológicas, pode-se afirmar que a escrita, muitas vezes,
desfigura o mito de suas características básicas como, por exemplo, de suas variantes. E
também o distancia do momento da narrativa. Isso porque os poetas obedeciam
sobretudo a ditames estéticos, vez que toda obra de arte possui suas características.
Para reduzir um mitologema a uma obra-de-arte, digamos, a
uma tragédia, o poeta terá que fazer alterações, por vezes
violentas, a fim de que a razão resulte única, se desenvolva num
mesmo lugar e “caiba” num só dia. (BRANDÃO, 2004, p. 26).
Brandão trata acima do que Aristóteles, na Poética, chamou de concentração de
efeitos, ou seja, unidade de ação e compressão temporal. Um outro problema que a
escrita trouxe para a mitologia foi quanto à sua documentação. Sabe-se que um mito
possui inúmeras variantes e que uma obra-de-arte, seja uma epopéia ou uma tragédia,
só pode apresentar uma dessas variantes, ou aquilo que se torna uma nova variante. O
48
problema reside no fato de que na Grécia a poesia tinha um grande prestígio e a
variante apresentada por um grande poeta tornava-se canônica com as demais caindo
no esquecimento.
Cabe-se ainda apontar que, com o surgimento da escrita e o crescimento da
filosofia, o mito passou a ser visto de outra forma. Os filósofos Pré-Socráticos
tentaram desmitificar ou dessacralizar o mito em nome do logos (razão). Porém, essa
crítica não visava à essência do mito e, sim, às atitudes dos deuses que, segundo eles,
não poderiam ser concebidos como injustos, adúlteros e vingativos. O
antropomorfismo dos deuses também é censurado, como enfatiza o filósofo grego
Xenófanes (576-480 a.C.):
Se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos e pudessem,
com suas mãos, pintar e produzir as obras que os homens
produzem, os cavalos pintariam figuras de deuses semelhantes a
cavalos, e os bois semelhantes a bois, e a eles atribuiriam os
corpos que eles mesmos têm. (B 15 – traduzido por G. S. Kirk
e J. E. Raven, The Presocratic Philosofers. Cambridge, 1957, p.168,
apud ELIADE, 1986, p. 134)
Xenófanes também acredita que existe um deus acima de todos os deuses e
homens cuja forma, pensamento e atitudes não se assemelham aos mortais. Assim
como ele, Demócrito (520-440 a C.) também fez sérias críticas às representações dos
deuses. Reduzindo toda a criação a um entrechoque de partículas denominadas átomoi
(átomos), ele acreditava que os deuses eram entes superiores aos homens, embora
fossem compostos também de átomos, o que os tornava mortais. Para ele, os deuses
vulgares e a mitologia nasceram da fantasia popular.
Um outro entrave para a mitologia foi a dicotomização postulada pelo poeta
tebano Píndaro (521-441 a.C.). Segundo ele, dentre as diversas variantes de um
mitologema, apenas uma é verdadeira, as demais são criações dos poetas:
O mundo está repleto de maravilhas e, não raro, as afirmativas
dos mortais vão além da verdade; mitos, ornamentados de
hábeis ficções nos iludem... As Graças, a quem os mortais
devem tudo que os seduz, tributam-lhes honras e, as mais das
vezes, fazem-nos crer no incrível! (PÍNDARO, Olímpias, 1, 2833, apud BRANDÃO, 2004, p.28)
49
Assim, ele diz ao público para acreditar somente numa única versão para cada
mito, aquela filtrada por ele, que também era poeta. Dessa mesma forma pensava
Ésquilo (525-456 a.C.), um dos três grandes tragediógrafos gregos, considerado o pai
da tragédia. Ele acreditava que o poeta tinha como dever moral extrair do mito a
variante verdadeira:
‘O dever do poeta’, diz Ésquilo a respeito do mito de Fedra, ‘é
ocultar o vício, não propagá-lo e trazê-lo à cena. Com efeito, se
para as crianças o educador modelo é o professor, para os
jovens o são os poetas. Temos o dever imperioso de dizer
coisas honestas’. (BRANDÃO, 2004, p.29)
Um outro fator que contribuiu para a dessacralização da mitologia foi a
politização, que gerou o deslocamento de alguns mitos, principalmente de heróis,
fazendo com que eles sempre passassem pela cidade de Atenas, não importando de
onde viessem ou para onde fossem. Como se sabe, a peregrinação é uma característica
dos heróis, mas a passagem obrigatória por Atenas pode ser atribuída a causas políticas:
para defender a hegemonia política da cidade, alguns poetas modificaram os mitos
tanto com as peregrinações como atribuindo gestas de outros heróis aos locais e
fabricando-lhes falsas genealogias. Com os feitos dos heróis de cidades inimigas
fizeram o inverso, denegrindo-os.
Já no século IV a C., Epicuro (341- 270 a.C.) retomou as idéias de Demócrito
procurando libertar o homem do medo dos deuses. Sua hipótese era a de que se os
deuses são matéria como o homem e estão também, por esse motivo, sujeitos à morte,
por que então temê-los? Em um fragmento de sua Ética pode-se notar que ele colocava
os deuses como impotentes diante do mal:
Deus, ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não
quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não
pode, é impotente: o que é impossível em Deus. Se pode e não
quer, é invejoso, o que, igualmente é contrário a Deus. Se nem
quer nem pode, é invejoso e impotente: portanto nem sequer é
Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com
Deus, donde provém então a existência dos males? Por que
Deus não os impede? (EPICURO, Ética, apud BRANDÃO,
2004, p. 30)
50
Depois de todas essas idéias ou “ataques”, a mitologia parecia estar morta e os
deuses, além de desmitizados, estavam dessacralizados. Mas ainda no século IV a.C.
uma parte da mitologia pôde ser salva com o surgimento de duas formas de
interpretação do mito: o alegorismo e o evemerismo. “Os mitos não eram mais
compreendidos literalmente: procurava-se neles agora ‘significações ocultas’,
‘subentendidos’” (ELIADE, 1986, p. 135). Essas ‘significações ocultas” foram
denominadas de alegoria no século I d.C., sendo a interpretação alegórica das
mitologias homérica e hesidiótica, desenvolvida pelos estóicos que reduziram os deuses
gregos a princípios físicos ou éticos e “salvando” Homero e Hesíodo diante das elites
helênicas.
Todavia, não foi só a alegoria que “salvou” a mitologia. Nos fins do século IV
a.C., o poeta alexandrino Evêmero publicou uma obra intitulada História Sagrada, na
qual afirmava ter descoberto a origem dos deuses: “estes eram antigos reis e heróis
divinizados e seus mitos não passavam de reminiscências, por vezes confusas, de suas
façanhas na terra.” (BRANDÃO, 2004, p. 31).
O evemerismo, a alegoria e todas essas outras idéias surgidas anteriormente,
ajudaram a mitologia a sobreviver até mesmo ao Cristianismo porque, como afirma
Junito Brandão,
[...] os ataques desfechados contra o mito partiram sempre da
elite pensante, de filósofos, de poetas e de escritores (com
muitas e poderosas exceções) e se uma parcela dessa mesma
elite pensante descobriu, sobretudo no Oriente, “outras
mitologias” capazes de alimentar-lhe o espírito, a massa iletrada,
tradicionalista por vocação e indiferente a controvérsias sutis, a
alegorismos e a evemerismos, agarrava-se cada vez mais à
tradição religiosa. (BRANDÃO, 2004, p. 32).
Porém não se pode esquecer que essa sobrevivência da mitologia se deve
também, em grande parte, à transmissão da cultura grega via helanismo, pois as
epopéias, tragédias e todos os poemas antigos que nos restaram permitiram que esses
relatos míticos chegassem até nós.
51
4.
O mito dos Atridas: das epopéias homéricas à Oréstia de Ésquilo
O mito grego dos Atridas diz respeito a uma maldição familiar que transformou
o palácio de Micenas num lugar de crimes e horrores. Antes de explicar o mito, é
necessário que se fale sobre hamartía e génos. Hamartía vem do verbo grego hamartanéin,
que significa “errar o alvo”. Com o tempo, o significado foi ampliado e o verbo passou
a significar “errar, perder-se, cometer uma falta”. Daí, hamartía poder ser traduzida
como “erro, falta, inadvertência”, e na Grécia antiga essas faltas eram julgadas de fora
para dentro, ou seja, não se julgavam intenções e, sim, fatos. A palavra génos pode ser
traduzida, em termos de religião grega, como “descendência, grupo familiar” e definida
como “pessoas ligadas por laços de sangue”.
Quando uma hamartía é cometida dentro de um génos, ela tem que ser vingada.
Existem dois tipos de vingança: a ordinária, quando a falta se dá entre membros de
uma família cujo parentesco é em profano (esposos, cunhados, sobrinhos e tios), com a
vingança executada pelo parente mais próximo da vítima; e a extraordinária, quando a
falta cometida se dá entre parentes em sagrado (pais, filhos, netos e irmãos) e a vingança
fica a cargo das Erínias, ou Fúrias Infernais.
A essa idéia do direito do génos está indissoluvelmente ligada a
crença na maldição familiar, a saber: qualquer hamartía cometida
por um membro do génos recai sobre o génos inteiro, isto é, sobre
todos os parentes e seus descendentes em sagrado ou em
profano. (BRANDÃO, 2004, p. 77).
O mito dos Atridas9 tem como núcleo central a hamartía de Atreu. Tendo
encontrado um carneiro de velo de ouro, Atreu prometeu sacrificá-lo a Ártemis, mas
guardou o velocino num cofre. Aérope, sua esposa, mas amante de seu irmão Tieste,
secretamente entregou a este o velocino. Na luta pelo trono, Tieste propôs que seria o
rei aquele que mostrasse à assembléia um velo de ouro, o que Atreu prontamente
concordou por não saber da traição da esposa. Mas Zeus mandou Hermes aconselhar
Atreu a fazer outra proposta, segundo a qual o rei seria designado por um prodígio: se
o sol seguisse seu curso normal, Tieste seria o rei; se voltasse para o leste, Atreu
9
Conferir o quadro da genealogia dos Atridas na página 66.
52
ocuparia o trono. Com a ajuda de Zeus, o sol voltou para o leste e, assim, Atreu passou
a reinar em Micenas e expulsou o irmão de seu reino.
Pouco tempo depois, Atreu descobriu a traição de Aérope e, depois de mandar
lançá-la ao mar, fingiu uma reconciliação com Tieste, convidando-o para um banquete
no qual serviu as carnes dos três filhos do irmão. Após o banquete, mostrou-lhe as
cabeças dos seus filhos e novamente o baniu de Micenas. Tieste refugiou-se em Sicione
e, a conselho de um oráculo, uniu-se à filha Pelópia, com quem teve um filho chamado
Egisto. Após o nascimento do filho, Pelópia foi para Micenas e se casou com o tio, e
assim Egisto foi criado juntamente com os dois filhos que Atreu tivera com Aérope:
Agamêmnon e Menelau. Mais tarde, Egisto recebe do padrasto a ordem para matar
Tieste, mas descobre a tempo que é seu filho e mata Atreu, entregando o trono ao pai.
Pelópia, ao ver a cena, se mata com a espada do pai.
Não se sabe como, mas Agamêmnon surge no mito como o rei por excelência,
encarregado do comando supremo dos exércitos gregos contra Tróia, segundo
Homero. Reinava sobre Argos, Micenas e toda a Lacedemônia, de acordo com algumas
tradições. Quando das núpcias de seu irmão Menelau com Helena, o atrida passou a
cortejar Clitemnestra, irmã de Helena, que já era casada com Tântalo II, filho de Tieste.
Para ficar com ela, Agamêmnon matou Tântalo II e o filho recém-nascido do casal,
obrigando Clitemnestra a casar-se com ele. Desse enlace, nasceram Ifigênia, Electra,
Crisótemis e Orestes. Este é o primeiro estágio do mito.
Quando os gregos se reuniram em Áulis para seguir para Tróia, o mar foi
tomado por uma grande calmaria que impediu a partida. Calcas, o adivinho, explicou
que o fato se devia à cólera de Ártemis, por Agamêmnon ter dito que nem ela caçaria
uma corça tão bem quanto ele. Para aplacar a ira da deusa, o chefe grego prometeu
sacrificar o mais belo fruto do ano em Argos, que, por fatalidade, era sua filha Ifigênia.
Apesar de relutar, Agamêmnon consentiu no sacrifício da filha, o que agravou ainda
mais a raiva de sua esposa. E, assim, a armada grega partiu para Tróia.
Dez anos depois, de volta da guerra, Agamêmnon retorna à sua casa e é
cruelmente assassinado por Egisto e Clitemnestra, que haviam se tornado amantes.
Nos trágicos, as circunstâncias de sua morte variam: ora Agamêmnon foi morto
durante o banquete de boas vindas, ora o foi durante o banho. Para alguns foi morto
53
pela esposa, para outros pela esposa e o amante, ou ainda apenas por Egisto. Este,
como dito antes, é filho de Tieste, portanto vingador do pai, que foi morto por
Agamêmnon. Após a morte de Agamêmnon, ele ainda reinou em Micenas ao lado de
Clitemnestra por sete anos até a chegada de Orestes.
Orestes, com todo o fardo das faltas cometidas pelos familiares, é conhecido no
mito como o vingador do pai, Agamêmnon. Mas é só a partir dos tragediógrafos que
ele se torna um personagem de primeiro plano. Quando do assassinato do pai, Orestes
escapou do massacre graças à irmã Electra, que o enviou para a Fócida, reino de seu tio
Estrófio. Existem variantes no mito quanto à salvação de Orestes: ele teria sido salvo
por uma ama, por um preceptor ou por um velho servidor da família.
Quando atingiu a idade adulta, Orestes recebeu do deus Apolo a ordem de
vingar o pai. Para isso, vai para Argos acompanhado pelo primo Pílades, onde é
reconhecido pela irmã e juntos tramam o assassinato de Egisto e Clitemnestra. Muitas
são as variantes nas tragédias quanto ao reconhecimento de Orestes por Electra, mas é
certo que Electra, a virgem indomável, é tida como a “mentora” do crime e o irmão o
executor. Como diz Junito Brandão (2004, p. 91): “Mas tragédia é obra de arte! O mito,
no entanto, continua o mesmo...”
Para realizar sua vingança, Orestes se apresenta no palácio como estrangeiro
vindo da Fócida para anunciar a sua morte e lá mata Egisto e Clitemnestra. Como
matou a própria mãe, ele é perseguido pelas Erínias e busca abrigo no templo de Apolo
em Delfos, que o manda para Atenas para ser julgado e se livrar das Erínias. Como o
julgamento terminou empatado, coube a Palas Atena, como presidente do tribunal,
desempatá-lo: o “voto de Minerva” foi em favor de Orestes, que foi absolvido de seu
crime.
Após o julgamento, seguindo instruções de Apolo, Orestes foi para a Táurida,
onde contou com a ajuda da irmã Ifigênia para roubar a estátua de Ártemis e se livrar
da manía (loucura) provocada pelo matricídio. Ao voltar, foi procurar sua prima
Hermíone, filha de Menelau e Helena, prometida a ele em casamento. Aqui ele repete a
história do pai: encontrando sua noiva casada com Neoptólemo, a raptou e matou seu
marido. Com ela teve um filho e reinou em Argos e em Esparta.
54
Electra não aparece nas epopéias homéricas, mas dá nome a duas tragédias e
está presente com destaque em outras tantas que relatam o mito de sua família. Após o
assassinato do pai, foi humilhada no palácio até ser dada em casamento a um pobre
camponês, conforme está em Eurípides. Depois de vingar a morte do pai com a ajuda
do irmão e ficar ao lado dele até o julgamento em Atenas, casou-se com Pílades.
O mito dos Atridas está parcialmente presente em diversas passagens da Ilíada e
da Odisséia de Homero, mas é nesta última que se encontra o maior mitologema de
Agamêmnon registrado em epopéias: livro I, v. 29-47 (Zeus fala aos deuses sobre o que
Egisto fez e que fim teve), v. 298-300 (alusão de Atena ao destino de Agamêmnon e
Orestes); livro III, v. 193-198 (Nestor lembra a Telêmaco o destino de Agamêmnon),
234-235 (Atena remete-se à morte de Agamêmnon), 254-312 (Nestor conta a
Telêmaco o que aconteceu com Agamêmnon desde a partida de Tróia); livro IV, v.
512-547 (Menelau conta a Telêmaco o que aconteceu com seu irmão); livro XI, v. 387466 (Agamêmnon conta a Odisseu, no Hades, o que aconteceu com ele).
Por se encontrarem em partes diversas nos poemas, torna-se muito difícil reunílas e colocá-las em ordem cronológica para se ter uma dimensão mais clara do mito,
portanto, é nas tragédias que ele se encontra relatado por inteiro e de forma mais fácil
de ser montado, embora uma ênfase seja dada à segunda parte do mito, que se inicia
com o casamento de Agamêmnon e Clitemnestra e vai até o final aqui relatado.
São nove as tragédias que contam a maldição dos Atridas: Oréstia (Agamêmnon,
Coéforas e Eumênides), de Ésquilo; Electra, de Sófocles; Electra, Helena, Ifigênia em Áulis,
Ifigênia em Táurida e Orestes, de Eurípides. Como dito antes, elas apresentam variações
do mito que, entretanto, não comprometem a essência da narrativa originária. É claro
que, como cada tragediógrafo viveu uma época diferente, as idéias de seu tempo
influenciaram na feitura de cada peça, daí haver variantes do mesmo mito.
É importante ressaltar a importância da trilogia esquiliana, cuja excelência na
estrutura já era elogiada desde os antigos. E a admiração continua até hoje, como atesta
Mário da Gama Cury na introdução da tradução que fez da Oréstia:
Por exemplo, a prestigiosa publicação inglesa The Economist,
no número datado de 23 de dezembro de 1989 (página 14), ao
fazer uma resenha dos fatos mais notáveis da história mundial
55
desde a Antiguidade até nossos dias, começa pelo chamado
“século de Péricles” (século V a.C.), mencionando como
evento marcante na evolução da humanidade a primeira
representação em Atenas (em 458 a C.) da Oréstia de Ésquilo.
(KURY, 2003, p. 7)
Na mesma introdução, Kury ainda ressalta o conhecido julgamento de Goethe
segundo o qual Agamêmnon é a “obra-prima das obras-primas”. Dentre os antigos,
Aristófanes, poeta e crítico literário em suas comédias, diz que Ésquilo era o único
poeta trágico realmente dionisíaco e que foi o primeiro a estruturar frases
grandiloqüentes. Segundo Dionísios de Helicarnassos, Ésquilo usava sua genialidade
para criar um vocabulário poético próprio quando os recursos de linguagem
disponíveis na época se tornavam insuficientes para seu propósito. “De acordo com
pesquisadores modernos, Ésquilo criou mais de mil palavras em suas sete peças
restantes e nos fragmentos das que se perderam” (KURY, 2003, p. 14)
Retomando um fato já narrado nas epopéias, na Oréstia, Ésquilo “procurou
definir a justiça divina, considerando sua evolução e seu ajustamento ao longo de uma
seqüência de gerações.” (ROMILLY, 1998, p. 57) As três peças da trilogia (Agamêmnon,
As Coéforas, As Eumênides) se entrelaçam conforme um movimento, visando uma justiça
melhor: como castigo de pecados anteriores, temos um assassinato realizado por uma
mulher culpada (Clitemnestra mata Agamêmnon), um assassinato realizado por um
homem inocente (Orestes mata a mãe e Egisto) e, no final, um julgamento do qual
participam deuses e homens.
Na primeira peça, Agamêmnon, Clitemnestra planeja e executa a morte de seu
marido com a ajuda do amante, Egisto, quando Agamêmnon retorna ao palácio após a
vitória na Guerra de Tróia. A peça termina com a advertência do coro de que Orestes,
então no exílio, voltaria para vingar a morte do pai. Nas Coéforas, temos o regresso de
Orestes, que, com a ajuda da irmã, Electra, mata Clitemnestra e Egisto, vingando,
assim, o assassinato do pai. Na terceira peça, Eumênides, temos a perseguição a Orestes
pelas Erínias e sua fuga para Atenas, onde ele é julgado por um tribunal integrado por
Atena, Apolo e cidadãos da cidade, e é absolvido de seu crime. Fica instituído o
Tribunal do Areópago e as Erínias são transformadas em entidades benévolas.
56
Na metade das duas primeiras peças, Agamêmnon e As Coéforas, dois assassinatos
acontecem, cujas mortes são, ao mesmo tempo, sacrifício e expiação. Cada assassinato
é esperado, temido e lamentado, tornando cada tragédia uma unidade organizada. Na
terceira peça, As Eumênides, acontece um julgamento que suscita o temor por uma vida
que está em jogo. Apesar de não assistir aos assassinatos, o público presenciava o
confronto entre esposa e marido, mãe e filho, via as Erínias seguindo o culpado e
sentia a presença dos deuses. Cada tragédia assume um valor religioso.
Os homens voltam-se para os deuses e solicitam seu apoio;
pode-se dizer que as três tragédias são embebidas do sagrado,
que está presente em cada uma delas, de maneira tangível.
Agamêmnon faz o espectador assistir ao delírio profético de
Cassandra; As Coéforas espalham-se ao redor da tumba do rei, e
seu auxílio é longamente invocado; além disso, os principais
agentes que desencadeiam a ação são um oráculo dedicado a
Orestes e um sonho de Clitemnestra; por fim, As Eumênides
trazem à cena deuses (Apolo, Atena) e, principalmente, aqueles
seres de aspecto horrível, As Erínias, deusas encarregadas de
vingar o crime. (ROMILLY, 1998, p. 58)
Talvez essa pequena amostra de genialidade justifique o grande sucesso que as
tragédias fizeram na Atenas Clássica e fazem até hoje, não só as peças de Ésquilo,
como também as de Sófocles e Eurípides que, como vieram depois dele, já
encontraram a estrutura desse tipo de arte estabelecida, uma vez que Ésquilo é
considerado o criador da tragédia em sua forma definitiva. O que cada um fez foi
acrescentar o seu estilo próprio de tratamento, como já mencionado.
5.
O mito dos Atridas: de Ésquilo à dramaturgia moderna.
Considerando
a
vasta
produção
acerca
desse
assunto,
tomaremos,
primeiramente, neste capítulo, o importante trabalho da professora Carlinda Fragale
Pate Nuñez (2000), intitulado Electra ou uma constelação de sentidos, no qual ela faz uma
leitura profunda de algumas versões constitutivas do mito de Electra, dos
57
tragediógrafos gregos do século V a. C. à dramaturgia moderna. É a partir de suas
considerações neste trabalho que estudaremos as peças referidas aqui.
No primeiro capítulo, “O trágico despertar dos Atridas”, a autora aponta a
primeira dificuldade que um comparatista dedicado à mitologia enfrenta: não poder se
falar em uma versão mais autêntica de um mito, e, sim, de sua versão mais antiga, no
que se refere à forma literária. Uma outra opção seria focalizar a versão considerada
mais complexa, bem conservada, estilizada, dentre as existentes. Um segundo passo é,
uma vez escolhida a versão de referência, esquematizar as seqüências narrativas que
irão nortear o estudo comparativo.
No que diz respeito ao mito de Electra, três peças gregas antigas se destacam: as
Coéforas, de Ésquilo (458 a.C.); a Electra, de Sófocles (415 a.C.?); e a Electra, de Eurípides
(413 a.C.). Isso porque “[...] compõem o trinômio grego em que melhor se pode
constatar a ressemantização de um conflito imemorial – a insurreição dos filhos”
(PATE NUÑEZ, 2000, p. 21). Ao fazer um estudo comparativo das três peças, além
de se considerar os fios narrativos que conduzem as personagens, leva-se em conta,
principalmente, as diferenças, inovações, acréscimos e/ou supressões que compõem a
particularidade de cada uma das versões, o que não implica alteração do mito. Vejamos
a maneira como Pate Nuñez apresenta esta comparação.
Quanto ao espaço, nas Coéforas a ação se passa em Argos, cidade portuária; na
Electra sofocliana, em Micenas, sede do império micênico; e na Electra de Eurípides, se
passa também em Micenas, mas no campo, o que sugere a introdução de segmentos
populares na trama.
As personagens secundárias em Ésquilo são Pílades, amigo fiel de Orestes que
possui apenas uma fala, de fundamental importância para que Orestes mate a mãe, e a
Ama, que tem uma atuação decisiva evocando as razões da matrifobia. Em Sófocles,
Pílades se mantém sempre calado e é o Preceptor que desempenha um papel
fundamental para que o matricídio ocorra. Ainda temos Crisótemis, irmã de Electra,
inventada pelo poeta para contrastar com a protagonista. Em Eurípides, as
personagens secundárias são Pílades, o Ancião, os Dióscuros, um mensageiro e o
Camponês casado com Electra. Essa diversidade de tipos humanos, segundo Carlinda
58
Pate Nuñez, “[...] é responsável por um esvaziamento do páthos trágico” (2000, p.26),
por tornar a ação favorável à melodramatização.
No que se refere ao coro, nas Coéforas ele é formado por libadoras estrangeiras
escravizadas que se ligam à personagem Cassandra (da primeira peça da trilogia) por
dois atributos: elas possuem a mesma nobreza, o mesmo poder oratório/oracular da
sacerdotisa de Apolo e funcionam como transmissoras da palavra do deus a inspirar
Electra. O título da peça indica a importância do coro para Ésquilo, ao mesmo tempo
em que neutraliza “o protagonismo individualizado, em favor de uma configuração
propriamente catastrófica da ação trágica”. (PATE NUÑEZ, 2000, p.27) Já em
Sófocles, o coro de mulheres micênicas apresenta decisões maduras e racionais,
sublinhando a superioridade de Electra e sua ligação ao pai pelo mesmo
descomedimento. Na peça de Eurípides, o coro, já sem tanta importância, é formado
por jovens micênicas que dão leveza e impulsividade à cena.
Quanto ao desejo de vingança, percebe-se que Electra e Orestes, em Ésquilo, se
correspondem e são solidários nesse ponto, diferentemente dos irmãos sofoclianos,
que se qualificaram para vingar a morte do pai independentemente. As duas Electras
são muito diferentes. Sobre a primeira diz Carlinda Pate Nuñez:
A degradação social de que é vítima, assim como a indignação
pelos desmandos provenientes dos atuais governantes, são
responsáveis pela interiorização de uma revolta que não chega a
se concretizar em atos. (PATE NUÑEZ, 2000, p. 29)
Sobre a personagem em Sófocles, diz Carlinda:
Já a protagonista de Sófocles, confinada em cárcere privado e
em vias de sofrer a extradição, vive situações que a
constrangem, naturalmente, à ação. (PATE NUÑEZ, 2000, p.
29)
Na Electra de Eurípides, Orestes age sob coação da irmã, personagem
notadamente mais forte se comparada às duas Electras anteriores. O que se percebe é
um crescimento da personagem Electra e uma diminuição do personagem Orestes nas
três peças em questão.
59
O reconhecimento nas Coéforas se dá através de uma madeixa de cabelos, de
pegadas e de um tecido feito por Electra para seu irmão. Na peça de Sófocles, ele se dá
pelo anel do pai que Orestes usa, cabendo a Crisótemis identificar os sinais de seu
retorno: uma madeixa de cabelos e uma coroa de flores. Na peça euripidiana, Orestes é
reconhecido por uma cicatriz na pálpebra.
Cabelos, pegadas, uma veste, um anel, uma cicatriz atravessam,
como variantes, a constante sequência do reconhecimento na
narrativa mítica. A convocação de cada um desses elementos se
liga, de um lado, ao atendimento a um dos requisitos do mito
oral, de outro, à irradiação de simbolismos a serviço da
economia dramática. (PATE NUÑEZ, 2000, p.33)
Dois desses elementos constam das três versões gregas: madeixa e pegadas. Eles
possuem uma conexão intrínseca na medida em que estão relacionados à cabeça e aos
pés, que ocupam um espaço privilegiado no corpo humano por compreenderem a
relação entre o céu e a terra, como aponta Carlinda:
Inferem eles a cardinalização da existência humana pela marcha,
em horizontalidade, que conduz ao horizonte sem fronteiras da
verticalidade. De baixo para cima, a observação do corpo
sugere as noções de início e fim e descreve, por órgãos e
sentidos, o alfa e o ômega do próprio mistério da humanidade,
que, acéfala, não evolui; ápode, não avança. (PATE NUÑEZ,
2000, p. 34)
Os cabelos ainda estão simbolicamente ligados a laços indestrutíveis que
determinam seu corte em caso de luto ou submissão. O Orestes esquiliano corta seu
cabelo ao chegar a Argos em sinal de luto pelo pai; em Sófocles, a impessoalidade deste
gesto gera uma desvalorização deste elemento; e em Eurípides há uma igual
desvalorização do gesto de Orestes, mas há uma grande quantidade de referências aos
cabelos cortados de Electra. Já as pegadas são de suma importância na peça esquiliana
por atestarem que Orestes e Electra pertencem à mesma família, mas, nas duas outras
peças, elas são desprestigiadas, uma vez que o reconhecimento, em uma peça, se dá por
um anel real e, na outra, por uma cicatriz.
60
No que se refere aos assassinatos, cabe lembrar que a ordem de ocorrência dos
crimes é importante porque hierarquiza as vítimas e determina o impacto final. Em
Ésquilo, Egisto morre primeiro e Orestes hesita em matar a mãe, mas o faz, matando
numa só pessoa a mãe e a adúltera, imagem que se constrói com o assassinato de
Clitemnestra ocorrendo ao lado do corpo de Egisto. Em Sófocles, ao contrário, a mãe
morre primeiro e não há hesitação por parte de Orestes. Como representante e
vingador de seu pai, conduz Egisto ao local em que este matou Agamêmnon e o mata.
Em Eurípides, Egisto morre primeiro, mas seu assassinato não se dá em cena, é
narrado. Isto também ocorre com a morte de Clitemnestra, onde só se sabe o que
aconteceu pelo diálogo entre os irmãos. Isso concorre para a superlativização dos
sentimentos dos assassinos.
As Erínias, divindades vingadoras de crimes de sangue, aparecem em graus
muito diferentes nas três peças enfocadas. Nas Coéforas, em sua perseguição a Orestes,
são sinais provocadores de ação; na Electra de Sófocles não há a perseguição de
Orestes e elas são citadas poucas vezes; em Eurípides há apenas o anúncio da
perseguição e fuga de Orestes para Atenas, não havendo a presença física dessas
divindades.
Estes diferentes papéis atribuídos às Erínias estão atrelados a momentos
históricos distintos. Orestes, na Oréstia, escapa à ação dessas divindades porque Ésquilo
tenciona relatar a evolução pela qual passava o direito na democracia ateniense.
Sófocles viveu em uma época em que não se cabia mais falar sobre o direito do sangue
ou sobre vinganças individuais, pois o século de Péricles privilegia a vigência de leis
ordinárias exercidas publicamente. Influenciado pelo racionalismo do final do século V,
Eurípides coloca as Erínias como personagens que não podem ser antropomorfizadas,
não comparecendo na ação, diferentemente do que vimos na Oréstia, em que na última
peça da trilogia, tais personagens compõem o coro.
Para nos referirmos às adaptações modernas do mito, levaremos em
consideração, além do já citado trabalho da professora Carlinda Pate Nuñez, dois
artigos escritos por Sábato Magaldi: “A Electra de O’Neill” (1989, p. 255-261), no qual
ele faz um estudo comparativo entre Mourning becomes Electra, de Eugene O’Neill, e a
Oréstia; e “A peça que a vida prega” (1993, p. 50-59), onde ele faz um outro estudo
61
comparativo, agora entre Mourning becomes Electra e Senhora dos Afogados, de Nélson
Rodrigues, sem perder de vista o vínculo que ambas possuem com a Oréstia.
No início do século XX, o dramaturgo norte-americano Eugene O’Neill foi
buscar no mito de Electra e sua família, o fio condutor para a escritura de um drama
psicológico moderno – a trilogia Mourning becomes Electra (Electra Enlutada). São muitas
as semelhanças entre esta trilogia e a de Ésquilo, mas ao transpor o mito para a
modernidade, O’Neill o revestiu com as exigências do realismo contemporâneo sem,
contudo, desprezar a noção de destino presente na lenda.10
Assim é que, na trilogia moderna, temos a ação transplantada para os Estados
Unidos pós-Guerra Civil, com os seguintes pares correspondentes entre os
personagens: Agamêmnon – Ezra Mannon; Clitemnestra – Christine; Electra – Lavínia;
Orestes – Orin; Egisto – Adam Brant; Pílades – Peter; e Hermione – Hazel.
Na primeira peça da trilogia, A volta ao lar (Homecoming), a ação se passa na
mansão dos Mannon à noite. É nessa parte que o público toma conhecimento do
crime que vai desencadear uma série de outros crimes e testemunha o primeiro deles: o
patriarca da família, Ezra Mannon, é morto por sua esposa adúltera, Christine, com a
ajuda de seu amante, Adam Brant. Na segunda parte, Os perseguidos (The Hunted), a ação
se passa em dois ambientes diferentes: a mansão dos Mannon e a popa de um navio no
cais à noite. É nessa parte que os filhos do casal, Lavínia e Orin, vingam a morte do pai
matando o amante da mãe, ou melhor, Lavínia induz Orin a cometer o crime. Como
decorrência desse crime, Christine se mata, a partir de condições criadas por Lavínia.
Na terceira peça, Os amaldiçoados (The Haunted), a ação se dá na mansão dos Mannon à
noite, um ano depois dos acontecimentos do ato anterior. Os irmãos Lavínia e Orin
estão de volta de uma viagem feita para ajudar Orin a esquecer o que fez e não mais se
culpar pela morte da mãe. Mas isso de nada adianta e ele, acometido pela loucura, se
mata, deixando Lavínia sozinha na casa.
Pode-se notar que, assim como em Sófocles e Eurípides, em O’Neill
Electra/Lavínia é elevada ao primeiro plano da trama, compondo, junto com o irmão,
o par protagonista. Seu final é totalmente diferente das versões gregas, como cabia a
São muitos os pontos semelhantes e distintos entre a trilogia moderna e as peças gregas referidas
aqui. Mas a discussão deles será objeto do nosso próximo capítulo.
10
62
uma adaptação influenciada pelas idéias surgidas no final do século XIX e início do
XX. Segundo Sábato Magaldi:
Lavínia domina quase completamente a trama: desarma Adam
Brant ao descobrir-lhe a identidade, tem a revelação de que o
pai foi envenenado, leva Orin a assassinar o amante da mãe e
cria as condições para que ela se suicide, permite que Orin
também se mate para evitar que divulgue os segredos da
família, e decide consumir-se solitária na casa senhorial.
(MAGALDI, 1989, p.259)
Em contrate com a personalidade forte de Lavínia, seu irmão Orin é um
personagem fraco, diferentemente do Orestes esquiliano, visto que “[...] a dúvida, a
indecisão, a fragilidade são seus traços dominantes.” (MAGALDI, 1989, p. 260) Ele se
deixa influenciar facilmente pela irmã a ponto de fazer o que ela quer e se tornar
apenas um joguete em suas mãos. No final, não agüenta o remorso pelo suicídio da
mãe e se mata.
O coro, nesta trilogia moderna, se pulverizou em uma série de personagens que
circundam a casa dos Mannon, destacando-se o personagem Seth, jardineiro da família.
Por ser composto de personagens populares, o coro de O’Neill representa a voz do
povo, mas sem a missão educativa do coro grego, fazendo apenas comentários sobre o
que acontecia na mansão dos Mannon.
A perseguição das Erínias também está na Electra Enlutada. É claro que,
transposta para os tempos modernos tal e qual está na peça de Ésquilo, ficaria
totalmente inverossímil, então O’Neill resolveu assinalar a presença do ódio e da morte
na mansão dos Mannon para que todos pensassem que ela era assombrada e, assim, o
papel das divindades vingadoras fica à cargo dos antepassados da família.
Passando para o cenário brasileiro, temos o mesmo mito recontado de outra
forma pelo dramaturgo Nélson Rodrigues em sua peça Senhora dos Afogados.
Apresentada no Rio de Janeiro em junho de 1954, é inegável o vínculo que tem com a
trilogia de O’Neill, como afirma Sábato Magaldi:
Acredito hoje que a admiração que Nélson nutria por O’Neill
serviu de estímulo inicial para empreender a ambiciosa tarefa de
Senhora. Por honestidade intelectual, ao invés de repelir o
63
parentesco apontado, ele preferiu assumi-lo como um elemento
óbvio. Porque a peça brasileira parte para uma realização
autônoma, em que as referências ao mito grego original se
acham tão contaminadas por outros valores que o modelo se
dilui. (MAGALDI, 1993, p.51)
A diferença entre as duas obras começa pela extensão. Senhora dos Afogados não é
uma trilogia, mas uma peça em três atos, portanto mais condensada, principalmente
porque a idéia da cadeia ancestral de crimes não está presente aqui. Há uma cadeia de
crimes gerados por um primeiro crime, mas todos se concentram nas ações dos
personagens da família em questão – os Drummond – que aparecem em cena.
A ação, assim como em O’Neill, se passa na casa dos Drummond, perto de uma
praia selvagem, com exceção de um quadro, onde ela é transferida para o café do cais.
Diferentemente de O’Neill, cujas ações da trilogia se passam em um ano, em Nélson
toda a ação se dá em dois dias. Como pares correspondentes de personagens, temos:
Ezra Mannon – Misael Drummond; Christine – D. Eduarda; Lavínia – Moema; Orin –
Paulo; Adam Brant – o Noivo. Em O’Neill, os nomes dos personagens tinham uma
vinculação eufônica com os do mito, mas Nélson preferiu adotar essa relação apenas
para o sobrenome da família. Cabe aqui mencionar dois fatos relativos aos
personagens: ao contrário de Ezra e de Agamêmnon, Misael morre apenas no final da
peça, de razões não explicadas; e o Noivo é filho de Misael, não sobrinho.
No primeiro ato de Senhora dos Afogados, o público toma conhecimento do
primeiro crime cometido pelo patriarca Misael Drummond: o assassínio de uma
prostituta no dia de seu casamento. No segundo ato, acontece a chegada daquele que
veio se vingar de Misael - o Noivo, filho de Misael e da prostituta – que consegue que
D. Eduarda se entregue a ele. Moema incita o pai e o irmão, Paulo, a vingarem-se de
sua mãe e do Noivo. É no terceiro ato que Paulo mata o Noivo e Misael mata a esposa.
Arrependidos, Paulo se mata e Misael morre. Moema, assim como Lavínia, termina a
peça sozinha em casa, guardando uma semelhança assombrosa com a mãe.
Pode-se notar que relações incestuosas povoam a peça de Nélson, a começar
das relações afetuosas entre Moema e o pai (e o ódio desta pela mãe), e entre Paulo e a
mãe. O Noivo é uma outra figura que gera esse tipo de relação, primeiro ao se ligar a
Moema e, depois, no seu relacionamento com D. Eduarda. Em O’Neill também temos
64
sugeridos os complexos de Édipo e de Electra, mas na peça brasileira eles estão mais
explícitos.
O coro em Senhora dos Afogados é composto ora por vizinhos ora por mulheres
do cais. Seus integrantes, ao contrário de Mourning becomes Electra, não possuem nomes e
dialogam diretamente com os outros personagens da peça. Nélson toma algumas
liberdades dramáticas com o coro de vizinhos: em um momento da peça, ele tapam o
rosto com uma das mãos, indicando que não participam da ação; e em vários
momentos, eles utilizam máscaras, que seriam suas verdadeiras faces. Já o coro das
mulheres do cais funcionam “como verdadeiras deusas vingadoras, a exigir a punição
do assassínio. Representam a consciência viva contra a impunidade, como as Erínias
em relação a Orestes”. (MAGALDI, 1993, p.55).
Assim como em O’Neill, em Nélson a personagem Moema é elevada ao
primeiro plano, em detrimento de seu irmão Paulo que, assim como Orin, funciona
como apenas um elemento para que Moema possa realizar seu desejo de ser a única
mulher da casa e da vida do pai. Da mesma forma de Orin, acometido pela loucura e
sentindo remorso pelo que fez, Paulo se mata. E a inegável força de Moema se
assemelha muito à de Lavínia. Para conseguir o que quer, ela não hesita em matar as
duas irmãs e a avó e arquiteta um plano para fazer com que o pai mate a mãe e o
irmão, o amante desta. Mas ao contrário de Lavínia e sua mãe, que têm uma
semelhança física impressionante, Moema e a mãe se assemelham apenas pelas mãos e
gestos.
Como personagens secundárias temos a avó, mãe de Misael, que, após ver o
filho matando a prostituta, encontra na loucura um refúgio da responsabilidade de ter
presenciado o crime do filho. “Alienada do mundo, ela não julga, não condena –
encontra na ausência a cura da tragédia” (MAGALDI, 1993, p.58). E as personagens
do cais: a dona do bordel, mãe da prostituta assassinada, o vendedor de pentes e Sabiá,
que rege o coro de mulheres.
Neste trabalho, propõe-se um estudo comparativo de duas peças, dessas
trilogias apontadas acima: Coéforas, segunda peça da trilogia de Ésquilo, e Os perseguidos,
segunda peça da trilogia de O’Neill. Para isso, o estudo estará centrado nas relações
entre duas personagens: Electra e Orestes, na primeira peça; e Lavínia e Orin, na
65
segunda peça. Além disso, também será levada em consideração a personagem
Clitemnestra, mãe de Electra e Orestes, e Christine, mãe de Lavínia e Orin, pois ela é o
elemento que une os irmãos. Esse estudo será feito com o objetivo de verificar de que
forma essas personagens são trabalhadas nas duas peças e sua evolução, para, dessa
forma, verificar-se de que forma o mito de Electra foi adaptado para a modernidade.
Foi escolhida a versão esquiliana por esta ser o registro mais antigo e completo
desse mito no teatro, um dos motivos pelos quais O’Neill também a escolheu como
base para seu drama psicológico moderno. E a trilogia de O’Neill foi escolhida
justamente por isso, por ele pensar assim e se propor a reelaborar esse mito dando-lhe
uma roupagem moderna. Primeiro será feito um estudo das duas personagens nas
Coéforas, para depois compará-las com as personagens correspondentes em Os
perseguidos.
66
67
CAPÍTULO III
DO SOFRIMENTO À PERSEGUIÇÃO: ELECTRA E
ORESTES NAS TRILHAS DA VINGANÇA E DO TEMPO
1.
Electra e Orestes: trilhas da adaptação
No século V a. C., Ésquilo escreveu a Oréstia, trilogia em torno do mito dos
Atridas – família maldita cujo “erro” de um antigo ancestral desencadeia uma série de
crimes intrafamiliares, como já foi explicitado no capítulo anterior. Séculos depois, o
mesmo mito serve de base para a feitura de um drama psicológico moderno, quando,
em 1931, o dramaturgo norte-americano Eugene O’Neill escreve a trilogia Mourning
Becomes Electra (Electra enlutada, conforme a tradução em português)11. Nesta
transposição, o principal problema a enfrentar, segundo O’Neill, seria dar à trilogia
uma aproximação psicológica moderna do antigo sentido que o Destino tinha para os
gregos, apresentando o mito com uma “nova roupagem”, de modo que o público do
século XX o aceitasse e o sentisse.
Era grande o risco de esvaziar as tragédias originais de sua
carga mítica, sem estabelecer valores novos, capazes de
substituir-lhe o alcance. A palpável diferença entre as versões
que Ésquilo, Sófocles e Eurípides deram à lenda devem ter
Para este trabalho estamos utilizando a seguinte edição: O’NEILL, Eugene. Mourning becomes Electra.
New York: Random House, 1959. Daqui por diante, citaremos apenas a paginação.
11
68
animado O’Neill na tarefa de acrescentar à história do teatro a
sua exegese. (MAGALDI, 1989, p. 254)
Sábato Magaldi, certamente, se refere às duas outras versões do mito dos
Atridas escritas por dois outros tragediógrafos gregos, Sófocles e Eurípides, que se
intitulam Electra. O’Neill preferiu se basear em Ésquilo por essa ser a versão mais
antiga que nos restou no teatro e por ser a única trilogia a tratar desse tema. Mas, assim
como Sófocles e Eurípides, o norte-americano optou por elevar a personagem Electra
ao primeiro plano, como já podemos constatar apenas com a leitura dos títulos das
peças.
Apesar disso, são muitos os pontos de semelhança entre Mourning Becomes
Electra e a Oréstia, a começar pelos nomes das personagens, como já foi apontado no
capítulo dois. A ação nas duas trilogias se passa em duas cidades portuárias, cujo
cenário, em Ésquilo, é o palácio real e, em O’Neill, é a mansão dos Mannon, em estilo
grego, como era moda na época. Em ambas, o patriarca volta para casa após ter
combatido na guerra: Agamêmnon, comandante dos gregos em Tróia; Ezra Mannon,
general do exército norte-americano na Guerra Civil. Essas e outras semelhanças já
apontadas são incontestáveis, mas a escolha por elevar a personagem Lavínia ao
primeiro plano fez com que surgissem vários pontos de divergência.
É justamente com base nessas divergências entre as duas obras que se pode
dizer que aqui se trata de uma paródia. A palavra tem origem no termo grego parodia
que pode significar uma oposição ou contraste entre textos ou, ainda, como afirma
Hutcheon:
A paródia é, pois, na sua irônica “transcontextualização” e
inversão, repetição com diferença. Está implícita uma
distanciação crítica entre o texto em fundo a ser parodiado e a
nova obra que o incorpora, distância geralmente assinalada pela
ironia. (HUTCHEON, 1985, p. 48)
Essa ironia, que muitas vezes tem um sentido negativo em seu uso comum, aqui
pode ser bem-humorada ou depreciativa, criticamente construtiva ou destrutiva,
dependendo dos objetivos do autor da paródia. Esta, por sua vez, tem na incorporação
sua realização e forma, e na separação e contraste sua função. Ela recontextualiza,
69
sintetiza e reelabora convenções de maneira respeitosa, e acentua a diferença entre as
obras, tendo a característica de ser transformadora. A análise da paródia pode auxiliar o
estudo da dramaturgia comparada12, facilitando “o estudo da passagem de
determinados traços ou características de uma literatura para outra” (BETTI, 2000, p.
143). Ou ainda, ajudar na leitura comparativa entre experiências e relações passadas ou
atuais, através do estudo dos registros lingüísticos, políticos e sociais dentro de uma
sociedade, ou sociedades.
Mas há que se fazer uma distinção entre paródia e plágio e paródia e sátira, pois,
segundo Hutcheon, eles estão muito próximos. Os dois primeiros se distinguem com
base na intenção: enquanto que na paródia a intenção é de imitar com ironia crítica, no
plágio, a imitação é feita com a intenção de enganar. Já a paródia e a sátira estão muito
mais próximas, pois tanto uma quanto a outra implicam distanciação crítica e, por isso,
julgamento de valor, e é aí que está a diferença: a sátira faz uma afirmação negativa do
objeto satirizado, enquanto que na paródia moderna “verificamos não haver um
julgamento negativo necessariamente sugerido no contraste irônico dos textos”
(HUTCHEON, 1985, p.62). É importante ressaltar que O’Neill não pretendeu dar um
sentido risível quando parodiou o texto de Ésquilo e, apesar de sua conhecida
admiração pelas tragédias gregas antigas, também aqui não pretendeu imitar de forma
nostálgica, mas como “uma confrontação estilística, uma recodificação moderna que
estabelece a diferença no coração da semelhança” (HUTCHEON, 1985, p. 19).
Pra fazer sua trilogia, O’Neill baseou-se, inegavelmente, na trilogia esquiliana,
mas há também traços pessoais em sua obra, além da influência das idéias e conceitos
de sua época que o auxiliaram a desenvolver certas questões que foram apenas
sugeridas por Ésquilo, como os complexos de Electra e Édipo. Como afirma Magaldi:
Na tentativa de estabelecer as equivalências entre a tragédia
grega e o drama psicológico moderno, O’Neill precisou
frequentemente reportar-se ao modelo esquiliano e muitas
vezes, também, enveredar por caminho pessoal. As
necessidades de maior fundamentação psicológica, no
Segundo Betti, a dramaturgia comparada “se estende do(s) texto(s) ao campo histórico das relações
inter-textuais e contextuais por ele(s) referidas; na perspectiva inter-textual, ela concentra-se sobre o
domínio dos respectivos discursos e sobre suas formas de construção de sentido” (BETTI, 2000, p.
146).
12
70
procedimento realista, fez que a trilogia grega, aparentada
superficialmente a uma peça em três atos, se convertesse em
uma trilogia em treze atos. Tudo é preparado e discutido em
minúcias no texto norte-americano, para que o menor gesto
encontre a motivação dramática num crescendo interior.
(MAGALDI, 1989, p. 258)
É uma leitura comparativa de duas peças das trilogias – Coéforas e Os Perseguidos –
que se segue agora para mostrar como foi feita essa adaptação do mito à modernidade,
tomando por base as personagens Electra/Lavínia e Orestes/Orin, bem como suas
relações com as figuras maternas – Clitemnestra e Christine, respectivamente,
considerando a já citada ressemantização do conflito entre filhos e mãe.
2.
As Coéforas
Em Coéforas, a ação se passa no palácio real de Argos e os personagens
principais são Clitemnestra, Egisto, Orestes, Electra e Agamêmnon, que se faz presente
através de seu túmulo e ao ser tantas vezes evocado pelos filhos. Mas antes de ir
adiante nos pormenores da peça, é preciso que se faça uma contextualização da
situação em que se encontra a família no momento da ação.
Na primeira peça da trilogia, Agamêmnon, o rei de Micenas volta para casa após
chefiar os gregos na guerra de Tróia, trazendo consigo Cassandra, filha do rei Príamo
de Tróia. Ao chegar é morto pela esposa, Clitemnestra, apoiada pelo amante, Egisto, e
os dois também matam Cassandra. Coéforas se inicia com o retorno de Orestes, filho de
Agamêmnon e Clitemnestra, que foi enviado à Fócida logo após a morte do pai, ainda
criança. Em seu retorno, ele se encontra com a irmã Electra, que está fazendo libações
no túmulo do pai com algumas escravas do palácio, as coéforas do título. Orestes,
então, lhe conta que veio vingar a morte do pai a mando de Apolo, vontade que se
acentua quando ele sabe da situação de Electra no palácio, visto a irmã viver como
escrava. Ele conta seu plano à irmã e às escravas e se dirige ao palácio, sempre com seu
amigo Pílades. Ao chegar ao palácio, ele mata Egisto e depois Clitemnestra. Vendo-se
perseguido pelas Erínias maternas – deusas vingadoras – , vai ao templo de Apolo
71
pedir ajuda. Em Eumênides, temos o julgamento de Orestes, do qual participam deuses e
mortais. Ele é absolvido graças ao voto de Atena que, para aplacar a ira das Erínias, as
transforma em divindades benfazejas, as Eumênides do título.
As personagens secundárias são duas: Pílades, primo e amigo de Orestes, que o
acompanha no seu retorno ao palácio e que enuncia uma única e fundamental fala para
a consumação do assassinato de Clitemnestra, lembrando a Orestes o oráculo de Apolo
(Coéforas, v. 1149-1153)13, e a ama de Orestes, Kilissa, que atua decisivamente ao evocar
as razões da matrifobia (Coéforas, v. 959-967)14. É importante notar que o coro de
libadoras estrangeiras, escravas do palácio que situam o drama na esfera religiosa, dão
nome à peça pela importância que esse elemento tinha para Ésquilo e, assim, nem
proclama Orestes como protagonista absoluto e nem privilegia a atuação de Electra.
Há como que a neutralização do protagonismo individualizado,
em favor de uma configuração propriamente catastrófica da
ação trágica. [...] Por outro lado, são as mesmas coéforas que,
salvaguardadas da memória de Cassandra, funcionam como a
palavra de Lóxias a inspirar Electra, por essa via tão
comprometida com a determinação apolínea quanto o irmão.
(PATE NUÑEZ, 2000, p. 27)
Por este ser um coro de estrangeiras escravizadas, ele tem uma ligação com a
personagem Cassandra, da primeira peça, sacerdotisa de Apolo que tem o dom de
prever acontecimentos. Todas possuem a mesma cosmovisão, o mesmo poder
oratório/oracular e são inspiradas por Apolo. Elas também se correspondem pela
cidadania, pelo infortúnio e pelos reclamos de justiça. A determinação apolínea se
refere ao oráculo do deus Apolo, que determina que o assassinato de Agamêmnon não
pode ficar impune. Segundo o deus, cabe a Orestes a vingança que, se não for levada a
cabo, fará de Orestes vítima de terríveis sofrimentos. Diz o oráculo, como relata
Orestes:
"Que restaria de agora em diante, Orestes,/ do oráculo de Apolo, das proclamações/ de Pito, sua
intérprete, da lealdade, / penhor dos juramentos? Seria melhor,/ obedecer aos deuses que a todos os
homens!" (Coéforas, v. 1149-1153)
14 "Na presença de seus criados Clitemnestra/ quer dar a impressão de estar preocupada;/ seus olhos,
todavia, ocultam um sorriso,/ pois tudo para ela se encaminha bem;/ para o palácio dos Atridas, ao
contrário,/ os estrangeiros anunciam claramente/ a mais completa ruína. Certamente Egisto/ irá ficar
com o coração cheio de júbilo/ quando escutar as novidades que lhe trazem." (Coéforas, v. 959-967)
13
72
Por certo o onipotente oráculo de Apolo/ não falhará depois
de haver determinado/ que eu enfrentasse este perigo até o
fim/ e revelado em altas vozes aflições/ que fizeram gelar o
sangue no meu peito/ se não vingasse um dia a morte de meu
pai/ punindo os homicidas; o deus ordenou/ que eu os
exterminasse em retaliação,/ enfurecido pela perda de meus
bens./ Se eu não o obedecesse, disse ainda o deus,/ teria de
pagar um dia a minha dívida/ com a própria vida entre terríveis
sofrimentos. (Coéforas, v. 353-364)
Com isso, a ênfase textual recai mais sobre a argumentação de Orestes de que
os assassinatos de sua mãe e do amante se realizam nos termos de um ato religioso.
Percebe-se, desse modo, que a participação de Electra não é determinante do ato
vingativo, pois, quanto ao desejo de vingança, os irmãos se correspondem e se
solidarizam, mas Electra não faz declarações tão ousadas: a indignação que ela sente
perante o que aconteceu em relação à sua atual condição no palácio, onde é tratada
como escrava, faz crescer uma revolta interior que não se exterioriza, não se concretiza
em atos, conforme já afirmamos, apoiados em Pate Nuñez (2000).
Orestes, ao contrário de Electra, é o encarregado de tudo o que diz respeito à
vingança, visto que, além de estar cumprindo a determinação de um deus, tem seus
bens e seu direito ao trono de Micenas ameaçados. Por isso, é ele quem elabora e
realiza o plano de vingança e diz a todos os envolvidos o que eles devem fazer: a
Electra, manda que volte ao palácio (“Ela regressa ao palácio”, diz Orestes apontando
para a irmã, Coéforas, v. 727); e ao coro manda que voltem ao palácio e tenham cuidado
com o que falam (“E tu, volta ao palácio imediatamente/para que tudo marche como
desejamos./Peço-vos a maior prudência nas palavras,/falando ou omitindo-vos
discretamente”, Coéforas, v.761-764) e que guardem segredo do plano (“Quanto a vós
todas, devereis guardar segredo”, Coéforas, v. 728).
Pode-se notar, portanto, que toda a ação vingativa é realizada por Orestes,
Electra não participa, apenas impele o irmão, maquinando a partir da ira os desejos de
vingança, com seus relatos do que está se passando no palácio e de sua vida desde que
Clitemnestra e Egisto assumiram o poder:
73
Falas das desventuras de meu pai;/a mim, porém, privaram-me
de tudo,/dando-me o tratamento de uma escrava;/confinada
em meu quarto como um cão/maligno, mais pronta a chorar
que a rir,/eu me ocultava para soluçar,/sofrendo sem um
momento de alívio. (Coéforas, v. 575-580)
Ela sabe que sozinha não pode fazer nada e espera ansiosa a volta de seu irmão
para que ele possa fazer vingar o assassinato do pai, a quem dirige um apelo pela volta
de Orestes:
[...] Que um feliz acaso/ traga de volta Orestes! Eis a minha
súplica;/ouve-me, pai! Concede-me que eu seja sempre/mais
sensata que minha mãe e tenha as mãos/muito mais inocentes!
São estas as preces/referentes a nós, mas quanto aos
inimigos/imploro que afinal venha juntar-se a mim/um
homem para te vingar, bastante forte/para matar teus
assassinos, pai querido,/em justa retaliação... (Coéforas, v.188197)
Mas o fato é que Orestes já chega em Argos determinado a fazer justiça ao pai,
matando a mãe e o amante dela, ou seja, os relatos da irmã apenas acentuam essa
vontade, mas não são determinantes dela. O relacionamento entre os irmãos gira em
torno da idéia de proteção. Como sendo o salvador do reino de Micenas, Orestes é
para a irmã aquele que a libertará dos males que sofre, que lhe trará de volta sua antiga
vida no palácio, quando o pai anda vivia, e que a protegerá como o pai o fazia:
Ah! Presença querida que agora recebes/minha ternura quatro
vezes, pois terei/de chamar-te de pai, de dar-te todo o
amor/que deveria dedicar à minha mãe/(aquela que por todas
as razões odeio)/de transferir-te ainda o carinho devido/à
minha irmã sacrificada cruelmente/e de te amar por ver em ti
neste momento/o irmão fiel capaz de me trazer de volta/a
consideração de todos os mortais! (Coéforas, v.311-320)
Orestes sente o dever de proteger a irmã, de fazer com que ela seja de novo
respeitada como era seu direito, pela sua descendência real. E ele a trata com carinho,
chamando-a sempre de “irmã querida” (cf. v. 23 e 561), e sabe que ela está ao seu lado
na vingança contra os assassínios do pai, mesmo que não participe ativamente da ação.
74
Já Clitemnestra funciona como elo de ligação entre os filhos, uma vez que é por
causa de seus atos que Orestes retorna ao palácio, unindo-se à irmã. E o sonho que ela
tem logo no início da peça, que é o motivo pelo qual o coro e Electra fazem libações
no túmulo de Agamêmnon quando da chegada de Orestes, tem o sentido de ressaltar o
confronto mãe/filho. Segundo Pate Nuñez, o sonho é um emissário de uma revelação
enquanto depositário de uma verdade. Sobre a função dos sonhos, no contexto grego,
ela afirma:
De acordo com seu significado (nunca buscado intuitivamente,
mas, o mais das vezes, com o auxílio de manuais, os pinákia),
pode-se constituir um sonho simbólico (adornado por
metáforas ou enigmas, que exigem esforço interpretativo); se
propõe a premonição direta de um acontecimento futuro,
denomina-se hórama (visão); quando o pai ou outra personagem
respeitada ou impressionante (um sacerdote, um deus, um
ancestral) revela um simbolismo do que pode (ou não)
acontecer, trata-se de um khrematismós (oráculo) que integra a
experiência religiosa do sonhador. (PATE NUÑEZ, 2000, p.
47)
Segundo esta classificação, pode-se dizer que nas Coéforas se dá o hórama, pois a
identificação de Orestes com a serpente onírica significa a adoção da identidade de
matricida pelo herói, que passa a agir em função de um renascimento simbólico. Eis o
sonho, relatado pelo coro a Orestes:
No sonho pareceu-lhe parir uma víbora,/de acordo com a sua
própria afirmação./Ela envolveu em fraldas a pequena
víbora,/como se se tratasse de uma criancinha./No sonho, ela
mesma lhe apresentava o seio/[...] (que a víbora) Feriu e logo o
sangue misturou-se ao leite. (Coéforas, v. 688, 689, 691, 692, 694,
696)
Em seguida, Orestes o interpreta:
Cumpre-me interpretá-lo então literalmente:/se, nascida do
mesmo ventre de onde vim,/a víbora, como se fosse uma
criança,/depois de ser vestida em fraldas pôs a boca/no
mesmo seio em que me alimentei na infância/e misturou
sangue com leite enquanto a mãe/gritava perturbada pela dor
intensa,/indiscutivelmente ela, que nutriu/um monstro
75
pavoroso, terá de ofertar-me/seu próprio sangue, e eu,
transformado por ela/numa terrível víbora, matá-la-ei,/como
posso inferir do sonho inspirador. (Coéforas, v. 707-721)
Segundo Adélia Bezerra de Meneses (2002), serpente, entre os antigos,
representava algo vindo do mundo dos mortos, do subterrâneo, daí sua identificação
com Agamêmnon, como o fazem os adivinhos de sonhos no início da peça. Assim
também o pensa Clitemnestra, por isso manda as libações ao túmulo do marido
assassinado para tentar aplacar sua fúria. Mas, sabe-se que essa interpretação não está
totalmente correta e que agora o matricídio será insuflado não apenas por Apolo, mas
também pelas divindades infernais manifestadas através do sonho. Segundo uma
interpretação psicanalítica deste sonho, apresentada por Meneses (2002),
Essa identificação de pai e filho faz-se de maneira muito forte
no âmbito da imagem: a serpente é o pênis de Agamêmnon
penetrando a mulher, ao mesmo tempo que é a criança-falo
sendo parida; enquanto que sugar-morder o seio é – ao mesmo
tempo amamentação e coito sádico. Além disso, a serpente
que, parida pela mulher, lhe morde o seio – é uma
representação estilizada do uróboro (serpente que morde a
própria cauda), figuração da totalidade. O círculo se fecha,
recompondo a unidade mãe-filho. (MENESES, 2002, p.132)
E quando Orestes se identifica com a víbora ao interpretar o sonho da mãe, ele
também se identifica com o pai e com a própria mãe, víbora assassina. Pode-se dizer
que esse é um sonho edípico, mas que nesse contexto não tem que ser necessariamente
interpretado como tal, pois no imaginário clássico, a relação sexual com a mãe pode ser
entendida como sonho de tomada de poder, uma vez que ‘mãe’ significa ‘pátria’. Pate
Nuñez (2000), dá uma outra interpretação à característica edípica do sonho de
Clitemnestra, pois, segundo ela, no sonho existe a realização de desejos incestuosos,
mediante o domínio e a posse a mãe, mesmo que para matá-la. E esse matricídio
expressa uma vingança que se faz mais em nome da dupla rejeição de que Orestes foi
vítima – rejeição do filho perante o pai e, depois, perante o amante – do que, apenas,
pela morte do pai.
76
A imagem da serpente é recoletiva do feixe de presenças
masculinas ao redor de Clitemnestra, gulosamente disposta a
dela servir-se na proporção mesma em que se alternam as
identidades e os desejos do filho, do amante e do pai no
serpentiforme Orestes. (PATE NUÑEZ, 2000, p.53)
Ainda segundo Pate Nuñez, ao apelar para a maternidade no momento de sua
morte, na tentativa de fazer com que o filho desista de seu intento, Clitemnestra dá
sustentação à sua imagem de objeto de desejo. E a ama Kilissa é a contrapartida
maternal e compensatória da mãe assassina: ela preenche as necessidades de amor de
Orestes com sua dedicação e afetuosidade. Dessa forma, ratifica-se a identificação de
Orestes com o pai pelo signo ofídico, e se oportuniza a sua constituição enquanto
sujeito desejante.
Quanto à relação mãe-filha, Brandão (2002) sustenta que ambas são vítimas do
despotismo patriarcal. Aliás, Brandão considera que toda a trilogia é um debate entre o
matriarcado, configurado por Clitemnestra e pelas Erínias, e o patriarcado, configurado
por Agamêmnon, Electra, Orestes, Apolo e Atena. Diz ele referindo-se a Electra:
Seu ódio pela mãe e por Egisto fundamentava-se a princípio na
repulsa pelo adultério de Clitemnestra e na repugnância que
sentia por Egisto, que, além de inimigo antigo e irreconciliável,
ocupava o trono de Agamêmnon, que, longe do lar, combatia
em Tróia. Esse rancor aumentou por força das reclamações da
rainha, que acusava diariamente a filha de haver salvo a vida de
Orestes, única ameaça futura à estabilidade dos amantes.
(BRANDÃO, 2002, p. 335, vol. III)
Clitemnestra é vista também como o duplo de Electra, como que uma projeção
de características pertencentes a ela, mas que não são mostradas por ela própria. Da
mesma forma que Electra é o duplo de sua mãe. Como explica Vernant:
O duplo é uma realidade exterior ao sujeito, mas que, em sua
própria aparência, opõe-se pelo seu caráter insólito aos objetos
familiares, ao cenário comum da vida. Move-se em dois planos
ao mesmo tempo contrastados: no momento em que se mostra
presente, revela-se como não pertencendo a este mundo, mas a
um mundo inacessível. (VERNANT, 1990, p. 389)
77
Quanto ao assassinato, tanto Pate Nuñez (2000) quanto Brandão (2002)
defendem que foi um ato vingativo de uma mãe, e que Agamêmnon não poderia fugir
à sua morte porque é culpado pelo sacrifício de Ifigênia e pela destruição de Tróia, e
também porque pesa sobre ele a maldição do génos familiar. Todas essas culpabilidades
o deixam impossibilitado de exercer seu poder de discernimento e de fazer valer seu
julgamento. Entra aqui a questão do destino para os gregos. Agamêmnon não poderia
evitar sua morte porque não pode fugir ao seu destino. Para os gregos, todos os
mortais e também os imortais estão sujeitos ao destino.
Assim como Orestes veio vingar a morte do pai, as Erínias aparecem para
vingar a morte de Clitemnestra. Essas divindades ctônicas que têm como função vingar
assassinatos entre membros consanguíneos desempenham, na trilogia esquiliana, a
função polissêmica de referencializar personagens ausentes, conquistando um espaço
cada vez maior, chegando atuar como personagens com atores desempenhando seu
papel em Eumênides.
Profundamente associadas à Terra-Mãe, entendem que o
sangue parental derramado dessangra a própria matriz
originária e, por isto, insurgem-se implacáveis, como
intendentes da expiação, do remorso, do pavor que tal
violência suscita. Farejando as relações metíficas emanadas do
assassínio intrafamiliar, prontificam-se a desgarrar-se das
profundezas infernais em missão saneadora, que previne contra
o risco de infectação de todo o grupo social. (PATE NUÑEZ,
2000, p. 43)
O que mais provoca horror em relação às Erínias é o fato de que elas são
testamentárias de um sentimento materno e dirigem seu ódio àquele que devassa os
segredos da maternidade. É por isso que elas também são referidas como "Erínias de
uma mãe". Assim sendo,
Para as Erínias a morte de Agamêmnon é de somenos
importância: a rainha Clitemnestra não se ligava a ele pelo ius
sanguinis, pelo direito consanguíneo e estava de outro lado
vingando o sangue derramado de sua filha Ifigênia.
(BRANDÃO, 2002, p. 337, vol. 3)
78
É por essa razão que Clitemnestra não é assombrada pelas Erínias quando mata
seu marido. E é por essa razão que Orestes é perseguido por elas por matar a mãe, pois
aqui se configura um crime consanguíneo, mais grave ainda por ter sido cometido
contra a mãe. Orestes, então, é tomado pela demência funesta que elas disseminam. E
o único meio que ele encontra para livrar-se da manía (loucura) é pedir ajuda a Apolo,
afinal ele cometeu o assassinato a mando do deus, ou seja, ele foi o instrumento da
vontade divina. Aconselhado por ele, Orestes procura Atena, que institui o Conselho
dos Areopagitas em Atenas, tribunal encarregado de julgar os crimes de sangue, onde
Orestes é absolvido.
3.
Os perseguidos
É justamente a noção de Destino grega que O’Neill tenta adaptar à
modernidade, mostrando que o orgulho dos Mannon tem a mesma noção trágica de
hamartía (erro), o que explica a mesma cadeia de erros que culmina com a destruição da
família, diferentemente do visto em Ésquilo.
Em Os perseguidos, a ação se passa na Nova Inglaterra, logo após o término da
Guerra Civil norte-americana, e os personagens principais são Christine, Adam Brant,
Lavínia, Orin e Ezra Mannon, cujo corpo é velado no interior da mansão. Sua morte
ocorre na primeira peça da trilogia, A volta ao lar. Logo que ele regressa para casa, após
combater na Guerra Civil, é assassinado pela esposa Christine com a ajuda de seu
amante, Adam Brant. Os personagens secundários são os irmãos Peter e Hazel, e
algumas pessoas da cidade que, juntamente com o jardineiro Seth, formam o que se
pode chamar de coro, o tempo todo fofocando sobre a família e querendo saber que
segredos estão escondidos dentro da misteriosa e assombrada mansão ou por trás das
máscaras (“life-like mask”, rostos estáticos) comuns a todos da família. Essas máscaras
funcionam como um sinal visual do destino partilhado pelos membros dessa família
maldita.
Na transposição do mito grego, deuses comandando a ação da peça seria
inverossímil, então os deuses aqui são outros, na verdade mais terríveis que os gregos,
79
pois infundiram nos homens a idéia de culpa, do “pecado original”, de que não podem
fugir. Esses “deuses” são os conceitos modernos que nos foram apresentados pela
moderna psicologia para explicar as ações humanas, com a culpa, as frustrações, os
desejos do subconsciente e os complexos. Entretanto, há também a idéia de um crime
cometido por um ancestral que desencadeia toda uma série de crimes dentro da família,
que termina destruída: o pai de Ezra, Abe Mannon, expulsou de casa seu irmão David
porque ele se apaixonou por uma enfermeira, portanto de classe social inferior. Fez
isso não só pelo escândalo que a situação traria para a família, mas também porque se
apaixonou pela mesma mulher. David não suportou as pressões de um casamento
desigual e suicidou-se. Antes disso, porém, seu irmão havia lhe roubado grande parte
de sua fortuna. Anos mais tarde, pobre e doente, a enfermeira pede ajuda a Ezra, que a
despreza, e ela acaba morrendo. De sua união com David, nasce Adam Brant, que se
une à esposa de Ezra para vingar a morte da mãe. A justificativa para o assassinato de
Ezra pela esposa Christine não se dá pelo sacrifício de uma filha, mas pelo ódio que a
esposa sente por ele por causa da decepção amorosa do casamento, devido ao
puritanismo da família Mannon. E esse ódio pelo marido teve conseqüências terríveis,
pois, conforme afirma Magaldi:
Surgiu daí o repúdio à filha Lavínia, e o amor ao filho Orin,
porque, concebido na maior parte do tempo quando ausente o
marido, lhe parecia ser fruto apenas seu. (MAGALDI, 1989, p.
257)
A relação de Christine e Lavínia, assim como Clitemnestra e Electra nas Coéforas,
é baseada em ódio. A mãe odeia a filha por motivos já apresentados e a filha odeia a
mãe, considerando-a sua rival, por acreditar que ela lhe roubou todo o amor a que
tinha direito: o amor de seu pai e do que viria a ser seu pretendente, na verdade amante
da mãe. Ela anseia por tomar o lugar de sua mãe, tornando-se uma esposa para o pai e
uma mãe para o irmão. O que se tem aqui é o que Freud chamou de ‘complexo de
Electra’, que, assim como o ‘complexo de Édipo’, tem início com um objeto amado
primário: a mãe. Mas, segundo a teoria freudiana, logo esse objeto é abandonado pela
filha ao perceber que a mãe também foi vítima de uma castração. Ela, então, transfere
80
seu amor para a figura paterna, no anseio de gerar um filho dele, que seria a solução
para a sua castração. Dessa forma ela se tornaria a mãe, tomando o lugar desta.
Da mesma forma que ocorre nas Coéforas, Christine é o duplo de sua filha. Mas
em Os perseguidos essa relação também ocorre entre os personagens masculinos, pois
Ezra é o duplo de Orin. Percebe-se isso nos relatos de Orin sobre a guerra, quando ele
sonhava que matava repetidamente o mesmo homem, que tinha o rosto de seu pai:
Orin: [...] Eu tinha esse estranho sentimento que a guerra
significa matar o mesmo homem repetidas vezes, e no final eu
descobriria que esse homem sou eu! Suas faces continuam a
aparecer em sonhos – e elas mudam para o rosto de nosso pai
– ou para o meu – o que isso significa Vinnie? (p. 781)15
O complexo de Édipo, por outro lado, é o que baseia a relação de Christine
com o filho Orin. Como dito antes, o objeto amado primário é a mãe, que o filho
abandona diante da ameaça de castração por parte do pai, ou seja, o menino teme que
o pai o castre se ele continuar a desejar a mãe, pertencente ao pai por direito. Proibindo
o incesto e instituindo as relações corretas de desejo dentro da casa, o pai se torna uma
figura da lei. E ao abandonar seus desejos edípicos, o menino passa a se identificar com
o pai. Orin ama sua mãe, como ele mesmo afirma quando conversa com ela sobre
Adam Brant:
Orin: Não! Por Deus! Eu apenas quis dizer que não importa o
que você fez, eu a amo mais do que qualquer coisa no mundo
e...
Christine: Oh, Orin, você é o meu menino, meu bebê! Eu amo
você!
Orin: Mãe! Eu posso perdoar qualquer coisa, qualquer coisa! –
em minha mãe – exceto uma – Brant!
Christine: Eu juro!
Orin: Se eu souber que aquele desgraçado - ! Por Deus, eu
mostraria a você que não aprendi a matar por nada! (p.775)16
"I had a queer feeling that war meant murdering the same man over and over, and that in the end I
would discover the man was myself! Their faces keep coming back in dreams - and they change to
Father's face - or to mine - What does that mean, Vinnie?" (p. 781. Tradução nossa)
16 "Orin: No! For God's sake! I only meant that no matter what you ever did, I love you better than
anything in the world and Christine: Oh, Orin, you are my boy, my baby! I love you!
15
81
Logo depois, ao falar das Ilhas Paradisíacas, que se localizam nos mares do sul e
parecem ser um lugar paradisíaco, onde se esqueceria todo o sofrimento, sobre o qual
Orin leu a respeito, ele diz:
Orin: E eu nunca mais vou deixá-la. Eu não quero Hazel ou
outro alguém. Você é a minha única garota! (p. 776)17
Lavínia tem um porte militar, o que a assemelha ao seu pai, e simboliza seu
papel de guardiã dos segredos da família e de sua cripta (como ocorre ao final da
trilogia), figurando como um agente de repressão durante a peça toda. Ao contrário da
Electra de Ésquilo, Lavínia é quem comanda a ação, do começo ao fim, mas assim
como sua correspondente grega, ela também não quer sujar as mãos. Para isso, ela
manipula o irmão Orin para que ele mate o amante de sua mãe, pois ela sabe da relação
existente entre mãe e filho e que Orin não perdoaria a traição da mãe. Ao fazer isso, ela
indiretamente leva Christine ao suicídio, mas tendo certeza de que isso ocorreria, pois a
mãe havia lhe falado que morreria se algo acontecesse a Adam.
A questão do suicídio é uma diferença marcante entre as duas peças. Em
Coéforas, não há suicídio e tampouco as personagens são manipuladas por outras.
Orestes está determinado a matar a mãe e Egisto porque assim o ordenou um deus, a
quem os mortais devem obediência. Além disso, Apolo lhe fala de que seus bens estão
sendo dilapidados e de seu direito ao trono de Micenas. A questão do divino entra
muito forte nessa peça porque a sociedade assim o permitia e aceitava. Em O'Neill, ao
contrário, isso não seria plausível.
Além de provocar o suicídio da mãe, Lavínia também leva o irmão Orin a isso
na terceira peça da trilogia. Ao voltar das ilhas com Lavínia, lugar que ele sempre
sonhou em visitar com a mãe, ele não agüenta mais a culpa pelo suicídio da mãe, uma
vez que ela o cometeu em decorrência do assassinato de Adam pelo filho, e nem
Orin: Mother! I could forgive anything - anything! - in my mother - except that other - that about
Adam Brant!
Christine: I swear to you - !
Orin: If I thought that damned - ! By God, I'd show you then I hadn't been taught to kill for nothing."
(p. 775. Tradução nossa)
17 "Orin: And I'll never leave you again now. I don't want Hazel or anyone. You're my only girl! (p.
776. Tradução nossa)
82
agüenta a perseguição fantasmagórica dos seus antepassados, que aqui fazem o papel
das Erínias gregas, assombrando Orin por causa de seu crime.
Ameaçando revelar toda a verdade, Orin se tornou um perigo, pois vale lembrar
que Lavínia é também a guardiã dos segredos da família. A única forma que ela
encontrou para calar o irmão foi levando-o ao suicídio também. E ela termina seus dias
sozinha, como que enterrada viva na casa/cripta da família.
Mas há uma grande diferença entre os dois suicídios: o de Christine é um ato de
vontade, ela escolhe se matar; o de Orin é um ato de loucura, pois além de sua fraqueza
de caráter, ele está dominado pelos fantasmas da casa, como que acometido pela
demência funesta que as Erínias espalham. O primeiro é um ato de vontade porque,
apesar de ser levada a isso, Christine escolhe fazê-lo. Lavínia provoca a situação porque
já sabia que a mãe optaria por fazer isso no caso da morte de Adam.18 Já Orin foi
levado pela irmã a isso, mas ele não tinha opção de escolha como sua mãe porque
estava tomado pela loucura.
Ao contrário da Electra nas Coéforas, Lavínia é quem elabora o plano de
vingança de Orin contra a mãe, o que no fundo faz parte de um plano maior: seu plano
pessoal de vingança contra a mãe pela morte do pai e por todo o amor que lhe foi
roubado. E Christine tem plena consciência do que a filha é capaz:
Christine: Eu sei pelo que você estava esperando – contar a
Orin suas mentira e fazê-lo ir à polícia! Você não ousaria fazer
isso sozinha – mas se você puder fazer com que Orin – É isso,
não é? É isso que você estava planejando nos dois últimos dias?
Conte-me! Responda-me quando falo com você! O que você
está planejando? O que você vai fazer? Conte-me! (p. 764)19
Já Orin, ao contrário de Orestes nas Coéforas, é apenas um brinquedo nas mãos
da mãe e da irmã. Isso é previsível quando se tem aqui a elevação de Lavínia ao
Christine conversa com Lavínia sobre contar a verdade a Orin e diz:
"Don't tell him about Adam! He would kill him! I couldn't live then! I would kill myself!" ("Não conte
a ele sobre Adam! Ele o mataria! E então eu não poderia mais viver! Eu me mataria!" - p. 778.
Tradução nossa)
19 "Christine: [...] I know what you've been waiting for - to tell Orin your lies and got him to go to the
police! You don't dare do that on your own responsability - but if you can make Orin - Isn't that it?
Isn't that what you've been planning the last two days? Tell me! Answer me when I speak to you! What
are you plotting? What are you going to do? Tell me!" (p. 764. Tradução nossa)
18
83
primeiro plano da peça, numa relação contrária ao que se tinha em Ésquilo. Enquanto
Orestes é o responsável pela irrupção da ação na peça grega, seu correspondente na
peça norte-americana faz apenas o que lhe mandam fazer ou o que ele é levado a fazer,
pois parece que ele não se dá conta de que é apenas um joguete nas mãos da mãe,
quando ela lhe conta sua versão sobre Adam Brant, levando-o a crer que Lavínia está
louca, e nas mãos da irmã, quando ela o usa para realizar sua vingança. Como afirma
Magaldi:
Quanto a Orin, a dúvida, a indecisão, a fragilidade são seus
traços dominantes. Foi para a guerra a fim de ser separado da
saia materna, e se tornou herói menos por valentia do que pela
disponibilidade irresponsável dos que se sentem desamparados.
Era como se suprimisse sempre um mesmo homem, talvez ele
próprio. (MAGALDI, 1989, p. 260)
Uma outra questão importante que assemelha as duas peças é quanto à
prolepse. Em Coéforas, ela é apresentada na forma de sonho, o já referido sonho de
Clitemnestra, figurando como um aviso dos deuses ctônicos. Em Os perseguidos, ao
contrário, a antecipação não se manifesta através de sonhos, os personagens ‘sentem’ o
que vai acontecer durante toda a peça. Temos vários exemplos disso ao longo dos
acontecimentos, como quando Christine conversa com Lavínia sobre o que esta
pretende fazer, ela diz que precisa avisar Adam: "Eu tenho que ver Adam! Eu tenho
que avisá-lo!" (p. 778)20 Um outro exemplo é a canção que o marinheiro no cais onde
está ancorado o navio de Adam canta para ele momentos antes de seu encontro com
Christine, aliás, este personagem é visto como uma figura profética, justamente pela
sua canção:
Eles dizem que eu enforquei minha mãe
Longe!
Eles dizem que eu enforquei minha mãe
Oh, enforquei, meninos, enforquei! (p. 794)21
Adam pressente sua morte e diz:
"I've got to see Adam! I've got to warn him! (p. 778. Tradução nossa)
"They say I hanged my mother
Away - ay - i - oh!
They say I hanged my mother
Oh, hang, boys, hang!" (p. 794. Tradução nossa)
20
21
84
Eu tenho um pressentimento de que nunca mais levarei esse
navio para o mar. Ele não me quer agora - um covarde
escondendo-se nas saias de uma mulher! O mar odeia um
covarde! (p. 794)22
As imagens recorrentes das Ilhas Abençoadas também funcionam como uma
prolepse, pois os que almejam em ir para lá são os que morrem: Adam, Christine e
Orin. A descrição que se tem delas é bem semelhante ao paraíso cristão, que agora
parece perdido por causa do pecado que eles cometeram. Brant diz:
Ah - as Ilhas Abençoadas - Talvez nós ainda possamos
encontrar a felicidade e esquecer! Eu posso vê-las agora - tão
perto - e um milhão de milhas distante! A terra morna sob o
luar, os ventos brandos soprando as palmeiras, as ondas
batendo nos arrecifes cantando uma música em seus ouvidos
como uma canção de ninar! Ah! Existe a paz e o esquecimento
para nós lá - se o menos pudéssemos encontrar essas ilhas
agora! (p. 799)23
Essa idéia de uma ilha paradisíaca, para onde vão as almas das pessoas que já
morreram está relacionada com a idéia do Inferno grego e suas regiões. São cinco ao
todo, mas há uma em especial chamada Ilha dos Bem-aventurados, que é o local para
onde vão os heróis depois de sua morte e seu julgamento no Inferno. É bem possível
que Orestes tenha ido para lá ou que Clitemnestra e Egisto tenham almejado um dia
também fazer parte desse paraíso, mas nunca se saberá porque isso não está nas
versões que dão conta do destino dos Atridas depois de sua morte.
Diferentemente das Coéforas, em que o reconhecimento entre os irmãos Electra
e Orestes é de fundamental importância para o desencadeamento da vingança de
Orestes, em Os perseguidos, esse reconhecimento não poderia se dar da mesma forma.
Então o que O’Neill fez foi convertê-lo numa armadilha, na qual Lavínia se certifica da
identidade de Adam Brant, filho da enfermeira pela qual o tio de Ezra, David se
"I've a foreboding I'll never take this ship to sea. She doesn't want me now - a coward hiding a
woman's skirts! The sea hates a coward!" (p. 794. Tradução nossa)
23 "Aye - the Blessed Isles - Maybe we can still find happiness and forget! I can see them now - so close
- and a million miles away! The warm earth in the moonlight, the trade winds rustling the coco palms,
the surf on the barrier reef singing a croon in your ears like a lullaby! Aye! There's peace, and
forgetfulness for us there - if we can ever find those islands now!" (p. 799, tradução nossa)
22
85
apaixonou loucamente e foi expulso de casa pelo pai – erro que gera toda uma cadeia
de crimes na família.
Após o que foi mostrado, pode-se dizer que O’Neill fez uso de todos os
elementos da técnica antiga e da moderna de que dispunha para criar seu drama
psicológico moderno. As personagens estão no limite de suas forças, prestes a arrancar
a máscara familiar, que os mostra como seres sobrenaturais e, ao mesmo tempo,
humanos, como afirmou Magaldi:
[...] O'Neill serve-se de todo o arsenal da técnica antiga e
moderna para alcançar a maior funcionalidade dramática. As
personagens encontram-se todas na zona limítrofe em que
ostentam a máscara familiar e estão prestes a arrancá-la,
produzindo a impressão ambígua de seres sobrenaturais e ao
mesmo tempo terrivelmente humanos. (MAGALDI, 1989, p.
261)
Segundo Williams, O’Neill escreveu tragédias do ser isolado, cuja luta em tentar
dominar a vida, que não tem sentido fora dele, é um elemento a mais na ênfase trágica.
Em Mourning becomes Electra e outras peças, ele mostrou a família como entidade
destrutiva, mas o que parece um drama familiar na verdade é um drama do isolamento,
em que as personagens se entrechocam e se destroem por acreditarem que a vida está
contra elas. O que se tem não é um conjunto de relacionamentos destrutivos, “mas um
modelo de destino que não depende de qualquer crença exterior ao homem.”
(WILLIAMS, 2002, p. 158)
A noção grega de destino preocupou O’Neill na feitura desta trilogia, pois ele
acreditava que o público moderno, que não possui uma crença nos deuses ou na
punição divina da forma como os gregos acreditavam ser possível, não aceitaria ou se
envolveria com uma peça nesses moldes. Ele teria que transpor essa idéia grega de
destino e punição para o seu tempo, o que foi conseguido através do uso de conceitos
da moderna psicologia.
As relações entre as personagens principais estão baseadas exatamente nos
desejos, nas frustrações, no sentimento de culpa e nos complexos de Electra e Édipo,
como já foi mostrado: Ezra está dividido entre a esposa Christine e a filha Lavínia;
Christine, decepcionada com o marido e com o casamento, encontra compensação no
86
filho Orin e no amante Adam Brant, primo do marido; Adam relaciona-se com
Christine e Lavínia; esta é noiva de Peter, mas sente atração por Adam, numa
transferência de sua fixação pelo pai; Orin está noivo de Hazel, mas prefere dedicar-se
à mãe e, depois da morte desta, à irmã. Segundo Magaldi:
Electra enlutada adquire extraordinária concentração pela cadeia
sentimental formada. Os laços sempre se fecham entre as
paredes da casa dos Mannon, já que os elementos estranhos
existem mais para mostrar a inevitabilidade do incesto. A
máscara de todos os membros da família – máscara de morte,
idêntica nos vivos e nos retratos dos antepassados – justifica
psicologicamente a estranha atração de uns pelos outros e lhes
confere autenticidade cênica. (MAGALDI, 1989, p. 260)
A semelhança física dos personagens membros da família, as “máscaras de
morte” que todos usam, foi um dos elementos utilizados para dar um clima
fantasmagórico à trilogia que, juntamente com a presença do ódio e da morte na
mansão dos Mannon, foi a forma que O’Neill encontrou de substituir a perseguição
das Erínias gregas, a punição divina para crimes consangüíneos.
Esse clima fantasmagórico que ronda toda a trilogia dá também um aspecto
ilusório aos relacionamentos entre as personagens, fazendo com que o aspecto
destrutivo fique em segundo plano. E é justamente dessa ilusão que resultam o
adultério e o incesto. O único sentimento real é a luta desses “fantasmas” para fazerem
parte da vida. Segundo Williams, aqui já não se explica mais as relações pela psicologia,
mas pela metafísica:
[...] E no entanto, apesar de todo o cuidadoso enxerto do
modelo freudiano, isso não é psicologia, mas metafísica: a
característica metafísica daquele que está isolado e para quem a
vida, de qualquer outro modo que não seja sofrimento,
frustração e perda, é impossível. A resolução característica não
é nem grega nem freudiana, mas simplesmente a conquista da
morte, que, por não haver um Deus, tem de ser auto-infligida,
por meio do suicídio ou do total recolhimento. (WILLIAMS,
2002, p. 159)
Esse é o indivíduo trágico de O’Neill, que se sente incapaz de comunicar-se
com outro indivíduo e se consome na culpa ignorando as fronteiras entre realidade e
87
ilusão. Nessa sua luta interna, pois os conflitos agora não são mais externos e, sim,
internos, a única solução encontrada é a morte, conseguida através do suicídio, como
no caso de Christine e Orin, ou do recolhimento, no caso de Lavínia que, ao se
encerrar na mansão familiar no final da peça, desiste de viver para expiar na solidão o
destino da família.
Pelo que foi mostrado, chega-se à discussão sobre o que se tem hoje: tragédia
moderna ou drama moderno. Szondi, como mostrado no primeiro capítulo, não fala
em tragédia, mas em drama moderno, embora o sentido trágico permaneça dentro dele,
enquanto Williams, ao contrário de Szondi, afirma ser possível fazer uma tragédia hoje.
O grande problema parece ser a nova significação de trágico dada pela modernidade,
aquela em que trágico se tornou um adjetivo comum, que se refere a acontecimentos
como um desastre de avião ou uma carreira arruinada. Williams fala dessa
transformação do conceito de trágico através dos tempos referindo-se tanto ao seu
sentido comum quanto a acepção relacionada à forma de arte dramática que
sobreviveu por vinte e cinco séculos que, juntamente com as obras que restaram,
conferem um peso importante à palavra. Ele diz:
A coexistência de sentidos parece-me natural, e não há
nenhuma dificuldade fundamental tanto em ver a relação entre
eles quanto em distinguir um do outro. (WILLIAMS, 2002, p.
30)
E ele vai mais além dizendo que alguns teóricos e pessoas ligadas à academia
não aceitam falar em tragédia moderna porque desdenham dos usos “imprecisos e
vulgares” que a palavra “tragédia” tem atualmente. Mas a discussão não deve ficar no
âmbito da palavra, como ele afirma:
Mas fica claro, à medida que escutamos, que o que está em
jogo não é somente uma palavra. Tragédia, nós dizemos, não é
meramente morte e sofrimento e com certeza não é acidente.
Tampouco, de modo simples, qualquer reação à morte ou ao
sofrimento. Ela é, antes, um tipo específico de acontecimento e
de reação que são genuinamente trágicos e que a longa tradição
incorpora. Confundir essa tradição com outras formas de
acontecimento e de reação é simplesmente uma demonstração
de ignorância. (WILLIAMS, 2002, p. 31)
88
Então, resta saber se O’Neill escreveu ou não uma tragédia. Segundo Williams,
como dito antes, ele escreveu uma tragédia familiar de indivíduos isolados, seguindo
um modelo grego. Claro que ele teve que adaptar esse modelo à modernidade porque
alguns conceitos e crenças não seriam aceitos pelo público moderno. Além disso,
O’Neill dispunha de todo um aparato técnico e teórico que facilitou o
desenvolvimento de algumas questões que foram apenas sugeridos por Ésquilo na
Oréstia, justamente por causa das limitações de seu tempo.
O trabalho pode ser descrito como uma trilogia grega clássica
composta de termos freudianos e apresentada com os
elementos teatrais e o estilo do expressionismo do século XX.
A noção grega de destino foi substituída por O’Neill pelos
desejos subconscientes, as frustrações e os “complexos” que a
moderna psiquiatria tem nos mostrado para fundamentar
nossas ações externas. (HEINEY & DOWNS, 1973, p. 198)24
O determinismo de O’Neill foi, em grande parte, causado pela sua leitura dos
tragediógrafos gregos, Freud, e a cultura norte-americana do início do século XX, que
figuram a família como uma forma de destino. Destino que deliberadamente molda o
enredo da peça, a descrição das personagens e até mesmo a fala dos Mannon. A morte
cai bem aos Mannon, como diz Orin no velório do pai. O luto cai bem a Electra. E fica
a certeza de que não se pode lutar contra o destino.
24 “The work might be described as a classic Greek trilogy recast in freudian terms and presented with
the theatrical devices and style of twentieth-century expressionism. For the fate of the Greek drama
O’Neill substituted the subconscious desires, the frustrations, and the “complexes” which modern
psychiatry has shown to underlie our external actions.” (HEINEY & DOWNS, 1973, p. 198, tradução
nossa)
89
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda é cedo para ajuizar o mérito de O luto cai bem a Electra
como fixação teatral de prováveis mitos modernos. Não
cabe, ainda agora, compará-la sob esse prisma à excepcional
força mítica da Oréstia. Deve bastar-nos a certeza de que a
trilogia o’neilliana é uma admirável realização artística – e isso
não é pouco. (MAGALDI, 1989, p. 261)
Este trabalho teve como objetivo principal mostrar de que forma um mito
grego antigo, o de Electra, foi re-elaborado no contexto moderno, fazendo um estudo
comparativo de duas peças: Coéforas, segunda peça da trilogia Oréstia, de Ésquilo, e Os
perseguidos, segunda peça da trilogia de Eugene O’Neill, Mourning becomes Electra. Para
isso, foi feito um estudo das relações entre os personagens Electra/Orestes, na
primeira peça, e Lavínia/Orin na segunda, comparando os pares de personagens e suas
relações com a figura materna, que é o elo entre eles. Seguindo os exemplos de
Sócrates e Eurípides, O’Neill elevou a personagem Lavínia ao primeiro plano da
trilogia, o que permitiu que surgissem vários pontos divergentes nas duas obras, como
o tema do suicídio e o final, e que alguns pontos semelhantes, como as relações mãefilho e mãe-filha, fossem melhor explorados
Ao longo da pesquisa, um outro tema intrinsecamente relacionado ao estudo
desenvolvido foi trazido à tona: a feitura de uma tragédia moderna é possível? Através
das leituras percebeu-se que este é um tema bastante discutido e que parece não ter
fim. Alguns críticos afirmam que isso não é possível e outros dizem o contrário, que é,
sim, possível fazer uma tragédia moderna sem se perder sua premissa básica: que o
herói deve sofrer para, através do sofrimento, expurgar sua culpa.
90
É claro que cada época deu à forma histórica da tragédia sua contribuição e
refazer esse percurso histórico foi de essencial importância para que se pudesse fazer
uma leitura mais apurada da peça de O’Neill. Além disso, foi indispensável o estudo
sobre o contexto em que o autor estava inserido. Que influências ele sofreu para a
feitura da trilogia. O’Neill partiu da idéia de fazer um drama psicológico moderno a
partir de uma trilogia grega antiga que aborda a trajetória de crimes que acontecem
dentro de uma família maldita em decorrência de um erro ancestral. Ele escolheu
basear-se na Oréstia por esse ser o registro mais antigo e completo dos Atridas no teatro
antigo.
Mas uma questão o preocupava: como trazer para o presente a idéia grega de
Destino de uma forma que os espectadores se identificassem com o enredo e o
sentisse? Ele conseguiu isso substituindo a idéia de Destino por vários outros conceitos
importados da psicologia e da psiquiatria moderna. Noções como desejos
subconscientes, que dão base para os complexos de Electra e de Édipo, amplamente
aproveitados na peça de O’Neill, além de frustração e culpa, fazem parte da construção
dos personagens e do enredo desta tragédia moderna, composta a partir de dados da
teoria freudiana e apresentando, em termos formais, elementos que a situam em meio
ao desenvolvimento do drama moderno.
Essa questão sobre se é possível fazer uso de um mito grego antigo na
modernidade, sem que ele perca sua matéria central, foi um outro ponto discutido
neste trabalho. Pela leitura que foi feita da peça de O’Neill verificou-se que isso é
possível, pois a sua transposição para a época atual foi feita com maestria, visto que o
tema central do mito não foi perdido ou modificado, apenas se deu uma “nova
roupagem” a ele para que o público da época não rejeitasse a peça ou não se
identificasse com os personagens e seus sofrimentos. Afinal, a tragédia busca
justamente provocar o temor da platéia diante de situações possíveis, com as quais seja
possível uma identificação.
Para isso, O’Neill identificou na tragédia esquiliana alguns pontos que haviam
sido apenas sugeridos pelo tragediógrafo, talvez porque ele não tivesse recursos
suficientes na época para desenvolvê-los, e baseado nos conceitos modernos da
91
psicologia e metafísica, além do uso de vários recursos cênicos que não existiam na
Grécia Antiga, os apresentou ao público.
Como resultado desse estudo, concluiu-se que a feitura de uma tragédia
moderna é possível quando revestida de elementos modernos, pois uma peça seguindo
exatamente o modelo grego não seria de interesse para o público moderno, mesmo
porque, ao longo do tempo, a tragédia como gênero dramático sofreu várias
modificações para se chegar ao que se tem hoje, contudo sua essência não foi perdida,
e é nisso que os dramaturgos têm se apoiado para construir suas tragédias.
92
BIBLIOGRAFIA:
• Fontes Primárias:
ÉSQUILO. Oréstia. Int. e Trad.: Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2003. v 2.
________. Oréstia. Estudo e trad.: Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, FAPESP, 2004.
O’NEILL, Eugene. Mourning becomes Electra. (1ªed. 1931) New York: Random House,
1959.
• Fontes secundárias:
ARISTÓTELES. Poética. Porto Alegre: Editora Globo, 1966.
ARNOTT, Peter. Public and performance in the Greek theatre. London: Routledge, 1995.
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São
Paulo: Perspectiva, 1994.
BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001.
BIGSBY, C. W. E. A critical introduction to twentieth century American drama. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996. v.1.
BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário mítico-etimológico da mitologia grega. Petrópolis:
Vozes, 1991. 2 v.
_____. Mitologia grega. Petrópolis: Vozes, 2004. v.1 e 3.
BRUNEL, Pierre (org.). Dicionário de mitos literários. Trad. Carlos Sussekind et al. 2. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
CARLSON, Marvin. Theories of the theatre: a historical and critical survey from the
Greeks to the present. London: Cornell University Press, 1984.
CARGILL, Oscar; FAGIN, Bryllion; FISHER, William. O’Neill and his plays: four
decades of criticism. New York: New York University Press, 1966.
93
CINCOTTA, Howard (org.). An outline of American history. Washington: USA, 1994.
COOLIDGE, Olivia. Eugene O’Neill. New York: Charles Scribner’s Sons, 1966.
COSTA, Iná Camargo. Panorama do Rio Vermelho. Ensaios sobre Teatro Norteamericano Moderno. São Paulo: Nankin, 2001.
DEBEZIES, André. Mitos primitivos a mitos literários. In: BRUNEL, Pierre. (org.)
Dicionário de mitos literários. Trad. Carlos Sussekind et al. 2. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1998.
DETIENNE, Marcel. A invenção da mitologia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
_____. Dioniso a céu aberto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. Trad. Póla Civelli. 2. ed. São Paulo: Perspectiva,
1986.
ÉSQUILO. SÓFOCLES. EURÍPIDES. Os Persas. Electra. Hécuba. Trad. Mário da
Gama Kury. 5.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. Col. Tragédias Gregas, v. IV.
EURÍPIDES. Electra. São Paulo: Martin Claret, 2004.
GASSNER, John. O’Neill: a collection of critical essays. New york: Prentice Hall, 1964.
____. Rumos do teatro moderno. Rio de Janeiro: Editora Lidador, 1965.
GOTTFRIED, Martin. Teatro dividido: a cena americana no pós-guerra. Rio de Janeiro:
Bloch Editores, 1970.
GRIMAL, Pierre. A mitologia grega. São Paulo: Brasiliense, 1982.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Trad.: Álvaro Cabral. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
HEINEY, D. & DOWNS, L. Recent American Literature to 1930. New York : Barron’s
Educational Series, 1973.
HOMERO. Ilíada. Trad.: Haroldo de Campos. São Paulo: ARX, 2002. 2v.
_____. Odisséia. Trad.: Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da paródia. Trad. Teresa Louro Pérez. Rio de Janeiro:
Edições 70, 1985.
94
KURY, Mário da Gama. Introdução. In: ÉSQUILO. Oréstia. Int. e Trad.: Mário da
Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. v 2.
LAWSON, John Howard. Theory and technique of playwriting and screenwriting. New York:
Putnam’s Sons, 1949.
LESKY, Albin. A tragédia grega. São Paulo: Perspectiva, 2003.
LINS, Ronaldo Lima. O teatro de Nélson Rodrigues: uma realidade em agonia. Rio de
Janeiro: Francisco Alves/ INL, 1979.
LUKÁCS, George. The sociology of modern drama. In: BENTLEY, Eric. (ed.) The
theory of modern drama : an introduction to modern theatre and drama. London : Peguin
Books, 1990, p. 425 – 450.
LUNA, Sandra. What makes a tragedy laudable? Greek: a dialectical approach to the
concept of action. Dissertação (Mestrado em Literatura Anglo-americana)
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1992.
_____. Para uma arqueologia da ação trágica: a dramatização do trágico no teatro do
tempo. Tese (Doutorado em Teoria e História Literária) Universidade de Campinas,
Campinas, 2002. 2 v.
MACIEL, Diógenes André Vieira. Ensaios do nacional-popular no teatro brasileiro moderno.
João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2004.
MAGALDI, Sábato. O texto no teatro. São Paulo: Perspectiva/ Edusp, 1989. Col.
Estudos, 111.
MAGALDI, Sábato. A peça que a vida prega. In: RODRIGUES, Nélson. Teatro
Completo: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguliar, 1993. p. 50-59.
MALHADAS, Daisi. Tragédia grega: o mito em cena. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
MANHEIM, Michael. (ed.). The Cambridge Companion to Eugene O’Neill. Cambridge:
CUP, 1999.
MENESES, Adélia Bezerra de. As portas do sonho. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. São Paulo: Companhia das Letras,
1992.
PATAI, Raphael. O mito e o homem moderno. Trad. Octávio Cajado. São Paulo: Cultrix,
1984.
95
PATE NUÑEZ, Carlinda Fragale. Electra ou uma constelação de sentidos. Goiânia: Ed. da
UCG, 2000.
____. Electra nos trópicos: um mergulho no mar mítico de Nélson Rodrigues. Estudos
de Literatura Brasileira Contemporânea. Brasília, nº 25, janeiro-junho de 2005, pp.67-84.
PFISTER, Joel. Staging Depth. The Politics of Psychological Discourse. North Carolina:
The University of North Carolina Press, 1995.
RABELO, Adriano de Paula. Formas do trágico moderno nas obras teatrais de Eugene O’Neill e
Nélson Rodrigues. 305p. Tese. USP, São Paulo, 2004.
RHINOW, Daniela Ferreira Elyseu. Abordagens sobre o mito de Electra na história do teatro:
intertextualidade e criação. 287p. Dissertação. ECA, São Paulo, 2001.
ROMMILY, Jacqueline de. A tragédia grega. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1998.
ROUBINE, Jean-Jacques. Grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
SAINT-VICTOR, Paul de. As duas máscaras. São Paulo: GERMAPE, 2003.
SZONDI, Peter. Teoria do drama burguês. Trad.: Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac &
Naify, 2004.
_____. Teoria do drama moderno [1880 – 1950]. Trad.: Luiz Sérgio Repa. São Paulo:
Cosac & Naify, 2001.
TORRANO, Jaa. Herói e honras heróicas. Estudo de Coéforas. In: ÉSQUILO.
Orestéia. Estudo e trad.: Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, FAPESP, 2004, v. 2, pp.
15 – 67.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e sociedade na Grécia antiga. Rio de Janeiro: José Olympio,
1999.
VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. São
Paulo: Perspectiva, 1999.
WILLIAMS, Raymond. Argument: text and performance. In: ____. Drama in
performance. London: Penguin Books, 1972, p. 170 – 188.
_____. Introduction. In: ___. Drama from Ibsen to Brecht. London: Pelican Books, 1983,
pp. 01 – 14.
_____. Formas. In: ___. Cultura. Trad.: Lélio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1992, p. 147 – 178.
96
_____________. Tragédia Moderna. Trad.: Betina Bischof. São Paulo: Cosac & Naify,
2002.
WILMETH, Don. & BIGSBY, Christopher. (ed.). The Cambridge History of American
Theatre. Cambridge: CUP, 1999. 3v.
ZOLA, Emile. O romance experimental e o naturalismo no teatro. Introdução, tradução e
notas: Ítalo Caroni e Célia Benettini. São Paulo: Perspectiva, 1982. (Elos, 35)