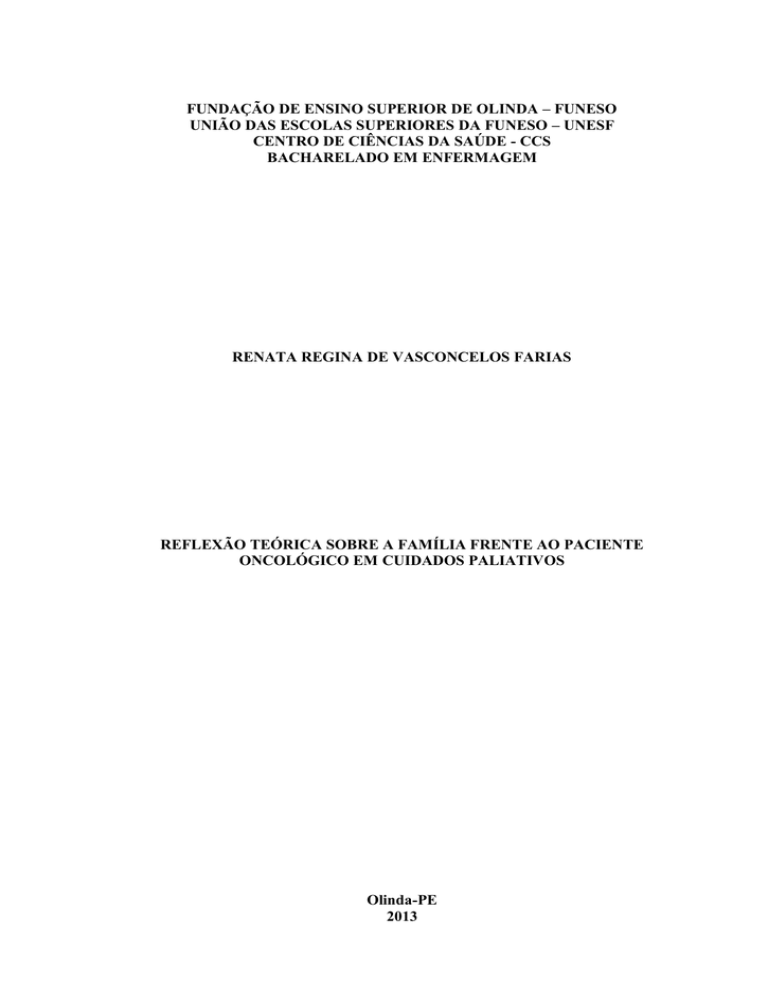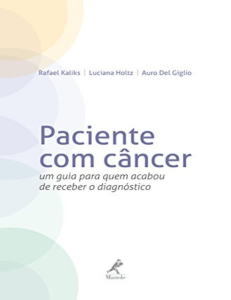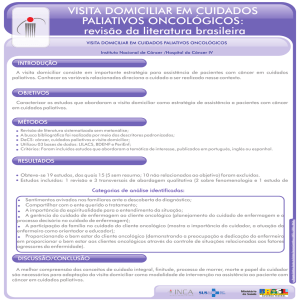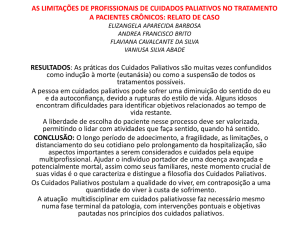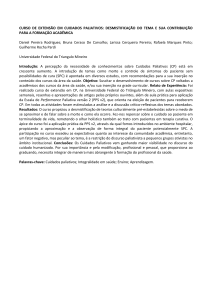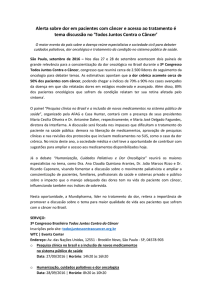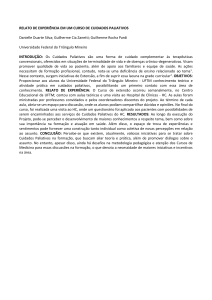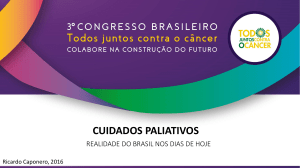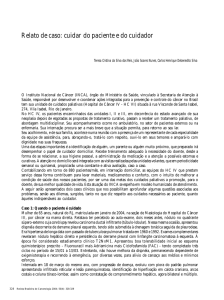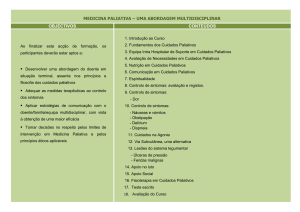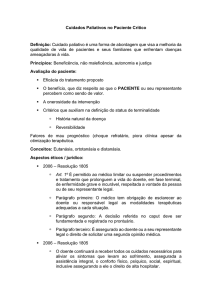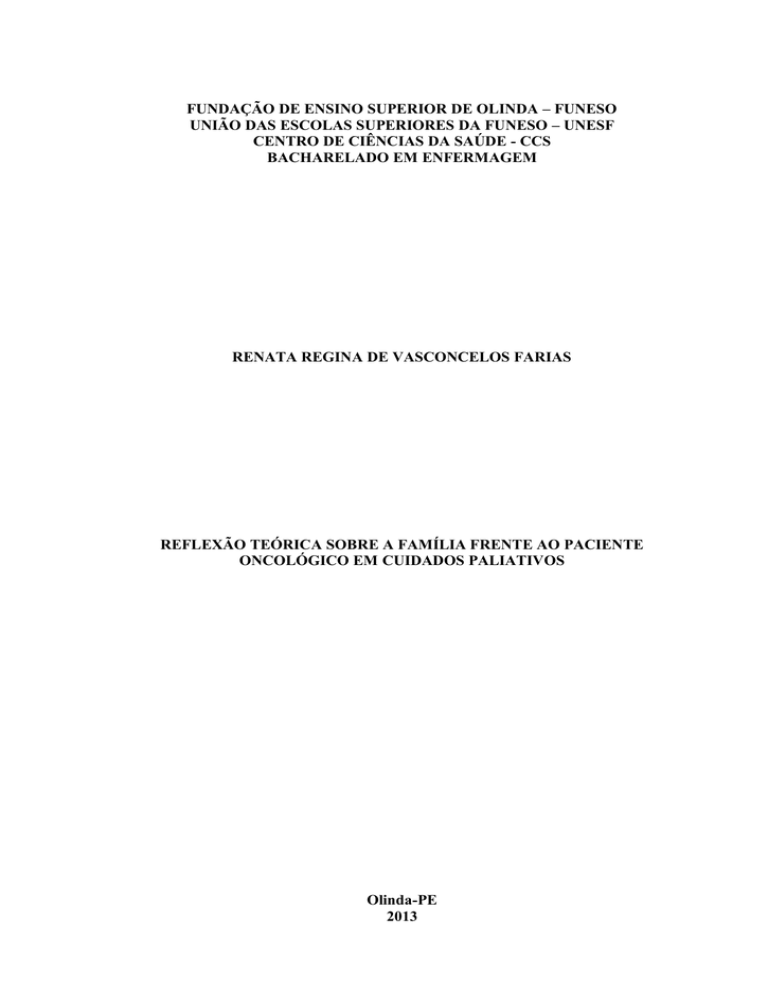
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA – FUNESO
UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO – UNESF
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS
BACHARELADO EM ENFERMAGEM
RENATA REGINA DE VASCONCELOS FARIAS
REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE A FAMÍLIA FRENTE AO PACIENTE
ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS
Olinda-PE
2013
RENATA REGINA DE VASCONCELOS FARIAS
REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE A FAMÍLIA FRENTE AO PACIENTE
ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS
Monografia apresentada à Coordenação do Curso de
Bacharelado em Enfermagem da FUNESO como
requisito à obtenção da Graduação de Bacharel em
Enfermagem.
MSC: Rosângela Amorim
Olinda-PE
2013
Dados Informacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO), Olinda-PE.
Biblioteca Luiz Delgado
Ranyelle Silva, Bibliotecária, CRB-4/P-1658.
F224a
Farias, Renata Regina de Vasconcelos.
Reflexão teórica sobre a família frente ao paciente oncológico em
cuidados paliativos / Renata Regina de Vasconcelos Farias. – Recife:
FUNESO, 2013.
37 p.; 30 cm.
Orientador: Rosangela Amorim.
Monografia (Graduação) – Fundação de Ensino Superior de Olinda,
CCS. Bacharelado em Enfermagem, 2013.
Inclui bibliografia e apêndice.
1. Cuidados paliativos. 2. Família. 3. Neoplasias. 4. Paciente
oncológico. I. Amorim, Rosangela (Orientador). II. Titulo.
CDU: 616
RENATA REGINA DE VASCONCELOS FARIAS
REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE A FAMÍLIA FRENTE AO PACIENTE
ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS
Monografia submetida à banca examinadora para obtenção do título de Bacharel em
Enfermagem.
Aprovada em 13/06/2013
_______________________________________________
MSC. Rosângela Amorim
_______________________________________________
Fátima Valter
DEDICATÓRIA
A
Deus,
por
todas
as
coisas
maravilhosas que Ele tem proporcionado a
minha vida, dentre elas a realização de mais
este sonho.
Aos meus pais Luiz Ricardo e Cirleide
Maria por toda a dedicação e atenção, a minha
irmã Suzana Maria, que, por muitas vezes,
compartilhou vários sonhos comigo e aos
meus avós paterno e materno que comemoram
comigo minhas conquistas, dando-me forças
para seguir adiante e acreditando nos meus
ideais.
Renata Vasconcelos
AGRADECIMENTOS
Agradeço, primeiramente, a FUNESO por me proporcionar um ensino de qualidade.
A minha orientadora Rosangela Amorim, por disponibilizar seu tempo, atenção e
sabedoria para concretização deste trabalho, sempre com seu carinho e paciência, o que me
ajudou a superar as dificuldades que encontrei.
A todos os professores que, com empenho, compartilharam seus conhecimentos a fim
de nos tornar profissionais qualificados.
As minhas amigas Joseane, Mônica e Sofia que participaram dessa longa caminhada e
que, mesmo frente aos obstáculos, acreditaram em mim, fazendo-me também acreditar no
meu potencial. Afinal, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite
que ele possa se realizar.
Sendo assim, muito obrigada a todos que depositaram credibilidade em mim.
“O mundo é como um espelho que devolve a
cada pessoa o reflexo dos seus próprios
pensamentos e seus atos. A maneira como
você encara a vida é que faz toda a diferença.
A vida muda quando você muda”.
Luiz Fernando Veríssimo
RESUMO
Sabe-se que o câncer é reconhecido como um problema de saúde pública e que, em todo o
mundo, a maioria dos indivíduos apresenta doença avançada no momento do diagnóstico.
Adoecer de câncer produz impacto emocional no paciente e na família ameaçando a saúde
mental e física de ambos. Sabendo-se da importância da família diante do tratamento do
paciente, o estudo objetivou compreender a família diante do paciente oncológico nos
cuidados paliativos, focando a essência do que é a família, o conviver com o diagnóstico do
câncer e suas fases e o paciente junto com a mesma dentro dos cuidados paliativos. O
procedimento metodológico escolhido foi desenvolvido a partir de material já elaborado na
literatura vigente, como: livros e artigos científicos. Foram selecionados os principais
documentos relacionados à família frente ao paciente portador de neoplasias em cuidados
paliativos no sentido de fundamentar o tema e o problema proposto. A busca por artigos
científicos foi realizada por meios de site eletrônicos na base de dados Lilacs e Scielo.
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Família. Neoplasias. Paciente oncológico.
ABSTRACT
It is known that cancer is recognized as a problem of public health, in the whole world, and
that most of the individuals features one advanced disease on the diagnostic moment. To fall
ill of cancer produces an emotional impact on the patient and family threatening the mental
and physical health of both. Knowing of the family importance facing the patient treatment,
the study has aimed to comprehend the family in accordance to the oncologic patient in
palliative care, focusing in the essence of what the family already is, to coexist with the
cancer diagnostic and its phases and also the patient in the same palliative care. The chosen
methodological procedure was developed from an already elaborated material on valid
literature such as: books and scientific articles. Were chosen the main documents related to
the family towards the neoplasm carrier patient in palliative care, in order to support the
theme and the problem proposed. The pursuit for scientific articles was done by electronic
sites, on Lilacs and Scielo databases.
Keyword: Cancer patients.Family. Neoplasm, Palliative care.
LISTAS DE QUADRO
QUADRO I - Estágios da patologia ............................................................................. 17
QUADRO II- Classificação da doença ......................................................................... 18
QUADRO III- Etapas para lidar com a doença .............................................................. 29
LISTA DE SIGLAS
FUNESO - Fundação de Ensino Superior de Olinda
UNESF - União das Escolas Superiores da Funeso
INCA - Instituto Nacional do Câncer
OMS - Organização Mundial de Saúde
LILACS - Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde
SCIELO - Scientific Eletronic Library Online
et al - Entre outros
APUD - Citado por, conforme, segundo
DNA - Ácido desoxirribonucléico
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 12
2 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................... 14
3 OBJETIVOS ................................................................................................................. 15
3.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................... 15
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 15
4 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 16
4.1 O CÂNCER ................................................................................................................. 16
4.1.1 Fatores determinantes .............................................................................................. 19
4.1.2 Incidência e estatísticas ........................................................................................... 19
4.1.3 Diagnóstico .............................................................................................................. 20
4.1.4 Tratamentos ............................................................................................................. 20
4.2 PACIENTE ONCOLÓGICO ........................................................................................ 21
4.3 CUIDADOS PALIATIVOS .......................................................................................... 22
4.3.1 Objetivos dos cuidados paliativos ........................................................................... 24
4.3.2 Principais sinais e sintomas em cuidados paliativos ................................................ 24
4.3.3 Dor, o foco dos cuidados paliativos ......................................................................... 25
4.3.4 Concepções dos cuidados paliativos ........................................................................ 25
4.4 O PAPEL DA FAMÍLIA ENQUANTO CUIDADOR .................................................. 27
5 METODOLOGIA ......................................................................................................... 31
5.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA ........................................................................... 31
5.2 DESCRIÇÕES DO AMBIENTE DO ESTUDO ........................................................... 32
5.3 O UNIVERSO E DESENHO DA PESQUISA ............................................................. 32
5.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ................................................................................... 32
5.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO .................................................................................. 32
6 RESULTADO E DISCUSSÃO ..................................................................................... 33
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 34
REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 35
13
INTRODUÇÃO
Cerca de cinco a seis milhões de pessoas morrem por ano devido ao câncer de acordo
com Pessini & Bertachini (2009). Citam ainda os autores que o câncer é uma das principais
causas de mortalidade no Brasil e que apesar dos grandes avanços ocorridos na área do
tratamento oncológico, a incidência de óbitos perde apenas para doenças cardiovasculares.
Sabe-se que o câncer representa mais que uma dor física e um desconforto. Ele
interfere nos objetivos de vida do paciente, em sua família, seu trabalho e renda, por isso sua
mobilidade, sua imagem corporal e seu estilo de vida podem ser drasticamente alterados.
Essas mudanças podem ser temporárias ou permanentes e produzem repercussões que afetam
a todos, inclusive ao portador da doença e sua família, pois cada pessoa tem formas únicas de
ver o mundo, e, conseqüentemente, de lidar com a doença (SILVA, R.& CRUZ, 2011).
É possível verificar que muitas vezes não ocorre a cura para essa doença, porém,
quando se acredita que não exista uma chance mínima de sobrevivência, espera-se que a
atenção seja voltada ao controle da dor e de fatores que interfiram no contexto espiritual,
social e psicológico.
Sabendo-se da dificuldade que o câncer traz, a família, muitas vezes, tenta se
organizar para lidar com a situação buscando sua base e conceitos, mostrando sua
flexibilidade de se tornar um cuidador.
Sendo visto no decorrer da história como a doença que leva a morte e de tratamento
difícil e prolongados, o carcinoma acarreta mudanças no contexto familiar desde seu
diagnóstico até a finitude do paciente.
Durante a vida acadêmica foi oportunizado a autora viver a experiência com paciente
em cuidados paliativos. Nesse contexto a autora fez observações pontuais relacionados a esses
tipos de pacientes e seus familiares, assim como: omissão de diagnóstico de ambas as parte,
abandono pela família e a transferência da responsabilidade do cuidar para terceiros,
observando que muitas vezes a família tende ficar omissa em relação à situação em que se
encontra o seu parente.
Enquanto doente o ser humano encontra-se fragilizado, o que torna o papel da
família ainda mais importante e delicado, visto que tão somente a sua vontade sem apoio dos
familiares torna o processo de cura mais difícil. Nesse sentido, a família representa mais do
que uma simples presença, já que independente das possibilidades terapêuticas pode
compreender e realizar difíceis tarefas de rotina.
14
Quando o paciente encontra-se em sua finitude, é o que encontramos em cuidados
paliativos, que visa ao alívio da dor e oferece-lhe suporte em seus últimos momentos de vida.
Acreditando que ainda há o que fazer mesmo sem a possibilidade da cura, a necessidade dos
cuidados paliativos é indispensável no sentido de oferecer conforto ao paciente.
Por tudo isso, o estudo objetiva rever o conceito da família e suas funções diante da
situação em que se encontra o paciente, conhecer melhor a doença e analisar os cuidados
paliativos. Ele se torna importante, pois abrange, de forma clara e concisa, a função da família
voltada para o cuidar do doente, evitando o abandono e a transferência de responsabilidades
para terceiros, encarando assim a doença e os cuidados paliativos.
Esta pesquisa contribuirá para levar esclarecimentos a estudantes, profissionais da
saúde, família e aos cuidadores acerca da reflexão sobre o portador de neoplasias em cuidados
paliativos.
A reflexão sobre família, câncer e cuidados paliativos servirá como pilar para o
cuidar do paciente portador de neoplasias?
15
2 JUSTIFICATIVA
Ao longo da evolução humana, a percepção da morte foi se transformando e tomando
uma proporção diferenciada na vida das pessoas. Para os nossos antepassados, era percebida
como uma fase natural da vida. O processo morte/morrer era assistido pelos familiares, o que
permitia o conforto e a presença dos entes queridos no final.
Hoje quando discutimos sobre o câncer, encontramos a maioria dos pacientes fora da
possibilidade terapêutica e, ao vivenciar dentro das enfermarias essas realidades, percebemos
o descaso da família em relação ao paciente.
O tema proposto foi, então, escolhido tendo por base de relatos e vivências sobre o
abandono e transferência da responsabilidade da família para terceiros, evidenciando que a
morte na atualidade ainda é encarada como processo natural, mas a assistência da família
nesse momento tem tornado um descaso. O portador de neoplasias já traz consigo seus medos
desde o diagnóstico e é no tratamento e na sua finitude que mais necessita da presença da
família como cuidador.
Os assuntos abordados trazem, assim, questões relevantes para o leitor, pois irão
explorar a doença, o paciente oncológico e os cuidados paliativos. Apesar de deparamos com
uma escassez de material para estudo, é possível ressaltar dentro da pesquisa o quanto é
importante abranger a família dentro dos cuidados que a doença exige.
16
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Conhecer sobre a família frente ao paciente oncológico.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir o câncer.
Reunir informações sobre os cuidados paliativos expondo seus objetivos, focos e
concepções.
Descrever o paciente que necessita de cuidados paliativos.
Identificar o papel da família enquanto cuidador.
17
4 MARCO TEÓRICO
4.1 O CÂNCER
O câncer é uma das doenças que mais causam temor na sociedade por ter se tornado
um estigma de mortalidade e dor. Na verdade, a palavra câncer de origem latina (cancer)
significando “caranguejo”, deve ter sido empregada em analogia ao modo de crescimento
infiltrante, que pode ser comparado às pernas do crustáceo, que as introduz na areia ou lama
para se fixar e dificultar sua remoção. Atualmente, a definição científica de câncer refere-se
ao termo neoplasia, especificamente aos tumores malignos, como sendo uma doença
caracterizada pelo crescimento descontrolado de células transformadas (ALMEIDA et al,
2005).
De acordo com o INCA (2007), as causas de câncer são variadas, podendo ser externas
ou internas ao organismo, estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se
ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As
causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas à
capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem
interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformar células normais em
malignas.
Menos especializadas nas suas funções que as suas correspondentes normais, as
células cancerígenas vão substituindo as células saudáveis, invadindo os tecidos e esees vão
perdendo suas funções (ALMEIDA et al, 2005).
Informa ainda o autor que o processo de carcinogênese, ou seja, de formação de
câncer, em geral dá-se lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa
origine um tumor detectável, de acordo com os estágios descritos no quadro I.
18
Quadro 1- Estágios da patologia
Estágio de É o primeiro estágio da carcinogênese. Nele as células sofrem o efeito de um
iniciação
agente carcinogênico (agente oncoiniciador) que provoca modificações em
alguns de seus genes. Nesta fase as células encontram-se geneticamente
alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente.
Exemplos de substâncias químicas carcinógenas: sulfato de dimetila,
metilnitrossuréia, cloreto de vinila, aflatoxinas, dimetilnitrosoamina e
benzopireno.
Estágio de A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual.
promoção
Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado
contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato muitas
vezes interrompe o processo nesse estágio.
Estágio de É o terceiro e último estágio e caracteriza-se pela multiplicação descontrolada,
progressão
sendo um processo irreversível. O câncer já está instalado, evoluindo até o
surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença.
Fonte: Dados da pesquisa, 2013
O câncer é classificado de acordo com o tipo de célula normal que o originou, e não de
acordo com os tecidos para os quais se espalhou. Isso é o que pode se chamar de classificação
primária. Pelo que se sabe sobre classificação primária do câncer, quase todos os tipos podem
ser colocados em um dos seguintes grupos, onde o sufixo-oma significa literalmente tumor. O
quadro 2 apresenta a classificação segundo Almeida (2005).
19
Quadro 2 - Classificação da doença
Carcinomas
Sarcomas
Linfomas
São os tipos mais comuns de câncer,
originados de células que revestem o corpo,
incluindo a pele (ectodermas) e uma série de
revestimentos internos (endodermas). Há
também os carcinosarcomas, tumores
geralmente de alta malignidade, derivados de
dois tipos de tecidos embrionários e os
teratomas, derivados de três tipos de tecidos
embrionários.
Originam-se de tecidos de suporte em vez
dos de revestimento, tais como ossos, tecido
gorduroso, músculo e tecido fibroso de
reforço, encontrados na maior parte do corpo.
Originam-se de células conhecidas como
linfócitos, encontradas em todo o organismo,
particularmente em glândulas linfáticas e
sangue. Os linfomas são divididos em
Hodgkin e não-Hodgkin, de acordo com o
tipo de célula afetada.
Leucemia
Este câncer origina-se de células da medula
óssea que produzem as células sangüíneas
brancas, causando problemas nos quais as
células
anormais
não
funcionam
apropriadamente, além de restringirem o
espaço da medula óssea para que novas
células sejam produzidas.
Mielomas
Malignidades nas células plasmáticas da
medula óssea que produzem os anticorpos.
Tumores das células germinativas
Desenvolvem-se a partir de células dos
testículos e/ou dos ovários, responsáveis pela
produção de esperma e óvulos.
Melanomas
Originam-se das células da pele
produzem pigmento, os melanócitos.
Gliomas
Originam-se a partir de células do tecido de
suporte cerebral ou da medula espinhal.
Raramente ocorre metástase.
Tumor geralmente pediátrico derivado de
células malignas embrionárias advindas de
células neuronais primordiais, desde gânglios
simpáticos até medula adrenal e outros
pontos.
Neuroblastomas
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
que
20
4.1.1 Fatores determinantes
O câncer apresenta etiologia multifatorial, como os genéticos, os ambientais e os
relacionados ao estilo de vida. Deste último grupo, destacam-se: consumo de tabaco e álcool,
inatividades físicas, alimentação inadequada, excesso de peso, exposição a radiações
ionizantes e agentes infecciosos (MELO et al 2010, BRASIL 2006; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2002b).
De acordo com o autor, os fatores supracitados podem ser associados ao aumento de
expectativa de vida da população mundial, à industrialização e à urbanização. A relação e a
interação de tais fatores podem potencializar o risco de ocorrência de determinado tipos de
câncer.
A ocorrência do câncer reflete o modo de vida dos indivíduos e suas condições
socioeconômicas e ambientais. A maneira pela qual o indivíduo se insere em seu espaço
social e como ele se relaciona influenciará o desenvolvimento da doença (Melo et al 2010,
BRASIL, 2006).
O câncer guarda uma relação direta com as condições socioeconômicas das
populações. Alguns fatores de risco concentram-se em indivíduos cujo nível de escolaridade é
mais baixo. Além disso, indivíduos de classes sociais mais baixas têm uma taxa de sobrevida
menor quando se comparada aos pertencentes às classes sociais mais elevadas (Melo et al
2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002b).
A suscetibilidade genética é a principal causa para o aparecimento de vários tipos de
câncer, porém sua interação com os fatores resultantes do estilo de vida e do ambiente
determinam um risco aumentando o adoecimento (MELO et al 2010; BRASIL, 2006).
4.1.2 Incidência e estatística
Estatisticamente, em pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, o câncer
é a seguenda causa de óbitos no mundo com 12%, matando cerca de 6,0 milhões de pessoas
por ano (ALMEIDA et al, 2005).
A incidência de câncer no Brasil vem aumentando cada ano e, em se tratando de
realidade brasileira, assim como em vários países desenvolvidos, não se pode conhecer o
número real de casos diagnosticados a cada ano pelos serviços de saúde, visto que ainda se
encontra falha no sistema de registro de câncer que cubra todo o território nacional,
21
evidenciando a importância das estimativas anuais (VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA,
2008).
4.1.3 Diagnósticos
De acordo com INCA, (2012) a anamnese e o exame físico são base do diagnóstico
clínico e constituem os elementos orientadores da indicação de exames complementares.
São múltiplas as finalidades dos exames complementares na área da oncologia. A solicitação
desses exames visa a avaliar o tumor primário, as funções orgânicas, a ocorrência simultânea
de outras doenças e a extensão da doença neoplásica (estadiamento). Além disso, os exames
complementares são indicados para detecção de recidivas, controle da terapêutica e
rastreamento em grupos de risco.
Segundo o INCA, os exames utilizados para diagnosticar e estadiar o câncer são, na
maioria, os mesmos usados no diagnóstico de outras doenças. Assim é que os exames
laboratoriais, de registros gráficos, endoscópicos e radiológicos, inclusive os ultrasonográficos e de medicina nuclear, constituem meios pelos quais se obtém a avaliação
anatômica e funcional do paciente, a avaliação do tumor primário e suas complicações loco regionais e a distância.
4.1.4 Tratamentos
De acordo com INCA, (2012) o tratamento do câncer pode ser feito através de
cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é
necessário combinar mais de uma modalidade.
Radioterapia
Tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas
células aumentem. Essas radiações não são vistas e, durante a aplicação o paciente não sente
nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros recursos
no tratamento dos tumores.
Quimioterapia
Tratamento que utiliza medicamentos para combater o câncer. Eles são aplicados, em
sua maioria, na veia, podendo também ser dados por via oral, intramuscular, subcutânea,
22
tópica e intratecal. Os medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as
partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo,
também, que elas se espalhem pelo corpo.
Transplante da medula óssea
Tratamento para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue. Ele
consiste na substituição de uma medula óssea doente, ou deficitária, por células normais de
medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula.
Os pontos considerados fundamentais no tratamento são:
A unidade de tratamento compreende o paciente e sua família, os sintomas do paciente
devem ser avaliados rotineiramente e gerenciados de forma eficaz através de consultas
frequentes e intervenções ativas, as decisões relacionadas à assistência e tratamentos médicos
devem ser feitos com base em princípios éticos, os cuidados paliativos devem ser fornecidos
por uma equipe interdisciplinar, fundamental na avaliação de sintomas em todas as suas
dimensões, na definição e condução dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos
imprescindíveis para o controle de todo e qualquer sintoma, e a comunicação adequada entre
equipe de saúde, familiares e pacientes é a base para o esclarecimento e favorecimento da
adesão ao tratamento e aceitação da proximidade da morte.
4.2 PACIENTE ONCOLÓGICO
O sofrimento é o estado de expectativa diante do perigo e da preparação para ele,
ainda que seja um perigo desconhecido (angústia); ou medo quando ele é conhecido; ou susto
quando o sujeito topa com um perigo sem estar preparado para enfrentá-lo
(VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA, 2008 APUD FREUD, 1920).
O homem sofre porque passa a perceber a sua finitude, mesmo sabendo que o morrer é
parte inerente da condição humana. A existência de toda uma propulsão social de negação da
morte é prática comum. Essa negação de forma constrita cerceia toda e qualquer tentativa de
compreensão das implicações da morte no cotidiano das pessoas (VASCONCELOS; COSTA;
BARBOSA, 2008 APUD ANGERAMI-CAMON, 2002, p.102).
Historicamente, o câncer é visto como uma doença que induz fatalmente à morte. A
morte em si está ligada a uma ação má, a um acontecimento medonho, a algo que em si clama
por recompensa ou castigo. (VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA, 2008 APUD
KUBLER-ROSS, 2001, p.14)
23
Em umas de suas narrativas, (FRANCO, 2008) relata as reações dos pacientes diante
da doença onde cada paciente reage de um jeito. Existem situações em que alguns não querem
compartilhar o diagnóstico com a família, assim como existem familiares que preferem
manter o paciente na ignorância, não querendo informá-lo do diagnóstico. Tais situações
podem dificultar a comunicação e o apoio entre os diferentes familiares e o paciente, sendo
necessária uma avaliação dessas decisões e suas consequências.
Escrever ou falar sobre o doente oncológico não é fácil. Cuidar também não é. No
imaginário coletivo, o corpo até então é um ser saudável „cheios de vida‟, com um longo
percurso a explorar, experimentar, desvendar e aprender. Para a família é custoso aceitar o
diagnóstico, pois o tratamento é cruel e tortuoso, e ainda, é preciso conviver com a
probabilidade da morte, portanto o paciente com câncer deve contar com uma ampla estrutura
de apoio para enfrentar as diferentes etapas do processo, desde a prevenção, o diagnóstico, e
os tratamentos prolongados (REZENDE et al, 2008).
Para Santana, a compreensão biopsicossocial do paciente, admite que, frente a esta
realidade, ele pode enfrentar grandes dificuldades, como: alteração da rotina diária em virtude
do tratamento, maior dependência de cuidados de terceiros, mudanças dos hábitos como o
tabagismo e etilismo, alteração da imagem corporal, isolamento social, entre outras
(SANTANA et al, 2008 APUD AMAR et al, 2002).
Essa situação pode culminar em sofrimento psicológico, evidenciado através de
sintomas de depressão, ansiedade, manifestação de pensamentos de desesperanças,
sentimentos de medo e incerteza quanto ao futuro e insatisfação com a imagem corporal
(REZENDE et al, 2008 APUD ABBY & WASSERMAN, 1992).
De acordo com a condição que o paciente com câncer vive, ele utilizará as estratégias
de enfrentamento entendido como as habilidades para domínio e adaptação a situação de
estresses (REZENDE et al, 2008 APUD SAVOIA, 1999).
4.3 CUIDADOS PALIATIVOS
Hoje a ciência médica pode lutar contra uma doença potencialmente fatal e a morte,
em que outrora o médico apenas podia oferecer conforto e segurança. É comum, na prática
médica e dos profissionais de saúde prolongar a vida a qualquer custo. A morte, dessa forma,
passa a ser entendida como um fracasso e, por esse motivo deve ser “escondida”.
(HORTALE, 2006 APUD FOUNDATION; 1999.)
24
Enfatiza ainda o autor em seu artigo que nos Estados Unidos, menos de 10% da
população morre devido a um infarto, acidente ou um evento inesperado. Mais de 90% morre
de doença crônica, lentamente progressiva, com um período terminal de poucos meses ou
semanas (como o câncer) ou de progressão lenta com períodos cíclicos de crise até advir à
morte.
Das diversas causas de morte no mundo, o câncer é a única que continua a crescer
independente do país ou continente e, nos países em desenvolvimento, é atualmente
responsável por uma entre dez mortes (HORTALE, 2006 APUD WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2002).
Ainda para Hortale aprender a lidar com as perdas num contexto de uma doença
crônica como o câncer é um desafio que poucos se propõem a discutir, muito menos a
enfrentar. Ajudar indivíduos com doenças avançadas e potencialmente fatais (doenças
terminais) e seus familiares num dos momentos mais cruciais de suas vidas é uma atividade
ou um modelo de atenção à saúde que vem sendo denominados “cuidados paliativos”.
Inicialmente os cuidados paliativos eram conhecidos como “assistência hospice”. A
palavra hospice significa cuidar de um ser humano que está morrendo e também de sua
família, com compaixão e empatia. Com o passar do tempo, através de um conceito derivado
de “pallium”, uma palavra latina que significa manto, o termo de cuidados paliativos foi
adotado por cientistas, dando dessa forma, uma excelente imagem a esses cuidados: um manto
que protege e acolhe, ocultando o que está subjacente. (FLORIANI & SCHRAMM, 2007).
Segundo SANTOS et al, (2010), são características de um paciente sem possibilidades
de cura: presença de uma enfermidade terminal avançada, progressiva e incurável; ausência
de respostas ao tratamento curativo indicativo; presença de múltiplos sintomas, que se
manifestam de maneira intensa e são desencadeado por múltiplos fatores; o estado geral do
paciente promove intenso impacto emocional, desestruturando a família; prognóstico de vida
inferior de seis meses.
O autor afirma que a comunicação aberta à fala sensível, o respeito aos limites e
desejos da família e de seu ente querido adoecido são instrumentos indispensáveis. A família
deve ser claramente informada sobre o que fazer quando o óbito ocorrer. Apesar de grande
carga emocional que esses assuntos trazem para a família, eles têm que ser esmiuçados, pois a
família estará mais segura para lidar com as ações práticas que tal situação requer.
O cuidado terminal tem como objetivo oferecer suporte ao paciente em seus últimos
momentos de vida, quando ele já está vivendo a fase final de uma doença onde já não existe a
25
possibilidade de cura. Sendo assim, o cuidado terminal está baseado na finalidade de oferecer
uma morte digna. (FLORIANI et al 2007).
O cuidar de maneira humanizada exige do cuidador a compreensão do significado da
vida. Este verbo está de fato presente na vida humana quando é exercido por meio de
processos relacionais, interativos e associativos. Viver está relacionado a um sistema de
cuidados, porém entender e decifrar a vida para poder cuidar são tarefas difíceis, uma vez que
a humanização precisa ser sentida e percebida pelo outro. (PESSINI & BERTACHINI, 2009).
4.3.1 Objetivos dos cuidados paliativos
Os objetivos dos cuidados paliativos consistem em reafirmar a importância da vida,
considerando a morte como um processo natural, não utilizar medidas que prolonguem o
sofrimento ou encurtem a vida, repudiando as futilidades diagnósticas e terapêuticas, controlar
dor e outros sintomas, integrar os aspectos clínicos, psicológicos, sociais e espirituais que
possam influenciar a percepção e o controle dos sintomas (SANTOS et al, 2010).
O câncer, por ser uma patologia que causa dor intensa, além de sofrimento emocional
e espiritual profundos, chega ao ponto de tornar a vida do indivíduo insuportável. Existem
tipos especiais de tratamentos que apoiam e cuidam de pacientes oncológicos, e que podem
melhorar sua qualidade de vida através da utilização de técnicas simples.
O objetivo da assistência deve estar baseado em um princípio ético de atendimento
que seja adequado para esses pacientes e que proporcione medidas que não visem
simplesmente curar, mas sim aliviar o sofrimento. Sendo assim, os cuidados paliativos são
considerados uma boa opção para pacientes oncológicos, tendo como prioridade o valor da
dignidade da pessoa, considerando o seu todo. (ARAUJO et al, 2009).
4.3.2 Principais sinais e sintomas em cuidados paliativos
Conforme Santos (2010), os principais sintomas oncológicos que requerem cuidados
paliativos são geralmente desagradáveis e limitantes, portanto é importante preveni-los e
manejá-los adequadamente, promovendo o conforto do cliente e de sua família. Eis alguns
deles: dispnéia, fadiga, anorexia, náuseas, constipação, confusão mental, ansiedade, agitação e
dor.
26
4.3.3 Dor, o foco dos cuidados paliativos
Segundo a organização mundial de saúde (OMS 2007), a dor acomete cerca de 60 a
90% dos clientes com doença avançada, constituindo-se em fator determinante de sofrimento,
mesmo quando comparada à expectativa de morte. É multifatorial e multifocal. Mais de 30%
dos clientes oncológicos em tratamento apresenta quadro álgico intenso. A OMS garante que
85 a 95% da dor causada pelo câncer podem ser controladas e considera a dor uma „‟
emergência médica mundial‟‟.
Os tipos de dor são aguda, crônica, nociceptiva e neuropática. Os fatores que
desencadeiam quadros álgicos geralmente estão relacionados ao tumor, ao tratamento e ao
procedimento cirúrgico (Santos et al, 2010).
São princípios básicos para o manejo da dor, preconizados pela OMS: administrar a
dose adequada de medicamento, titular a dose de maneira individual, administrar os opioides
regularmente, administrar a dose de reforço, prevenir efeitos colaterais, utilizar,
preferencialmente, a via oral, reavaliar continuamente o cliente e programar os esquemas
analgésicos.
Ainda segundo Santos, a avaliação da dor e o registro sistemático e periódico são
fundamentais para que se acompanhe a evolução dos clientes e realize-se ajuste necessário ao
tratamento. Para avaliar a dor, é importante observar o início, intensidade, características,
duração, variação, ritmo, impacto nas atividades cotidianas, maneira de expressar a dor, uso
prévio de medicação ou intervenção não medicamentosa, idade e doenças concomitantes e
consumo de cigarro e/ ou álcool.
Há várias escalas disponíveis para mensurar a dor: visual, numérica, descritiva, de
carinhas etc. O importante é que qualquer que seja a escala adotada, ela deve responder às
características da população a que vai ser aplicada, ser de fácil compreensão e de rápida
aplicação.
4.3.4 Concepções sobre cuidados paliativos
Cuidados paliativos é o modelo de atenção à saúde oferecida aos pacientes fora de
possibilidades tratamento, no entanto Silva (2008) concebe que a reflexão sobre o conceito,
aponta que a necessidade de cuidado paliativo não ocorre somente no momento da finitude,
mas em todas as etapas da vida e durante a evolução das doenças crônico-degenerativas.
27
Assim, muito dos princípios dos cuidados paliativos são aplicados, também, em etapas
iniciais da doença, em combinação com as terapêuticas específicas ao processo patológico
(SILVA & SUDIGURUSKY, 2008 APUD SILVA, 2004), certamente por entender que a
doença, desde o seu início, provoca alterações de diferentes aspectos no indivíduo doente.
Desse modo, as concepções sobre cuidados paliativos encontradas foram:
a) A qualidade de vida: quando não existe mais a possibilidade de cura, o foco da atenção ao paciente
é a busca pela qualidade de vida no momento de finitude, que deve ser alcançada através do conforto,
alívio e controle dos sintomas, suporte espiritual, psicossocial e apoio no processo de enlutamento, ou
seja, é propiciar qualidade de vida para paciente e família nos momentos finais.
b) Abordagem humanista e valorização da vida: concepções de caráter estritamente humanista como
compaixão, humildade, honestidade e valorização da vida, dando fundamentação à filosofia de
cuidados paliativos como um cuidado que se aproxima do ideal de um cuidar/cuidado sensível e
eficiente, entendido, aqui, como a adoção de medidas e condutas que respeitem e compreendam o
indivíduo como ser social, portador de valores, crenças e necessidades individuais.
c) Controle e alívio da dor e dos demais sintomas: a concepção de um adequado controle e alívio da
dor e dos demais sintomas como foco principal dos cuidados paliativos. Sabemos, na prática, que uma
dor mal controlada causa impacto além do âmbito físico, tanto para o individuo doente quanto para a
família. Desse modo, o controle e alívio da dor e dos demais sintomas são um direito do
indivíduo
e um dever dos profissionais, que devem criar estratégias para diminuir o sofrimento provocado por
esse quadro.
d) Questões éticas: nos textos pesquisados, surgiram inúmeras reflexões de caráter ético, que
permeiam os cuidados paliativos, tais como os cinco princípios éticos que fundamentam a medicina
paliativa, denominados de princípios da veracidade, da proporcionalidade terapêutica, do duplo efeito
no caso, os efeitos positivos devem ser maiores que os negativos, da prevenção que é prever
complicações, aconselhar a família, e do não abandono. Analisando essas questões, deduz-se que os
cuidados paliativos buscam promover a humanização no momento final da vida, através de uma
abordagem que proporcione o morrer com dignidade, guiado pelos princípios éticos de respeito à vida
humana.
e) Abordagem multidisciplinar: a concepção de uma abordagem multidisciplinar ao indivíduo e
família denota um aspecto imprescindível na filosofia de cuidados paliativos, pois são cuidados
direcionados para os sintomas físicos, psicológicos, espirituais e sociais, necessitando de diferentes
profissionais para cuidar. Desse modo, a abordagem multidisciplinar se torna importante, uma vez que
os problemas do paciente e família envolvem múltiplos aspectos, sendo relevante observar esses
problemas sob diferentes óticas, a fim de se alcançar um cuidado uniforme, através de estabelecimento
de metas em comum, objetivando promover o cuidado integral e a dignidade no processo de morrer.
28
f) Morrer como processo natural: sabemos que a morte é a nossa verdade incontestável e, apesar dos
avanços da ciência que tentam prolongar ao máximo a vida, a morte é certa. A morte sendo encarada
como processo natural, onde todas as suas significações devem ser discutidas com o paciente, família
e o profissional, tornam o processo de morrer menos doloroso, envolvido em uma atmosfera de paz e
serenidade. Portanto, devemos ter consciência que somos seres submetidos a um processo irreversível
que inclui o nascer, o crescer, o decair e o morrer (SILVA & SUDIRUSKY 2008 APUD
SCHARAMN P.48; 2002).
g) A prioridade do cuidado sobre a cura: nos cuidados paliativos, entendidos como cuidados voltados
para pacientes fora de possibilidades terapêuticas, onde já não existe mais a viabilidade da cura, o
cuidar torna-se imprescindível. Analisando essa concepção, pode-se dizer que o cuidado deve ser
independente da cura. Os profissionais, por muitas vezes, priorizam a cura e, quando essa não é
alcançada sentem-se impotentes e esquecem-se do cuidado. Esse sim, extremamente relevante, pois
não podemos viver sem sermos cuidados.
h) A comunicação: os artigos descrevem a importância de uma comunicação (verbal e não verbal)
franca e honesta entre paciente e família. Nesse sentido, a comunicação é fundamental na relação
terapêutica que se estabelece entre a equipe e o paciente/ família, objetivando firmar uma relação de
ajuda efetiva dentro de um ambiente adequado, onde paciente e família possam revelar seus medos,
angústias, valores e significados.
i) A espiritualidade e o apoio no luto: sabemos que tanto o indivíduo que está morrendo quanto a
família enfrentam questões de natureza existencial (percepção do sentido, da paz, da esperança e do
propósito da vida), nas quais suas crenças e seus valores exercem forte influência de como vivenciar o
processo de morte e morrer. Daí é que surge a necessidade de aliviar o sofrimento espiritual, não
somente durante todo curso da doença, mas também no momento do luto, através de apoio da equipe
multidisciplinar em todos os aspectos.
4.4 O PAPEL DA FAMÍLIA
Numa perspectiva sistêmica, o grupo familiar é entendido como um conjunto que
funciona a partir da sua totalidade e no qual as particularidades dos membros se inter
relacionam (MELO et al, 2012 APUD POSTER).
Melo conceitua a família de forma singular e descreve: pode ser considerada saudável
ou eficaz quando as pessoas que se relacionam compreendem-se família, interagem de forma
aberta e flexível entre si e com os outros grupos sociais, compartilham experiências e
emoções, onde cada membro é respeitado em sua singularidade, desfruta a liberdade de expor
pensamento e trocar idéias com seu grupo, experimentar a satisfação de perceber que seu
referencial de mundo é compreendido.
29
O grupo familiar se inicia a partir do enlace de um casal e do que esses herdaram de
seus antepassados, marcados por organizadores específicos, que podem ser de natureza
psíquica ou social, conscientes e inconscientes, permeados pelo que é recebido através da
cultura (MELO et al, 2012 APUD CARNEIRO).
A família pode ser definida como uma unidade social que enfrenta uma série de tarefas
evolutivas e que funciona como matriz do desenvolvimento psicossocial de seus membros.
Quando se sujeita a pressões externas e internas, a família tem como característica se
organizar como estrutura, visando a promover formas de acomodações (MELO et al, 2010
APUD MUNUCHIM, ). Quando se submete à pressão, a dificuldades em seu meio ela
começa a se organizar e com isso a buscar fontes e meios para se defender.
Em seu trabalho (INOCENT et al, 2009), aborda a condição do cuidador familiar e
elabora alguns questionamentos, ou seja:
Partindo da premissa de que a família também sofre com o adoecer e com a proximidade da
morte do seu familiar, vêm à tona questões a respeito da vivência do cuidador familiar durante o
cuidado com o paciente fora de possibilidades de cura. A família se sente preparada para cuidar do seu
paciente? Como vai lidar frente à situação de ter um dos seus nos cuidados paliativos? Qual vai ser,
verdadeiramente, o seu papel diante deste tipo de paciente?
O processo de adaptação da família ocorre de maneira dinâmica, por meio de
modificações de suas habilidades e de estratégias de enfrentamento da doença, conforme o
momento clínico pelo qual estejam passando. O paciente com câncer deve contar com uma
ampla estrutura de apoio para enfrentar as diferentes etapas do processo desde a prevenção, o
diagnóstico e os tratamentos prolongados. É justamente na fase terminal da doença, quando
não é mais possível mais controlá-la, que o papel da família torna-se mais importante e, ao
mesmo tempo, mais difícil (REZENDE et al, 2004).
Para Boff (1999, p.33):
“Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. [...] um
momento de atenção, de zelo e de desvelo. Em outras
palavras, uma atitude de ocupação, preocupação de
envolvimento afetivo, que pertence à atitude do cuidado,
que se encontra na raiz do ser humano, por ele o próprio
cuidado singular e na sua essência.”
Assumir esse papel não é uma tarefa fácil. É importante ressaltar que, com a
descoberta da doença, desencadeia-se uma nova reflexão sobre a vida e o paciente vai
30
necessitar de uma série de mudanças, tanto no hábito de vida e como dentro do contexto
familiar.
Com a doença instalada, o doente passa a depender daqueles que estão a sua volta, e a
presença da família nesse momento é de fundamental importância. A capacidade de ouvir, de
estar presente e de ser solidário, representa, sem dúvida, uma grande ajuda para o paciente. É
comum, na ânsia de ajuda, proferir expressões como „‟ Deus sabe o que faz‟‟ e „‟Isso vai
passar‟‟, por exemplo. Vale salientar que barulho, gritos, risadas e respostas ríspidas
prejudicam o doente. Expressar-se dessa forma é desrespeitar a dignidade do outro. (SILVA et
al, 2010).
O autor afirma que a família e o portador de neoplasias têm que se preparar para
aprender a lidar com a doença, a qual está dividida em quatro etapas conforme o quadro
abaixo:
Quadro III- Etapas para lidar com a doença
Consiste no período em que o indivíduo e os familiares
Fase anterior do diagnóstico
esperam ansiosamente pela não confirmação do diagnóstico.
Trata-se de um momento em que se luta de todas as formas,
procurando por todos os caminhos e direções válidas para
obter respostas àquilo que o paciente sente.
Ocorre durante o processo de diagnóstico. O cliente e sua
Fase aguda
família tentam entender o diagnóstico, a fim de decidir sobre
como e quando e como realizar o tratamento, contando com
orientações e sugestões.
Período situado entre o diagnóstico e os resultados do
tratamento. Os pacientes procuram contornar o problema e
Fase crônica
vivenciar o seu cotidiano de forma menos traumática, apesar
da rudeza e do impacto do tratamento e suas sequelas, além
de experimentar os reflexos dos problemas sócios, morais,
religiosos, econômicos e psicológicos, bem como a rotina de
ir e vir dos hospitais, laboratórios e ambulatórios.
Fase de recuperação e morte
Ocorre quando a morte é iminente. Nesse momento, novas
metas são definidas na vida da família que possui um
indivíduo com uma doença neoplásica.
Fonte: Dados da pesquisa, 2013
31
De acordo com o autor, a fase terminal da doença é tida como a mais difícil e
angustiante. Na última semana de vida, os principais problemas dos pacientes, geralmente,
são administrar a dor, a insuficiência respiratória, a confusão, seguidos por ansiedade e por
depressão. Dessa forma, os cuidadores têm um papel muito importante nos aspectos práticos,
sociais, físicos e emocionais do paciente, bem como nas decisões a serem tomadas no fim de
vida.
Ainda na última fase, de acordo com o autor, onde o doente se encontra nos cuidados
paliativos, temos que admitir que se esgotaram os recursos para a cura e que o doente se
encaminha para o fim de vida, mas não significa que não há mais nada a fazer. Ao contrário,
abra-se uma ampla gama de condutas que podem ser oferecidas para o paciente e sua família.
Condutas que visam ao alívio da dor, à diminuição do desconforto, mas, sobretudo, à
possibilidade de situar-se frente ao momento do fim de vida, acompanhado por alguém que
possa ouvi-lo, sustentar seus desejos e não deixá-lo se isolar e sinta-se abandonado. Espera-se
que a família possa cumprir sua função de proteger, orientar e preservar sua espécie.
32
5 METODOLOGIA
5.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA
O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica, pois utilizou a bibliografia como
fonte de coleta de dados. A coleta foi realizada nas bases de dados LILACS, SCIELO Brasil e
acervos literários, através de seleção de artigos científicos relacionados ao tema e seguiu o
modelo descritivo e exploratório.
Prodanov e Freita (2013) classificam a pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva
da seguinte forma:
Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já
publicado, constituído principalmente de: livros, revistas,
publicações em periódicos e artigos científicos, jornais,
boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico,
internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato
direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa.
Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar à
confiabilidade
e
fidelidade
das
fontes
consultadas
eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o
pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos,
observando as possíveis incoerências ou contradições que as
obras possam apresentar.
Pesquisa exploratória: quando a pesquisa se encontra na fase
preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações
sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua
definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do
tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a
formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque
para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas
bibliográficas e estudos de caso.
Pesquisa descritiva: visa descrever as características de
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de
relações
entre
variáveis.
Envolve
o
uso
de
técnicas
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação
33
sistemática. A pesquisa descritiva exige planejamento rigoroso
quanto à definição de métodos e técnicas para coleta e análise
de dados. Ela permite o desenvolvimento de uma análise, para
identificação de fenômenos, explicação das relações de causa e
efeito dos fenômenos ou, mais precisamente, a análise do papel
das variáveis que de certa forma, influenciam ou causam o
aparecimento dos fenômenos. Assume, em geral, a forma de
levantamento e envolve a interrogação direta das pessoas cujo
comportamento se deseja conhecer.
5.2 DESCRIÇÕES DO AMBIENTE DO ESTUDO
O estudo foi realizado por meios de buscas em sites eletrônicos e bibliotecas públicas.
5.3 O UNIVERSO E DESENHO DA PESQUISA
Foram selecionados 72 artigos nacionais, destas foram filtrados aqueles que
contemplavam. A pesquisa também foi subsidiada por 03 literaturas pertinentes ao tema. A
partir de então a autora realizou a analise interpretativa do material literário de formas a
embasar o trabalho.
5.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Foi incluído um total de 16 artigos e 03 livros preencheram os critérios temáticos da
pesquisa.
5.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Foram excluídos 56 artigos que não alcançaram os objetivos propostos.
34
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 16 artigos selecionados, abordam as questões relacionada a família como cuidador
e são unânimes em seus conceitos pois descrevem a família como saudáveis e eficaz quando
interagem de forma aberta e flexível entre si.
Para Melo (2012) a família é conceituada de forma singular e pode ser considerada
saudável, quando as pessoas que se relacionam compreendem-se família, onde cada membro é
respeitado em sua singularidade, tendo a liberdade de expor pensamento e trocar idéias com
seu grupo.
Com a ampla predominância sobre a patologia e os cuidados paliativos no qual
facilitou o estudo, os autores se mostram unânimes nas opiniões referentes aos assuntos.
Conceituando de forma abrangente e clara e enfoca que mesmo com os avanços da medicina,
o câncer é a doença que mais leva ao óbito seguido das doenças cardiovasculares.
Atualmente, a definição científica de câncer refere-se ao termo neoplasia,
especificamente aos tumores malignos, como sendo uma doença caracterizada pelo
crescimento descontrolado de células transformadas (ALMEIDA et al, 2005)
Segundo Araujo (2009), o câncer é uma patologia que causa dor intensa, além de
sofrimento emocional e espiritual profundos, chegando ao ponto de tornar a vida do indivíduo
insuportável. Ressalva, ainda, que os cuidados paliativos sejam tratados como uma boa opção,
pois visa o alívio do sofrimento do paciente, tendo como prioridade o valor da dignidade do
doente, considerando o seu como um todo.
35
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos 72 artigos pesquisados, 16 foram selecionados enfatizando referências sobre a
doença, o portador de neoplasias e cuidados paliativos, apenas 04 artigos fazem referência
sobre a família diante do doente mostrando a importância do assunto.
O tema cuidador é abrangente na literatura no que concerne a: enfermagem como
cuidador e o cuidador contratado, ou seja, o sujeito que recebe benefício financeiro para
prestar o cuidado ao doente, mesmo sem embasamento profissional.
É importante salientar que alguns estudos vêm relatando a importância da família
como cuidador. A pesquisa considera a necessidade de elaboração de trabalhos científicos
que envolva a família como cuidadora.
De acordo com a pesquisa existem pontos em comum nos estudos referentes aos
cuidados paliativos, pois esses refletem sobre o cuidar do paciente em fase terminal
considerando o seu bem estar psicológico, social e espiritual, não apenas seu lado patológico.
O conhecimento produzido nesse trabalho também poderá embasar os acadêmicos,
profissionais de saúde e família a entender a difícil tarefa de cuidar e como colaborar,
amenizando o sofrimento e os problemas causados pela angustiante trajetória da progressão
da doença e finitude do ser cuidado.
36
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, V. L.; LEITÃO, A.; RUÍNA L. D. C. B., MONTANARI, C. A.; DONNICI, C. L.
Câncer e agentes neoplásicos ciclo-celular específicos e ciclo-celular não especifico que
interagem com o DNA: uma introdução, 2005; disponível em http//: www.scielo.com.br,
acesso no dia 12 de abril de 2013
BOFF,l. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Rio de Janeiro: Vozes,
1999.
FLORIANI, C. A.; SCHARMN, F. R. Cuidados paliativos: interfaces, conflitos e
necessidades, 2008; disponível em http://www.scielo.br, acesso em 15 de abril de 2013.
INOCENTI, A.; RODRIGUES, I. G.; MIASSO. Vivências e sentimentos do cuidador
familiar do paciente oncológico em cuidados paliativos, 2009; disponível em
http//:www.fem.org.br/revista, acesso no dia 13 de abril de 2013.
MELO, E. C. P.; ROQUE, K. E.; KNUPP, V. A. O.; OLIVEIRA, R. B. de; O problema do
câncer no Brasil, 2010; disponível em http://www.lilacs.br, acesso em 17 de abril de 2013
MELO, M. C. B.; BARROS, E. N.; CAMPELO, M. C. V. A.; FERREIRA, L. Q. L., ROCHA,
L. L. C.; SILVA, C. I. M. G.; SANTOS, N. T. F. O funcionamento familiar do paciente
com câncer, 2012; disponível em http://www.lilacs.br/revista, acesso em 15 de abril de 2013;
MENEZES, M. F. B.; CAMARGO, T. C; OLIVEIRA, V. C. Possibilidades de intervenção
para
enfermagem
nos
espaços
de
cuidado
oncologia,
2010;
disponível
em
http://www.scielo.br, acesso em 29 de abril de 2013;
Ministério da saúde (BR); O câncer, 2012; Instituto nacional do câncer; disponível em
http://www.inca.gov.br, acesso em 28 de abril de 2013;
Pessini,L; Bertachin, L; Humanização e cuidados paliativos. 4º edição, São Paulo; Editora
Loyola, 2009
37
PRODANOV C. C., FREITAS E. C., Metodologia do trabalho científico: métodos e
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico– 2º Ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
SANTANA, J. J. R. Al.; ZANIN, C. R.; MONIGLIA, J. V. Pacientes com cânce:
enfrentamentos, rede social e apoio social, 2008; disponível em http//:www.scielo.com.br,
acesso em 20 de março de 2013.
SILVA, C. R.; SHIRATORI, K.; ALCÂNTARA, L. M.; PRADO, L. M.; JESUS, R. F.
Fundamentos bioéticas do cuidado de enfermagem oncologia, 2010; disponível em
http://www.scielo.br, acesso em 20 de abril de 2013.
SILVA, E. P.; SUDIGURUSKY, Dora. Concepções sobre cuidados paliativos: Revisão
bibliográfica, 2008; disponível em http://www.lilacs.br, acesso em 26 de abril de 2013
SILVA, R. C. V.; CRUZ, E. Assistência de enfermagem ao paciente com câncer: Reflexão
teórica sobre as dimensões sociais, 2011; disponível em http://www.scielo.br, acesso 01 de
maio de 2013.
REZANDE, V. L.; DERCHAIN, S. M.; BOTEGE, N. J.; VIAL, D. L. Revisão critica dos
instrumentos utilizados para avaliar aspectos emocionais, físicos e sociais dos cuidados
de
pacientes
com
câncer
na
fase
da
doença,
2004;
disponível
em
http://www.scielo.br/revistadecancerologia, acessado em 06 de maio de 2013.
VASCONCELOS, A. S.; COSTA, C.; BARBOSA, L. N. F. Do transtorno de ansiedade ao
câncer, 2008; disponível em http://www.scielo.br, acesso em 20 de abril de 2013.