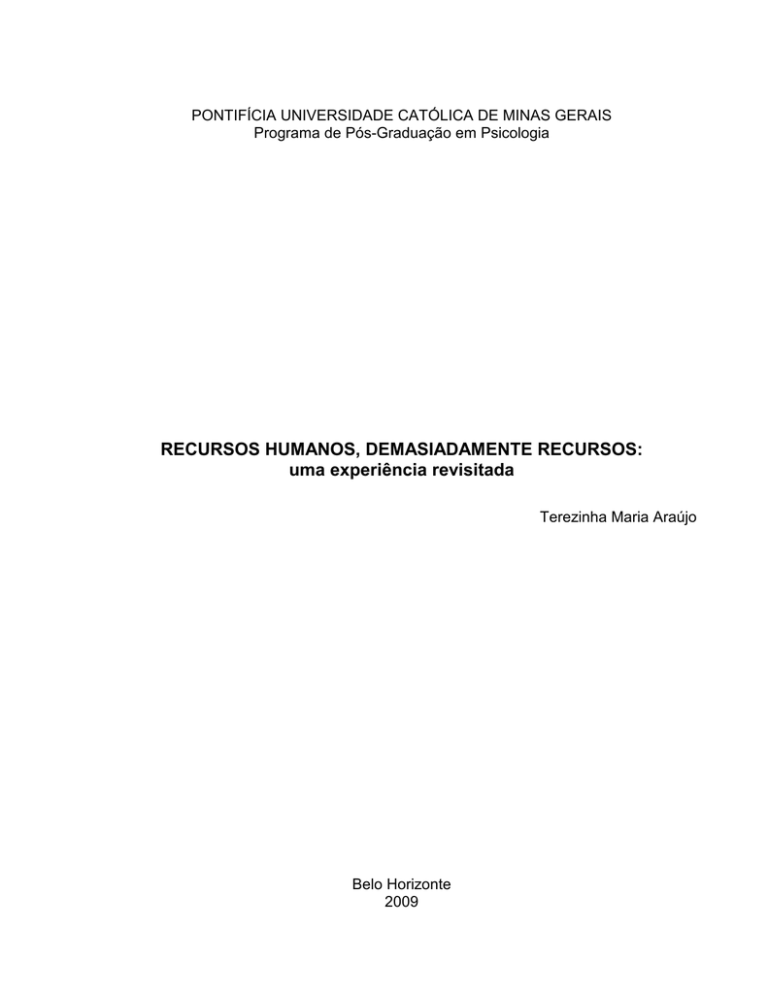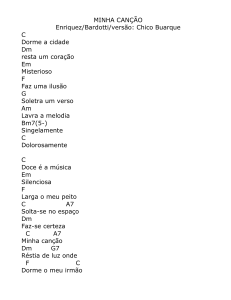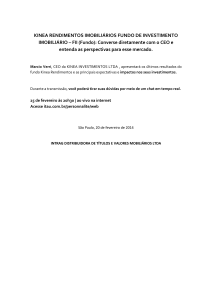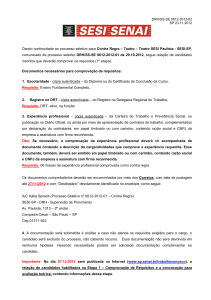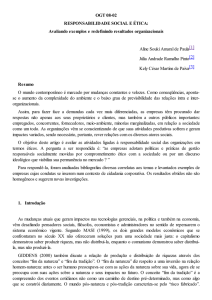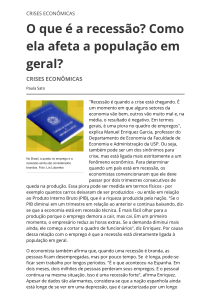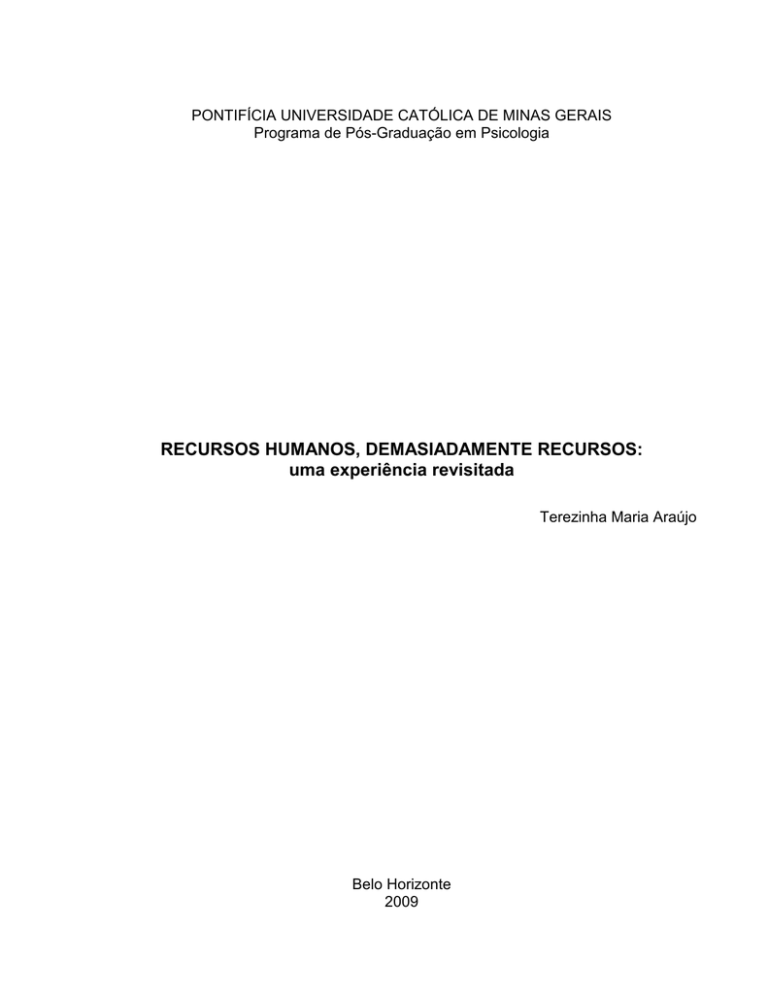
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
RECURSOS HUMANOS, DEMASIADAMENTE RECURSOS:
uma experiência revisitada
Terezinha Maria Araújo
Belo Horizonte
2009
Terezinha Maria Araújo
RECURSOS HUMANOS, DEMASIADAMENTE RECURSOS:
uma experiência revisitada
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, como
requisito parcial à aquisição do título de
Mestre em Psicologia.
Orientador: José Newton Garcia de Araújo.
Belo Horizonte
2009
Terezinha Maria Araújo
RECURSOS HUMANOS,
revisitada
DEMASIADAMENTE
RECURSOS:
uma
experiência
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, como
requisito parcial à aquisição do título de
Mestre em Psicologia.
________________________________________________
José Newton Garcia de Araújo – Orientador
________________________________________________
Antonio Carvalho Neto – PUC MINAS
________________________________________________
Vanessa Andrade Barros - UFMG
Belo Horizonte, 25 de março de 2008.
FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
A663r
Araújo, Terezinha Maria
Recursos humanos, demasiadamente recursos: uma experiência revisitada /
Terezinha Maria Araújo. Belo Horizonte, 2009.
129f.
Orientador: José Newton Garcia de Araújo
Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
1. Recursos humanos. 2. Psicologia do trabalho. 3. Sociologia organizacional.
4. Poder (Ciências sociais). I. Araújo, José Newton Garcia de. II. Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em
Psicologia. III. Título.
CDU: 658.013
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus em primeiro lugar, pela presença constante em minha vida, por me
permitir realizar este sonho. A Ele, toda honra e toda glória.
Agradeço a minha filha, pelo constante apoio e torcida, acreditando e possibilitando
minha dedicação aos estudos.
Agradeço especialmente a meu orientador, Professor Dr. José Newton, pelo estímulo,
confiança e disponibilidade em compartilhar seu saber, incentivando-me a caminhar de
forma independente.
Agradeço a CAPES, pela bolsa integral de estudos.
Agradeço à amiga e colega Prof. Patrícia Pinto de Paula, pelo incentivo constante,
pelas trocas prazerosas e por estar sempre por perto nos momentos decisivos.
Agradeço ao meu irmão Paulo, sempre junto comigo, sustentando-me com suas
orações, seu carinho e apoio.
Agradeço ao amigo Prof. Michel Le Ven, que me introduziu aos estudos da
Psicossociologia e me incentivou a prosseguir.
Agradeço aos amigos e ex-colegas da instituição objeto desta dissertação, por abrirem
espaço em suas agendas, dedicando seu preciso tempo para me ajudarem na
reconstrução desta experiência.
Este projeto somente foi possível porque tive o apoio de amigos e familiares que,
durante esta jornada, me presentearam com sua amizade e incentivo.
“Existem momentos na vida onde a questão
de saber se se pode pensar diferentemente
do que se pensa e perceber diferentemente
do que se vê é indispensável para continuar
a olhar ou refletir”
Foucault
RESUMO
O presente estudo baseia-se na análise de uma experiência de intervenção em uma
organização hospitalar filantrópica em processo de profissionalização. Buscou-se
analisar e fazer uma releitura, à luz da Psicossociologia francesa, da trajetória de
construção de uma área de Recursos Humanos em que se pensava que as pessoas
realmente eram o foco. A análise dos fenômenos organizacionais baseou-se em uma
perspectiva crítica, que possibilitou a desconstrução das anteriores hipóteses de
harmonia entre capital e trabalho. Pôde-se perceber, nesse sentido, que as ações do
então RH estavam essencialmente a serviço da empresa. São relatados os momentos
de aparente apogeu e também a queda, o fim de um programa que, apesar de
interrompido antes de ser concluído, teve resultados positivos, tanto para os
trabalhadores quanto para a organização. À época, tal experiência foi alicerçada nas
teorias administrativas: Administração de Recursos Humanos Estratégica, Recursos
Humanos como Vantagem Competitiva. Entende-se que o objetivo proposto nesta
pesquisa foi cumprido, à medida que o aporte teórico da Psicossociologia permitiu
compreender a lógica dos conflitos entre pessoas e grupos, nos níveis horizontal e
vertical, dentro da organização. Conseguiu-se resgatar os vários discursos que, em um
primeiro momento, apareciam como retalhos e precisavam ser costurados, a fim de se
repensar as práticas de RH em uma perspectiva crítica, e, a partir daí, a atuação da
autora como profissional de Recursos Humanos. A releitura da experiência na
instituição significou, além disso, a possibilidade de visualizar práticas, principalmente a
cargo dos profissionais com formação em psicologia, que restituam ao coletivo de
trabalhadores seu lugar de sujeito nas organizações.
Palavras-chave: Gestão. Intervenção. Psicossociologia. Recursos Humanos. Relações
de Poder.
ABSTRACT
The present study is based on the analysis of an intervention experience developed in a
philanthropic hospital organization under process of professionalization. Using the
French Psychosociology approach, we aimed at analyzing and rereading the trajectory
of building up its Human Resources department, which was believed to be focused on
the people. The analysis of the organizational phenomenon was based on a critical
perspective, which allowed the debuilding of the previous hypothesis of harmony
between capital and work. In this sense, we realized that the actions of the HR
department were essentially tracking the company perspective. We report the moments
of apparent apogee and fall of a program that, though interrupted before its conclusion,
yielded positive results for both the staff and employers. At that time, that experience
was based on two management theories, namely, strategic human resources
administration and human resources as competitive advantage. Our reading is that the
goal of this research was reached, given that the fundamental basis provided by the
Psychosociology theory improved the understanding of the conflicts among people and
groups in both horizontal and vertical levels of the organization. Able to recover the
various speeches that at first appeared as flaps and that needed to be stitched, to
rethink of the HR activities under a critical perspective, and then, the impact of the
author of this work as a HR professional was felt. In addition to that, the rereading of
that experience in the institution allowed for the psychology professionals the possibility
of proposing activities to retrieve the individual to its deserved place in the organization.
Key Words: Management. Psycosociology. Human Resources. Power Relationship
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABTD - Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento
CC - Centro Cirúrgico
CEO - Chief Executive Officer
CGT - Comando Geral dos Trabalhadores
CLT - Consolidação da Leis do Trabalho
CME - Central de Material Esterilizado
CTI - Centro de Tratamento Intensivo
DP - Departamento de Pessoal
DRH - Departamento de Recursos Humanos
IP - Intervenção Psicossociológica
PS - Pronto-Socorro
PRH - Profissional de Recursos Humanos
R&S - Recrutamento e Seleção
RH - Recursos Humanos
SESMT - Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
T&D - Treinamento e Desenvolvimento
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................................................12
1.1 Justificativa............................................................................................................................................................13
1.2 Objetivo.................................................................................................................................................................15
1.3 Metodologia..........................................................................................................................................................17
1.3.1 A implicação do pesquisador ..................................................................................................................................................................19
2 UMA EXPERIENCIA DE RH.............................................................................................................................21
2.1 A história da organização..................................................................................................................................21
2.1.1 Nova era: a profissionalização da organização.........................................................................................24
2.2 Relações de poder: nova estrutura, velhos vícios........................................................................................27
2.3 Cultura organizacional .......................................................................................................................................30
2.4 Criação do departamento de recursos humanos (DRH)...........................................................................33
2.4.1 O que encontramos........................................................................................................................................38
2.4.2 Conhecendo a empresa por meio de seus diversos atores...................................................................40
2.4.2.1 Os chefes.......................................................................................................................................................41
2.4.2.2 Os funcionários ............................................................................................................................................41
2.4.2.3 O corpo clínico ..............................................................................................................................................42
2.4.2.4 As descobertas através das entrevistas..................................................................................................44
2.4.3 A proposta de trabalho....................................................................................................................................46
3 GESTÃO DE PESSOAS, EXPLICITAÇÃO DE CONFLITOS..................................................................60
3.1 As abordagens teóricas de RH nas últimas décadas, no Brasil. .............................................................60
3.2 Psicossociologia: uma desconstrução das racionalidades........................................................................76
3.2.1 Breve histórico do surgimento da Psicossociologia: de Elton Mayo à sociologia das organizações 77
3.2.2 Intervenção psicossociológica e Psicossociologia clínica........................................................................79
3.2.2.1 A vida psíquica nas organizações ............................................................................................................81
3.2.2.1.1 Entre o psíquico e o somático, a pulsão ..............................................................................................84
3.2.2.2 O imaginário e a cultura organizacional como instrumento de poder................................................86
3.2.3 Gestão de pessoas na era da urgência, em tempos flexíveis ...............................................................88
3.2.3.1 Tempo e as práticas de RH.................................................................................................................................................................92
4 RE-VISITANDO A EXPERIÊNCIA...................................................................................................................97
4.1 Eixo da eficiência ................................................................................................................................................99
4.1.1 Profissionalização ou poder gerencialista.................................................................................................100
4.1.2 Cultura organizacional no modelo gestionário ........................................................................................103
4.1.3 O DRH a serviço da excelência .................................................................................................................106
4.2 O eixo do sentido...............................................................................................................................................111
4.2.1. O paradoxo da eficiência e do sentido......................................................................................................113
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................................................117
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................................................123
12
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo baseia-se na análise de uma experiência de intervenção em
uma organização filantrópica, mantida por uma fundação. Trata-se de uma importante
empresa do setor privado, bem posicionada no mercado mineiro, na área de saúde,
com
foco
exclusivo
no
atendimento
hospitalar
e
ambulatorial
em
diversas
especialidades clínicas e serviços de exames complementares para apoio ao
diagnóstico e tratamento, principalmente em casos de alta complexidade. Neste estudo,
tal organização será chamada ZTEC. O que caracterizamos como organização é o
conjunto formado pela empresa e a fundação que é sua mantenedora.
Este trabalho apresentará estudo de caso narrando a trajetória de construção de
uma área de Recursos Humanos (RH) em que se pensava que as pessoas realmente
eram o foco. As ações a cargo do Departamento de Recursos Humanos (DRH) eram
planejadas e executadas visando, sempre que possível, ao bem-estar dos empregados.
No entanto, com a análise dos fatos à luz de uma perspectiva crítica, percebeu-se que
tais ações estavam essencialmente a serviço da empresa. Relataremos aqui os
momentos de aparente apogeu e também a queda, o fim de um programa que, apesar
de interrompido antes de ser concluído, teve resultados positivos, tanto para os
trabalhadores quanto para a organização. Com efeito, as ações de RH produziram
melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores e melhores resultados operacionais e
financeiros para a instituição, aspectos que serão analisados mais à frente.
Durante três anos e meio, foram implementados na empresa em questão, por
meio de uma equipe de pessoas que já atuavam no mercado como profissionais de
recursos humanos (PRH), novas políticas e programas, levando em consideração
aspectos biopsicossociais dos empregados, visando à implantação de uma empresa
“humanizada”, mas que também atendesse aos interesses dos executivos, na medida
em que os PRH se colocavam como “parceiros estratégicos” da instituição.
Tendo a autora do presente trabalho feito parte da equipe de RH, em vários
momentos o mesmo será descrito em primeira pessoa.
13
1.1. Justificativa
Minha visão sobre a finalidade da área de recursos humanos nas empresas foi
desenvolvida e alicerçada a partir das teorias da administração, segundo as quais a
função básica dos departamentos de recursos humanos seria a de criar mecanismos de
adaptação dos empregados, face às novas configurações decorrentes das mudanças
na organização do trabalho. O objetivo sempre é produzir melhores resultados para as
empresas. Trabalhamos sob o enfoque da Gestão do Comportamento Humano,
adotando um modelo que considerava fundamental identificar as necessidades das
pessoas e suas características psicológicas, para melhor interação entre elas e a
empresa. Por modelo entendemos, como Fischer (apud LACOMBE; TONELLI, 2001),
um conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, ações e instrumentos
empregados por uma empresa que interferem no comportamento humano e influenciam
o ambiente de trabalho.
Raciocinava dentro da lógica da escola de Relações Humanas: “a produtividade
é função direta da satisfação no trabalho... em que pesem as diferenças individuais,
todo homem possui necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestigio e
auto-realização” (MOTTA, 1997a, p.21). Mas trabalhava também buscando formas de
gerenciamento mais participativo, nas quais as pessoas pudessem contribuir com seu
próprio trabalho e atuar em equipes. Buscava ainda implantar equipes de alto
desempenho, visando atingir os objetivos da empresa e manter os empregados
amalgamados a eles. Concordava com a Escola de Relações Humanas quanto à
necessidade e possibilidade de harmonia entre o homem e a organização. Como ela,
também não me preocupava em explicitar os conflitos entre os diversos grupos das
empresas e principalmente entre os divergentes interesses do capital e do trabalho.
Pelo contrário, trabalhava para que os conflitos não emergissem, evitando maiores
problemas para a empresa.
A escola de “relações humanas” pretendia fazer da fábrica um lugar sem
conflitos, uma “comunidade” onde deveria reinar o consenso, a harmonia entre
diferentes setores, onde as reivindicações sindicais tenderiam a desaparecer e o
trabalhador
conheceria
o
prazer
pelo
cumprimento
do
dever
profissional.
14
Evidentemente, essa escola nunca foi um projeto das organizações sindicais. Ela
teimou em não ver que os conflitos de classe - ou entre capital e trabalho - são
inconciliáveis (ARAÚJO,s.d.).
Enquanto profissional de RH, entendia que nossa principal função era motivar as
pessoas para o trabalho, mantendo-as permanentemente envolvidas com os projetos
organizacionais, garantindo um contrato de submissão a longo prazo.
Era guiada pelo paradigma funcionalista, dirigido pelos valores de mercado, a
serviço do capital. Tal paradigma propõe a economia no comando da sociedade, na
qual “não se levaram em conta as variáveis humanas e sociais que não podem ser
integradas num sistema de equações ou de inequações” (ENRIQUEZ, 1997b, p.11).
Nas últimas décadas, mais que em períodos anteriores, as organizações
mostram atitudes ambivalentes frente aos trabalhadores. Os dirigentes preconizam o
espírito de equipe, querendo pessoas criativas, capazes de inventar soluções (sempre
visando à melhoria de desempenho), mas também temendo que essas equipes e
indivíduos conquistassem uma identidade tal que lhes permitisse desenvolver lutas,
transgredir normas e querer transformar a organização. Na verdade, o que ocorre é
uma nova roupagem dos velhos modelos de gestão sob novos tipos de contratos,
gerando
um
grande
contingente
de
trabalhadores
alienados,
controlados
e
subordinados à hierarquia das empresas.
O século XXI, incorporando as novas tecnologias de gestão das últimas décadas,
nasceu sob a égide do trabalho flexível, na cultura da urgência (SENNETT, 1999;
AUBERT, 2003), em que se cobra dos trabalhadores cada vez mais produtividade e
comprometimento, o que, em outras palavras, quer dizer indivíduos de corpo e alma
entregues a empresa.
Como profissional da área de Recursos Humanos, sentia uma angústia
permanente em lidar com esses dois “mundos” tão antagônicos. Assim, a partir de
1998/1999, insatisfeita com minha atuação e com a falta de resultados com os
programas de RH tradicionais, com os eternos treinamentos gerenciais que não
produziam nenhuma mudança nas pessoas e na empresa, iniciei uma busca em outras
fontes teóricas.
Aprofundando os estudos em psicanálise, por meio dos principais textos sociais
15
de Freud (1913, 1921, 1927, 1929, 1933, 1939), tive o primeiro contato com a
Psicossociologia através da obra de Enriquez (1996), “Da horda ao Estado”. A partir
desse referencial teórico, além das teorias da administração, busquei um processo
reflexivo sobre a minha prática, na função de RH.
Paralelamente a esses estudos, no campo da administração, também tomei
conhecimento de Ulrich (2001), que propunha um tipo de organização que podia
agregar valor a investidores, clientes e funcionários. O autor apresenta uma “nova”
visão sobre os processos e programas de RH: para a função treinamento, há uma
perspectiva de cadeia de valor que une funcionários, fornecedores e consumidores em
equipes. Sua teoria dos quatro papéis de RH visa conciliar o inconciliável, ou seja, ser
“parceiro estratégico” da empresa, e “defensor dos funcionários”. À época, essa
proposta pareceu-me muito atraente e principalmente um grande desafio. Entendia que
a proposta do RH Estratégico seria a forma de mediar capital e trabalho, em uma
relação ganha-ganha.
Foi nesse contexto que aceitei o desafio de implantar o Departamento de RH,
numa instituição que estava em processo de profissionalização, revendo sua forma de
gestão e buscando projetar-se no mercado. A direção da empresa concedeu-me
autonomia para implementar e gerir o DRH, de acordo com meus referenciais teóricos e
éticos, mas em troca queria resultados como melhoria do atendimento ao cliente,
redução do turnover e mais profissionalismo em todos os níveis da instituição, o que
significava maior produtividade e menor custo. Acreditei ingenuamente, reconheço hoje,
que poderia fazer um RH em que os dois lados, empresa e empregados, pudessem ter
ganhos, o que geraria melhor qualidade de vida e trabalho diferenciado.
1.2. Objetivo
O objetivo principal do presente trabalho é analisar e fazer uma releitura dessa
experiência de Recursos Humanos à luz da Psicossociologia francesa (ENRIQUEZ,
1997, 2001, 2002; LEVY, 2001; BARUS-MICHEL, 2001, 2004; GAULEJAC, 2007, entre
outros), buscando uma abordagem dialética dos fenômenos organizacionais. À época,
tal experiência foi alicerçada nas teorias administrativas: Administração de Recursos
16
Humanos Estratégica e Recursos Humanos como Vantagem Competitiva, ou seja,
teorias que privilegiam a gestão em detrimento do humano, “um sistema sócio-psíquico
de dominação, fundado sobre um objetivo de transformação da energia psíquica em
força de trabalho” (GAULEJAC, 2007, p.108).
Como objetivos específicos propomos:
•
repensar as práticas de RH que adotamos como diferenciadas,
procurando desvendar o que elas encobriam sobre as relações políticas,
sociais e econômicas, no interior daquela organização hospitalar;
•
propor uma leitura que leve em consideração os diversos sujeitos e as
várias configurações de poder existentes na organização;
•
identificar elementos na origem das relações contraditórias e de
dominação entre líderes e subordinados, nos diversos escalões da
hierarquia, elementos esses que culminaram com a interrupção do projeto;
•
repensar também minha atuação como profissional de Recursos
Humanos.
Assim, penso em uma releitura da experiência sob a ótica da Psicossociologia,
na tentativa de compreender a lógica dos conflitos entre as pessoas e os grupos, dentro
da instituição, resgatando os vários discursos que, em um primeiro momento, aparecem
como retalhos e precisam ser costurados para fazer surgir a história da instituição,
mesmo que apenas referente ao período em que lá estivemos.
Como veremos mais à frente, nosso propósito no ZTEC foi a implantação de
projetos que elevassem a qualidade de vida dos trabalhadores, garantindo-lhes
desenvolvimento pessoal e profissional. Ganhos reais em benefícios e uma política de
remuneração equiparada ao mercado foram também nossa proposta. Alguns desses
programas foram efetivamente implantados e, inclusive, objeto de benchmarking
(tornar-se referência em determinado assunto) para organizações congêneres, que nos
procuravam a fim de conhecer nossas práticas e adotá-las. Ainda do ponto de vista da
empresa, essas e outras atuações renderam maior produtividade e significativa redução
de custos. No entanto, não foram suficientes para a manutenção do projeto de
profissionalização da instituição, que foi abortado e, portanto, não concluído. Grande
parte dos projetos e programas desenvolvidos nesse período, em RH e nas demais
17
áreas administrativas, foi totalmente desfeita.
Tentaremos, pois, levantar na presente análise, a distância entre o que
acreditávamos poder fazer e não fizemos, no que diz respeito à chamada gestão
humanizada, tomando como base referenciais teóricos que não levavam em conta os
sistemas visíveis e invisíveis de poder, na referida organização. Julgamos que a
insuficiência crítica dos referenciais com os quais nos identificávamos à época impediunos enxergar alguns fenômenos organizacionais e institucionais, determinando a
interrupção de nosso projeto.
Hoje, parece instigante debruçar-me sobre essas questões que passaram
despercebidas. Escaparam-me, certamente por falta de referencial teórico que
baseasse o entendimento de questões mais complexas, como as relações de poder
(MOTTA, 1986), os jogos de forças (MINZTBERG, 2001), a identificação da cultura
institucional (FREITAS, 2002) e vários fenômenos que compunham o tecido social da
instituição.
Em síntese, a proposta deste trabalho é de uma análise dos acontecimentos
segundo os múltiplos processos que os constituíram, em ruptura com o modelo então
adotado (Gestão Estratégica de RH), a fim de repensá-los sob outra ótica, em uma
perspectiva crítica.
Foucault, ao falar sobre a busca do saber, instiga a buscar o novo: “existem
momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que
se pensa e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a
olhar ou refletir” (FOUCAULT, 1984, p.13). Tenho um forte desejo, uma curiosidade de
descobrir algo novo, diferente do que vi quando estava na organização. Analisando os
discursos do RH e dos demais atores da instituição, espero poder ressaltar o que
estava submerso, identificando o contexto histórico-ideológico e buscando desvendar
os mecanismos de poder e dominação, com o intuito de realizar uma análise crítica que
problematize as formas de atuação anteriormente estabelecidas.
1.3. Metodologia
18
Do ponto de vista metodológico, buscamos empreender a análise da experiência
com base na abordagem psicossociológica das organizações, procurando, ao mesmo
tempo, reconstruir e desconstruir seu sentido.
Apresentaremos a história de implantação do DRH no ZTEC, através de
analisadores institucionais, “que são elementos favorecedores de compreensão do real
institucional, visando identificar e explicitar os modos de funcionamento de uma
instituição” (ALMEIDA, 2005, p. 14). Sob essa perspectiva metodológica, entendemos a
implantação do DRH no ZTEC como instituição passível de análise através desses
quatro dispositivos: história da organização, relações de poder, cultura organizacional e
criação do DRH. Entendemos com Baremblitt, 1992, p.156, instituição como:
arvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o
que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente. Toda instituição
compreende um movimento que a gera: o instituinte; um resultado: o instituído:
e um processo: da institucionalização.
Buscaremos desconstruir a experiência de implantação de um DRH, visando
contribuir para o aprendizado da operacionalização de práticas menos ortodoxas na
gestão de pessoas, mas não deixando de perceber como essas práticas estão sempre
voltadas para a adição de valor para as empresas. Para atingir tais propósitos, além de
recorrer à literatura que sustenta tal abordagem, utilizaremos, como dados de campo, o
conjunto de documentos de que disponho, tais como relatórios relativos aos trabalhos
desenvolvidos à época, anotações particulares, além de relatos atuais de algumas
pessoas que participaram da intervenção, visando a ajudar na reconstituição da
mesma.
O presente trabalho é constituído por cinco capítulos, sendo o primeiro esta
breve introdução. No segundo, relatamos a experiência de implantação do DRH,
apresentando a empresa, seu momento de profissionalização, a inserção do RH e suas
propostas baseadas no modelo de recursos humanos estratégico.
As bases teóricas que norteiam o trabalho são discutidas no capítulo três,
dividido em duas seções principais. A primeira refere-se à Administração Estratégica de
Recursos Humanos, com um breve percurso pela trajetória da gestão de pessoas no
Brasil, desde o início da era industrial. A segunda, por sua vez, apresenta a
Psicossociologia como abordagem crítica, capaz de explicitar os conflitos entre capital e
19
trabalho.
O quarto capítulo analisa a experiência em questão, tomando a Psicossociologia
como referência de análise, destacando aspectos que servem de base para
desconstruir modelos de práticas em RH. Mostra também como a mudança do
referencial teórico da administração estratégica de RH para a Psicossociologia
descortina nova possibilidade de leitura do mesmo fenômeno, trazendo uma
perspectiva menos ingênua para a atuação dos profissionais de RH nas empresas.
No quinto e último capítulo do trabalho, expomos conclusões e reflexões
fundadas na Psicossociologia e nas correntes críticas da administração, além de
questionarmos se, partindo dessas abordagens, é possível pensar práticas alternativas
às dominantes para um trabalho em Recursos Humanos.
1.3.1. A implicação do pesquisador
“Na verdade, a questão do método só tem sentido ser escrita por último”
(RIBEIRO, 2003, p. 324). Concordamos com Ribeiro e, por esse motivo, elaborei, neste
trabalho, a metodologia por último. O relato que se apresenta como base do trabalho
diz respeito a uma experiência da qual fui parte integrante. Escrevi sobre ela correndo
os riscos que tal tarefa implica, pois pressupõe a necessidade de distanciamento crítico
e, ao mesmo tempo, inevitável grau de implicação pessoal. Em outras palavras, guardo
uma relação contra-transferencial com um trabalho com o qual me identifiquei e no qual
investi por período relativamente longo. Desconstruir essa experiência foi motivo de dor
e alegria. Dor pela descoberta de tantos equívocos, de tantos enganos, e alegria pela
possibilidade de sair do círculo vicioso da compulsão à repetição.
Qual a possibilidade que não a de nos desviarmos da realidade, na medida em
que nossa implicação venha a obscurecer fatos e dados objetivos? Se esse risco é
inegável, é preciso também lembrar as observações de Devereux (1980), que comenta
que, em se tratando de ciências sociais, a subjetividade não constitui obstáculo
epistemológico, mas pedra angular. O autor afirma ainda que a contra-transferência,
mais que a transferência, é dado crucial de toda ciência do comportamento. O
pesquisador em Ciências Sociais nunca está fora, neutro, observador distante. Ele
20
estará sempre dentro, implicado com seu objeto de pesquisa. Lourau (1995) questiona
se não é a própria implicação o objeto de análise das relações que temos com a
instituição, ou se o pertencimento/implicação não é justamente aquilo que possibilita
nossa inserção nas situações sociais de intervenção, de formação e de pesquisa.
Barus-Michel (2004) afirma que o fato de se estar implicado em uma situação
garante a apreensão daquilo que se quer ver esclarecido, desde que se possua os
instrumentos de análise. No caso do ZTEC, nossos instrumentos são a abordagem
psicossociológica e a corrente crítica da administração. A autora continua: “pode-se
sempre descrever estados, processos, fenômenos, mas não se pode alcançar as
significações sem passar por sua experiência” (BARUS-MICHEL, 2004, p. 125).
Acreditamos que, na análise de processos psicossociais, não há como o
pesquisador ficar neutro ou pouco envolvido. Analisar as práticas de RH no ZTEC é
proceder à análise de minha atuação enquanto demandante. O desejo de saber colocame, nesse sentido, como objeto de minha pesquisa.
21
2. UMA EXPERIENCIA DE RH
Neste capítulo, descrevo a experiência de implantação do Departamento de
Recursos Humanos em seus vários momentos, a fim de apresentar a trajetória que
percorremos. Relatarei o percurso desde quando lá chegamos até o final da
experiência, que culmina com nossa saída da empresa. Conto também com o relato
atual de profissionais que ainda estão na organização e de outros que já saíram para
ajudar a recordar fatos e realizar descobertas. Nosso foco será a reconstituição da
experiência como história, entendendo história como:
(...) um processo de conhecimento que pretende reconstruir os acontecimentos
nos tempos, mas que o faz assumindo que qualquer reconstrução é feita desde
uma perspectiva, que qualquer registro inclui os desejos, os interesses, as
tendências de quem faz a história. (BAREMBLITT, 1992, p.37).
Nossa experiência está contextualizada no momento de profissionalização da
organização, em que se buscavam novas formas de atuação, interna e externamente..
2.1. A história da organização
O ZTEC foi fundado há mais de 50 anos, devido ao idealismo de dois grandes
empreendedores, que criaram uma fundação privada, sem fins lucrativos, com o
objetivo filantrópico de prestar serviços hospitalares à população de baixa renda.
Expoentes da medicina mineira foram convidados para constituir o corpo clinico,
formando o então conselho consultivo. Foi administrado por um de seus fundadores até
o início da década de 70, que deixou a marca da preocupação constante com a
ampliação da área física e o aprimoramento técnico dos profissionais da saúde e da
área administrativa. Com sua morte, passou a ser gerenciado por um dos conselheiros,
que o dirigiu por mais de trinta anos consecutivamente, mantendo a mesma direção de
crescimento e aprimoramento. Em sua linha de trabalho, sempre foi dada ênfase ao
padrão técnico e científico do ZTEC. Foi em sua gestão a maior adesão dos
22
profissionais que hoje encabeçam o qualificado corpo clínico da instituição. O fim de
seu mandato coincide com o início de grandes mudanças na gestão da organização.
O ZTEC caracteriza-se como um hospital de grande porte e alta complexidade,
que trabalha com tecnologia de ponta. Posicionado como um dos principais hospitais da
região sudeste brasileira e do País, possui serviços altamente especializados e de
tratamento intensivo (caracterizados como centros médicos complexos) a partir do uso
de novas tecnologias e formação de pessoal técnico e médico, com publicações de
trabalhos científicos em revistas estrangeiras.
A organização possui centenas de leitos distribuídos em apartamentos e
enfermarias com leitos de berçário, Centro de Tratamento Intensivo (CTI) adulto, CTI
cardiovascular e CTI pediátrico, várias salas de cirurgia, sala de recuperação pósanestésica, sala cirúrgica para pequenos procedimentos e salas de vídeo-endoscopia
(respiratória, digestiva e laparoscopia).
O contingente profissional congrega aproximadamente quatrocentos médicos
(incluindo-se os pós-graduandos) de alta qualificação profissional, muitos com renome
internacional. Nas áreas administrativas e técnicas, atua um corpo funcional de
aproximadamente 1.500 funcionários. Nas últimas décadas, o ZTEC vem se
destacando como organização pioneira em procedimentos no Estado e no País.
O parque de equipamentos comporta a mais avançada tecnologia em saúde
disponível em Minas Gerais, como ressonância magnética (uma das mais modernas do
Brasil), tomógrafo para neurologia, tomógrafo helicoidal, gama-câmara para exames de
medicina
nuclear,
aparelho
de
cirurgia
neurológica
estereotáxica
LEKSELL,
equipamentos para tratamento dialítico, aparelho de radiação superficial para tumores
de pele, aparelho de citoferese, bomba de cobalto, holter, eletrocardiografia de alta
resolução, ergoespirômetro, pletismógrafo de corpo inteiro, criostato, mamógrafo,
artroscópios,
aparelhos
de
hemodinâmica,
de
ecocardiografia,
ergometria,
ultrassonografia, vídeo-endoscopia diagnóstica e cirúrgica, arcos cirúrgicos, salas de
radiologia convencional, telecomandada e de fluoroscopia.
A história da organização é marcada, como vimos, por grande desenvolvimento
na área técnica, que não é acompanhado pela área de gestão. O ZTEC pode ser
identificado como uma empresa “missionária”, conforme Mintzberg (2001): com uma
23
forte ideologia que vem desde sua fundação, por meio de seu pioneiro, sendo uma
instituição com objetivo filantrópico de prestar serviços hospitalares à população de
baixa renda. Essa missão está acima de tudo, segundo o autor:
Como resultado de seu apego à sua missão, os membros da organização
resistem bravamente a qualquer tentativa de mudá-la e de interferir com a
tradição. A missão e o resto da ideologia precisam ser preservados a qualquer
custo. (MINTZBERG, 2001, p.178).
Um médico da equipe confirma Mintzberg: “não deixamos nossa missão
filantrópica, agora são vinte horas e tem médico operando uma varize, que não vai lhe
render nada...” (médico do ZTEC, 2009). Ainda segundo o autor, nesse tipo de
organização há uma tendência de homogeneidade de pessoas, como se todos fossem
iguais, lutando pelas mesmas coisas. Para ocupação dos cargos diretivos, as eleições
são realizadas a partir do princípio de que “qualificações objetivas não são decisivas,
qualidades pessoais são mais importantes na eleição” (MINTZBERG, 2001, p.179). É
exatamente assim que acontece no ZTEC: sua diretoria é composta por pessoas “sem
qualificação em gestão, são médicos, e administram de forma conservadora, tem
dinheiro, gasta; não tem, não gasta, é simples assim” (médico do ZTEC, 2009), sem as
competências técnicas necessárias na área de gestão. Essa característica missionária
vai também marcar as relações de poder no ZTEC, como veremos à frente.
Como todo hospital, segundo identificou Mintzberg (1995), o ZTEC é um tipo
organizacional que se configura como uma burocracia profissionalizada, principalmente
no que se refere ao poder médico. Nesse tipo de configuração, predomina a autoridade
de natureza profissional - poder da perícia ou do especialista. Aqui, essa autoridade é o
médico, diferentemente, por exemplo, do que ocorre em uma indústria, que se apóia na
autoridade de natureza hierárquica (poder do cargo). Isso fazia com que as
padronizações e decisões administrativas provenientes da tecnoestrutura1 e que
visavam eminentemente à redução de custos fossem desconsideradas (MINTZBERG,
2001), o que fica bastante claro no diálogo de uma gestora com uma médica:
1
São analistas que estão fora da linha de autoridade das empresas e desempenham funções de planejar
e controlar formalmente o trabalho de outros.
24
Gestora: “os procedimentos devem seguir essa padronização, que visa
minimizar custos...”. Médica: “aqui você não mexe..”.
Sendo o ZTEC uma organização com uma cultura bastante enraizada,
sedimentada no poder médico, foi difícil operacionalizar muitas das mudanças impostas
pela nova administração. Nossa falta de habilidade na leitura dessas circunstâncias,
além das intransigências de ordem técnico-ideológica, talvez tenham contribuído para o
fracasso do modelo de gestão proposto.
Por esse breve histórico, podemos perceber que a organização se caracterizava,
à época de minhas atividades, por uma administração tradicional e conservadora no
que diz respeito à gestão. Essa situação não mudou até o presente momento, como
veremos nos relatos de pessoas que ainda estão na instituição.
2.1.1. Nova era: a profissionalização da organização
A partir do início da década de 1990, o ZTEC começa a se desestruturar
financeiramente em decorrência das mudanças ocorridas no SUS e de sua baixa
rentabilidade. Essa situação é agravada com a ampliação do atendimento a planos de
saúde privados. Em 2000, a situação financeira da fundação estava crítica, acumulando
prejuízos, e necessitava de uma reestruturação em sua forma de gestão.
A instituição embora não querendo operar nenhum tipo de mudança, na sua
forma de gestão, sabia que precisava se profissionalizar, “modernizar a instituição para
fazer face ao mercado” (gestora do ZTEC, 2004). Em 2000, uma conceituada
consultoria foi contratada para dar novo rumo à instituição, mas não houve êxito.
Elaborou-se o diagnóstico, mas sem agir sobre as questões financeiras e sem criar um
programa de mudanças mais profundo:
A consultoria fez o diagnóstico, mas na hora de viabilizar as soluções, deixou
com a empresa, mas não forneceu as ferramentas para garantir a mudança, e
não houve prosseguimento. As recomendações não foram seguidas... houve
até proposta de terceirização, para uma empresa filantrópica, o que era uma
burrice, muitos até queriam fazer, eu intervim e não fizeram...eram diagnósticos
sem ferramentas, sem indicadores... (médico do ZTEC, 2009).
Do ponto de vista econômico-financeiro, a instituição encontrava-se em uma
25
situação de instabilidade, pois a alta rentabilidade do setor de saúde estava
concentrada nos grandes convênios, que as margens dos hospitais não acompanham
devido à falta de reajuste nas tabelas de diárias e taxas, além do baixo poder de
barganha dos mesmos em relação aos convênios que dominam o mercado. A
organização vinha operando com déficit financeiro, e poderia vir à insolvência caso
nada fosse feito.
A diretoria e o conselho de administração, diante da análise do ambiente
econômico e do posicionamento da organização em relação a seus concorrentes,
entenderam como necessário adotar uma estratégia de recuperação econômica e
financeira e, principalmente, iniciar um processo de profissionalização. Este seria
voltado para aumento de sua competitividade, desenvolvimento de novos negócios e
principalmente gestão de custos, ou seja, seria necessária uma mudança na cultura
gerencial da instituição e do corpo clínico. A organização não conhecia esse aspecto:
os responsáveis pelos serviços não sabiam quanto custava um determinado
procedimento e, conseqüentemente, não realizavam a gestão dos mesmos, no sentido
de buscar minimizar custo e aumentar rentabilidade.
Segundo Falk (2001) a entidade hospitalar que não desenvolve a capacidade de
apurar seus custos, determinar o nível de rentabilidade e controlar a utilização de
recursos dos procedimentos médicos perde vantagem competitiva com relação às que
dominam esse conjunto de informações. A análise dos custos hospitalares é ferramenta
gerencial que visa proporcionar a melhoria do desempenho organizacional, por meio do
fornecimento da informação necessária ao processo decisório.
Acreditando nessa perspectiva, para sanear a organização foi contratado, em
2001, um administrador profissional, buscando recuperar a saúde financeira da
instituição pela implementação do modelo de gestão com foco em resultado. A adoção
de novos modelos de administração, decorrente das exigências de um ambiente
mutável, impingia atuações diferenciadas para que a empresa sobrevivesse e
crescesse. Iniciou-se assim, na fundação e no ZTEC, um processo de reestruturação no
modelo de gestão organizacional, para promover sua recuperação econômica e
financeira, voltado para o aumento de sua competitividade e atendimento das
demandas dos clientes, cada vez mais exigentes. A busca de ganhos econômicos e
26
projeção no mercado foram as principais metas da nova administração.
Internamente,
a
organização
estava
desgovernada.
Para
as
áreas
administrativas, não havia políticas e diretrizes, sequer controles, descrição de
processos e procedimentos ou relatórios gerenciais confiáveis para a tomada de
decisão. As habilidades e competências das chefias eram bastante questionáveis. As
funções de auditoria, comunicação, qualidade, orçamento e custos, além de recursos
humanos, não existiam.
Foi esse ambiente de pressões internas e externas que levou o Conselho de
Administração a buscar e implementar mudanças para modernização da gestão. Foram
incluídos os aspectos relativos à organização da assistência, como sua humanização, e
a busca de maiores níveis de desempenho e responsabilidade institucional. Tinha-se a
pretensão de ser referência na área de saúde no mercado mineiro.
Esse cenário apresenta uma situação na qual a organização se mostra com
pouco ou nenhum diferencial competitivo. O que explica a permanência do ZTEC no
mercado nessas condições, além do fato de estar respaldado por uma filantropia e ter
quantidade respeitável de descontos em impostos, é o enorme comprometimento dos
empregados da empresa e do corpo clínico. Porém, a falta de sinergia entre esses
grupos foi também o maior causador de crises no ambiente interno. Eis o paradoxo
institucional: enorme comprometimento em direções distintas, sendo sua maior restrição
a falta de cooperação entre o corpo clínico e os setores administrativos da empresa.
Os chefes de unidades (Centro de Terapia Intensiva (CTI), Pronto Socorro (PS),
Centro Cirúrgico (CC), etc.) eram, em sua esmagadora maioria, profissionais da saúde
(médicos e enfermeiros) sem nenhuma formação e orientação sobre os conceitos
básicos de administração, o que inviabilizava a proposição de mudanças com foco em
resultados e dificultava a comunicação dos setores técnicos com a área administrativofinanceira. Eles não tinham interesse em estabelecer controles e profissionalizar a
instituição. Havia um conluio entre médicos e funcionários, uma relação de “mútua
ajuda”, conforme relata uma gestora:
Os funcionários assinam pelos médicos procedimentos não executados, ou
alteram o tipo de procedimento para beneficiar o médico; funcionário muda
folha de sala de cirurgia, muda material, para proteger os médicos. Há uma
aliança dos médicos com funcionários – relação de troca, médico que pagava
27
faculdade de auxiliar, dava dinheiro por fora. O funcionário é leal ao médico e
não ao hospital, ou ao gerente, ou chefe imediato – há uma relação velada
entre médico-funcionário... isso corresponde a mais ou menos vinte por cento
dos funcionários. (Gestora do ZTEC, 2008).
Esse tipo de comportamento acontecia porque as informações gerenciais eram
parcas, com pouca fidedignidade, elaboradas em planilhas passíveis de erros e
manipulação, acessíveis a poucos.
O administrador contratado para realizar a profissionalização da organização
(CEO)2, tinha plenos poderes para comandar todas as empresas da fundação, embora
houvesse uma estrutura formal, com diretores e gerentes, em cada unidade de negócio.
Ele foi trazido por um médico e membro do Conselho de Administração da instituição.
Chegou como a pessoa que mudaria a história da organização: “ele é austero, bravo,
mas vai consertar o que for preciso, fica perto dele...” disse-me o referido conselheiro
logo que cheguei à empresa.
A busca de modernização da gestão inicia-se, por um lado, com medidas
severas de contenção de despesas, controle de gastos, negociação com fornecedores,
dispensa de pessoas contratadas por apadrinhamento e sem qualificações necessárias
para o desempenho das funções, com reconhecidas situações de prejuízo para a
instituição. Por outro lado, nesse ambiente evolutivo, tornava-se premente a
contratação de gerentes com as competências demandadas pelos cargos e
comprometidos com o alcance das metas e dos resultados organizacionais. A
capacitação adequada e a atitude proativa eram os pré-requisitos dos profissionais
desejados pela empresa naquele momento. A contratação de profissionais de mercado
para funções administrativas e a introdução de ferramentas gerenciais era o início de
uma nova era para a fundação e, mais especificamente, para o ZTEC.
2.2. Relações de poder: nova estrutura, velhos vícios
Embora na cronologia da história da organização a fundação seja anterior e
mantenedora do ZTEC, este sempre teve mais destaque que a fundação, que ficou
2
Chief Executive officer – CEO – corresponde, no Brasil, ao Diretor-Executivo ou Diretor Geral de uma
empresa ou organização.
28
apagada e desconhecida por mais de cinqüenta anos, tanto para o público interno
quanto para a comunidade externa. Foi a partir de 2001, com a nova forma de gestão
corporativa, que ela “ressurgiu”, ganhando identidade própria3, configurando-se como
mantenedora, e com autonomia, espaço e poder com a constituição de uma
governança corporativa que imprimia um caráter profissional à organização. A fundação
passou efetivamente a legislar sobre todas as unidades de negócio, inclusive o ZTEC,
que, embora fosse a maior unidade de negócio e geradora de receita, passou a ser
“dependente” da fundação, tanto econômica quanto politicamente.
O novo desenho da estrutura corporativa veio criar as unidades de negócio,
separando entidades mantidas e a mantenedora. Essa nova configuração foi o início da
ameaça à soberania dos médicos. Uma insurreição inicia-se contra o CEO e seu grupo:
“os médicos se uniram e fizeram um movimento velado, contra o CEO” (Gestora do
ZTEC, 2008). Como afirma Cecílio:
a resistência dos médicos pode ser designada como passiva, isto é, eles
simplesmente ignoram as novas propostas de funcionamento feitas e seguem
como sempre estiveram: uma pratica autônoma, sem subordinação real a
nenhuma linha hierárquica, descomprometida com a equipe e com as diretrizes
da organização. (CECILIO, 1997, p.40).
Outra gestora confirma: “vocês desconheceram a força dos médicos na
instituição...”.
A estrutura administrativa da fundação formou-se com a implantação da
superintendência e dos departamentos de auditoria, controladoria, informática e
recursos humanos. A contratação de gerentes profissionais tinha o objetivo de constituir
a base de apoio para as unidades de negócio. O modelo empresarial implantado na
fundação assemelha-se ao de empresas de sociedade anônima, na qual o crescimento
passa pelo fortalecimento de sua gestão, por meio de normas e condutas que
assegurem a transparência de informações, a agilidade nas decisões e, principalmente,
a profissionalização.
Essa nova estrutura tinha no discurso uma proposta de ser mais participativa,
mais democrática: “o novo modelo permite interação maior entre os diversos interesses
3
Foi refeito seu estatuto, desenhada sua logomarca (antes, era a mesma do ZTEC), e toda a papelaria
da empresa foi mudada para receber a logomarca da fundação e também do ZTEC.
29
institucionais” (CEO, 2002). De fato, no entanto, a nova configuração não democratizou
as decisões que estavam centralizadas na pessoa do CEO, e deixou os médicos de
fora do centro de determinações institucionais.
O organograma aprovado em 2002 pelo alto escalão veio referendar o poder do
CEO na gestão da fundação e das unidades de negócio, aparentemente, confirmando o
que Mintzberg (apud PAZ et al, 2004) define como poder: a capacidade de afetar
resultados organizacionais. Sabemos, no entanto, com Barus-Michel (2004), “...que o
poder não é uma coisa, é uma relação circular na qual estão igualmente envolvidos,
embora em posições diferentes, os que sofrem e os que dele tiram proveito” (BARUSMICHEL, 2004, p.100). Nesse sentido, não existe “o” poder, mas poderes que se
reproduzem, formando o tecido social institucional.
É o que verificamos no ZTEC, onde identificamos as relações de poder,
conforme propõe também ENRIQUEZ (2007). Esse autor, em seu estudo sobre a noção
de poder, apresenta nove fontes do mesmo. No ZTEC, identificamos algumas, entre as
quais a legitimidade, oriunda da hierarquia, como no caso do CEO, que detinha o poder
legítimo e o exercia através de sanções, traduzidas por normas e procedimentos que
deviam ser seguidos, além dos sistemas de recompensas e reconhecimento. Essas
prescrições estavam internalizadas de tal forma que o púbico interno as reconhecia
como marca de uma nova ordem sendo construída, que deveria ser incorporada aos
novos valores da instituição, a ser referência no mercado mineiro na área de saúde.
O poder na organização estava fundamentalmente nas mãos do CEO. Suas
decisões quase nunca eram reprovadas, dada sua influência em todas as esferas da
instituição. Porém, apesar de todo esse controle rígido, as mudanças advindas da nova
estrutura organizacional, das transformações nos processos e de um maior número de
informações, através dos sistemas informatizados, aos poucos eram introduzidas. Com
novas práticas de gestão, desenhava-se nova cultura organizacional, baseada em
princípios mais técnicos e de mercado.
Era assim que imaginávamos que o processo estava acontecendo – na verdade,
havia um contra-movimento por parte dos médicos que somente foi explicitado com a
perda das eleições da chapa da situação e nossa saída da organização. No entanto,
ainda que precariamente, foi adotada a gestão estratégica como abordagem gerencial.
30
Por administração estratégica, entendemos um conjunto de orientações, decisões,
metas, políticas e ações que visam propiciar uma unicidade na organização,
possibilitando coerência interna capaz de ordenar e alocar recursos, de forma a garantir
que a organização seja singular e viável, criando um ambiente propício a mudanças,
capaz de antecipar contingências e sair à frente dos concorrentes (QUINN, 2001).
Outra fonte de poder advinha do conhecimento e do saber, “a competência
técnica”, tendo como ícone os médicos. Essa fonte conflitava enormemente com o
poder legítimo do CEO, uma vez que o poder dos médicos estava em suas habilidades
e conhecimentos, quesitos difíceis de serem controlados, em função de sua
complexidade.
Havia ainda outra fonte, “estrutura das relações e posse dos meios de controle”,
representada por alguns empregados que tinham domínio do cliente por conta do
atendimento que lhes prestavam. Nessa categoria, enquadravam-se também alguns
atendentes que, devido à proximidade com os médicos, exerciam poder até sobre seus
chefes hierárquicos, como veremos em relatos mais à frente. Nesse caso específico,
sabemos que o poder exercido é limitado, principalmente devido às restrições de
tomada de decisão, mas não podemos desconsiderá-lo, pois sua influência é maior que
as atribuições do cargo e, como afirma Enriquez (2007), é causa de muitos conflitos na
empresa, o que efetivamente ocorria no ZTEC.
2.3. Cultura organizacional
O conceito de cultura organizacional que adotamos está alinhado com Enriquez
(1997), que destaca as dimensões imaginária e simbólica nas organizações, além da
dimensão política, que caracteriza a cultura como instrumento de poder e constitutiva
das representações sociais (FREITAS, 2002).
A principal mudança na cultura da organização ocorreu na forma de encarar o
ZTEC como unidade de negócio mantida e controlada pela fundação para passar a
enxergá-lo como devendo ser gerido para dar resultado. Buscou-se identificar os pontos
de perdas e, para isso, foram criados controles que não existiam anteriormente. Esse
fato gerou nos médicos um sentimento de perda de poder: “o CEO não pode determinar
31
o que vamos ou não vamos fazer” (médico do ZTEC, 2002). As normas e mudanças de
conduta preconizadas pelo CEO e aplicadas pelos departamentos administrativos da
fundação e do hospital geravam desconforto e discordância por parte dos médicos, que
não estavam habituados a prestar contas de seu trabalho, principalmente de seus
gastos nos procedimentos que realizavam. Buscou-se criar uma organização do tipo
tecnocrática, na qual imperava o conhecimento em todas as áreas da instituição e não
mais somente na área técnica. Isso se fez pela contratação de profissionais para as
áreas administrativas. A nova configuração não foi aceita pelo poder dos médicos, que
se percebem como superiores: “o médico, pela sua formação, pelo poder de mudar uma
vida, se percebe diferente, acha que é deus, e ainda há os deuses ricos e os pobres,
aqui somos os pobres...” (médico do ZTEC, 2008). Essa hipótese se confirmou quando
verificamos que a diretoria que sucedeu a administração da qual fazíamos parte
demitiu, imediatamente após a sua posse, todos os profissionais das áreas
administrativas, banindo de seus quadros todo conhecimento desse campo: “vocês
foram substituídos por pessoas sem qualificação técnica, ou com muito pouca, pessoas
sem experiência mesmo, mas também não precisa de muito conhecimento para apenas
controlar” (médico do ZTEC, 2008).
A obrigatoriedade do uso do crachá, em determinado momento, é outro exemplo
da prepotência do corpo médico e da dificuldade em cumprir normas: visando aumentar
a segurança no ZTEC, através do controle de acessos, o layout do crachá foi
remodelado e ganhou código de barras. Foi feita uma norma determinando a
obrigatoriedade de seu uso para entrada e trânsito no ZTEC. Os médicos, no entanto,
sistematicamente não portavam o crachá, eram grosseiros com os porteiros, e muitos
chegaram a colocar uma tarja preta onde estava escrito “em que posso servir”4. Essa
atitude gerou mal-estar tamanho na diretoria que culminou com a retirada da frase dos
crachás dos médicos. Quanto ao uso do crachá, levou um bom tempo para que
efetivamente aderissem ao seu uso constante.
Também é verdade, por outro lado, que muitas mudanças vinham de forma
autoritária, sem consulta prévia, desconsiderando a cultura hospitalar e, às vezes, com
4
Esta mensagem fazia parte de uma mudança na cultura, trazendo o cliente como foco. Visava mostrar
ao cliente que todos estavam ali para servi-lo, não importando o cargo.
32
punições para o não-cumprimento. Mudanças em procedimentos e formas de controles
eram constantes, e sempre envolviam os médicos, na medida em que os mesmos
precisavam gastar mais tempo com atividades administrativas, o que sempre recebiam
de forma difícil. Em relação aos funcionários, os controles eram cada vez mais rígidos,
para evitar perdas e propiciar redução de custo. A novidade fazia com que muitos se
sentissem vistos com desconfiança. Alguns gestores exigiam que os funcionários
chegassem antes do horário para passar o plantão sem pendências. A falta de
cumprimento dessas exigências era vista como falta de comprometimento, como perfil
inadequado para a nova cultura. Embora não concordássemos com essas atitudes, não
tínhamos gerenciamento sobre elas, e o CEO, ao contrário, entendia-as como positivas.
Nesses momentos, éramos chamados para solucionar situações de conflito:
“precisamos do RH, o bicho tá pegando, os funcionários estão revoltados...” dizia uma
gestora, solicitando nossa atuação para explicar porque havia mudado o horário de
trabalho sem prévio acordo, ou porque não haveria pagamento de horas-extras para
realização de treinamento fora do horário de trabalho (com comparecimento
obrigatório), além de outros casos semelhantes. Embora tentássemos evitar esse tipo
de situação, éramos surpreendidos por realidades com as quais não concordávamos ou
que não controlávamos. Muitos gestores tinham atitudes autoritárias, em desacordo
com o que entendíamos como gestão humanizada de pessoas, ou seja, uma gestão
mais participativa, o que gerava um desgaste muito grande, pois enquanto
trabalhávamos para ganhar a confiança dos empregados, alguns gestores trabalhavam
na direção contrária. Embora fôssemos porta-voz da nova administração, o pilar gestão
de pessoas que o CEO preconizava como indispensável para realização da
modernização da organização, muitas vezes não estávamos alinhados. Não
concordávamos com os métodos por ele aplicados, não tínhamos assento na mesa de
negociações, não participávamos da elaboração das grandes estratégias. Assim, existia
um foco de conflito velado, jamais explicitado, entre DRH e CEO.
Na verdade, não houve um trabalho de gestão da mudança. O objetivo era
colocar a empresa no padrão “...universalista, ou seja, aplicável em qualquer país,
mantendo alguns valores, pretensamente neutros, assumidos simplesmente como
‘profissionais’....cada vez mais as empresas se parecem” (FREITAS, 2002, p. 24). Esse
33
caráter universalista, no entanto, não existe. Cada empresa tem sua cultura e seu
modus operandis, que deve ser explicitado para evitar desgastes e conflitos:
Os quadros de estresse e tensões são, antes, resultado de um fracasso na
definição e na instauração de conceitos claros, no que diz respeito ao gerente,
ao gerenciamento, à estrutura hierárquica, aos direitos e deveres nas relações
laterais... (JAQUES, 2001, p. 213).
Na época, faltou-nos conhecimento para realizar um trabalho efetivo de
levantamento da cultura da empresa. Buscar entender como se davam as relações
cotidianas, identificar os valores, os fundamentos que aglutinavam os diversos
membros. Entrevistamos todos os representantes de cargos de gestão e funcionários,
mas nosso objetivo era levantar demandas para RH e não identificar os instrumentos e
relações de poder que permeavam a instituição. Não entendíamos cultura como
instrumento de poder (FREITAS, 2002), de manipulação, e, dessa forma, não
buscamos identificar como a cultura poderia nos mostrar o que era importante para os
diversos atores da organização. Não percebemos a importância de identificar o
imaginário da organização, a “causa a ser defendida” (ENRIQUEZ, 1997a).
Hoje sei que esse erro foi decisivo para o fracasso da experiência. Várias
pessoas com quem conversei também mencionaram esse fato: “...mas não fizemos a
gestão da mudança – não consideramos a cultura, os públicos alvos, impactos, forças
restritivas e propulsoras...” (PRH, 2008). “A cultura do ZTEC sempre foi competitiva, os
jogos políticos sempre existiram, a rivalidade entre os médicos e os setores
administrativos é desde sempre, vocês não perceberam a importância de tratar isso...”
(Gestora do ZTEC, 2008).
2.4. Criação do departamento de recursos humanos (DRH)
A visão do CEO do ZTEC sobre RH era uma visão utilitarista das pessoas,
camuflada por uma fala de que pessoas eram o diferencial, um dos pilares da nova
gestão, dando ao RH grande importância frente ao público interno e externo.
Para atender esse discurso, foi criado o Departamento de Recursos Humanos.
Hoje, no entanto, sabemos que somente a criação de um departamento não garante a
34
valorização das pessoas.
A reboque do processo de mudança cultural, veio a valorização do capital
humano, com a Criação do Departamento de Recursos Humanos, que tem
como objetivo treinar e manter o corpo de colaboradores satisfeito e altamente
qualificado. (CEO do ZTEC, 2004).
O CEO preconizava que uma gestão de sucesso deveria ter como foco prioritário
a satisfação do cliente e, para isso, era preciso haver sintonia e relações interpessoais
satisfatórias entre administradores, auditores externos, conselhos fiscais, empregados e
fornecedores. O DRH era um dos agentes que viabilizariam essa nova proposta da
organização, com projetos e programas que introduzissem os empregados no rol de
participantes da gestão institucional, mantendo o corpo de colaboradores satisfeito e
altamente qualificado. A proposta, portanto, era de um DRH atrelado à nova gestão,
com a pretensão de ser um RH Estratégico.
Um RH Estratégico é o RH como staff, presente junto à diretoria desde o
momento do planejamento da empresa, participando da elaboração da visão, da missão
e do planejamento estratégico, realizando suas atividades e colaborando para que os
planos departamentais aconteçam de acordo com esse compromisso, buscando atingir
as metas estabelecidas. Busca-se, assim, ajudar a empresa a atingir objetivos
empresariais, “instituir e gerir um processo que crie uma organização que atenda às
exigências de seu negócio” (ULRICH, 2001).
Na verdade, éramos apenas porta-vozes do novo discurso de modernização, das
novas formas de gestão, pois as estratégias já vinham definidas, prontas, e na maioria
das vezes não participávamos de sua elaboração ou não tínhamos uma atuação
determinante. Para atender às propostas de mudanças, buscou-se um profissional de
mercado para implantar e gerir as ações de RH na instituição. Foi nesse contexto que
fui contratada, por meio de um processo seletivo mediado por uma empresa de
consultoria de colocação de pessoas. Tinha a missão de aumentar a eficácia
empresarial, através da gestão de pessoas, com foco na excelência na prestação de
serviços para atendimento das demandas dos clientes. Trazia uma experiência de
quatorze anos trabalhando em DRH, em empresas públicas e privadas, como analista e
como gerente, além de experiência em implantação de DRH, mas acredito que minha
35
dupla formação, em administração de empresas e psicologia, foi um diferencial, pois
como administradora tinha uma linguagem empresarial que me permitiu, desde o início,
compreender a alta administração, o que nos fez parecer estar “do mesmo lado”. A alta
administração demonstrava acreditar que RH seria um diferencial para condução dos
planos de modernização da instituição, perspectiva que me seduziu quando, ainda no
processo seletivo, acenaram-me com a possibilidade de fazer um RH no qual as
pessoas poderiam fazer diferença. Estavam dispostos a investir em pessoas, e me senti
entusiasmada com o projeto. Foi-me dado o desafio de criar uma equipe de RH para
implementar programas que dessem suporte às transformações que estavam por vir. O
que se buscava era uma abordagem estratégica, com o entendimento de que as
pessoas são recursos para obtenção de vantagem competitiva, integração de políticas
e práticas de gestão de pessoas com a estratégia de negócio.
Esta proposta teve como referencial teórico o modelo dos quatro papéis de RH
proposto por Dave Ulrich (2001), como veremos no capítulo três deste trabalho. Nessa
abordagem, quando se fala de pessoas, fala-se de empregados, clientes, fornecedores,
concorrentes e cidadãos em geral. Esses eram, então, nossos clientes, mas nosso foco
eram os empregados, sempre os menos considerados deste conjunto.
O diferencial nesta experiência é que tive a liberdade de sonhar e participar da
construção de um RH que eu acreditava ser sensível às pessoas.
Para nós, “pessoas” significavam os empregados, e, aparentemente, tínhamos
todo respaldo e credibilidade da cúpula. De fato, contávamos com autonomia maior que
a maioria das organizações, o que por si só já era um diferencial. Os RHs tradicionais
cumprem as funções básicas de contratar, treinar, remunerar, por meio de rotinas
operacionais e burocráticas que desembocam em controle e policiamento, trabalhando
de forma isolada das demais áreas da empresa e, principalmente, longe da estratégia.
Porém, eu tinha plena consciência de que estava ali para alavancar resultados
para a instituição. O foco era a empresa. Pensar nos trabalhadores fazia parte de minha
ideologia, mas isso não poderia ser muito evidenciado, sob pena de não ser bem vista.
Muitas vezes, no período em que lá trabalhei, fui questionada sobre para quem
eu estava trabalhando - para a empresa ou para os funcionários - o que explicitava o
36
conflito de classe e poder. Mesmo Ulrich (2001) reconhece o paradoxo de dois dos
quatro papéis por ele proposto – parceiro estratégico e defensor dos funcionários.
Gaulejac, por sua vez, afirma que a ambigüidade do poder gerencialista está na
defasagem entre as intenções anunciadas de autonomia, inovação, criatividade e
aplicação de dispositivos organizacionais, produtores de prescrição, de normalização,
de objetivação, instrumentalização e de dependência (GAULEJAC, 2007, p.100).
Acreditávamos que inauguraríamos uma nova era, que valorizasse o capital
humano com ações de treinamentos em todos os níveis, por meio da implantação de
novas propostas de formas de organização do trabalho, o que nos tornaria suporte do
novo modelo de administração. Chegamos para fazer mudanças: de cultura, no perfil
dos empregados, na gestão, nos processos, no ambiente físico. Estávamos ali,
portanto, para sermos os “agentes de mudança” da instituição (ULRICH, 2001).
O CEO da empresa sempre dizia que queria conversar com a administradora e
não com a psicóloga, referindo-se a minha dupla formação. Assim, ele explicitava que a
psicologia poderia estar a serviço dos empregados e que ele queria os serviços que
atendessem à empresa, deixando claro que pessoas eram um dos recursos a serem
administrados.
Enquanto equipe de RH, contudo, nós tínhamos um ideal: queríamos um RH que
atendesse aos interesses da empresa, mas também em que o funcionário fosse
reconhecido e considerado. Sua voz deveria ser ouvida e respeitada, e os gestores
eram nosso principal alvo, pois por mediação deles nossos objetivos poderiam ser
atingidos. Não sabíamos, contudo, que o gerenciamento está essencialmente a serviço
do capital, que é uma ideologia que traduz as atividades humanas em indicadores de
desempenho, numa relação de custo/beneficio: “a função do manager é produzir um
sistema que liga e combina elementos disparatados: capital, trabalho, matéria-prima,
tecnologia, regras, normas, procedimentos” (GAULEJAC, 2007, p.39).
Acreditávamos que, se sensibilizássemos os líderes para uma gestão de
pessoas em que os funcionários fossem ouvidos e reconhecidos em suas
necessidades, onde as condições de trabalho se ligassem a uma melhoria da qualidade
de vida no trabalho, teríamos atingido nosso objetivo de sermos “defensores dos
funcionários”. Tínhamos convicção que poderíamos implantar um modelo no qual as
37
pessoas e a empresa pudessem crescer de forma mais harmônica. Esse foi, contudo,
nosso engano: “as políticas de RH seguem as exigências do mercado financeiro...”
(GAULEJAC, 2007, p. 41).
Implantamos um “RH com pessoas para pessoas”, ou seja, como equipe de RH,
nos víamos como sujeitos que se relacionavam com outros sujeitos. Porém, se
entendemos sujeito como aquele que está inserido em um dado momento histórico e
com a perspectiva de poder transformá-lo minimamente - o “criador de história” que,
segundo Enriquez (1997a, p.21), “...realiza seu trabalho, com outros, porque ele
compreendeu que não passa de um elemento, de uma história coletiva que o ultrapassa
e que ele ajudou a criar, não obstante” -, estávamos longe de sermos sujeitos. Nossa
condição era muito mais de assujeitamento. Em uma perspectiva critica, e entendendo
gestão como “conjunto de técnicas que permitam à organização a melhor utilização dos
recursos financeiros, materiais e humanos, para garantir a perenidade da empresa”
(ENRIQUEZ, 1997a, p.64), vemos que, enquanto nos orgulhávamos de fazer uma
gestão de RH, na verdade estávamos garantindo a sobrevivência da empresa através
das pessoas, clientes ou empregados:
A gestão gerencialista preocupa-se antes de tudo em canalizar as
necessidades dos clientes sobre os produtos da empresa e de transformar os
trabalhadores em agentes sociais do desempenho: o trabalhador é considerado
enquanto rentável e o cliente é rei se for solvível. (ENRIQUEZ, 1997a, p. 50).
Vemos que o modelo adotado era pautado na racionalidade instrumental,
embora na época o entendêssemos como uma “nova” forma de administrar pessoas.
Na verdade, tratava-se mais de um modelo reformista, que considera a empresa como
uma máquina que pode ser regulada de acordo como os interesses vigentes. Mas não
tínhamos essa noção, e talvez a ingenuidade tenha nos possibilitado fazer algo
diferente, pois realmente acreditávamos que poderíamos conciliar interesses tão
divergentes.
Estruturamos um departamento de recursos humanos com a contratação de
profissionais com competência técnica e imbuídos do espírito de trabalho em equipe,
cooperação e uma visão de RH voltada para estabelecer vínculos com funcionários e
administração. A equipe era constituída por mim, a gerente - administradora de
38
empresas e psicóloga, além de mais quatro psicólogos, um médico do trabalho, um
engenheiro do trabalho, quatro técnicos em segurança do trabalho e dois enfermeiros
(um do trabalho e um da educação continuada), um auxiliar de enfermagem do trabalho
e um assistente administrativo. Tínhamos ainda uma psicóloga clínica (não efetiva) que
nos atendia em projetos específicos, como na escuta de funcionários de setores com
altos índices de adoecimento e rotatividade. Essa equipe trabalhava de forma integrada
e dentro da perspectiva multidisciplinar, na qual as pessoas eram ouvidas levando-se
em considerações aspectos biopsicossociais.
2.4.1. O que encontramos
Do ponto de vista do funcionamento interno, havia uma carência de pessoal
qualificado e de pessoas suficientes para a realização do trabalho. Faltava material
para realização dos procedimentos conforme os protocolos preconizavam, bem como
de padrões de atendimento ao cliente nas suas várias necessidades, o que gerava um
número enorme de reclamações. As relações interpessoais eram de péssima qualidade,
o que tinha como conseqüência ruídos na comunicação e a insuficiência dos resultados
propostos pela instituição. As relações eram ora paternalistas, ora autoritárias. Faltava
clareza sobre as reais atribuições e sintonia entre os vários profissionais, como
comentou um gerente, à época:
Podemos observar, em nossa experiência profissional, que a comunicação
entre os profissionais da área técnica e administrativa, muitas vezes, ocorre de
forma distorcida ou mesmo contraditória, dificultando assim tanto a excelência
no atendimento ao cliente, quanto a obtenção de resultados financeiros.
(Gerente do ZTEC, 2002).
O que até então era chamado de DRH era um setor de Recrutamento e Seleção
(R&S), com duas psicólogas e o setor de medicina do trabalho, com uma médica, uma
enfermeira e uma auxiliar de enfermagem, que funcionava precariamente, sem a
preocupação com as pessoas e a instituição. Não se configurava nem como um Serviço
de Segurança Medicina e do Trabalho (SESMT), pois o braço da Segurança do
Trabalho estava totalmente desvinculado da Medicina do Trabalho e era tratado
39
separadamente, inclusive em termos de subordinação - era subordinado ao setor de
produção. Havia alto índice de rotatividade ou turnover (giro de entradas e saídas de
pessoal), na ordem de mais de 20% ao ano, indicativo de perda de produtividade, de
lucratividade e de saúde organizacional, tendo grande ressonância na motivação das
pessoas, em seu comprometimento, o que gera um ciclo vicioso, com aumento também
do índice de absenteísmo, que poderá produzir mais aumento da rotatividade.
Do ponto de vista da empresa, alta rotatividade significa, além de alto custo de
reposição, perdas da ordem do intangível, como perda de conhecimento, de capital
intelectual, de inteligência, de entendimento e de domínio dos processos, de conexões
com os clientes, de mercado e de negócios. Do ponto de vista dos funcionários, por sua
vez, essa alta rotatividade significa, principalmente, desatenção, falta de política que
seja norteadora dos conflitos organizacionais. Não havia, na empresa, programas que
avaliassem o ambiente de trabalho e a inserção dos trabalhadores no mesmo; não
existiam mecanismos para identificar os tipos de relações existentes entre os diversos
atores que compunham a rede de relacionamento e a origem dos conflitos decorrentes
delas. Enfim, não havia nenhum projeto ou programa que levasse em consideração os
trabalhadores e sua condição de trabalho. As pessoas eram tratadas como recursos
passíveis de serem substituídos a qualquer momento, e o RH era tido pelos
funcionários como “recursos des-humanos”.
Para a direção e os gerentes, DRH não atuava enquanto prestador de serviços,
fornecedor e gerador de soluções para reduzir ou minimizar problemas relativos a
pessoas na organização. Empregados e chefias não conheciam qual era o papel de um
DRH, seus produtos e serviços. Um chefe disse-me claramente, quando eu ainda tinha
pouco tempo de trabalho no ZTEC: “você está querendo aparecer? Aqui não tem
dessas coisas....”, quando foi informado que ele e sua equipe teriam verba para ir a um
congresso fora da cidade. Eles não tinham conhecimento sequer das funções básicas
de um RH tradicional, como, por exemplo, treinar e desenvolver pessoas.
Não encontramos nenhum tipo de histórico funcional dos funcionários. Não havia
estatísticas para possibilitar a análise sobre os dados de afastamentos (absenteísmo) e
turnover, seus motivos, áreas e cargos de maior incidência, etc. Também não havia
preocupação com capacitação e desenvolvimento das pessoas. Existiam poucos
40
treinamentos técnicos, ministrados por enfermeiras a seus auxiliares.
As pessoas temiam o RH, pois só tinham algum contato com o setor em
momentos de advertência ou demissão. As demissões eram feitas pelo responsável
pelo setor de pessoal (que era confundido com o RH), como relatado por um
funcionário: o “chefe do DP é que manda nas pessoas aqui”.
As demissões aconteciam sem nenhum critério, nenhuma justificativa. Uma
chefia de setor disse-me certa vez: “tem muita gente no mercado, não vou ficar
perdendo tempo em conversar com empregado, pisou na bola uma vez, mando embora
e pego outro, tem fila de gente querendo trabalhar aqui”.
2.4.2. Conhecendo a empresa por meio de seus diversos atores
No momento de minha entrada na empresa, o CEO concedeu-me um mês para
conhecer a instituição e elaborar um projeto para a área de RH. O primeiro passo foi
entrevistar representantes de todos os segmentos da empresa, pois precisava conhecer
as pessoas, os atores: chefias, empregados e médicos, além de suas necessidades, as
estruturas de trabalho, o trabalho em si. Nunca havia trabalhado em uma instituição
hospitalar, e tudo era novo. Nas primeiras reuniões de trabalho, muitas vezes não
entendia o que se dizia. Assim, entrevistar as pessoas pareceu-me a única maneira de
buscar entendimento da instituição e suas demandas. Realizei mais de quarenta
entrevistas em sessenta dias, com o objetivo de conhecer a empresa e identificar as
expectativas em relação ao que esperavam do RH, como percebiam a instituição, como
era a visão desses públicos em relação à empresa, ao trabalho, às inter-relações entre
os pares e à hierarquia.
Ver e ser visto, tornar-se conhecido e às vezes reconhecido por sua própria
história e por sua qualificação ou situação social na atualidade....há nesse
momento, uma aproximação, uma descoberta e uma reciprocidade. (LE VEN,
1997, p.217).
Foram entrevistadas todas as pessoas que ocupavam funções de comando na
empresa, de encarregados a diretores. A cadeia de comando era: diretor -
41
superintendente - chefe - coordenador - supervisor - encarregado. O nível de
escolaridade variava de ensino fundamental a pós-graduação, sendo a maioria de
ensino médio.
2.4.2.1 Os chefes
Os ocupantes de cargos de chefia tinham grande expectativa positiva em relação
ao DRH, a julgar pelo discurso colhido nas entrevistas. Falavam de suas dificuldades
em lidar com pessoas, da carência dos empregados de quem cuidasse deles. Diziam
acreditar em RH, embora as experiências anteriores não tivessem sido positivas
(segundo relato dos mais antigos na instituição). Algumas pessoas aproveitavam a
entrevista para tecer insatisfações em relação a outros colegas ou chefes e dizer da
dificuldade de relacionamento entre eles. Apresentavam a incompetência alheia com a
maior naturalidade e alertavam-me a respeito de algumas pessoas: “cuidado com
fulano, ele é perigoso... ele vai tentar te ferrar”. Essas falas eram indícios de uma
rivalidade entre os gestores e destes com o corpo clinico, que, à época, não pareceu
importante. Relatavam ainda seus medos e inseguranças em relação às mudanças que
estavam sendo anunciadas. Alguns buscavam fazer alianças, na tentativa de garantir
seu lugar, “olha, se eu ficar aqui pode contar comigo, eu sei de muita coisa e posso te
ajudar...”. Poucos tinham a visão dos problemas da instituição e estavam realmente
preocupados com ela. Ocupantes de cargos estratégicos, embora conscientes das
necessidades de mudança para a sobrevivência da instituição, estavam mais
empenhados em manter seus consultórios e afazeres particulares do que em parar para
pensar a empresa.
Verificamos a preocupação de algumas pessoas com sua baixa escolaridade
frente à possibilidade de demissão: “sei que não tenho o perfil que a instituição está
querendo agora... recursos humanos vai ajudar a gente?”
2.4.2.2 Os funcionários
Solicitamos aos chefes que nos indicassem pessoas que poderiam conversar
conosco sobre o trabalho e como estavam vivenciando o momento da instituição, e
42
escolhemos também algumas pessoas aleatoriamente.
Todos chegavam muito inseguros, às vezes tremendo. Não estavam
acostumados a conversar com “chefes” e, quando eram chamados no RH, era para
serem punidos ou demitidos. Verificamos a total desinformação dos funcionários quanto
ao momento que a instituição estava vivendo. Estavam revoltados por não receberem
as horas-extras e não terem prometida cesta de Natal: “o homem lá [referência ao CEO]
vai mandar muita gente embora, pessoas com vinte anos de casa estão sendo
demitidas, ele vai trocar tudo...”5.
Quanto aos empregados, a visão que tinham de RH era a pior possível: “só
conhecemos recursos des-humanos” era uma fala recorrente. “Ninguém se preocupa
com a gente...” “nunca me perguntaram sobre nada nesse lugar... me desculpe, estou
tremendo, estou aqui há 20 anos e é a primeira vez que converso com um chefe”6.
Nessas entrevistas, era necessário, inicialmente, acalmar as pessoas, explicar o
objetivo do DRH e solicitar que nos dessem um voto de confiança. Algumas se abriam,
diziam de suas necessidades, de como viam a empresa, tinham uma visão real e crítica
dos acontecimentos. Outros, mais tímidos e sem recursos, limitavam-se a responder às
perguntas, sempre desconfiados.
2.4.2.3 O corpo clínico
O Corpo Clínico foi o último segmento a ser trabalhado, e já possuíamos uma
proposta esboçada, com as prioridades que trabalharíamos. Apresentamos a mesma
aos chefes de clínica e eles se colocavam na expectativa: “vamos ver no que vai dar,
né, minha filha”7. Os médicos, de modo geral, não tinham noção de qual era o papel de
uma área de RH. Muitos já eram idosos e tinham dificuldades de acompanhar o que
estava sendo mostrado. No entanto, alguns se ofereceram como parceiros, e
estabelecemos um diálogo bastante proveitoso durante o período em que lá estivemos.
O corpo clínico era totalmente isolado e não participava oficialmente das
5
Anotações pessoais.
6
Anotações pessoais.
7
Anotações pessoais.
43
decisões administrativas, embora tivesse grande influência na prática, tanto nos
procedimentos técnicos quanto nas contratações de pessoal. Em alguns setores, havia
duplicidade de comando, muitas vezes contraditórios, entre médicos e gestores
administrativos. Os funcionários ficavam perdidos e chegavam a ser punidos por não
obedecerem a essas ordens múltiplas. Uma situação corriqueira era o médico orientar
funcionários para usarem determinados materiais no tratamento do paciente e a chefia
administrativa não autorizar, como medida para redução de custos. Era comum um
funcionário ser advertido pelo uso “indevido” de materiais que haviam sido solicitados
pelo médico. Outras vezes, um funcionário encarregado dos cuidados de um paciente
recebia ordens da enfermagem para ir a outro andar, cobrir uma falta, por exemplo, e
acabava sendo insultado pelo médico, às vezes na presença do paciente. Os médicos
não eram funcionários do hospital e os funcionários sim, fato que era fonte de muitos
conflitos.
Nesse segmento, a organização estava dividida em no mínimo três grupos: um,
que era contra todas as mudanças propostas, não queria a modernização, pois temia a
perda de poder e os benefícios advindos de uma empresa mal-administrada e sem
controle; um segundo, que era neutro esperava para ver o que aconteceria; e um
terceiro, que patrocinava a mudança, trabalhava para que ela ocorresse, dava-lhe toda
cobertura e, conseqüentemente, foi aliada das ações do DRH.
Alguns médicos não acreditavam em nosso trabalho e, por vezes chegavam a
atrapalhar várias atividades, seja pelo não-envolvimento nos programas, seja
dificultando a participação de funcionários em treinamentos, programas de ginástica
laboral, reuniões, etc.
Havia ainda um grupo de freiras que, à época residiam no Hospital e exerciam
autoridade junto a funcionários e clientes, sempre em oposição às determinações
administrativas, sendo outro foco de conflito. Por não acreditarmos que poderiam afetar
nosso trabalho, realmente não demos a devida atenção a elas e seu poder de minar
projetos junto aos funcionários e até mesmo aos médicos, aos quais elas tinham grande
acesso, seja pela relação de amizade, seja pelo respeito que impunham como
religiosas. Tinham uma visão do ZTEC como “casa de saúde”, onde os relacionamentos
eram “misturados”, não havendo separação entre o pessoal e profissional. Elas
44
atuavam diretamente junto aos clientes e, muitas vezes, denegriam os gerentes e suas
ações. Não aceitavam as mudanças nos procedimentos de atendimento ao cliente,
novas formas de acondicionamento de alimentos, regras de distribuição de roupas aos
pacientes; enfim, não estavam alinhadas com “a modernidade”, como elas próprias
diziam. Moravam no ZTEC, ocupando dois ou três apartamentos e, dessa forma
estavam presentes a todo momento. Não obedeciam às normas referentes ao trato com
pacientes e acompanhantes, trazendo sempre transtornos e conflitos. O capelão nos foi
hostil desde o início: “vocês vieram para mudar tudo...vieram tirar a nossa paz”. Ele não
aceitava as mudanças que estavam sendo implantadas, era dado a fofocas, o que
também gerava desgaste e dificuldades com vários setores.
2.4.2.4 As descobertas através das entrevistas
A partir das entrevistas, verificamos que era necessário criar uma política de RH,
estabelecer programas, definir prioridades, pois a instituição era carente de forma geral.
Não havia nenhuma prática de RH reconhecida pelos funcionários como algo benéfico
para eles. As demandas da direção já eram conhecidas: ela queria, em última instância
que as pessoas fossem um meio de atingir resultados. Era preciso, e esse era nosso
sonho, compatibilizar as duas demandas.
As falas nos preocuparam muito e chamaram a atenção para qual era o lugar
dos empregados nessa empresa – considerada uma organização de saber e
conhecimento, organização de “doutores”. Conhecendo os diversos atores da
instituição, percebemos como as relações aconteciam e identificamos os vários
subgrupos que ali existiam. Havia a história oficial e as histórias que íamos
conhecendo, contida nos relatos das pessoas.
Existiam situações curiosas, como a de empregados que nasceram e viveram,
literalmente, dentro da instituição. Uma família inteira se constituiu dentro do ZTEC,
residindo em uma casa no mesmo terreno. O casal trabalhava no hospital e dois filhos
cresceram ali. Quando em idade de trabalhar, também foram para a instituição. Tinham
forte ligação com o ZTEC, relação de amor e ódio. O pai era falecido e a mãe tinha sido
demitida com a chegada do CEO, mas havia ainda dois filhos em funções de chefia.
Havia outras pessoas que, pela história pessoal de relacionamento com a
45
diretoria, ocupavam posições de comando. Tinham perfil bastante autoritário, que
causava verdadeiro pânico nos funcionários com os quais trabalhavam, e tratavam as
pessoas de forma rude e sem profissionalismo, com exceção dos “protegidos”. Ouvia-se
muito: “fulano é protegido(a) de sicrano”, do “Doutor tal”, “esse é filho de A, B, ou C...
com esse aí você não pode mexer...”. Existia um motorista que era alcoólatra e também
morava no hospital, em um pequeno quarto perto do estacionamento. Ele era protegido
da diretoria, “era filho de um amigo do doutor X....”. Assim havia ali muitas pessoas que
ganhavam e não trabalhavam.
Em relação às lideranças, havia muitos “chefes”: de pessoal, de compras, de
almoxarifado, de cozinha, de laboratório, etc. Eram pessoas, na maioria das vezes, com
muitos anos de casa, promovidos a chefes sem uma avaliação das condições
necessárias, em termos de competência técnica ou comportamental. Muitos tinham
baixa escolaridade. O resultado dessa inadequação era o abuso de poder, oscilando
entre o paternalismo e o autoritarismo. Casos de assédio moral e sexual aconteciam
corriqueiramente.
Entre os médicos, não era diferente. Eles associavam-se e trabalhavam em favor
de seu próprio interesse, formando guetos onde algumas pessoas do setor
administrativo tinham lugar (chefes e funcionários). Outra “facção” era a associação de
alguns chefes (chefias administrativas), que se aliavam e se protegiam – “mexer com
um era mexer com todos”. Nessas associações, existiam médicos que também os
protegiam. Havia ainda as associações entre chefes e a diretoria, médicos e diretoria,
enfim, várias combinações possíveis, todas visando a interesses particulares.
A secretária da diretoria era a pessoa com mais poder na instituição, circulando
em todos os subgrupos. Não se tratava de um poder legítimo, mas do poder da
confiança, muito maior que qualquer outro na cultura missionária do ZTEC. Isso ficou
claro para nós somente bem mais tarde.
Diante desse barril de pólvora, onde tantos interesses estavam em jogo, optamos
por “desconsiderar” essas associações e trabalhar de forma neutra, sem nos envolver
em nenhuma delas, o que era bastante difícil, pois éramos “convidados”
constantemente. Dentro do próprio RH, os profissionais eram seduzidos para “mudar de
lado”, considerados como aliados do poder atual, na medida em que tinham sido
46
contratados nesse contexto. Tratávamos essas questões com imparcialidade,
transparência e assertividade, de forma a termos o respeito e a credibilidade de toda a
instituição. Mas no início não foi assim....
2.4.3. A proposta de trabalho
A proposta de trabalho que definimos e nos propusemos a realizar era orientada
para uma parceria com as chefias e voltada para os resultados da instituição:
“assessorar as diversas áreas da empresa na gestão de pessoas através de políticas e
diretrizes, para captar, manter e desenvolvê-las, visando atingir os resultados
esperados de forma transparente e integrada”8.
As entrevistas indicavam que tínhamos questões urgentes para tratar do ponto
de vista da gestão das pessoas. Em todos os nichos em que entramos, ficaram
evidentes as dificuldades nas relações interpessoais e os problemas entre liderança e
empregados, decorrentes da falta de políticas e diretrizes para nortear as relações entre
os diversos grupos que compunham a instituição.
Estabelecemos algumas prioridades, que definiram três grandes pilares, a saber:
colocação de pessoas, treinamento/desenvolvimento e gerenciamento da remuneração.
No pilar “colocação de pessoas”, a meta era: “suprir as demandas de RH com
pessoas
adequadamente
qualificadas
quanto
a
conhecimento,
experiência
e
características necessárias à execução de suas responsabilidades”. Definimos os
critérios básicos para admissão de pessoas, levando em consideração que queríamos
elevar o nível de escolarização das pessoas e evitar relações de parentesco num
mesmo setor (idade, escolaridade/cargo, nível de parentesco e relação de
subordinação) e uma política de preferência pelo recrutamento interno para
preenchimento de vagas; a definição dos instrumentos de avaliação psicológica de
acordo com perfil do cargo; a participação efetiva dos gestores nos processos de
seleção. Defendíamos a idéia de que quem é responsável pela gestão de pessoas é o
8
Proposta elaborada por toda a equipe de RH, quando realizamos um seminário, em julho de 2002, para
definir nossa missão, nosso negócio, serviços e produtos, e traçarmos um plano de ação para atingirmos
os resultados propostos.
47
próprio gerente, e que a função de RH era assessorá-lo para que fizesse essa gestão
da melhor forma possível.
Assim, os gestores participavam desde a análise dos currículos, nas entrevistas
e dinâmicas, até a escolha final do candidato, que era, em última instância,
responsabilidade dele. Havia alguns casos em que o RH considerava o candidato
“inapto”, do ponto de vista psicológico, e o gestor bancava sua contratação, mostrando
sua autonomia na condução de suas equipes. Esse envolvimento em todas as fases do
processo criava uma co-responsabilidade que minimizava as demissões precipitadas.
Sempre que possível, envolvíamos também pessoas da equipe no processo seletivo,
com o objetivo de gerar melhor integração do recém-admitido na equipe.
Com a política de recrutamento interno para suprir as demandas de vaga em
qualquer nível (do operacional ao gerencial), criou-se uma perspectiva de crescimento
na empresa, que agradava muito aos funcionários (tínhamos em média 5 a 8%/ano de
pessoas promovidas a níveis mais elevados), e ultrapassou os muros da instituição,
atraindo pessoas do mercado. Ouvíamos sempre de candidatos: “quero trabalhar aqui,
porque a gente pode crescer rápido”.
Ainda fazia parte do processo de colocação o treinamento de integração e
acompanhamento, nos primeiros noventa dias de contratação, visando a uma melhor
adaptação ao trabalho. Queríamos também criar a cultura de acompanhamento de
pessoas. Por acompanhamento, entendemos o processo de análise conjunta, no qual o
empregado faz uma auto-avaliação e é avaliado pela chefia imediata em vários
aspectos, tais como: quantidade e qualidade do trabalho, capacidade de inovação,
trabalho em equipe, relacionamento interpessoal com equipe e clientes, adaptação à
cultura organizacional e outros, proporcionando um momento de troca de percepções
sobre os vários aspectos acima citados. O acompanhamento tinha como principais
objetivos: possibilitar uma análise dos fatores que influenciam no desempenho funcional
do empregado; reforçar o papel do gerente como principal responsável pelo processo
de
acompanhamento
do
empregado;
identificar
possíveis
necessidades
de
treinamento/acompanhamento.
O treinamento de integração foi sendo alterado, ao longo do tempo em que
estivemos na instituição, de acordo com as necessidades que identificávamos. Ele
48
começou com quatro horas e chegou ao seu formato final, com até quarenta horas,
para o cargo de técnico de enfermagem. Era composto de três momentos:
• Acolhimento (oito horas): os recém-admitidos conheciam a empresa
através de palestras com os analistas de RH, que lhes contavam a história
da instituição, o momento presente, apresentavam a cultura que
estávamos implantando, o perfil de profissional que desejávamos; os
gerentes se apresentavam e apresentavam seu setor, dizendo o que
faziam e como o setor estava inserido no contexto da instituição. Eramlhes apresentadas ainda as regras de segurança no trabalho, seus direitos
e deveres, recebiam um manual de boas-vindas e uma cartilha de como
atender o cliente – “A excelência no Atendimento”, e faziam um tour por
todo ZTEC para conhecerem os diversos setores e se localizarem dado o
tamanho da instituição era fácil ficarem perdidos.
• Treinamento a cliente (oito horas): treinamento de atendimento ao cliente,
através do qual era passado o padrão de atendimento ZTEC para todo
recém-admitido.
• Treinamento técnico: específico para os cargos de técnico de enfermagem
e serviços gerais, com duração de 40 e 24 horas, respectivamente,
ministrado na escola de enfermagem da fundação. Esse treinamento
visava manter o padrão de qualidade ZTEC e garantir que os
procedimentos e protocolos fossem seguidos. Após esse período, os
recém-contratados passavam por testes de aprendizagem e eram
encaminhados para os setores onde ainda ficavam sob a supervisão do
padrinho ou madrinha, que os acompanhavam durante os noventa dias do
período probatório.
Esses cargos eram chaves para a área técnica e exigiam um cuidado maior, mas
todo recém-admitido tinha um padrinho ou madrinha, referência para uma adaptação
satisfatória na empresa.
No segundo pilar, “Treinamento e Desenvolvimento” (T&D), estabelecemos as
políticas e diretrizes, assim definidas à época: “estabelecer uma política de
desenvolvimento de RH visando à permanente qualificação do corpo técnico da
49
empresa, com prioridade para evolução/aumento de produtividade e ênfase na
formação gerencial”. O plano de gestão de desenvolvimento de pessoas tinha como
objetivo presumido o crescimento contínuo do ser humano em direção à realização de
seus objetivos individuais e profissionais, através da educação e treinamento, para
alcance dos objetivos da organização. Esse objetivo, sabemos hoje, não passa pelo
crivo de uma análise das relações capital-trabalho: havia nele certa ingenuidade, como
veremos mais à frente.
Antes de nossa chegada, a função do treinamento era rara, dispersa e sem
nenhum controle. Não havia nenhum dado relativo a horas de treinamento ou controle
dos treinamentos efetuados pelos funcionários. Identificamos, pelas entrevistas em
todos os níveis da empresa, que essa função era praticamente inexistente no ZTEC.
Alguns chefes, que tinham acesso a verbas doadas por laboratórios ou outros
fornecedores, utilizavam as mesmas para pagamento de congressos e seminários,
principalmente, o que privilegiava sempre as mesmas pessoas. Não existia a cultura de
participar de cursos de reciclagem ou aperfeiçoamento pago pela instituição. Foi-me
relatado que, certa vez, um profissional foi para um evento de treinamento pago por ele,
e ainda teve os dias de trabalho cortados. Essa era a política de treinamento e
desenvolvimento para os funcionários do ZTEC. Existiam os treinamentos técnicos para
os níveis operacionais (principalmente enfermagem e serviços gerais) ministrados pelos
chefes ou enfermeiras que se dispunham a ensinar os técnicos, por livre iniciativa, no
próprio local de trabalho, sem nenhum recurso.
Com os treinamentos, pretendíamos mudar a cultura da organização, injetando
idéias novas, trazendo novos conceitos e introduzindo novas metodologias de controle
de custos, de verificação de produtividade. Até então, o ZTEC não tinha nenhum
indicador de performance.
A primeira ação de treinamento que fizemos foi comprar mais de cem livros,
(também aqui, nossas referências eram o modelo da administração clássica, apoiado
em alguns “gurus” em voga) e distribuir para os mais de mil funcionários lerem e
trabalharem suas idéias em grupos. Foi nesse contexto que identificamos um número
significativo de pessoas com escolaridade mínima e até mesmo analfabetos. Diante
dessa situação, propusemos um programa de gestão de desenvolvimento, que era
50
constituído das seguintes etapas:
• Treinamento introdutório: visava integrar os empregados recém-admitidos
à fundação, através do Programa “Boas-Vindas”, com vídeos, palestras,
visita às dependências da Unidade de Resultado e repasse de dados e
informações. O objetivo era que o novo empregado fosse inserido na
cultura da organização. Estávamos criando os ritos de doutrinação, era o
primeiro passo para instituir a adesão à missão, filosofia e projetos da
empresa. Criávamos um evento de sedução para que o recém-admitido se
sentisse atraído pela empresa, criando vínculos de cumplicidade.
Dizíamos abertamente que se ele se entregasse de corpo e alma à
empresa, a instituição saberia reconhecê-lo e recompensá-lo através de
crescimento na carreira, investimento em treinamento e desenvolvimento.
Acenávamos com a possibilidade de realizar um “projeto e receber os
aplausos e as gratificações indispensáveis aos seus anseios narcísicos”
(FREITAS, 2002, p.76)
• Educação ou qualificação: visava aperfeiçoar as pessoas para o
crescimento profissional, a fim de se tornarem mais eficientes e
produtivas, para assumirem funções mais diversificadas e complexas.Era
composto das seguintes etapas: a) escolarização em nível fundamental
(1º. grau) e médio (2º. grau), buscando proporcionar aos empregados a
oportunidade de escolarização em nível fundamental e médio, através do
curso de ensino Individualizado, com metodologia de ensino semi-direta e
monitoria, e telecurso através do Sistema FHIEMG, modalidade 100%
financiada pela empresa a qualquer empregado que desejasse. Em dois
anos, conseguimos que todos os funcionários tivessem o primeiro grau
completo, e era nossa meta que até 2006 não houvesse nenhum
funcionário sem o 2o. grau. No período de 2002 a 2005, mais de 200
pessoas participaram desse projeto. b) escolarização em nível superior,
cursos destinados aos alunos que tinham concluído o segundo grau e
obtido classificação no vestibular em cursos afins ao negócio do ZTEC, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo DHR/Superintendência. As
51
bolsas variavam de 30% a 70%. c) programas de pós-graduação latosensu e stricto-sensu. Os cursos deveriam estar vinculados à área de
atuação do empregado e ser autorizado pelo gerente, DRH e CEO.
Tinham subsídios variando de 50% a 100%.
• Aperfeiçoamento: visava preparar as pessoas para enfrentar situações
variadas do ambiente de trabalho, ampliando conhecimentos tanto
técnicos como atitudinais/comportamentais, para lidar com inovações e
mudanças no ambiente organizacional.
• Desenvolvimento gerencial: busca pela identificação e aperfeiçoamento do
potencial de cada liderança da instituição, enquanto facilitadores, cujo
papel é o de ser treinadores, construir equipes e desenvolver pessoas.
Para isso, trabalhamos intensamente nos aspectos comportamentais,
principalmente no tocante a mudanças, a trabalho em equipe, liderança,
criatividade, visão sistêmica de negócios, planejamento e execução de
ações, com vistas à execução dos objetivos organizacionais.
• Desenvolvimento pessoal: busca pelo desenvolvimento pessoal dos
empregados, através de ginástica laboral, cursos, palestras, filmes, livros,
teatro e outras atrações, em que o objetivo era o aumento da qualidade de
vida, através de mais informações e entretenimento.
Tínhamos uma verba anual destinada a treinamento que, inicialmente, foi de R$
235.000,00 (2002) e, no último ano, 2005, chegou a R$ 750.000,00. Podemos dizer que
instauramos a cultura do treinamento na instituição e atingimos a média geral de 12,5
horas/homem treinado em 2004. Esse índice é bastante baixo, se comparado à média
do Brasil de 39 horas/homem treinado (2005) e 37,5 horas/homem treinado (2007)9,
mas é bastante significativo em termos de crescimento da própria instituição, que saiu
praticamente do zero. Se considerarmos somente o grupo de lideres, este teve índices
de treinamento superiores a 200 horas/homem treinado/ano. Dessas, mais de 80%
foram destinadas a treinamentos comportamentais, objetivando uma gestão de pessoas
mais eficaz.
O terceiro pilar, “gerenciamento da remuneração”, teve como foco estruturar as
9
Dados da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), 2008.
52
bases para um programa de remuneração baseado em resultados, que garantisse a
retenção de pessoas na empresa. Nosso objetivo era: “estabelecer uma política de
carreira, remuneração e benefícios orientada para a manutenção do quadro de pessoal
estável”.
Quando chegamos, não havia nenhuma política ou diretriz sobre a questão
salarial e de carreira, sequer uma tabela salarial. Havia ainda um número excessivo de
cargos (154 cargos no total), o que dificultava as mudanças dentro da empresa e
engessava as pessoas em determinadas funções/áreas. Elaboramos um plano de
cargos e salários, reduzimos o número de cargos em mais de 54%, reelaboramos as
descrições de cargos (criando, extinguindo, ampliando) para atender ao novo momento
da empresa. Esse processo também foi trabalhado de forma participativa com todos os
gerentes e representantes dos empregados. Assim, definimos os cargos necessários
para a realização dos objetivos da empresa, estabelecemos carreiras, bem como
políticas e diretrizes para admissão, promoção vertical e horizontal.
Para a construção das tabelas salariais, instituímos a pesquisa salarial como
mecanismo de manter os salários compatíveis com o mercado. Assim, conhecer o
mercado e ajustar os salários era um procedimento rotineiro. Conseguimos ainda
acertar pendências de ajustes salariais, referente à data-base de três anos anteriores.
Com todo esse processo, as pessoas passaram a entender mais seu trabalho e
seu impacto na empresa como um todo. Esses três pilares foram os norteadores para
trabalharmos em conjunto com os líderes a gestão de pessoas na instituição.
Trabalhamos exclusivamente nessas três frentes durante o primeiro ano –
construindo o departamento como função R&S, T&D e Cargos e Salários. Mas também
fomos nos consolidando como uma instância na qual empregados e organização
pudessem dialogar e estabelecer relações de parceria. Colocávamo-nos como
intermediários entre os interesses dos empregados e administração.
Tivemos a diretriz da alta administração para mudar o perfil dos empregados, no
sentido de buscar pessoas mais ágeis, mais criativas, orientadas para o atendimento ao
cliente, dinâmicas, que buscassem soluções. Começamos a trabalhar com esse perfil e
logo identificamos que essas pessoas não se adaptavam a suas equipes e entravam
em embate com suas chefias. Percebemos que, se não mudássemos o foco para os
53
líderes, nada atingiríamos. Os chefes não conseguiam ter em suas equipes pessoas
proativas, sentindo-se ameaçados. Muitas pessoas com ótimas qualificações foram
demitidas assim. Iniciamos um programa de definição do perfil gerencial, seguido de
avaliação de desempenho e de um extenso e pesado programa de desenvolvimento de
gestores para suprir as deficiências encontradas. Alguns se demitiram e outros foram
desligados por não apresentarem desejo de mudança.
Essa foi nossa diretriz para o segundo ano na instituição: além das questões
objetivas do RH, trabalhar as zonas de conflitos na sua origem, com todas as pessoas
que estivessem envolvidas. É nesse ponto que começa o diferencial da experiência.
Vários programas foram desenhados e executados visando atingir esse objetivo,
tais como ginástica laboral, RH Nutri10, campanhas de vacinação, de prevenção de
doenças (câncer de colo de útero e próstata) e outras.
Um programa especial, não constante nos livros de RH, surgiu da escuta dos
funcionários, de seus relatos e de observações nos locais de trabalho: o
“Acompanhamento Psicofuncional”. Ele tinha como objetivo identificar as causas de
insatisfação no trabalho, a relação com a liderança ou supervisão, problemas
domésticos, doenças e outros que não conhecíamos, buscar soluções para as questões
de ordem funcional e encaminhar para instâncias outras, quando as demandas fossem
de ordem pessoal e não estivessem ao nosso alcance. Interessava-nos, sobretudo,
pensar
a
relação
indivíduo-empresa,
indivíduo-coletivo,
visando
analisar
as
(im)possibilidades de melhoria dessa relação, tornando-a mais equilibrada, para
propiciar ao trabalhador uma condição de trabalho mais saudável e prazerosa.
Nossa proposta era a escuta dos funcionários. Uma escuta que fosse
diferenciada, que realmente identificasse a demanda do empregado, mas que não
fosse identificada à prática de psicanálise ou psicoterapia. Nosso foco não eram os
problemas individuais, mas os coletivos, decorrentes das relações de trabalho dentro da
empresa. Recebíamos os funcionários que nos procuravam, ouvíamos suas demandas
e buscávamos uma solução que fosse adequada a cada caso. Atendíamos problemas
psicoemocionais, que encaminhávamos para tratamento psicoterápico; problemas
10
Programa desenvolvido pela medicina do trabalho em parceria com as nutricionista do ZTEC, para
atendimento aos funcionários que desejassem um acompanhamento nutricional, principalmente os que
apresentavam taxas elevadas de colesterol, triglicérides e glicemia nos exames periódicos.
54
pessoais e de ordem familiar, que orientamos ou encaminhávamos, conforme o caso;
problemas de ordem sócio-econômica, que orientávamos; viabilizávamos, através de
adiantamento de salários, concessão de férias e outros; problemas de alcoolismo de
empregado ou familiar, que encaminhávamos a instituições específicas; problemas de
inadaptação ao trabalho, etc. Fazíamos um estudo para verificar se as questões eram
de ordem pessoal (falta de treinamento, questões pessoais) ou da organização do
trabalho, da atividade desenvolvida, problemas com a equipe ou chefia. Tivemos
problemas com duas chefias, que tiveram que ser demitidas da empresa pela falta de
competência na gestão de pessoas, caracterizando assédio moral: foram feitas
tentativas de mudança em seus comportamentos, com treinamentos, conversas no RH
e superintendência, mas as equipes continuavam sendo vítimas do autoritarismo e
desmandos. Houve até mesmo um caso de adoecimento de uma funcionária, afastada
do trabalho com sintomas de síndrome do pânico.
Levávamos os casos ao CEO com indicação de demissão, que foram aceitas.
Identificamos problemas de ingestão de drogas no próprio local de trabalho.
Acompanhávamos e efetuávamos as mudanças necessárias, no ambiente de trabalho.
Enfim, toda sorte de problemas chegavam até nós, muitos deles compartilhados e
analisados por uma equipe multidisciplinar – médico do trabalho, psicólogo
organizacional e psicólogo clínico, gerente de RH e gerentes das áreas dos respectivos
empregados. Estudávamos os casos, buscando uma saída que atendesse a empresa e
o funcionário; em outras ocasiões, tratávamos o assunto de forma totalmente sigilosa,
conforme exigia o caso. Em todas as situações, imperava a ética e o respeito à pessoa
do empregado.
A partir dessas escutas individuais, surgiu a idéia da escuta de determinados
grupos da instituição que eram considerados um problema. Nossos “pacientes” eram
dois grupos de auxiliares de enfermagem que trabalhavam no CTI e CC do hospital.
Essas áreas, conhecidas como “setores fechados”, são focos de conflitos,
adoecimentos e altos índices de absenteísmo e turnover. Verificava-se ali um índice de
adoecimento muito alto, graves problemas de relacionamento e até ações criminosas –
roubos de pertences de médicos e funcionários. Queríamos escutar, a partir deles
mesmos, sobre as reais dificuldades, o mal-estar e as crises contínuas.
55
Como já havíamos percebido através das entrevistas, as relações entre os
corpos clínico e administrativo eram conflituosas. Verificávamos claramente duas
vertentes de comando, com valores e interesses bastante divergentes. A preocupação
dos responsáveis pelos serviços administrativos era voltada para questões práticas,
referentes a custo de materiais, gastos, cumprimento de metas e tudo o que dizia
respeito à racionalidade econômico-financeira. Já o corpo clínico estava orientado para
as necessidades assistenciais, variando do autoritarismo ao paternalismo na relação
com os auxiliares, sem nenhuma preocupação com itens relativos a custos,
principalmente operacionais. Recentemente, uma gestora que atuava nessas áreas
críticas relatou-me conluios entre médicos e auxiliares, que prejudicavam enormemente
o trabalho e as relações interpessoais, na medida em que privilegiavam alguns em
detrimento de outros.
O projeto elaborado partiu das seguintes observações: a) relação direta entre o
tipo de trabalho e as relações que ali se desenvolvem, bem como as causas de
afastamento e adoecimento dos trabalhadores que lidam com perdas e situação de
stress constante; b) focalização na necessidade de mudança da cultura organizacional,
em especial no que dizia respeito ao relacionamento entre empresa-empregado e entre
corpo clínico e administrativo; c) reconhecimento do papel de mediação administrativa,
política, social e técnica entre gestores, médicos, trabalhadores e instituição a ser
efetivado permanentemente pelos profissionais da área de recursos humanos.
O trabalho foi conduzido por duas psicólogas - uma do RH e uma psicóloga
clínica (contratada para o projeto). Os grupos vindos do CTI e CC (entre 8 e 10 pessoas
cada) reuniam-se uma vez por semana, e os participantes relatavam suas
necessidades, angústias, medos e sofrimentos advindos tanto do trabalho quanto de
suas próprias vidas.
Inicialmente, as principais queixas giravam em torno do trabalho e de questões
objetivas, como questões salariais, falta de benefícios, excesso de trabalho, ausência
de pessoas no trabalho devido a diversas licenças médicas, falta de participação nas
decisões do setor e autoritarismo de algumas supervisoras. Dessas questões, algumas
foram resolvidas: uma supervisora foi demitida, a questão salarial foi equacionada com
o fechamento de acordo com o sindicato. Em relação aos benefícios, principalmente
56
plano de saúde, uma grande demanda, nunca conseguimos atender. O acúmulo de
trabalho foi reduzindo aos poucos, na medida em que o índice de absenteísmo era
reduzido.
Com o passar do tempo o grupo foi estabelecendo uma relação de confiança
com as psicólogas e falando de questões mais pessoais (ligadas ao trabalho, à
segurança no emprego), de seus medos e angústias. Tinham enorme medo de adoecer
e uma relação ambígua com os colegas que saíam de licença. Num primeiro momento,
acolhiam essas demandas, mas se a licença se prolongasse ou fosse recorrente,
surgiam atitudes de rejeição para com essas pessoas. “Ela é muito fraca, adoece à toa,
não agüenta o que eu passo...”; “essa coisa de doença é para não vir trabalhar e a
gente trabalhar pra ela...” (técnico de enfermagem, 2004). Essas falas exprimiam o
desagrado com a dor do outro, a pouca solidariedade com o outro, em geral. O
relacionamento era muito ruim e percebia-se certa competitividade.
“No meu plantão...” era frase dita e repetida várias vezes, sempre para criticar
alguma ação ou atitude do colega. Somente depois de quase um ano de convivência,
as pessoas do grupo começaram a estabelecer vínculos mais fortes e se apoiarem.
Percebemos isso quando, por iniciativa deles, promoveram um grande jantar de fim de
ano, evento inédito, embora muitos já tivessem anos de trabalho no mesmo grupo.
Era notória também a grande dificuldade para lidar com o sofrimento próprio e
dos pacientes. Diziam gostar do CTI e CC porque tinham que se relacionar pouco com
o paciente, mas se apegavam aos mesmos quando ficavam mais tempo, e sentiam
muito a morte de alguns: “é melhor não apegar, para não sofrer”.
Os empregados que trabalhavam no CC (em sua grande maioria, mulheres)
eram os que mais tinham problemas de relacionamento entre si e com o corpo
administrativo e médico. Demonstravam auto-estima muito baixa, eram os mais antigos
na instituição e relatavam uma relação de amor e ódio com os cirurgiões: amor porque
eles proporcionavam ganhos maiores com serviços de instrumentalização nas cirurgias,
e ódio devido à forma como eram tratados por eles, em uma relação servil e antiética,
na medida em que eram expostos a chacotas e tinham suas vidas pessoais abertas,
nas salas de cirurgias. “Eles abrem a vida da gente, igual abrem um corpo de um
paciente, rindo e contando piadas...” (técnico de enfermagem, 2004).
Esses
57
funcionários tinham consciência dos fatos, mas não refletiam sobre como poderiam lidar
com essa realidade que não com o silêncio a que estavam acostumadas. Praticamente
todos faziam uso de remédios antidepressivos, e as prescrições eram deles mesmos.
Praticavam a auto-medicação constantemente.
Assim, ao introduzir a prática da escuta ao trabalhador como possibilidade de
estabelecimento de uma práxis que criasse laços e introduzisse a diversidade,
ensejávamos uma proposta emancipatória, que levasse em consideração os diversos
sujeitos e as várias configurações de relação da instituição. Sabíamos, no entanto, que
somente a escuta não produziria bons resultados, pois, para os trabalhadores, ainda
representávamos o discurso oficial. Seria necessário traduzir o discurso em práticas
que efetivamente trouxessem ganhos para o grupo.
Os principais resultados desse trabalho são intangíveis, pois, afora os relatos dos
sujeitos, não há medidas quantificáveis para dados como: sentimento de pertencimento
e amparo (“tem pessoas se preocupando com a gente”); clima amenizado, com
elucidação de conflitos e disputas internas; modificações de paradigmas culturais; maior
envolvimento; prazer no trabalho (“tenho gostado mais de vir trabalhar”); motivação;
maior envolvimento dos participantes nos processos decisórios da organização
(começaram a fazer reuniões periódicas quando tinham que decidir sobre algum
procedimento); quebra de paradigmas, como o caso de médicos e pessoal de nível
operacional discutindo relações de trabalho; melhoria da comunicação intra e
interdepartamental, entre outros.
Existiam, por sua vez, também os resultados tangíveis, mensuráveis, que
evidenciaram aspectos significativamente favoráveis quanto à implantação do projeto,
podendo ser assim resumidos: estabilização do índice de turnover em torno de
1,5%/mês ou 20,0%/ano (anteriormente, esse índice era em torno de 2,5% e 34,5%,
respectivamente), média inferior à da categoria que, à época, era de 30,7%
(NORMURA, 2005); redução de até 25% no índice de reclamações de clientes.
Apesar de todos esses ganhos, os trabalhos foram abortados por questões
políticas, terminando com a desarticulação de toda a área de recursos humanos e
demais gerências administrativo-financeiras. Os trabalhos implantados e em operação
foram desarticulados, sem nenhuma análise dos resultados que estavam sendo
58
obtidos.
O início do fim ocorreu a partir de fevereiro de 2005, quando se iniciou o
processo político para a disputa da eleição da nova diretoria para o ZTEC, que iria
ocorrer até 30 de março daquele ano. A cada dois anos, uma nova diretoria é eleita.
Historicamente, havia sempre a reeleição da mesma. Foi a primeira vez, em muitos
anos, que uma chapa de oposição surgia, opondo-se à “situação”, formada por
membros da diretoria e outros candidatos do conselho administrativo11. A nova chapa
era formada por membros do conselho administrativo. A chapa da situação era a favor
das mudanças que estavam ocorrendo na empresa e era, inclusive, patrocinadora da
profissionalização da instituição. Já a segunda era formada por médicos que não
estavam satisfeitos com a atual administração, tendo em vista a “guerra” declarada
junto à maior operadora de plano de saúde em Minas Gerais que estava em
andamento, fato que gerava insegurança no corpo clínico, ameaçado diante da
possibilidade da perda do referido convênio.
Foram momentos tensos, de brigas acirradas, principalmente entre o CEO e os
médicos. O ZTEC foi dividido em duas “facções”. Não se falava em mais nada a não ser
nas ditas eleições e nas conseqüências da mesma. Naquele momento, sabíamos (os
gerentes e o CEO) que, caso a oposição ganhasse, seria o início do fim.
Mas o fim veio antes: a chapa da situação “desistiu” (houve pressões de todos os
lados para isso), restando apenas a oposição. O CEO pediu seu desligamento da
empresa. Com a sua saída sabíamos que, em questão de tempo, seríamos demitidos.
A nova diretoria fez uma festa de posse, garantiu que nada mudaria na
organização, que confiava nos gerentes atuais, que precisava de todos, em um
discurso falacioso. Não havia razão para mentir: sabíamos que não éramos de
“confiança” da nova diretoria, 100% associados à figura do recém-desligado CEO.
Todos entenderíamos se fôssemos desligados nesse primeiro momento, mas não foi
assim. Passaram-se dois meses de discursos dúbios e exercício dos jogos de poder,
até o esperado fim. Recursos humanos e enfermagem foram as primeiras áreas a
serem alteradas. Do DRH, eu, uma analista e minha assistente fomos demitidas em um
11
O conselho administrativo da empresa é formado por médicos e pessoas da sociedade mineira,
representativas do meio empresarial e político.
59
primeiro momento, seguidos por todos os outros membros da equipe em menos de um
ano. Da enfermagem, a gerente responsável por quase 70% da empresa foi
dispensada, o que aconteceu com várias outras gestoras ao longo do tempo. A “rádio
peão”12 disse que éramos a equipe mais próxima ao antigo CEO, mas todos os
gerentes, um a um, foram demitidos, sob a justificativa de redução de custos: “era
preciso enxugar a folha de pagamento... vocês tinham os salários mais altos...”, disseme, recentemente, o atual Gerente de RH da empresa13. Um médico, no entanto, traz a
questão para a relação de confiança, que já dissemos ser tão preciosa para a diretoria:
“eles não queriam profissionais, queriam pessoas em quem pudessem confiar....
12
Expressão usada nas organizações para designar boatos veiculados por comunicação oral. As
notícias, de modo geral, não são confirmadas oficialmente, e visam criar insegurança e desestabilizar a
empresa ou um grupo da mesma.
13
Informação oral obtida em 2008
60
3. GESTÃO DE PESSOAS, EXPLICITAÇÃO DE CONFLITOS
Neste capítulo, será abordada a fundamentação teórica deste trabalho, que se
divide em dois eixos principais. O primeiro consiste em uma leitura crítica das teorias
ligadas à função “Recursos Humanos”, construídas, a partir dos anos 2000, com ênfase
especial nos conceitos de Recursos Humanos Estratégicos e Recursos Humanos como
vantagem competitiva. Esses construtos formaram a base teórica que utilizamos
quando da implantação do DRH no ZTEC.
O segundo eixo será o da Psicossociologia, que fundamentará a crítica ao
projeto desenvolvido no ZTEC, buscando compreender por que o projeto veio a
fracassar, apesar de ter sido inovador, do ponto de vista das práticas de RH existentes,
principalmente no ramo hospitalar.
3.1. As abordagens teóricas de RH nas últimas décadas, no Brasil.
A maioria dos autores brasileiros (MOTTA, 1997; GIL, 2001; LACOMBE;
TONELLI, 2001; DUTRA, 2002) situam o início da administração de pessoas como
decorrente da industrialização, no século XX, com os departamentos de pessoal e seus
chefes, acompanhando assim os movimentos de organização do trabalho ao longo da
história. No entanto, é interessante pensar que o primeiro gestor de pessoas tenha sido
o feitor ou o capataz que era responsável pelos negros escravos, mediando relações
entre capital e trabalho.
O feitor é o arquétipo dessa atividade em nosso país. Era ele quem cuidava da
‘negrada’... dos nossos primeiros trabalhadores... o escravo era instrumento de
produção e fonte de renda... O feitor era a voz do dono, aquele que cuidava
para que os desejos dele fossem atendidos e os ‘trabalhadores’
permanecessem sob seu jugo. (TRASSATI, 2005, p.29).
Essa imagem é forte, mas pode bem caracterizar o nascedouro das relações de
trabalho no País. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era essencialmente
agrícola, 80% da população habitava o campo, caracterizando um fraco poder do
61
proletariado e das atividades industriais (GIL, 2001, p.52). Não havia legislação
trabalhista e as atividades de recursos humanos restringiam-se a cálculo e pagamento
pelos serviços prestados.
A teoria clássica, ou movimento da administração científica, datada do início do
século XX, firma-se com base no controle. Conforme ressalta Motta (1997), o bom
administrador seria o que consegue planejar cuidadosamente seus passos, organizar e
coordenar racionalmente as atividades de seus subordinados e comandar e controlar
suas atividades. Este modelo prevaleceu até meados da década de 50, e a
administração de pessoas era conhecida como personal manegement. A ênfase estava
na divisão do trabalho, na “única maneira de realizar um trabalho”, preconizada por
Taylor, na centralização das decisões e controle total sobre a mão-de-obra para suprir
as demandas oriundas do setor de produção, em franco crescimento. Assim, pessoas e
máquinas eram controladas e padronizadas, visando a uma maior eficiência. Eram
esses os recursos necessários à produção.
No Brasil, essa época corresponde ao período Vargas e à implantação da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em 1943, com a carta magna das relações
do trabalho, que “criou a carteira profissional, regulamentou o horário de trabalho no
comercio e na industria, definiu o direito a férias remuneradas, instituiu as comissões
mistas de conciliação, estabeleceu as condições de trabalho de menores nas indústrias
etc”. (GIL, 2002, p. 53). O autor afirma também que surgiu nessa época a administração
de pessoal, com o chefe de departamento de pessoal exercendo o papel disciplinador,
punitivo e paternalista. Suas preocupações eram somente com os procedimentos
legais. Os aspectos de integração, produtividade e bem estar da mão-de-obra não lhe
interessavam.
Enquanto o mundo capitalista passava por uma grande crise, com o crash de
1929, a escola de relações humanas, desenvolvida no final dos anos 20 com Elton
Mayo, ganhava adeptos e experimentava grande desenvolvimento a partir de 1930. As
empresas precisavam aumentar sua produtividade e reduzir custos, e os princípios
desta escola eram aderentes a essas necessidades. Através das noções de homo
social, grupo informal, participação nas decisões (MOTTA, 1997), buscava-se entender
as organizações, através de sua organização informal. Motta (1997), define
62
organização
informal
como
conjunto
das
relações
sociais
não-previstas
em
regulamentos e organogramas.
As principais diferenças entre a escola clássica e a escola de relações humanas
estão, respectivamente: na ênfase dada aos dois aspectos da organização do trabalho
– formal e informal; no sistema de incentivos – monetários e psicossociais; na
concepção de homem – homo economicus e homo social.
No Brasil, no entanto, essas influências somente se fazem sentir por volta dos
anos 50, com um representativo momento de crescimento industrial (químico,
farmacêutico, petrolífero, siderúrgico e automobilístico) e a instalação de empresas
multinacionais. Surge também uma nova classe operária, diferente do operariado das
industrias têxteis, dos ferroviários e gráficos das décadas anteriores. Segundo Gil
(2001), a nova classe não tem o mesmo ideal coletivista da anterior: “os atritos com os
empresários assumiram mais o aspecto de conflito industrial do que de luta de classe”
(GIL, 2001, p.54). É o período do governo de Getúlio Vargas. O varguismo é marcado
pelo maior número de concessões de benefícios para os trabalhadores. Mas também é
marcado, por acabar com o sindicalismo e o movimento operário. O ministério do
trabalho assumiu o papel de interventor nos sindicatos. Somente a partir de 1945, com
o fim do Estado Novo, o movimento operário ressurge.
As multinacionais vieram trazendo na bagagem o modelo da administração
científica, que foi logo incorporado aos princípios legalistas brasileiros (DUTRA, 2002).
Diante desse cenário, um novo perfil de profissional para gerir os problemas de pessoal
faz-se necessário. A exemplo das empresas americanas, criam-se departamentos de
relações industriais. No inicio da década de 60, os sindicatos fortalecem-se, agrupados
por categorias e federações, de acordo com o ramo industrial, constituindo, em 1962,
uma central sindical, o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT).
Em 1964, com o golpe militar, os sindicatos passam a ser controlados pelo
Ministério do Trabalho e a força sindical desapareceu, na realidade já não existia era
peleguismo da era varguista, deixando campo livre para as empresas negociarem
diretamente com seus empregados.
O mundo começa a mudar mais rapidamente, o advento da tecnologia aproxima
as economias mundiais, os trabalhadores iniciam uma mudança de perfil, mais
63
qualificados e mais reivindicativos. Foi ainda na década de 60, que as primeiras teorias
do capital humano como ativo das organizações surgiu, com os teóricos Likert, Schultz
e Schuster. Foram eles os primeiros a preconizarem o que mais tarde viria se tornar um
jargão: “recursos humanos como principal ativo das empresas”.
No início da década de 70, vivia-se um marco histórico com a primeira grande
crise do petróleo, coincidindo com o final do ciclo dos “trinta anos gloriosos” do
capitalismo, período caracterizado pelo pleno emprego, com Estado Providência, mãode-obra pouco especializada, trabalho massificado etc. A lógica do capital desenvolvida
até então tinha como referência os modelos taylorista e fordista, e estava sendo
questionada. Já não se ajustava ao momento de crise pelo qual passava a economia
mundial, com o desemprego estrutural, a retração no consumo, o descontentamento do
consumidor com produtos e serviços que não mais atendiam às especificações
prometidas.
No Brasil, com a ditadura militar, ocorreu o período artificial do “milagre
brasileiro”, com o governo fazendo grandes empréstimos no exterior. A conseqüência
foi o descontrole da inflação e um alto índice de desemprego, tempos de insegurança
política e social. Foi o momento de reestruturar os modelos produtivos baseados no
taylorismo/fordismo, sem, no entanto, transformar os pilares essenciais do modo de
produção capitalista. O objetivo era resgatar os níveis de acumulação pré-existentes,
reorganizando o ciclo produtivo, mas preservando seus fundamentos essenciais. O
momento político do País influenciou a prática de gestão de pessoas, pois, ao mesmo
tempo em que o paradigma taylorista/fordista era questionado na Europa e nos Estados
Unidos, era engrandecido no Brasil.
É neste contexto que “recursos humanos” aparece como um departamento que,
na maioria das organizações, estava hierarquicamente subordinado às diretorias de
administração e finanças, não participando de decisões estratégicas das empresas e
não sendo considerado necessário à produção de resultados. Este modelo prevaleceu
no Brasil até meados da década de 70, quando, face à crise mundial do petróleo, a
massificação do ensino (lei no.6297 de 15/12/1975, que durou até o início da década de
90, dispunha sobre os incentivos fiscais ao investimento em treinamento; ou seja, toda
a despesa enquadrada como treinamento podia ser deduzida em dobro para efeito do
64
cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro) e, principalmente, o surgimento de um
movimento sindical mais atuante, proliferaram greves como forma de reivindicação dos
empregados, demandando um RH mais atuante para “proteger” as empresas. Trassati
(2005) afirma:
Neste cenário, surgiu a figura de uma área de recursos humanos importante.
Coube a ela a elaboração de planos, táticas e ações contingenciais “contra” os
sindicatos... o objetivo maior era manter a empresa trabalhando sem greve,
quase a qualquer custo... Recursos humanos tinha a função de “proteger” a
empresa,“fazer a cabeça dos funcionários” permitindo que esses “vestissem a
camisa da empresa”. (TRASSATI, 2005, p.32).
Nesse contexto, a escola de relações humanas firma-se como linha de
conhecimento que insere o gerente como maior responsável pela mediação entre
empregados e empresa, devendo ser o modelo da gestão de RH. Motivação e liderança
são focos principais, tratados com treinamentos gerenciais, avaliação de desempenho,
relações interpessoais. Essa escola defendia que o bem maior das organizações são as
pessoas, com sua inteligência.
O foco dos profissionais de RH era, então, o desenvolvimento de executivos para
que pudessem ser gestores de pessoas. Para isso, deviam ser treinados e
desenvolvidos. Era a época dos treinamentos glamourosos das grandes empresas,
multinacionais e estatais, das “teles” (Telemig,Telerj, etc.), que construíram centros de
treinamentos grandiosos, desenvolvidos a partir de técnicas muito bem elaboradas,
dinâmicas, simulação de jogos (os business games), trabalhos em equipe. No entanto,
na maioria das vezes esse conteúdo ministrado estava longe da realidade do cotidiano
das empresas. Falava-se de gestão participativa, mas o modelo brasileiro era, e ainda
é, em sua maioria, centralizado, fortemente influenciado pelos paradigmas da
administração científica, adequados aos princípios legalistas brasileiros.
As principais mudanças no campo das relações do trabalho ocorrem sob a
influencia da escola de relações humanas, reação ao modelo racional do
taylorismo/fordismo, introduzindo o estudo das pessoas e dos grupos no âmbito
empresarial. Para Enriquez (1977d), Mayo, com a escola das relações humanas,
presta-se a três tipos de interpretação:
a) Ela é um prolongamento do sistema taylorista.
65
Ela não questionou o taylorismo. Algumas frases de Mayo, como “a natureza
essencial do homem é de cooperar e para cooperar é preciso que ele conheça
o objetivo não se opõem, de fato, às afirmações de Taylor, tais como: “opor-se,
não. Cooperar, sim. A cooperação é pedida sob todas as formas possíveis, a
oposição não é jamais tolerada”. Em outras palavras, entre os discursos de
Taylor e de Mayo, a diferença se situaria unicamente nas modalidades de
tratamento do problema da cooperação.(ENRIQUEZ, 1977d, tradução nossa).
Apesar de Mayo não ter questionado a base ideológica do taylorismo, é inegável
seu mérito em abrir novas perspectivas à teoria e às prática da administração,
oferecendo novas formas de pensar a relação do homem com o trabalho, deslocando o
foco para os grupos informais, ao invés da organização formal. Através de seus estudos
da Western Eletric Company, ele trabalhou com a hipótese de que a produtividade é
função direta da satisfação no trabalho, e que esta dependerá do grupo de trabalho.
Ainda assim, no entanto, ele ignora que haja conflito entre indivíduo e grupo (MOTTA,
1997a).
b) Ela resulta em outra concepção de empresa.
A escola de relações humanas lança novo olhar sobre as organizações, vendoas como um sistema social, e os grupos como responsáveis pelo desenvolvimento de
sistemas de informação, em que as "relações humanas" produziriam um novo tipo de
empresa mais harmonioso. Enriquez, porém, afirma que suas práticas ocorrem através
de um investimento massivo em uma categoria específica de indivíduos: os que
decidem os quadros da empresa, os responsáveis. A grande maioria dos empregados
continuava fora do centro de decisões. Mantém-se a separação
(...) entre concepção e execução, entre os que decidem e os que obedecem,
mesmo quando esses que decidem tenham trabalhado sua própria afetividade
ou seu inconsciente, tornando-se mais “camaradas”, admitindo ser
questionados e aceitando certas formas de diálogo. (ENRIQUEZ, 1977d,
tradução nossa)
c) Ela deixa ver a política na vida cotidiana.
Através dos trabalhos de Mayo, fica inegável a importância dos grupos no âmbito
das organizações, como lugar de trocas afetivas e criação de vínculos. Mas é
Castoriadis que enxerga nos grupos outra possibilidade, de cunho político, que Mayo
não considerou:
66
Assim, para Castoriadis, o grupo informal não é nem um lugar onde se tecem
relações de simpatia, nem um lugar onde se movem as tendências à realização
pessoal (achievement), desconectadas do trabalho cotidiano e do lugar
ocupado na divisão do trabalho. É, ao contrário, o lugar onde se exprimem os
sentimentos de uma solidariedade ligada à luta e à resistência operária, em
relação às injunções da direção. (ENRIQUEZ, 1977d, tradução nossa).
Assim, a partir de Mayo uma vertente de psicossociólogos franceses e italianos
começa a se interessar por grupos elementares como lugar de palavra, de cultura, de
aprendizagem de outras formas de vida, de desejos e de recalques. Entendem que o
grupo seja uma célula representativa da estrutura da empresa, reproduzindo a mesma
divisão do trabalho, o mesmo sistema de autoridade, sendo também lugar de
questionamento da hierarquia, das competências, da organização do trabalho e das
relações sociais.
A escola das relações humanas, focada no estudo do comportamento humano
nas organizações, reconhece que a subjetividade é o meio de garantir relações
duradouras entre empresa e empregado, fazendo valer o velho clichê “vestir a camisa
da empresa”, que sustenta uma relação de submissão de longo prazo – a empresa
envolve e motiva as pessoas, implicando-as em seus projetos, mantendo-as cativas.
O modo de produção capitalista não apenas se apropria do produto do trabalho,
mas vem modelando a subjetividade, produzindo desejos, disciplinando os indivíduos
em função das performances que lhes interessam. Nas empresas modernas e
hipermodernas, há uma produção de subjetividade que é mistura de enriquecimento e
empobrecimento, pois, a partir da aparente democratização do acesso aos dados e ao
conhecimento, há o fechamento segregativo das instâncias de elaboração. As mentes
devem estar abertas para serem cheias de material performático, de criatividade dirigida
para produzir ganhos para as empresas.
A cultura organizacional encarrega-se de homogeneizar a maneira de pensar,
agir e sentir das pessoas, através de regras não escritas, de controle de
comportamentos, em uma ressocialização.
A década de 1980 trouxe mudanças significativas para o mundo das grandes
corporações, principalmente com a explosão do modelo japonês, que vem mudar
definitivamente o conceito de gestão nas empresas ocidentais com o toyotismo. Seus
ícones são a qualidade total e o modelo flexível de produção, que desestabilizam a
67
hegemonia americana, no processo produtivo, e elegem a competitividade como
principal agente da nova ordem econômica. Termos como vantagem competitiva,
cadeia de valor, reinvenção passam a fazer parte do discurso empresarial e da
produção de conhecimento administrativo. Essa visão de negócio atinge a
administração de RH. Foram alterados os processos e a organização do trabalho.
É nesse contexto que surge a administração estratégica de recursos humanos.
Dois modelos foram desenvolvidos, visando conectar a gestão de RH à gestão
empresarial. De acordo com Lacombe e Tonelli (2001), o modelo apresentado pela
escola de Michigan concebia que a gestão de RH deveria buscar o melhor encaixe
possível nas políticas empresariais e nos fatores ambientais: os planos de RH seriam
derivativos das estratégias corporativas da empresa. Nesta perspectiva, o RH, com
programas de seleção, avaliação, remuneração e desenvolvimento, deveria atender às
estratégias ditadas pelas empresas, ao negócio, reafirmando assim um RH adaptativo.
O modelo concebido pela Harvard Business School, citado por Lacombe e
Tonelli (2001) apresenta um novo direcionamento para gestão estratégica de pessoas,
que leva em consideração os fatores internos e externos da organização, atuando como
interventor. A perspectiva é de um RH que intervém no planejamento estratégico da
empresa, através de quatro áreas-chave para determinação de políticas de RH:
•
grau de influência do empregado – nível de participação
•
fluxo de RH – do recrutamento à demissão
•
sistemas de recompensa
•
sistemas de trabalho – organização do trabalho.
As ações de RH serão derivadas dos interesses dos vários públicos que
compõem a organização, os stakeholders (os vários públicos que participam das
organizações: funcionários, gerentes, acionistas, fornecedores, sindicatos, governo,
clientes e comunidade), criando um círculo virtuoso no qual o bem-estar dos
empregados produz a efetividade organizacional, que, em última instância, trabalha
para atender às demandas dos clientes. Essa forma de atuar no RH é o que se
denomina de modelo de gestão de pessoas:
O papel estratégico a ser desempenhado passa a ser repensar as atividades
próprias da área de RH em termos estratégicos, ou seja, de forma a integrar os
68
objetivos de longo prazo da organização, as variáveis relevantes do ambiente e
as necessidades decorrentes em termos de pessoas. (FISHER apud
LACOMBE; TONELLI, 2001, p.159)
Nesse modelo, a empresa define o tipo de relação que terá com os empregados,
o grau de participação e a autonomia que supostamente lhes serão dados.
Os subsistemas de RH são sempre os mesmos: seleção, avaliação,
remuneração e desenvolvimento. O que difere é o tipo de contrato que a empresa irá
adotar, buscando comprometimento e qualidade no e do trabalho.
Uma das mudanças significativas na administração estratégica de RH ocorre em
relação ao papel dos gerentes de linha e dos profissionais de RH. Aos primeiros, é
dada a atribuição de gerir pessoas e, aos segundos, a incumbência de serem
consultores, estrategistas de políticas e diretrizes para RH, facilitadores e mediadores,
na busca de soluções para ganhos cada vez maiores de produtividade. A gestão de
pessoas passa a ser responsabilidade dos gerentes, ficando a cargo deles contratar,
avaliar, desenvolver, demitir, discutir salários e outras funções relativas ao cotidiano das
pessoas sob sua gerência. Anteriormente, essas funções eram exclusivas do DRH.
Os anos 80 foram marcados pela recessão econômica, com altos índices de
desemprego que, aliados às inovações tecnológicas, geraram grandes perdas para a
classe trabalhadora. A própria área de recursos humanos, que estava iniciando seu
processo de desenvolvimento, com processos mais sofisticados nas funções de
Recrutamento e Seleção (R&S) e Treinamento e Desenvolvimento (T&D), era muitas
vezes a primeira a ter seus quadros de empregados reduzidos, vista como centro de
custos. Essa configuração existia em poucas empresas, as maiores e já mais
avançadas em termos de gestão. Para a grande maioria, existia apenas o
Departamento de Pessoal (DP), porta-voz do discurso oficial, referendando a
concepção de pessoas como recursos necessários para a empresa atingir os resultados
pretendidos.
Na década de 90, ganha força muito do que foi iniciado na década anterior, como
o maior envolvimento do empregado em todo o processo de trabalho, o foco no cliente,
o conceito de multifuncionalidade, e muitas empresas revêem sua forma de gestão,
principalmente em termos de Recursos Humanos. Inaugura-se, para algumas poucas,
uma nova era, em que o DRH é colocado no mesmo patamar das áreas de produção,
69
finanças e marketing, reconhecido como estratégico para o negócio. Esse DRH tem a
missão de agregar valor ao negócio e contribuir para o desempenho organizacional,
com seus programas. Pessoas passam a ser um diferencial competitivo. O capital
humano é visto como ativo intangível14 que tem peso considerável no valor final da
empresa. As que se destacam como as melhores para se trabalhar e que apresentam
bons resultados são as que colocam as pessoas como essenciais para o sucesso e
desenvolvimento do empreendimento. Para isso, o DRH cria várias práticas, pelo
menos no plano discursivo, como gestão participativa, trabalho em equipe, relações de
parceria com empregados e fornecedores, respeito ao consumidor. Trata-se de um
conjunto de ações que tem como objetivo aparente democratizar e humanizar as
relações de trabalho para motivar empregados e ganhar títulos de reconhecimento
social e econômico. Na ótica do marketing empresarial, pretendem até denominarem-se
empresas politicamente corretas; na verdade, essas “empresas cidadãs” como comenta
Robert-Demontrond (2003), são as que pregam a cidadania como forma de minimizar
os efeitos negativos por elas mesmas produzidos na sociedade, no meio ambiente e na
vida das pessoas. Atuam prevenindo autuações que podem vir a prejudicá-las no futuro
próximo, ocasionando crises e desgastes econômicos e de imagem.
Assim, em cenários de concorrência acirrada, os recursos intangíveis - aqueles
que não são mensuráveis, como marca, conhecimento e capacidade de inovação - são
diferenciais competitivos (ULRICH, 2001). O objetivo do RH estratégico, para Ulrich
(2001), é criar novos objetivos e novas formas de atuar, com foco em resultados e não
mais nas atividades tradicionais de RH, como contratação de pessoas, remuneração,
etc. O setor de Recursos Humanos não deverá, portanto, ser definido pelo que faz, mas
pelo que é capaz de apresentar: resultados que enriqueçam o valor da empresa para
clientes, investidores e funcionários. A nova ordem é agregar valor. “Têm que criar
mecanismos que produzam rapidamente resultados de negócio” (ULRICH, 2000, p. 50).
A Administração estratégica de Recursos Humanos visa alinhar as pessoas à
estratégia empresarial. Elas passam a ser estratégicas para as organizações, pois
podem criar um diferencial competitivo. O RH tem, assim, a função de ajudar as
empresas a aprender com mais rapidez que o concorrente. Um exemplo é a atuação na
14
Recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.
70
formação de equipes de alto desempenho, comprometidas com os resultados
organizacionais, trabalhando para assegurar a coesão interna, criar um clima de
confiança e integração entre os membros, gerar maior produtividade e/ou redução de
custos para a organização. Para isso, Ulrich (2000) define quatro papéis principais:
•
Parceiro estratégico: deverá ajustar as estratégias de RH às estratégias
empresariais, criar projetos e programas que ajudem o corpo gerencial a
executar a função de gerir pessoas, compreendendo como as mesmas criam
valor, entendendo como tirar resultados concretos de suas competências, que
são um conjunto de habilidades, conhecimentos e tecnologias que permitem
à empresa criar produtos e serviços diferenciados para seus clientes, e
definindo como medir os resultados atingidos.
•
Especialista administrativo: deverá melhorar sua eficiência e repensar como o
seu trabalho pode ser realizado, para garantir maior eficácia para a empresa.
•
Defensor dos funcionários: diante da exigência de realizar mais com menos,
deve verificar se os funcionários estão totalmente disponíveis para a
empresa, tendo a incumbência de comprometê-los, fazer com que “se sintam
obrigados com a empresa e colaborem em tudo” (ULRICH, 2000, p. 43). Deve
ensinar aos gerentes como “operar sobre o moral dos funcionários” (ULRICH,
2000, p. 44). Pretende ser o porta-voz dos funcionários, prover os recursos a
eles.
•
Agente de mudança: deverá promover as mudanças no interior da
organização, de forma que estas sejam aceitas e que se obtenham ganhos,
ou seja: deverá instaurar a cultura da urgência e ainda gerar entusiasmo nas
pessoas. “O papel do RH é substituir a resistência por resolução,
planejamento por resultado e medo da mudança por entusiasmo ante as
possibilidades” (ULRICH, 2000, p.45).
O desejo do profissional de RH nas ultimas décadas é ter um papel
multifuncional, atuar no operacional e no estratégico, pensar em termos globais e agir
em termos locais. A perspectiva de atuação do PRH deixa de ser somente interna para
percorrer a cadeia de valor (ULRICH, 2001), ou seja, o foco do PRH deve estar também
nos clientes e fornecedores.
71
Atuar na cadeia de valor significa que as práticas internas de uma empresa
devem ser aplicadas a fornecedores e consumidores externos. O treinamento
numa perspectiva de cadeia de valor une fornecedores, funcionários e
consumidores em equipes. (ULRICH, 2001, p.20).
O PRH assume-se como um agente de lucro, na medida em que, através das
pessoas, participa do crescimento da receita. É tarefa do RH treinar as pessoas para
criar necessidades nos clientes, incentivar o desenvolvimento de novos produtos e/ou
serviços. As práticas de RH devem criar capacidades necessárias para isso e, nesse
sentido, o RH tem que se re-inventar, buscar novas formas de atuar na empresa, no
sentido de fazê-la crescer. A palavra de ordem é resultado. Então, que valor o RH pode
adicionar à empresa?: “adicionar valor, não de redigir declarações de valor... é hora de
desempenho, e não de pregação” (ULRICH, 2001, p.34)
Neste modelo de atuação de RH, há o pressuposto da introdução de algumas
práticas em que o sujeito, aparentemente, poderia atuar com mais autonomia, podendo
exercer sua criatividade, e ter o trabalho auto-gerenciado. Gil (2001) lista alguns
exemplos de experiências em empresas brasileiras em que houve ruptura com os
modelos tradicionais de RH:
Administração de recursos humanos entregue a funcionários: as decisões mais
importantes são tomadas por um colegiado; grupo autônomo de operários que
trabalham sem chefe e respondem pela quantidade e qualidade de produtos;
avaliação de desempenho invertida, na qual os empregados apontam os
defeitos de seus superiores; planos e metas traçados pela direção da empresa,
ficando os subordinados a prestar contas apenas dos resultados. (GIL, 2001,
p.58)
Os pontos acima mostram o que seria, na prática, a atuação dos RHs enquanto
defensores dos empregados no modelo de administração estratégica de recursos
humanos. Esse é o modelo pregado por alguns consultores e diretores de RH, que, na
verdade, não leva em conta o sistema de poder nas organizações, cuja gestão
estratégica é uma sofisticação do modelo autoritário de gestão. Com efeito, “observa-se
um grande descompasso entre o discurso e a prática (GIL, 2001, p.58).
No Brasil a implementação da prática deu-se com anos de atraso, em função,
principalmente, das condições macroeconômicas vigentes, que não evidenciavam a
necessidade das mudanças preconizadas (LACOMBE; TONELLI, 2001). A esse
respeito, vejamos as observações a seguir.
72
Pesquisas realizadas por Albuquerque, citada por Lacombe e Tonelli (2001)
mostram como esse modo de se pensar recursos humanos era ainda incipiente no final
da década de 1980 e, como na década de 1990, a maioria das empresas ainda não
adotava muitas das práticas recomendadas por autores estrangeiros e nacionais. Nos
primeiros anos da década de 1990, conforme observa Fischer (2001), as estratégias
adotadas pelas empresas para enfrentar os novos cenários eram tipicamente reativodefensivas, concentradas no enxugamento e redução de custos. Em pesquisa realizada
junto a 98 dirigentes de empresas, Venosa e Abbud, citados por Lacombe e Tonelli
(2001), por sua vez, mostram que as funções identificadas como mais importantes
dentro da área de recursos humanos eram recrutamento e seleção, benefícios,
treinamento e de departamento pessoal, as rotinas burocráticas.
Dos resultados das duas pesquisas, pode-se depreender que, apesar do
reconhecimento da necessidade de se tratar a Administração de Recursos Humanos de
forma estratégica, na prática a participação da área restringia-se à administração dos
processos operacionais.
Outra pesquisa realizada por Lacombe e Tonelli (2001) em 1999 teve por
objetivo verificar junto a cem empresas da Grande São Paulo como a área de recursos
humanos estava conduzindo suas práticas. Os resultados mostraram uma evolução na
prática da ARH, comparado às pesquisas anteriores do final da década de 80. A
abordagem estratégica não está totalmente implementada, mas a maioria das
empresas já adotou um ou outro conceito, em uma tentativa de mudar a administração
de pessoas. A tendência à manutenção e maior treinamento dos empregados
contrapõe-se à ênfase em redução de custos apontada nos primeiros anos da década
passada.
Sennett (1999) demonstra como o taylorismo só mudou de roupagem, e que, já
beirando o século XXI, sua essência continua a mesma. Na propalada autonomia dos
trabalhadores, há uma “concentração sem centralização” – uma rede de relações
desiguais que permite a concentração do poder sem centralização do poder. Dá-se,
segundo este autor, a impressão de se haver descentralização do poder, permitindo a
classes inferiores maior controle sobre seu trabalho, quando, na verdade, há ainda um
alto controle, sobrando pouco espaço para efetiva participação. Exemplos como a Nike
73
e os computadores em que somente as caixas trazem uma marca e os componentes
são globais mostram que há um esvaziamento do trabalho, com perda total de seu
sentido – a marca é símbolo vazio, mas traz rendimentos monetários. Nesse contexto, o
poder hierárquico permanece firme, o poder continua centralizado. São distribuídas
metas que cada unidade pode cumprir da maneira que quiser, mas é obrigatório atingir
o resultado esperado, em uma pressão que beira a irrealidade.
Da mesma forma, no que tange o trabalho em equipe, Sennett (1999) aponta o
equivoco. Esse tipo de trabalho transformou-se em um teatro, em que as aparências e
comportamentos são manipulados e o conflito é sistematicamente adiado. Na realidade,
o trabalho em equipe veio substituir a vigilância do administrador pela pressão dos
colegas, tornando-se excelente estratégia para aumentar a produtividade. As
responsabilidades são partilhadas e não há uma figura que simbolize a autoridade, mas
a dominação continua permeando as relações entre os indivíduos no trabalho.
Outro ponto a ser destacado é a relação de parceria entre o RH e a empresa,
que o deixa mais próximo da alta administração, participando de decisões importantes e
podendo intervir em questões que anteriormente não faziam parte do escopo de suas
atividades como, por exemplo, definir estratégias de atuação nos campos de
remuneração, contratação, desenvolvimento, estabelecer prioridades, treinar gerentes
para serem gestores de pessoas, incentivar e implementar mudanças que levem em
consideração as necessidades e demandas dos funcionários, dentre outras, conforme
comenta Ulrich: “as principais atividades para a administração da contribuição dos
funcionários são ouvir, responder, e encontrar maneiras de dotá-los de recursos que
atendam suas demandas variáveis” (ULRICH, 2001, p.47).
Na prática, contudo, vemos que os PRH, como parceiros estratégicos de
gerentes e diretoria, são vistos como aliados do poder, o que dificulta sua credibilidade
junto aos funcionários. O RH passa a ser o porta-voz daquilo que a empresa quer, deve
estar afinado com as políticas da empresa. Nessa posição, torna-se “mais real que o
rei”, adotando políticas de pressão, de coerção, de metas impossíveis, utilizando o
assédio moral ou outras táticas de pressão. Esse é o paradoxo do modelo que exige
uma dose alta de confiança de ambos os lados:
74
O sucesso em ser parceiro tanto dos funcionários quanto da diretoria requer
que ambos os lados confiem no PRH para alcançar o equilíbrio entre as
necessidades desses acionistas potencialmente concorrentes. (ULRICH, 2001,
p.66)
Mesmo que o PRH busque solucionar o desafio demanda/recurso, sempre o fará
visando atingir os objetivos da empresa:
A contribuição do funcionário se torna uma questão empresarial crítica porque,
ao tentar produzir mais com menos funcionários, as empresas não tem outra
escolha senão tentar envolver não só o corpo, mas a mente e a alma de cada
um deles. (ULRICH, 2001, p.158)
Esse é o discurso enganoso. Prestes Motta (1998), em seu artigo sobre a função
ideológica nas empresas, afirma que as empresas hipermodernas (PAGÉS, 1987) criam
uma religião própria para disseminação de valores e sentidos e, mais ainda, fazem crer
a seus trabalhadores que os conflitos são de origem sempre psicológica, impedindo
qualquer possibilidade de mudança no âmbito das relações de trabalho. A função da
ideologia é transformar a organização em objeto de amor, garantindo comportamentos
adequados, alinhado aos interesses da empresa. As relações sociais e os conflitos que
ocorrem nas organizações seriam relações econômicas, políticas e ideológicas. Motta
afirma que, através das funções de RH - treinamento e carreiras, por exemplo -, a
empresa vai moldando uma ideologia: “os administradores de nível médio são,
principalmente, treinados no trabalho, o que significa aprender muito mais que um oficio
(...) consiste, em larga escala, na interiorização dos valores dominantes do mundo
empresarial” (MOTTA, 1998, p.46).
Não é difícil perceber que, na prática, o que as organizações apresentam são
atitudes ambivalentes frente aos trabalhadores. Os dirigentes preconizam o espírito de
equipe, querem pessoas criativas, capazes de inventar soluções (sempre visando à
melhoria de desempenho), mas também temem que essas equipes e indivíduos
conquistem uma identidade que lhes permitam desenvolver lutas, transgredir normas e
transformar a organização, mantendo, por isso, grande contingente de trabalhadores
alienados e controlados.
Pondo a coisa em termos mais formais, o poder está presente nas cenas
superficiais de trabalho de equipe, mas a autoridade está ausente. Figura de
75
autoridade é alguém que assume responsabilidade pelo poder que usa. Numa
hierarquia de trabalho do velho estilo, o chefe pode fazer isso abertamente,
declarando: “eu tenho o poder, sei o que é melhor, me obedeçam”. As
modernas técnicas de administração buscam fugir do aspecto “autoritário” de
tais declarações, mas fazendo isso os administradores conseguem escapar
também de ser responsáveis por seus atos. (SENNETT, 1999, p.136).
A área de Recursos Humanos, com a perspectiva de novos papéis, pode vir a
extrapolar suas funções originais e desenvolver habilidades para identificar a dimensão
subjetiva das organizações, em todos os elos da cadeia produtiva. Em algumas
empresas, a alta administração começa a perceber que não há produtividade plena
sem reconhecimento da subjetividade do trabalhador. A subjetividade no âmbito das
organizações nasce com Elton Mayo, trazendo a psicologia para dentro das empresas.
Sua proposta era de uma psicologia adaptativa, que negava os conflitos e visava
neutralizar a resistência operária.Tinha como objetivo maior a busca do equilíbrio e da
harmonia nas empresas. Araújo comenta que:
Mayo faz da psicologia um instrumento do capital. E ao preservar de críticas a
empresa, ele atribui os problemas organizacionais a causas “meta-sociais”, ou
seja, transtornos psicológicos que os trabalhadores, especialmente os
dirigentes sindicais, projetam na organização. (ARAÚJO, s.d.).
Ter um RH estratégico é o que as empresas modernas almejam e têm
conseguido implantar. Mas ele não garante novos programas e práticas quando não
contempla a real participação do trabalhador, a mudança nas relações de trabalho.
Desempenhar o papel estratégico seria a forma de integrar os objetivos de longo prazo
da organização às variáveis do ambiente e às necessidades das pessoas, zelando para
que a filosofia da empresa seja seguida por todos os seus prepostos. Na verdade o que
vemos como RH estratégico é um discurso vazio, ideológico, enraizado nas teorias da
administração estratégica, na qual o capital não prioriza as necessidades das pessoas,
mas da empresa.
Estarão os RHs prontos para desempenhar esses papéis? A resposta será
sempre negativa, pois compatibilizá-los é impossível. Organizações e empresas
hipermodernas têm tratado a questão das pessoas de forma destacada: nunca se
privilegiou tanto o indivíduo quanto hoje, há um culto ao eu, um narcisismo exacerbado.
Enriquez (1997a), no entanto, defende a tese de que o indivíduo moderno está
76
encurralado nas malhas da organização/empresa, cativo de corpo e alma.
A estrutura estratégica pretende, pois, que a empresa seja, artificialmente, uma
comunidade, não apenas uma comunidade de trabalho, mas ainda de vida e de
pensamento. Voltamos aqui ao engodo discursivo das relações harmoniosas
entre trabalho e capital. A temática do grupo, do trabalho em equipe, aí está
sempre presente. (ARAÚJO, s.d.).
3.2 Psicossociologia: uma desconstrução das racionalidades
A Psicossociologia e a sociologia clínica foram escolhidas como aporte teórico
para o presente trabalho, tendo em vista o objetivo dessas disciplinas no âmbito das
organizações, principalmente a partir dos autores franceses - Eugène Enriquez, André
Levy, Jaqueline Barus-Michel, Nicole Aubert - de buscar uma desconstrução das
racionalidades impostas pelo mundo do trabalho nas organizações, que começa com a
administração dita cientifica de Taylor e caminha até os dias de hoje pela administração
estratégica e o trabalho flexível na cultura da urgência.
A análise psicossociológica está mesmo profundamente implicada nos
processos organizacionais; ela contribui para relacionar e para desconstruir
representações reificadas, para novamente questionar o sentido das regras
situando-as na história coletiva, da qual nasceram e favorecendo-lhes trocas e
confrontos. (LEVY, 2001, p. 211)
O objeto de estudo da Psicossociologia é o indivíduo inserido no tecido social,
onde se articulam simultaneamente processos conscientes, racionais, e também
fantasias, desejos que constituem o imaginário e o inconsciente. Assim, compreender
os indivíduos inseridos nas organizações é compreender os vínculos afetivos,
imaginários e inconscientes (ENRIQUEZ, 1997a; 1997b, 2001)
A intervenção psicossociológica trabalha para elucidar relações de poder e
conflitos, levando em conta os aspectos psíquicos, políticos, conscientes e
inconscientes e, em última instância, a busca da constituição do sujeito, sua
subjetividade, a dos grupos e a possibilidade de relações reais de alteridade no
trabalho, enquanto espaço de reconhecimento. Sua matéria prima é a palavra,
diferentemente do que é para a administração estratégica:
77
A palavra, neste contexto [da administração estratégica] é supérflua, é perda de
tempo, e a questão do sujeito não vem ao caso, Para que deveria o sujeito
fazer perguntas, quando ele deve se juntar à sua organização pronta para a
guerra, para a violência da concorrência, para a urgência da performance?
(BARUS-MICHEL, 2001, p.174).
Inserir a clínica nas organizações é possibilitar a invenção de nós mesmos,
instalando nas organizações um setting que possibilite identificar e analisar o material
trazido pelo grupo, buscando significações para além da realidade organizacional,
deixando aparecer o imaginário, criando um lugar de vivência das angústias e
restaurando os vínculos entre as pessoas, permitindo um repensar sobre si mesmo e
sobre as relações possíveis no âmbito da organização.
A psicologia tem por fim permitir aos indivíduos e aos conjuntos concretos que
estão implicados nessas formas de trabalho, de se interrogar sobre o que eles
são, e sobre o que eles fazem, sobre o lugar que lhes é reservado pela
estrutura social no processo de produção e de reprodução, de elucidar os
mecanismos dos quais eles são os objetos e ao mesmo tempo os suportes e os
atores, e de poder raciocinar, viver e falar diferentemente, quer dizer, com seus
sentimentos, suas pulsões, sua palavra própria. (ENRIQUEZ, 1977, tradução
nossa).
3.2.1 Breve histórico do surgimento da Psicossociologia: de Elton Mayo à
sociologia das organizações
Situamos o nascedouro da Psicossociologia nos trabalhos de Elton Mayo, nos
anos entre 1920 e 1930. Mayo foi um dos precursores da escola de relações humanas,
que veio como uma crítica às idéias de Taylor sobre a racionalização do trabalho. Surge
como proposta de humanização das relações de trabalho, decorrentes do modelo
taylorista/fordista, que mantinham rígido controle sobre os trabalhadores, que não
dispunham de nenhuma autonomia ou qualificação e nunca questionavam os conflitos
existentes entre capital e trabalho. O homem de Taylor é uma extensão das máquinas,
formando com estas uma relação bem amalgamada, em que não há espaço para o
pensamento, o afeto ou as trocas que pudessem produzir algo diferente do prescrito. O
homem de Taylor deve ser controlado, não pode ter iniciativa, não pode pensar.
Araújo (s.d.) afirma que Mayo através de sua obra “The Social Problema of an
Industrial Civilization”, de 1945, propõe o que viria a ser uma primeira interpretação
78
psicossociológica da organização do trabalho. O grupo enquanto categoria de estudo
passa a ocupar lugar de destaque nos estudos organizacionais. As pesquisas da escola
de relações humanas deixaram claro que um dos aspectos que interferem na
produtividade remete a fatores subjetivos, ligados a relações entre as pessoas,
possibilidades de criação de vínculos, e não apenas fatores ambientais ou de ordem
prática. Eram as questões de ordem subjetiva, pela primeira vez introduzidas nas
relações de trabalho, alterando definitivamente o entendimento da racionalidade
organizacional. Mayo percebeu que, mesmo em condições adversas, a produção
aumentava quando os operários se relacionavam. Ele identificou o lado humano nas
empresas, mostrando a importância das relações e das trocas afetivas entre os
operários e percebendo o valor do grupo para a qualidade das relações entre os
operários, sendo ele responsável por sua alta performance.
Como proposta humanista, destacou a importância das relações e inter-relações,
dos sentimentos e da afetividade entre as pessoas e os grupos, no contexto das
organizações, mas não insurgiu contra o taylorismo. Seu modelo não apresenta uma
proposta para a questão dos conflitos e das diferenças de interesses no seio das
organizações. A escola de relações humanas
(...) não questionou o taylorismo. Algumas frases de Mayo, como “a natureza
essencial do homem é de cooperar e para cooperar é preciso que ele conheça
o objetivo” não se opõem, de fato, às afirmações de Taylor, tais como: “opor-se,
não. Cooperar, sim. A cooperação é pedida sob todas as formas possíveis, a
oposição não é jamais tolerada.” Em outras palavras, entre os discursos de
Taylor e de Mayo, a diferença se situaria unicamente nas modalidades de
tratamento do problema da cooperação. Mayo vislumbrou o aumento da
cooperação, ao levar em conta um sistema de interesse e de investimento
afetivos que Taylor não teria percebido. (ENRIQUEZ, 1977, tradução nossa).
A história da Psicossociologia vai perpassar ainda os valores libertários do
século XIX , além dos trabalhos de dinâmica de grupo. Ela está sempre ligada aos
movimentos democráticos e à busca de práticas que produzam relações e modos de
gestão que possibilitem a participação efetiva de todos os grupos sociais no interior das
organizações (LEVY, 2001). Há ainda influências do grupo Ballint, do marxismo, do
freudo-marxismo, da análise institucional (Lourau, Lapassade), da antropologia (Mauss,
Levis Strauss), da sociologia (Weber, Norbert Elias) etc.
79
3.2.2 Intervenção psicossociológica e Psicossociologia clínica
A Psicossociologia trabalha com a relação entre o individual e o social,
processos sociais e grupais, tendo como referência as contribuições do marxismo e da
psicanálise, estando em permanente reflexão interdisciplinar, buscando elementos da
antropologia, da história, da economia e de outros campos. “Ela só pode existir num
entre-dois, num interdito, numa relação conflituosa entre duas lógicas causais
irredutíveis uma a outra. Há algo de irreconciliável entre ‘psíquico’ e ‘social’”
(GAULEJAC, 2001, p. 46). É uma disciplina que transita em vários campos teóricos
articulados entre si, firmando-se num lugar de encruzilhada teórica e metodológica
(ARAÚJO, 2004). Trabalha fazendo surgir significações e discursos que estão latentes,
intervindo nos processos de produção de sentido. Faz um processo de desconstrução,
que “representa o momento forte que permite que se volte ao essencial, a tudo aquilo
que o ‘construído’ finge ignorar” (LEVY, 2001, p.213).
A visão da Psicossociologia busca significações, questiona práticas sociais e
suas interrelações, explicita o mal-estar inerente a toda sociedade e organização, tendo
em vista os conflitos subjacentes. Com a psicanálise, um de seus eixos teóricos,
permite uma leitura dos fenômenos grupais também como manifestações das pulsões
de vida e de morte. Sua concepção enquanto clinica é a que particularmente nos
interessa, na medida em que promove “...uma recuperação do sentindo para os atores
e, a partir daí, da melhor maneira para estes em relação à instituição e ao que dela
detêm, uma mobilidade maior e um domínio dos fins institucionais” (BARUS-MICHEL,
2004, p.191). Enriquez (1997a), ao apresentar o estudo das organizações à luz da
psicanálise, está fazendo crescer a Psicossociologia enquanto clínica. Nesse sentido o
papel do consultor não deve ser somente o de organizar ou ajudar na organização, mas
analisar os processos e as significações, identificar novas perspectivas, que permitirão:
(...) fazer funcionar os fatores não mais disfarçados ou latentes, mas sim os
fatores inconscientes na vida social. Inconsciente (nunca é demais repetir) não
significa desconhecido ou não exprimível, mas designa os fenômenos que,
mesmo marcados, atuam com uma força e uma intensidade indomáveis e cujos
efeitos sobre as condutas persistem, ainda que as causas tenham
desaparecido, e que sobretudo obedecem a uma lógica própria: nela reinam os
processos primários, as pulsões sexuais, o principio do prazer e não os
80
processos secundários, as pulsões do eu, e o principio da realidade.
(ENRIQUEZ, 1997a, p.26).
É a teoria freudiana contribuindo para o estudo das organizações, trazendo o
aporte teórico que enseja Enriquez (1997a) a postular as organizações como sistemas
culturais, simbólicos e imaginários, possibilitando o estudo dos conflitos grupais e
explicitação dos conflitos de poder.
Como sistema cultural entende-se um conjunto de representações, valores e
maneiras de se posicionar no mundo que caracterizam determinada organização,
identificando-a como algo a que todos os membros se identificam. Há um modo de ser
e existir que possibilita a todos os atores saberem que papéis lhes cabem. A cultura
fornece identidade aos membros de determinada organização e é a responsável por
imprimir a marca da empresa ou da organização no aparelho psíquico das pessoas.
Leva os empregados a se sentirem partícipes e, com isso, subservientes para servir à
empresa através de seus representantes.
Como sistema simbólico, as organizações criam mitos, ritos, sagas, heróis (reais
ou imaginários) que vão sendo inculcados na memória dos componentes da
empresa/organização. Essas figuras têm a finalidade de “sedimentar a ação dos
membros da organização, de lhes servir de sistema de legitimação e de dar assim uma
significação preestabelecida às suas práticas e à sua vida” (ENRIQUEZ, 1997a, p.34).
O sistema simbólico garante às organizações controle afetivo de seus membros, para
muitos a organização fornece identidade - “vestem a camisa” de tal modo que é como
se a empresa fosse deles.
Já o sistema imaginário é o que garante que os outros sistemas (cultural e
simbólico) aconteçam. Para o autor, há dois tipos de imaginário: o enganador e o motor.
No primeiro, a organização dá a ilusão de garantir a realização dos desejos de seus
membros, passando uma imagem de forte, sólida, capaz de proteger, realizar desejos,
suprir carências de afeto, garantindo uma identidade poderosa.
A organização se exprime assim, de um lado, como uma organização-instituição
divina, toda-poderosa, única referência que nega o tempo a morte, de um lado a
mãe englobadora e devoradora e ao mesmo tempo a mãe benevolente e nutriz,
de outro lado, genitor castrador e simultaneamente pai simbólico. (ENRIQUEZ,
1997a, p.35)
81
O imaginário motor é o que possibilita, de fato, o ato criador das pessoas, se ou
quando a empresa permite que a imaginação criativa tenha espaço no trabalho e este
não seja regido por normas rígidas e controladoras. Enriquez (1997a) divide o
imaginário motor em três categorias diferentes, que permitem às pessoas idealizar e
poder realizar o sonho da mudança e da transformação. São eles: a) mentor da
diferença: objetiva sair da repetição constante pela invenção de novas imagens para
remodelar a realidade; b) mentor de inovações: apresenta o imaginário como incubador
das inovações, “raiz das utopias”; c) criador de ruptura: traz novos paradigmas, novas
formas de ver, falar, executar o cotidiano do trabalho e das relações sociais.
O exercício do imaginário motor possibilita experiências inéditas, que permitem a
revitalização das relações com as pessoas e com o trabalho, sua constante
reavaliação, de modo a impedir a cristalização de ações e pensamentos, favorecendo
que mudanças sempre sejam introduzidas.
Possibilitar a realização do imaginário motor nas organizações é permitir o livre
expressar, a possibilidade de tudo questionar, de transgredir, de nada fazer, de buscar
o lúdico como método de reflexão, enfim, de criar um espaço para o prazer, o humor e,
muitas vezes, o ócio. A respeito das considerações de Enriquez (1997a), cabe
perguntar se, na cultura da urgência em que estamos vivendo, haverá lugar para o
imaginário motor. Permitirão as empresas abrir espaço para o prazer, o lúdico, o tempo
gasto uns com os outros, sem que necessariamente isso lhes gere mais lucro? As
empresas estão constantemente buscando reinventar-se, buscando novas roupagens
para o mesmo paradigma de controle total de seus recursos, principalmente o
“humano”, que cada vez mais se enreda na teia da “grande empresa”, “mãe
devoradora”.
3.2.2.1 A vida psíquica nas organizações
As novas formas de gestão introduzem práticas de descentralização, maior
participação, possibilidade de criação e flexibilidade para os funcionários. No entanto,
essa participação é falaciosa. Não há espaço para participação real e ainda menos para
todos os níveis de empregados. Na verdade, criam-se mecanismos que definem e
transmitem o que é necessário para a aderência total do empregado ao imaginário
82
organizacional.
A diferença essencial é que hoje em dia todas as organizações (e não somente
as empresas) tratam, consciente e voluntariamente, de construir tais sistemas a
fim de modelar os pensamentos, induzir os comportamentos indispensáveis à
sua dinâmica. Se elas são levadas a proceder assim, isto é porque buscam
converter-se em verdadeiras microsociedades que sejam ao mesmo tempo
comunidades: em uma palavra, elas visam a substituir a identificação com a
nação e com o Estado pela identificação com a organização que se torna assim
o único sagrado transcendente ao qual é possível se referir e se crer.
(ENRIQUEZ, 1997a, p.37).
Enriquez (2002) mostra como as organizações, de Taylor à atualidade, com a
concepção estratégica, têm levado em consideração a vida psíquica dos empregados,
criando um imaginário social que os tornam cativos da organização. O autor apresenta
quatro etapas, que vão da visão taylorista à atual concepção estratégica.
Na perspectiva taylorista, o importante é a adaptação do homem à máquina,
formando uma engrenagem, que leve a empresa a funcionar ininterruptamente. O
homem de Taylor era egoísta, movido a dinheiro, preguiçoso e passível de questionar a
ordem vigente. Dessa forma, os procedimentos de controle visam domar seus
processos
psíquicos,
“que
poderiam
ser
investidos
em
ações
solidárias
(revolucionárias) e a chegar mesmo à criação de executores sem alma (na época Ford
dizia: eu não pago aos meus trabalhadores para pensar).” (ENRIQUEZ, 2002, p.12).
Na ótica cooperativista, aplicada no século XIX e tendo por representantes SaintSimon e seus seguidores, as organizações eram constituídas como cooperativas em
situação de igualdade, com decisões tomadas coletivamente. As relações de poder não
tinham razão de existir. O pressuposto era o de que não existiam conflitos
permanentes. “O imaginário subjacente é aquele da comunhão, se não da fusão, em
todos os casos, da obsessão da plenitude” (ENRIQUEZ, 2002, p.15). Nesta concepção,
somente a pulsão de vida impera.
Já na visão tecnocrática, há o predomínio da pulsão de morte, havendo forte
separação entre o alto escalão, que se identifica com os ideais de sucesso econômico
da organização, e os subordinados, a quem é oferecida a chance de participar de
decisões menos importantes para se sentirem integrados. Nessa configuração, impera
a racionalidade ilimitada, o poder nas mãos dos experts, que possuem um perfil
definido por Mac Dougall, citado por ENRIQUEZ (2002) como “tipo normal”: como
83
aquele que cria para si uma couraça que o protege de seus conflitos neuróticos e
psicóticos, respeita todas as regras da sociedade em que vive e nunca transgride. Não
busca nada que não lhe seja dado. Essa normalidade, segundo a autora, é uma
carência que passa pela vida fantasmática e distancia o sujeito de si mesmo. O
tecnocrata, esse homem normal, é o protótipo da racionalidade instrumental. Enxerga
seu semelhante “como simples ferramenta performática, tão somente como
instrumentos, como objetos manipuláveis a seu bel prazer” (ENRIQUEZ, 2002, p.16).
Enriquez (2002) afirma ainda que ele é colocado pela organização numa posição
perversa, já que a organização é perversa. Ele usa de manipulação e sedução para
atingir seus objetivos, sugando o potencial de cada membro da empresa. “Estão presos
na armadilha de seus desejos de reconhecimento. O imaginário nesta visão é aquele do
domínio do mundo e dos seres mais fracos, graças ao triunfo da intelectualidade pura e
simples”. (ENRIQUEZ, 2002, p.17). Mas o tecnocrata é uma vitima em potencial de seu
veneno, na medida em que, tanto quanto seus subordinados, precisa se sentir
reconhecido e ter seu valor destacado, e também ele poderá ser dispensado e
rejeitado.
A última concepção de tipo de gestão pelo afeto tratada por Enriquez (2002), é a
atual, estratégica. Nesta, o imaginário do profissional é centrado no culto à excelência e
na performance. Na organização estratégica, todos devem buscar a excelência,
distintamente da tecnocracia, na qual uma elite detinha o saber maior. Hoje, a busca é
pela perda dos medos inerentes aos seres de falta que somos, enquanto humanos. A
organização coloca-se como capaz de suprimir toda a angústia, fazer morrer a dúvida,
gerar seres idealizados para “favorecer a emergência de condutas performáticas”
(ENRIQUEZ, 2002, p.19). Constrói-se o imaginário enganoso, já descrito anteriormente,
e a doença de idealização, que é a devoção total à empresa ou organização. Neste
estado
de
amor
cego,
todos
os
ditames
são
seguidos
e
introjetados
e,
conseqüentemente, há a perda da identidade, da autonomia. Outra característica que
se encontra na organização estratégica é o que Enriquez (2002) chama de
psicologização dos problemas: o indivíduo está no centro, e todo sucesso e fracasso
recaem sobre ele. A organização passa a não se responsabilizar por nenhuma
inconsistência ou inconformidade. Está instituído o sentimento de culpa, caso não se
84
consiga cumprir as tarefas propostas pela empresa, e o sentimento de vergonha vem a
reboque. O fracasso da empresa é o fracasso dos indivíduos, fusionados a ela.
Instaura-se a busca desenfreada por ganhos cada vez maiores, performances a serem
superadas, e há vergonha do fracasso, da inabilidade, da decadência. Nesse estágio, a
doença da idealização está completamente instalada. “A organização instala a certeza,
que favorece o domínio das coisas e de si mesmo, bem como sua adaptação ás
circunstancias. Ao fazer isso, ela tende a infantilizá-lo, por mais que afirme o contrário”
(ENRIQUEZ, 2002, p.21). A boa noticia é que a gestão na organização do tipo
estratégico, pode propiciar o surgimento de pessoas com parcela de originalidade e
autonomia, pois são justamente essas pessoas que terão condições de promover o real
sucesso das organizações, embora as mesmas trabalhem para imprimir a sua marca no
aparelho psíquico de seus empregados, fazendo-os crer que são reconhecidos e
admirados pelos seus superiores (ENRIQUEZ, 1997).
3.2.2.1.1. Entre o psíquico e o somático, a pulsão
Os conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte postulados por Freud também
são determinantes para a compreensão das organizações. Embora as pulsões
trabalhem silenciosamente, podemos identificar seus efeitos.
O conceito de pulsão é definido como um conceito-limite entre o psiquismo e o
somático, e tem como objetivo suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional.
São princípios gerais que regem o funcionamento não só da vida psíquica, mas de toda
a vida orgânica. A teoria das pulsões em Freud sempre foi dualista, tendo a pulsão sido
dividida primeiramente em pulsões sexuais e pulsões do ego (conservação),
modificadas depois para pulsão de vida (formada pela pulsão sexual e pulsão de autoconservação) e pulsão de morte:
Depois de muito hesitar e vacilar, decidimos presumir a existência de apenas
duas pulsões básicas, Eros e Pulsão destrutiva. O objetivo da primeira da
primeira dessas pulsões básicas é estabelecer unidades cada vez maiores
assim preservá-las, em resumo – unir; o objetivo da segunda pelo contrario, é
desfazer conexões e, assim, destruir coisas. (FREUD, 1938/1980, p.173).
A tese defendida por Freud é a de que pulsão de vida e pulsão de morte estão
85
amalgamadas e em conflito. “Se portanto, não quisermos abandonar a hipótese das
pulsões de morte, temos de supor que estão associados, desde o inicio, com as
pulsões de vida” (FREUD,1938/1980, p.78). Não há como separar os termos que
formam o par que rege a vida psíquica dos indivíduos, embora Freud afirme a oposição
de seus modos de funcionamento: “Essa ação concorrente e mutuamente oposta das
duas pulsões fundamentais dá origem a toda variedade dos fenômenos da vida”
(FREUD, 1938/1980, p.174).
Nas organizações, a pulsão de vida é perceptível pela busca de eficiência,
dinamismo, mudança e criatividade. Ela ativa o funcionamento do processo de ligação,
favorecendo a coesão e harmonia entre os membros. É o que permite as relações de
amor e amizade, e é representada por Eros. “O Eros, no que diz respeito ao domínio
humano, está na origem do reconhecimento do outro enquanto outro, quer dizer, na
condição de sujeito que visa a autonomia e tem desejos próprios” (ENRIQUEZ, 1997a,
p.125)
Já a pulsão de morte é percebida pela compulsão à repetição e a tendência à
redução das tensões ao estado zero – o que seria a “harmonia” total. Manifesta-se nas
organizações como uma força que tende à homogeneização do trabalho, à recusa da
criatividade, e a própria burocratização. Seus derivados seriam a auto e a heterodestrutividade, a agressividade, o marasmo, a limitação de vida. Enriquez (1997a)
afirma que é a mais facilmente identificada nas organizações. Estas buscam impor seu
funcionamento a partir da pulsão de vida, do dinamismo, da eficácia, da harmonia, das
mudanças constantes. Porém, dada a necessidade de controle e de massificação das
pessoas frente a um único ideal, o que acaba por predominar é a pulsão de morte. O
autor afirma também que a pulsão de morte pode conter aspectos positivos:
É pela familiaridade com a morte que o indivíduo pode conformar-se à ordem
do ser vivo: criador sem ser paranóico, transgressor sem se tornar perverso,
apaixonado sem ter condutas histéricas, animado por uma idéia fixa sem cair na
neurose obsessiva... A luta pelo reconhecimento arranca assim cada um de sua
cotidianidade e do compromisso (...) o trabalho de morte é também
possibilidade de provocar rupturas, aceitar se confrontar com a perda (...) o
confronto com o malogro mais radical, com a depressão mais inquietante (...) é
muito freqüentemente, o trampolim para uma renovação e uma alegria de viver.
(ENRIQUEZ, 1997a, p.131).
O predomínio das pulsões de vida ou de morte determinará a cultura
86
organizacional, pois há imbricada correlação entre o contexto organizacional e os
processos inconscientes.
3.2.2.2 O imaginário e a cultura organizacional como instrumento de poder
Para Freitas, a cultura organizacional1 é, em primeiro lugar, instrumento de
poder: “através da cultura organizacional se define e transmite o que é importante, qual
a maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes internos e externos,
quais são condutas e comportamentos aceitáveis, o que é realização pessoal, etc.”
(FREITAS, 2002, p.97).
A organização passa a ser o ideal do eu, fazendo com que as pessoas aceitem
restrições, carga de trabalho aumentada e trabalho estressante para garantir a
satisfação de pertencimento e reconhecimento: “eles são cúmplices, presos na
armadilha que lhes prepararam seus próprios desejos, medos e fantasmas” (FREITAS,
2002, p.100). A empresa quer ocupar todo o espaço psíquico dos membros, e passa a
ser fonte rica de identidade para o indivíduo. É virtuosa e merece todos os esforços. O
indivíduo troca sua identidade por um crachá. Perde-se, assim, a possibilidade de
resistência ou processo critico. A ideologia transmitida passa a ser o próprio real.
Barros e Cruz (2008) fazem uma análise do conteúdo de reportagens, legendas
de fotos, manchetes e subtítulos (textos) do anuário da edição especial da Revisa
Exame (2007) com a manchete principal “150 melhores empresas para se trabalhar”. A
amostra contempla as dez primeiras empresas do ranking. Através dessa análise,
verifica-se que a imagem das empresas é sempre positiva e os funcionários mostramse “felizes e realizados no trabalho”. O discurso é, portanto, totalizante: o indivíduo é
amalgamado no instituído da empresa. Não existem conflitos e contradições, o que
sabemos, com a teoria das pulsões, não ser possível. Os autores afirmam:
O imaginário organizacional instituído pelo conteúdo veiculado na revista é o
1
O conceito, para a autora, compreende os três sistemas definidos por Enriquez: cultural, simbólico e
imaginário.
87
das empresas como local atrativo, em que uma grande família compartilha um
sentimento fraternal e relações de confiança, e age em prol do sucesso de
todos. (BARROS; CRUZ, 2008, p. 8).
Quando a empresa nega a realidade de ser falível, conflituosa, de poder vir até a
desaparecer, está recusando a castração, sem suportar a idéia de não ser objeto de
admiração dos públicos internos e externos (ENRIQUEZ, 1997a).
A imagem da empresa como família, onde todos devem ter o mesmo ideal, lutar
em defesa do bem comum para que todos tenham sucesso está crescendo dia a dia.
As organizações estão deliberadamente buscando cúmplices, e convencem as pessoas
de que é uma escolha delas participar ou não da “grande família”. Através do imaginário
enganoso, empresas e organizações fazem as pessoas acreditarem que são livres para
escolher. A empresa é apresentada como objeto amoroso, digno de ser reverenciado.
A cultura organizacional internacional da empresa multinacional, tem um apelo
maior ainda. É fácil ser seduzido, “ser um de nós” é um apelo a que poucos resistem.
Firma-se assim um contrato psicológico: o indivíduo está agora inserido na cultura da
empresa, pronto para produzir, para obedecer aos chefes, para ser dominado ou
dominar, caso tenha subordinados. Neste contexto,
Perde-se a noção de sujeito sociológico, em que a identidade seria entendida
como a “ponte” que interliga o sujeito e a estrutura, na medida em que ele
buscará em lugares sociais objetivos os significados que alinharão seus
sentimentos subjetivos. (BARROS; CRUZ, 2008, p. 9).
A empresa enquanto grupo engendra um imaginário que é a “capacidade de o
indivíduo, o grupo, ou a sociedade se ver, se pensar, se querer de forma diferente
daquela em que se encontra” (FREITAS, 2002, p.48), criando nas pessoas que a
formam uma mentalidade comum, um projeto construído a centenas e milhares de
mãos, para dar sentido a suas vidas. O líder da organização propõe um sonho a ser
sonhado por todos, e faz deste o sonho de cada um. Em uma época em que o poderio
econômico assume papel preponderante, a ideologia neoliberal coloca os líderes
empresariais como gurus e referência para pessoas, que farão de suas determinações
o sentido para suas vidas. “As empresas modernas constroem para si e em torno de si,
uma imagem grandiosa, que se enraíza num imaginário próprio, repassado não só aos
membros, mas a sociedade com um todo” (FREITAS, 2002, p.55).
88
Para descrever esse imaginário encobridor das verdadeiras disfunções que
ocorrem nas empresas modernas, Freitas (2002) apresenta cinco tipos característicos
de empresas atuais, a saber: a empresa cidadã, a empresa excelente, a empresa
eternamente jovem, a empresa ética e guardiã da moral e a empresa comunidade.
Esse último modelo, particularmente, muito nos ajudará no presente estudo de caso.
A empresa comunidade, vista como uma família, talvez seja a que mais induza o
indivíduo a uma aderência total com a organização. O local de trabalho é também
entendido como o local do lúdico, do hobby, da convivência harmoniosa. Misturados de
forma tal, os vários escalões da hierarquia convivem visando a evitação das diferenças
e conflitos: “a imagem da empresa passa a ser a do lugar onde o trabalho, a
convivência, os laços fraternos se juntam de forma entusiasmada e prazerosa”
(FREITAS, 2002, p.63). Nessas circunstâncias, não há lugar para o diferente ou para os
indiferentes. Esse tipo de empresa busca sempre a harmonia, o consenso. A falta de
discussões e de diferentes pontos de vista pode levar ao empobrecimento, a falta de
criatividade, que em última instância irá prejudicar não somente os indivíduos, mas a
própria empresa. Há o perigo da falta de oxigenação, do novo. “Consenso demais é
sinal de repetição, homogeneidade, reprodução, calmaria, portanto do signo da pulsão”
(FREITAS, 2002, p.64).
3.2.3. Gestão de pessoas na era da urgência, em tempos flexíveis
A área de RH tem levantado a bandeira da importância das pessoas, do capital
humano como diferencial competitivo, como foi visto no início deste capítulo. Sendo as
pessoas o foco, precisam ser encantadas e precisam de “defensores” para suas
demandas.
O discurso da área de recursos humanos proclama o funcionário como a mais
valiosa matéria-prima que o capital humano de qualidade é o grande diferencial
e que precisa de cuidados e mimos, bem como propõe um mundo do trabalho
festeiro e idílico com funcionários felizes, exercendo todo o seu potencial
criativo. (FREITAS, 2006, p.3).
Nicole Aubert tem trabalhado desde a década de 80, em questões fundamentais
89
na relação do homem com o trabalho, como o estresse profissional (1989), o custo
psíquico frente às exigência de alta performance e da excelência (1990) e, mais
recentemente (2003), a discussão a respeito da “ditadura do tempo real”, em que o
imediatismo e a instantaneidade configuram novas formas de relacionamento no
trabalho e na própria organização do trabalho:.
A base dessa nova relação com o tempo é a aliança entre a lógica do lucro
imediato, dos mercados financeiros que reinam como donos da economia, a
instantaneidade dos novos meios de comunicação. Isso gerou o indivíduo “em
tempo real” que deve funcionar no ritmo da economia e querendo ser
aparentemente dono do tempo. Mas essa aparência é enganadora, pois
esconde um indivíduo prisioneiro do tempo real e da lógica do mercado,
incapaz de diferençar o que é urgente do que é importante, o acessório do
essencial. Economia de “fluxo tenso” gerando indivíduo de fluxo tenso.
(AUBERT, 2003, p. 24, tradução nossa)
Vive-se hoje uma nova relação com o tempo, segundo Freitas (2006):
O tempo é um organizador da vida, mas o novo tempo das empresas
desconsidera a noção de hora, dia e semana. Não existe fim de expediente, fim
de semana ou vida privada. Fortalecido pela tecnologia mais moderna,
principalmente em relação aos poderosos telefones celulares e computadores,
o mundo do trabalho invade a vida familiar e amorosa do indivíduo e lembra-o
de que ele deve estar sempre a postos. Noites insones, olheiras, úlceras e
infartos são sinais de status, exibidos por esses funcionários insubstituíveis e
imprescindíveis. (FREITAS, 2006, p.3).
Ao relacionar a questão do tempo com os processos de subjetivação e as
práticas de RH, verifica-se como as estratégias de gestão de pessoas estão
promovendo um retrocesso no que diz respeito às relações de trabalho: sob o
imperativo da cultura da urgência (AUBERT, 2003), trabalhadores estão cada vez mais
comprimidos e submetidos, o que afeta profundamente a maneira como ocupam seu
tempo, seja no trabalho, seja na sua vida particular.
A questão da temporalidade tem influenciado sobremaneira as relações de
trabalho e a vida privada do homem, nesses contextos em que a cultura da urgência
impera e amalgama todos os tipos de relação. Sennett (1999) fala do capitalismo
flexível, no qual as características básicas são o trabalho ágil, a abertura à mudança, os
riscos constantes e, como conseqüência, o alto nível de ansiedade. A flexibilização na
gestão, ou o “flexitempo” é uma estratégia a serviço do capital, para moldar as vidas.
90
Nesse contexto, o espaço do trabalho confunde-se com espaço privado, e o escritório
pode estar ao lado da cama.
A partir da forma de lidar com o tempo, é possível realizar uma leitura sociológica
de determinada sociedade. Essa relação vem mudando, à medida que mudam as
relações com o trabalho e com outros. Ela não se configura como de causa e efeito,
mas como dialética. O que muda não é o tempo, mas a relação do homem com o
mesmo. O tempo existe porque existe o homem, é um dado social. Elias (1989) vê o
tempo como síntese humana, instrumento simbólico-social. Do ponto de vista do
indivíduo, apresenta-se como autodisciplina aprendida socialmente e internalizada. A
relação com o tempo ocorre concomitantemente aos processos de subjetivação e não
numa linearidade, mas um e outro se influenciam mutuamente, não se percebendo
onde começa um e termina o outro.
Essa nova forma de subjetivação, na qual impera a rapidez, a urgência, vai
repercutir diretamente na relação que o homem vem desenvolvendo com o trabalho,
sujeitando-se a trabalhar cada vez mais, a buscar empresas que sabidamente lhe
exigirão sacrifícios, a sofrer pressões de demandas cada vez maiores, a buscar novos
desafios. É a organização utilizando em seu proveito as contradições psicossociais,
para forjar novas relações com o trabalho através dos processos de subjetivação de
uma sociedade caracterizada pela instantaneidade e pela fugacidade.
A cultura da urgência não possibilita processos de singularização, o que vemos é
o tempo como regulador de um sistema que é global e não conhece fronteiras. As
novas tecnologias vêm para resolver a questão da comunicação, possibilitando o tempo
real, no qual o mundo conversa no mesmo instante e é possível assistir a guerras pela
TV ou internet, realizar jogos virtuais, etc. Fica difícil saber o que é real ou virtual. Elias
(1989) comenta que a transformação da coação externa da instituição social do tempo
resulta em uma auto-coação, que abarca toda a existência do indivíduo, como exemplo
da maneira como o processo civilizador contribui para modelar uma atitude social que
se torna parte integrante da estrutura da personalidade individual. Sennett (1999) afirma
que essas mudanças na forma dos relacionamentos geram o capitalismo de curto
prazo, que corrói o caráter, dificultando as ligações entre os seres humanos, impedindo
o senso de identidade sustentável.
91
Assim, quanto mais complexa a sociedade, mais necessária se faz a ação do
tempo como mediador das relações entre as diversas facetas da mesma. “O tempo é
uma rede de relações, muitas vezes bastante complexa e que substancialmente,
determinar o tempo é uma atividade integradora, uma síntese" (ELIAS, 1989, p. 67).
A forma como a temporalidade é abordada no contexto histórico-estrutural
fornece elementos para análise e compreensão das relações psicossociais e, dentro
dessas, das relações de trabalho. Toda representação do tempo depende da ordem
social que ela estrutura. Sua medida faz referência a um contexto sócio-cultural
específico, é fruto de um consenso coletivo e está diretamente atrelada às formas
produtivas que marcam uma dada sociedade.
Por que é interessante pensar o tempo como uma categoria de análise das
relações de trabalho? O crescimento do capitalismo e as constantes transformações
nos processos de trabalho tendem a tirar do homem toda e qualquer forma de trabalho
que não seja alienada, sem significação, e o tempo tem sido seu algoz. A
temporalidade é estruturante para o homem. Perder a dimensão de passado, presente
e futuro é ficar à deriva. O tempo funciona como agente regulador das diversas
atividades que desenvolvemos ao longo de um dia, mês ou ano(s).
A forma como principalmente as empresas e organizações têm usado o tempo
tem deixado as pessoas presas nas malhas dos ciclos produtivos e burocráticos.
Agindo como autômatos, o trabalho deixa de ser criativo para ser produtivo e voltado
para o mercado de consumo. A urgência e o imediatismo impedem a construção de
projetos de trabalho e de relações duradouras, saudáveis. Impele aos relacionamentos
fluidos, leves, superficiais e sem compromisso, como os que acontecem hoje nas
organizações e até mesmo na família e nas relações sociais.
Os atuais estudos da subjetividade procuram no indivíduo as marcas da
sociedade, do tempo, no seu tempo. Ou seja, dizer que o indivíduo é mediado
socialmente não significa que ele seja afetado externamente pela sociedade mas sim
que se constitui por ela.
A subjetividade é constituída socialmente, em relação
recíproca entre o eu e o mundo, e ainda em relação muito próxima com o significado
tempo-espaço. Como afirma Castells (1999, p. 490), é o espaço material que organiza o
tempo, “estruturando a temporalidade em lógicas diferentes e até contraditórias de
92
acordo com a dinâmica socioespacial”. Assim passamos da referência de tempo como
duração para a referência de tempo como velocidade, ou, dizendo de outra maneira,
para a cultura da urgência.
A subjetividade é então produzida pelas forças econômicas e sua relação com o
tempo determina comportamentos de acordo com as várias realidades biopsicossociais. Em outras palavras, a maneira como as pessoas, sob o império do
tempo, percebem o mundo determinará gestos, sentimentos, valores, etc. É a alta
velocidade, a agilidade na tomada decisão que gera lucros. O potencial de realização
do trabalho depende da autonomia de profissionais qualificados e esclarecidos para a
tomada de decisão em tempo real.
Dessa forma, nossa subjetividade é sempre modelada tanto dentro como fora de
nós mesmos e, nesse sentido há o risco de sermos reprodutores de uma subjetividade
pré-anunciada, característica do sistema capitalista de produção. Se pensarmos nas
empresas como uma das fontes de subjetivação, o que verificamos, na prática é que as
organizações têm uma atitude ambivalente diante dos sujeitos-trabalhadores. Os
dirigentes preconizam o espírito de equipe, querem pessoas criativas, mas temem que
elas conquistem uma identidade que lhes permitam desenvolver lutas, transgredir as
normas e queiram transformar a organização, e por isso ainda mantém um grande
contingente de trabalhadores alienados. Diante da fluidez das relações de curto prazo
nenhum trabalho verdadeiramente em equipe pode ser realizado, a lógica subjacente é
a lógica do lucro imediato, dos mercados financeiros.
3.2.3.1 Tempo e as práticas de RH
Algumas questões aqui se colocam: como as práticas de Recursos Humanos
têm lidado com as mudanças na abordagem do tempo? Qual é a posição das áreas de
Recursos Humanos frente à frenética busca por lucros e resultados e o impacto disso
na vida dos trabalhadores?
Aubert (2003) trabalha com os conceitos de urgência, instantaneidade,
imediatismo e velocidade, mostrando as conseqüências dessa nova cultura nas
relações de trabalho e na subjetividade.
93
Os últimos anos do século XX, assim como os primeiros do novo milênio,
parecem marcados pela ascensão irresistível do reino da urgência, em vias de
se estabelecer como modo privilegiado de regulação social e de uma
modalidade de organização da vida coletiva. (AUBERT, 2004, p.34, tradução
nossa).
Com o advento da informatização e das novas formas de gestão (participativa,
trabalho em equipe, gestão por resultado e outras), houve maior flexibilidade do horário
de trabalho, mas, ao contrário do que se poderia esperar, não houve incremento do
tempo livre. Na realidade, a carga laboral sofreu aumento. A exigência subjetiva
(decorrente de uma exigência objetiva) de produzir cada vez mais tem sua motivação
na vivência opressora e constrangedora do tempo.
As organizações têm sido vitrines onde seus funcionários são expostos para
exibir performances e níveis de excelência que mudam a cada dia de patamar, para
fazer frente ao concorrente em uma corrida em que o tempo é o diferencial. Exige-se a
adaptação ao mundo do imediatismo. As pessoas estão sendo impelidas a se tornar
aceleradas para atender às demandas da economia de uma sociedade que gira cada
vez mais apressadamente.
Na descrição de algumas características do perfil do trabalhador moderno,
podemos identificar referências implícitas ou explícitas ao tempo: dinamismo, agilidade,
raciocínio rápido, ritmo e tônus alto (preferência por prazos curtos e pressa em
apresentar resultados). O trabalhador que as empresas buscam deve gostar de
trabalhos árduos e de grande intensidade, de manter-se permanentemente ocupado.
Este perfil vai definindo um tipo, engendrando uma nova subjetividade, novas
configurações de relacionamento, agenciadas pela forma como o homem lida com a
questão do tempo. A maneira de lidar com esse fator no trabalho será a mesma que se
levará para a família, o que explica a criação das famílias self-service, que jamais
sentam à mesa juntos, por falta de tempo e de objetivo compartilhado.
Esse perfil arrojado traz como conseqüência as patologias da urgência –
depressão, doença do pânico, esgotamento e adoecimentos diversos, que vêm contra o
tempo desenfreado. O homem está em luta para dominar o tempo, assenhorar-se dele.
Torna-se incapaz de distinguir entre o que é urgente e o que é importante, e o mundo
do trabalho passa a ser lugar propício ao sofrimento físico e psíquico, tanto nos
escalões inferiores quanto superiores. Pesquisa realizada por Tanure, Carvalho e
94
Santos (2007) com uma amostra constituída por 965 executivos de 344 das maiores
empresas no Brasil, buscando identificar as possíveis correlações entre o padrão de
comportamento e o nível de estresse ocupacional percebido pelos altos executivos,
demonstra que também os altos executivos são vítimas da velocidade que imprimem
em suas organizações:
Nossa pesquisa indica que o comportamento da maioria dos altos executivos
das grandes empresas no Brasil é marcado pela pressa, agressividade e
competitividade, características marcantes do Tipo A. A pesquisa mostrou
claramente, como já dito, que estes executivos se consideram mais estressados
tanto na vida profissional quanto na vida privada que seus colegas do Tipo B.
Além disso, se consideram mais infelizes na vida privada e mesmo no geral,
quando se junta espaço privado e espaço do trabalho. (TANURE; CARVALHO;
SANTOS, 2007, p.15).
Os pesquisadores concluem que o retrato das grandes empresas brasileiras traz
a imagem do executivo que gosta de viver em constante adrenalina, com exigências de
desempenho cada vez maiores, que, mesmo gostando do que faz, não é feliz em vários
aspectos da vida pessoal e profissional, uma vez que não consegue atingir um
equilíbrio entre ambas as atividades. Os sentimentos de prestígio, de autonomia,
independência e respeitabilidade, além do desejo de ganhos sempre maiores, fazem-no
aumentar cada vez mais a carga de trabalho para si e para os outros.
O RH tem sido a área responsável por disseminar essa cultura, através de seus
múltiplos papéis – operacional e estratégico, com foco nos processos e nas pessoas.
Essa mudança visa a garantir que pessoas sejam tratadas como capital intelectual,
parceiras da organização, mas podemos pensar em “novos tempos modernos”, já
denunciados por Charles Chaplin: se estudamos o tempo do ponto de vista das práticas
de RH, identificamos retrocessos no que tange à qualidade de vida dos trabalhadores.
Isso vem gerando as patologias da urgência, que de acordo com Aubert (2003), estão
assolando as empresas desde a última década do séc.XX.
As novas formas de regulação do trabalho através de “contratos temporários”,
“horário flexível”, “trabalho part-time”, “redução de jornada”, “teletrabalho” e outras são
práticas que visam agregar valor somente à empresa, pois o trabalhador fica à deriva
na medida em que perde a capacidade de mobilização coletiva, tornando-se solitário. O
tempo pode então ser visto como categoria de análise que produz uma redefinição de
95
trabalho no novo contexto da contemporaneidade.
O mercado global e o uso de tecnologias no processamento de dados e na
comunicação (redes, correio eletrônico, internet, intranet, videoconferência, etc.) têm
contribuído para eliminar distâncias, mas também busca implicação maior: re-organizar
o tempo de trabalho, no ritmo do mercado, da alta velocidade, do tempo real.
No mundo contemporâneo, não há longo prazo. A carreira tradicional, a
perspectiva do passo-a-passo está acabando. Como afirma Sennett (1999), os
empregos foram trocados por projetos e campos de trabalho. Depois da conquista do
espaço, é a conquista do tempo que interessa.
Verifica-se um atravessamento da racionalidade instrumental, na qual homens e
mulheres, além de recursos para as organizações, devem ser também produtos que
exigem um plano de marketing estratégico para se vender. Coisas e pessoas são
apenas mercadorias e obedecem às leis de mercado e de custo-benefício. Essa
realidade, contudo, não pode aparecer de forma explícita e precisa ser camuflada.
Criam-se ilusões como a “melhor empresa para se trabalhar”, embaçando a passagem
para um capitalismo que exclui e deixa de fora aqueles que não respondem com
presteza ao que a cultura da urgência impõe.
A administração estratégica de RH está preocupada essencialmente com o
negócio, e seu principal papel é o de orientar e treinar gestores sobre a importância de
elevar o moral dos funcionários e a forma de fazê-lo. A área de recursos humanos vem
ganhando destaque na economia neoliberal, onde pessoas têm sido vistas como
recurso valioso e estratégico – capital intelectual, que, ao lado dos ativos intangíveis,
resultam em até 90% do valor de uma empresa. Porém, continuam atuando apenas
como mecanismo legitimador das estruturas de dominação e domesticação dos
trabalhadores e, em última instância, da ideologia oficial. As conseqüências são
práticas que levam à produção excessiva de trabalho para um número sempre reduzido
de pessoas e em espaço de tempo também cada vez mais escasso.
Vê-se assim uma retórica destoante da realidade, em que se preconizam o
desenvolvimento das pessoas, novos padrões de trabalho, valorização do capital
humano, quando na realidade o que ocorre é a manipulação e a busca do ajustamento
dos indivíduos. O suposto empowerment que muitas empresas vêm praticando através
96
da delegação de maior autonomia e participação nas decisões deixa entrever o
incremento do poder da empresa sobre o indivíduo, na medida em que lhe tira a clareza
de seu papel de cidadão e de questionador dos modelos vigentes. Como “parceiros” e
“sócios” do negócio, os indivíduos jamais questionarão qualquer atitude que venha de
cima, vivendo-se assim de forma egoística, cada um visando aumentar seus próprios
ganhos, deixando de haver um pensar coletivo que leve a mudanças políticas e até
mesmo à busca de seus próprios desejos.
Sob a égide da urgência, não há possibilidade de reflexão, seja ela do próprio
trabalho, seja das relações do e no trabalho. A empresa flexível trabalha com o
“flexitempo”, em que a instabilidade é a única certeza: “a matemática do risco não opera
garantias, e a psicologia do correr risco se concentra muito razoavelmente no que se
pode perder” (SENNETT,1999, p. 97). Correr riscos, vencer dificuldades e superar
obstáculos passa a ser a ordem do dia. Ganhar sempre é a tônica das empresas
modernas ou hipermodernas, sem espaço para o fracasso, para a perda, que, quando
ocorre é sempre pessoal e de inteira responsabilidade do indivíduo.
Captar a ambigüidade do tempo como necessária para a vida em sociedade e
como possível causador de sofrimento para a mesma é buscar compreendê-lo em seus
múltiplos aspectos e dinâmicas.
97
4. RE-VISITANDO A EXPERIÊNCIA
Neste capítulo, analisamos o estudo de caso que é objeto desta dissertação na
perspectiva psicossociológica. Isso significa desmontar o pressuposto teórico anterior,
que visava a conciliar as necessidades dos empregados e demandas da empresa.
Significa também admitir o caráter conflitivo das várias instâncias da instituição e
abdicar da possibilidade de harmonização em que eu acreditava, preconizando a visão
funcionalista e a racionalidade instrumental.
Tal perspectiva nos leva a pensar a organização com seus diversos grupos e
como se articulam, influenciam e são influenciados pelos atores que os constituem.
Pensar psicossociologicamente é entender grupos e pessoas na articulação do psíquico
com o social.
Assim, compreender o ZTEC na ótica da Psicossociologia possibilita identificar
as várias crises acontecidas e seus efeitos sobre os diversos públicos, identificando
dificuldades, falhas, armadilhas em que caímos, desconhecimentos.
Como já foi dito no capítulo dois, fomos contratados para participar da
profissionalização da instituição, fazer as mudanças necessárias e atingir os resultados
propostos. Recursos Humanos era considerado um dos pilares do novo momento da
empresa. Barus-Michel (2001) afirma que um consultor ou interventor, quando
requisitado para favorecer um processo de mudança, deve questionar a demanda:
“mudança desejada por quem e para quem? em qual perspectiva? inserida em quais
contextos? com quais objetivos? em nome de que? de quais princípios? de que
valores? com quais efeitos prováveis? etc.” (BARUS-MICHEL, 2001, p.172). Identificar
o cliente e sua demanda, além de nossa implicação, é requisito básico, para se
proceder à intervenção. À época, contudo, não seguimos nenhum desses passos, não
tínhamos respostas para as perguntas acima e não tínhamos sequer formulado
questões. Nosso tipo de mudança seguiu o eixo da eficiência, como veremos a frente.
Entramos na organização imaginando saber o que tínhamos que fazer, com
muitas certezas, principalmente a de que todos queriam aquela mudança.
Trabalhávamos com a lógica da gestão estratégica, que afirma que mudanças devem
98
acontecer para homogeneizar os vários públicos, criando uma mentalidade comum,
“quando os funcionários, dentro da organização, e os clientes ou fornecedores, fora
dela, esposam pensamentos automáticos similares sobre os processos da organização”
(ULRICH, 2001, p.215).
Barus-Michel (2001) afirma que o propósito de mudança é evidenciar os
conflitos, as contradições, os interesses divergentes, tanto no coletivo, quanto no
individual. A autora mostra ainda que a intervenção deve obedecer à escolha do tipo
de mudança que pretende, a partir de dois eixos distintos e aparentemente
incompatíveis: o eixo que enfatiza o sentido do trabalho e o que visa à eficiência.
No primeiro, privilegia-se o indivíduo e sua busca por se expressar, se afirmar
com identidade própria, elevar a sua voz no âmbito da organização, garantindo que se
torne sujeito social pelo reconhecimento do outro, nas relações, nas trocas, na
apropriação do sujeito de seu espaço. “O sentido só se elabora na relação com os
outros, na troca e na reciprocidade” (BARUS-MICHEL, 2001, p.174). É a possibilidade
de discussão de qual é seu lugar no contexto em que está inserido como ator
participante de sua história, atento ao seu inconsciente, preocupado em explicitar seus
conflitos internos e os decorrentes das relações, visando à busca de perspectivas
emancipatórias. Trata-se de propiciar trocas, relações de cooperação, deixar marcas,
sofrer influências e influenciar na construção da sua própria identidade. Nesse espaço,
é a busca do reconhecimento, que se coloca:
O que chamo de espaço de reconhecimento é, pois, uma noção próxima
daquilo que Flahaut denomina “espaço de realização dos sujeitos”, ou seja, um
espaço no qual são produzidas e no qual circulam mediações que suportam o
simbólico e o imaginário, mediações pelas quais o sujeito se satisfaz ao
“alienar-se” em um outro (...). Esse espaço compreende, para Flahaut, na
perspectiva discursiva, à trama cotidiana dos pequenos fatos de linguagem,
através dos quais cada um de nós tenta justificar o próprio fato de existir.
Acrescentemos: justificar-se como alguém de valor, fazendo algo de valor para
si mesmo, para o outro, para sua comunidade ou até, se possível, para toda a
humanidade. (ARAÚJO, s.d.).
O segundo eixo aponta apenas para um lado, que é o da organização e sua
necessidade de resultados: é o eixo da eficiência. Nele, não há espaço para o sujeito
livre, para a palavra, para o questionamento. Não há tempo para perguntas. A busca é
pela excelência, onde tudo é urgente e onde quem dá as cartas é o mercado, com suas
99
exigências de rentabilidade cada vez mais intensas e onde o indivíduo é parte da
engrenagem responsável por sua performance, sua capacidade de responder com
agilidade e presteza ao mundo da instantaneidade no qual vivemos. Nesse território, a
única possibilidade é de ganho. Ganhar sempre e cada vez mais!
Esses dois eixos orientarão nossa análise da experiência de RH no ZTEC, na
qual se buscará explicitar os “arranjos, os encadeamentos, as equivalências, os
sistemas de oposição, os vazios através dos quais uma instituição se significa e
engendra a prática” (BARUS-MICHEL, 2004, p.152).
4.1. Eixo da eficiência
Como já foi dito, quando chegamos na instituição, não levamos em consideração
a ocorrência de conflitos, crises e as conseqüências das mudanças que estávamos ali
para facilitar. Também não tínhamos dimensão do quanto as mudanças mexeriam
profundamente com as pessoas da organização, em todos os níveis hierárquicos
(conselheiros, médicos, executivos e funcionários).
Não havia uma procura pelo significado ou pela interpretação das diversas
relações que ocorriam na empresa. Na verdade, o que queríamos era criar uma
empresa que fosse referência na área de saúde na capital mineira. Estávamos
preocupados com performance, embora o discurso fosse a “satisfação do cliente”
interno e externo. Atuávamos sob o paradigma da gestão, definido por Bouilloud e
Lécuyer (apud GAULEJAC, 2007, p.64) como “conjunto de técnicas destinadas a
pesquisar a organização da melhor utilização dos recursos financeiros, materiais e
humanos, para garantir a perenidade da empresa”. Mas Gaulejac propõe que
pensemos a gestão não como conjunto de técnicas racionais, mas como sistema
ideológico. A gestão atua no imaginário das pessoas, criando ilusões e dissimulando
um sistema de dominação que considera o indivíduo como recurso necessário ao
funcionamento da empresa.
100
4.1.1. Profissionalização ou poder gerencialista
Como vimos no capítulo II, o ZTEC estava em busca de modernização, de
profissionalização, para se fazer competitivo. Buscando atender essa demanda, foi
contratado um gestor que se enquadra no modelo gerencialista (GAULEJAC, 2007).
Esse modelo suscita o tipo de personalidade narcísica, agressiva, pragmática, centrado
na ação, pouco reflexivo e pronto para ter sucesso a todo custo. O então CEO tinha
uma relação de dependência com o trabalho: um workaholic, com dificuldade para se
descontrair, necessidade incoercitível de atividade, dor de cabeça dos fins de semana,
angústia das férias (durante os mais de quatro anos que lá esteve, nunca saiu de férias)
e dose acentuada de paranóia.
Pesquisa realiza por Tanure, Carvalho Neto e Santos (2007) com o objetivo de
identificar as correlações entre o nível de estresse percebido pelos altos executivos das
grandes empresas no Brasil e seu padrão de comportamento mostra o conceito de Tipo
Comportamental (Tipo A ou Tipo B) de Friedman e Rosenman. Os autores definem o
Tipo A como “um complexo de ação-emoção observado em indivíduos que se mostram
agressivamente envolvidos em uma luta crônica e incessante de conseguir cada vez
mais, em tempo cada vez menor”. Este é exatamente o perfil do gestor responsável
pela profissionalização no ZTEC, características que tinham impacto grande na vida de
todas as pessoas da instituição. Seu “jeito de ser” logo ficou conhecido na empresa e
era motivo ora de admiração, ora de medo, tendo em vista seus rompantes. Suscitava
amor e ódio nas pessoas que com ele convivia. O modelo gestionário por ele
implantado teve exatamente os aspectos positivos e nefastos observados por Gaulejac
(2007).
Os aspectos positivos foram: maior rentabilidade financeira decorrente da
eficácia dos controles, do investimento em tecnologia e negociações com fornecedores
e ampliação de negociações até mesmo com concorrentes, gerando ganhos de escala;
a criação de novos produtos e serviços, além da melhoria dos existentes; o aumento de
receita e melhoria na percepção do cliente. No que se refere à gestão de pessoas e
organização do trabalho, através das ações do DRH, o novo modelo remetia a “um
progresso em relação ao modelo hierárquico e disciplinar (...) favorece a autonomia, a
101
iniciativa, a eficiência, a responsabilidade, a comunicação e a mobilidade”.
(GAULEJAC, 2007, p.191). Esse aspecto realmente ocorreu no ZTEC, através de ações
de investimento nas pessoas: qualificação profissional, treinamentos técnicos e
comportamentais, melhoria das relações interpessoais, desenvolvimento gerencial,
propiciando relações mais humanizadas, maior autonomia no trabalho e participação
nas decisões afetas ao seu cotidiano.
Porém, do lado dos empregados, o modelo teve conseqüências contraditórias:
se, por um lado, promoveu a melhoria para uns, com aumentos salariais,
reconhecimento e outros ganhos, também propiciou “a degradação e exclusão para
outros, devido a falta de adaptabilidade aos novos modos de funcionamento, a falta de
habilidade para novas tarefas agregadas a sua função” (GAULEJAC, 2007, p.192). A
pressa constante, a aceleração, a lógica do “mais com menos” geram o ciclo infernal da
melhoria contínua. No ZTEC, não foi diferente. A pressão era constante para a redução
de custos, o que levava à redução do quadro de pessoal e à substituição de efetivos
por estagiários, o que gerava mais trabalho para supervisão e técnicos, uma vez que os
estagiários não tinham (e não deviam ter) a mesma desenvoltura de um profissional.
Ninguém podia adoecer ou faltar, pois isso gerava um transtorno total.
No tocante ao quadro de líderes, o modelo de gestão implantado tinha como
objetivo produzir gestores empreendedores, capazes de gerir unidades de negócio
como sendo sua: “você vai comandar sua unidade como se fosse o dono da ‘padaria’...
é o olho do dono que engorda o negócio” eram falas recorrentes do CEO.
O perfil empreendedor que era solicitado dos gerentes e gestores estava
diretamente ligado ao paradigma de negócio. Cada setor ou área deveria ser vista
como um negócio rentável e, para isso, a figura do manager era decisiva, conforme
afirma Gaulejac (2007):
Na nova ordem mundial, dominada pelos valores de empreendimento, tudo é
business (...) o manager emerge como figura ideal do homem que empreende,
capaz de assumir riscos, decidir, resolver problemas complexos, suportar o
estresse, desenvolver sua inteligência cognitiva e também emocional, por todas
as suas qualidades a serviço da rentabilidade. (GAULEJAC, 2007, p.179).
Diante desse apelo, os gerentes sentiam-se desafiados e estimulados a atender
a demanda de se superar a cada dia. Na nova configuração da empresa em Unidades
102
de Negócio, cada gestor tinha um desafio, metas a serem cumpridas. A competitividade
entre eles, era inevitável, até porque o próprio CEO estimulava a competição, exaltando
uns em detrimento de outros. Não era levada em consideração a peculiaridade de cada
unidade, pois somente o resultado importava e isso, para muitos, era frustrante. Muitas
vezes, a unidade não cumpria suas metas devido a questões estruturais, falta de
recursos, problemas que não estavam em seu nível de competência, e ao gestor era
cobrado resultado independente das condições para isso. A falta de resultados era tida
como falta de comprometimento, como se fosse uma escolha. Os alvos propostos pela
empresa deveriam ser abraçados por todos, principalmente gestores, que tinham a
tarefa de convencer seus liderados a atender ao ideal da empresa – “empresa como
objeto (no sentido psicanalítico) de investimento comum. O sucesso da empresa
depende do comprometimento de todos” (GAULEJAC, 2007, p.85).
Na empresa do tipo gestionário, as relações de poder tendem a ficar camufladas
por princípios interiorizados. O poder do CEO, entretanto, era reconhecido por todos os
membros da instituição. Era ele quem estabelecia todas as regras do jogo, suas ordens
e proibições eram explícitas, mas vinham embrulhadas em papel de presente, como
forma de seduzir, fazendo perpetuar a lógica da organização.
Os instrumentos de gestão não são contestados por não serem confiáveis, mas
porque parecem colocar transparência onde reina o arbitrário, objetividade onde
reina a contradição, segurança em um mundo instável e ameaçador. A
existência de regras é fator tranqüilizador. (GAULEJAC, 2007, p.101).
Gaulejac afirma que a empresa gerencial é um sistema sociopsíquico de
dominação. Pudemos constatar claramente essa assertiva no caso ZTEC. A grande
maioria dos gerentes e gestores era totalmente rendida ao trabalho. Trabalhava-se ali
no mínimo dez horas por dia, às vezes doze ou quatorze, em total adesão, com bom
humor e agradecendo a possibilidade de viver aquela experiência:
Sinto-me privilegiada de poder fazer parte dessa equipe que está construindo a
história dessa instituição..
O que eu aprendo aqui não tem preço. Vocês ensinam demais a gente..
Pode me corrigir, eu quero melhorar... sei que não estou pronta, mas vou
chegar lá... quero crescer com a empresa, conta comigo sempre. (falas de
103
15
gerentes, 2002; 2003; 2004) .
Diante dessas falas, percebe-se um consentimento pleno para ser manipulado,
outorga que a empresa usava, sem dúvida nenhuma. “Na empresa gerencial, o desejo
é exaltado por um Ideal do Ego, exigente e gratificante. Ela se torna o lugar da
realização de si mesmo” (GAULEJAC, 2007, p.109).
Uma nova cultura organizacional estava sendo gestada, e com ela a organização
estava sendo dividida: por um lado, a cultura gestionária representada pelos gerentes e
gestores de unidade, e por outro lado, o corpo clínico que não aceitava essa cultura e,
portanto, não aderia, não participava.
4.1.2. Cultura organizacional no modelo gestionário
No capítulo II, vimos que não conseguimos identificar e trabalhar a cultura da
instituição no que se refere a pressupostos básicos, sua cultura profunda, cultura
hospitalar, poder dos médicos. Embora estivesse em nosso escopo de trabalho a
gestão da mudança de cultura, realizamos a mesma de forma superficial e até inocente:
pensávamos que estávamos provocando grandes mudanças, atingindo todos os atores,
quando na verdade atuávamos apenas em mudanças de processos, aparentes e
temporárias, que foram abraçadas apenas pelo grupo de gerentes. Logo que saímos,
tudo voltou ao estado anterior, permanecendo a cultura hospitalar.
A cultura hospitalar é bastante forte e a tentativa de mudá-la sem considerar os
diferentes fatores internos e externos, os contextos político, cultural e social (CHANLAT,
1997) está fadada ao insucesso. Tentamos redirecionar os serviços hospitalares,
promover mudanças no enfoque do paciente (paciente-cliente) e enfatizar a “empresa”
hospitalar. Buscou-se transformar a cultura hospitalar em cultura organizacional, nos
moldes do que vem ocorrendo em várias instituições no Brasil e em Minas Gerais.
Faltou, porém, sensibilidade em relação à natureza do serviço médico. Buscávamos
inaugurar um novo modelo de gestão, mas não entendemos à época que “o método de
administração é uma construção social. (...) Ele pode ser modificado se os atores assim
15
Análise de documentos.
104
desejarem. Certamente não se pode transformar tudo de uma só vez sem algum
embaraço” (CHANLAT, 1997, p.125). Desconsideramos a cultura e atropelamos
pessoas e processos, como nos relato do caso do uso crachá, citado no capítulo II.
Atitudes desse tipo foram decisivas para grandes embates na organização, e foram
determinantes para instalar a doença do gerenciamento conforme, devido à falta de
coerência entre a gestão prescrita (participativa) e a gestão real (tecnocrática).
(MINTZBERG apud CHANLAT, 1997, p.126)
As entrevistas que fizemos com os diversos atores da instituição eram material
de pesquisa muito rico, que não soubemos trabalhar. Ao contrário do que cabe a uma
verdadeira intervenção, sequer o utilizamos para lidar com conflitos de interesses,
conhecer a cultura, minimizar os impactos das mudanças implantadas, para não agredir
ou ameaçar pessoas ou grupos, como de fato ocorreu.
O grupo de chefias, quando chegamos na instituição, era fraco do ponto de vista
da moderna gestão. Faltava-lhes conhecimento técnico e habilidade para gerir pessoas,
processos, com vistas a atingir resultados. Não havia união entre eles, e cada um
buscava se impor, denegrindo o outro. Alguns se sentiam acuados e temerosos por seu
futuro na instituição, face às mudanças que estavam ocorrendo. Buscavam aliados
junto aos médicos, à diretoria, ao conselho de administração; os conchavos eram
vários. Sentiam-se em risco constante, em um alto nível de ansiedade. A maioria estava
na instituição há muito tempo, mas a nova cultura se impunha sob o ditame da urgência
e abalou as relações do grupo, relações de confiança, compromisso e lealdade
construída ao longo do tempo: “nós já fomos um grupo coeso, hoje é cada um por si,
salve-se quem puder...” (gestor do ZTEC, 2002). Pouco fizemos para amenizar essa
angústia (o que fazíamos era ouvir as pessoas que nos procuravam e tranqüilizá-las, na
medida do possível), porque não tínhamos autonomia para garantir segurança ou
informações sobre o que iria acontecer. O RH estratégico, que participa de todas as
decisões, era uma falácia. Muitas vezes, sabíamos dos acontecimentos ao mesmo
tempo em que as demais pessoas da organização. Com essa autonomia “relativa” (o
discurso era de um RH poderoso, autônomo em suas decisões), pouco podíamos fazer
para minimizar a dor das pessoas, que estavam à deriva (SENNETT, 1999), esperando
o que fariam com suas vidas. Sabíamos de algumas alianças que eram feitas, mas
105
achávamos que não devíamos intervir (na verdade, não sabíamos como o fazer), não
tínhamos nada melhor para oferecer e imaginávamos que essas alianças não seriam
fortes o suficiente para abalar nosso projeto de mudança. Desconhecemos o poder das
interações e a força de uma cultura como o corporativismo médico.
O corpo clínico em sua maioria não aceitava a profissionalização sendo
implantada no hospital. Sentia-se extremamente incomodado, não queriam prestar
contas de seus atos a quem quer que fosse.
O médico tem uma postura de poder muito grande, sentem-se donos da vida
das pessoas, principalmente, os cirurgiões, que efetivamente mudam a vida das
pessoas, sentem-se deuses mesmo, e não aceitam interpelações. (médico do
ZTEC, 2009).
A relação dos médicos com o hospital era de cliente-fornecedor, na qual os
médicos eram clientes do hospital, mas tratados como clientes incômodos e que
traziam mais problemas que resultado. Essa era a visão da administração, razão dos
conflitos constantes e insolúveis. A grande maioria de médicos já estava na instituição
há vários anos e tinha notório reconhecimento interno e externo, o que lhes autorizava
a agir conforme lhes aprouvesse.
Identificamos assim algumas relações de poder (BARUS-MICHEL, 2004): os
médicos imbuídos do poder de perícia, a administração ligada ao instituído e decorrente
da hierarquia. Havia ainda os que manejavam as transferências e o discurso, como a
secretaria de diretoria, as freiras, o padre, os apadrinhados. Esses últimos, através de
suas funções veladas e encobertas pela própria natureza das atividades, passavam
conhecimentos, informações, que ninguém na instituição detinha. Era a munição
necessária para ataque e defesa, que variavam o alvo. É interessante observar como
essas pessoas se perpetuam na instituição, sobrevivendo a toda e qualquer mudança,
perfeitamente “adaptáveis”. Era o poder engendrando poderes.
No jogo do poder há mudanças de acordo com os interesses, os jogos políticos,
a rivalidade entre os setores...a diretoria sabia da rivalidade entre médicos e
nada fazia para mudar essa situação. (médico do ZTEC, 2008).
Embora soubéssemos das várias “facções” existentes na empresa, não lhes
demos a devida atenção e nem possibilitamos os debates para explicitação de conflitos
106
e divergências. Também não entendíamos que havia vários “clientes” na instituição. Em
nossa visão limitada, tínhamos no máximo dois: a direção e os empregados.
4.1.3. O DRH a serviço da “excelência”
O DRH nasceu sob a égide da gestão e foi estruturado em três pilares:
colocação de pessoas, treinamento e desenvolvimento e gestão da remuneração.
Veremos a seguir como cada um deles estava comprometido com os valores da gestão,
e realmente privilegiando a instituição em detrimento dos funcionários. Muitas vezes até
o próprio cliente, que era a razão de ser de todo o processo de mudança e
profissionalização, era desconsiderado. “O trabalhador é considerado enquanto
rentável, e o cliente é rei se for solvível” (GAULEJAC, 2007, p.50).
No pilar “colocação de pessoas”, buscávamos pessoas “adequadamente
qualificadas”, com o perfil profissional que Gaulejac descreve como sendo:
“batalhadores, ganhadores que têm gosto pelo desempenho e pelo sucesso, prontos
para se devotar de corpo e alma. Devem gostar ainda do que seja complexo e tenha
capacidade de viver em um mundo paradoxal e contraditório” (GAULEJAC, 2007,
p.116). Buscávamos para todos os níveis da organização pessoas com capacidade
para mudar, prontas a começar de novo, com capacidade de desprender-se do
passado, com forte tolerância e confiança com a fragmentação. O ambiente em que
vivíamos era esse, um mudar constante. Certa vez, uma pessoa da minha equipe,
analista de RH, disse: ”eu não agüento mais, cada vez que você tem reunião com o
CEO vem uma novidade, e temos que começar tudo de novo, nada termina, é um
eterno recomeço que não sei onde chegaremos assim.”16.
Esse era o perfil que buscávamos, pois acreditávamos que ele garantiria o
sucesso da empresa e do indivíduo, mas não víamos que estávamos contribuindo para
o desenvolvimento de um grupo com alto grau de dependência psíquica e idealização
da empresa. Vários profissionais (de saúde, nível médio e superior) nos procuravam
pedindo uma oportunidade para trabalhar no ZTEC: “trabalhando aqui, estaria
16
Notas pessoais.
107
realizado” era fala recorrentes de candidatos.
Os profissionais da instituição que se enquadraram nessa descrição estavam
altamente motivados e usaram a oportunidade para crescer e se firmar. Assumiram a
postura proposta e se entregavam de corpo e alma. A realização profissional faz
crescer a auto-estima. A identidade profissional, integrando a identidade pessoal,
passou a ser a equação neste tipo de sistema de gestão: “nunca pensei em chegar
onde estou, muito menos ascender a cargos mais elevados, eu sou a melhor de minha
família... estou muito feliz” (gestora do ZTEC, quando promovida)17. Outra gestora me
abraçava muito e dizia que era feliz por poder participar do momento de modernização
do ZTEC, pois sempre esperou por ele (já estava na empresa há mais de 10 anos).
Por outro lado, a definição desse perfil não foi boa para todos e teve como
conseqüência a exclusão de várias pessoas da empresa, tanto no nível gerencial
quanto no operacional. Um chefe, logo no início das mudanças, demitiu-se, dizendo que
não tinha o novo perfil que o ZTEC estava definindo e não queria sequer tentar: “isso
não é para mim”. Seu pedido de demissão ocorreu logo após uma reunião com o CEO,
em que este expôs o que esperava de cada gestor e como seriam as novas formas de
atuação e cobrança de resultados. Outros foram demitidos por não apresentar as
características performáticas que o momento exigia. Agilidade e rapidez nas respostas
era o quesito mais cobrado, em todos os níveis. Tinha-se urgência em tudo que era
feito. Uma analista de RH foi demitida por mim: embora tivesse um trabalho de boa
qualidade, não tinha o ritmo do hospital naquele momento, acumulando reclamações
dos gestores, que diziam que ela era lenta e não conseguia repor as vagas com a
rapidez necessária. A pressão foi grande e a demissão dela foi pedida pelo CEO.
A sensação de fracasso era inevitável, embora tentássemos sempre mostrar,
sem sucesso, que a questão não era pessoal, mas funcional. Um dos ex-diretores
disse-me que o ZTEC anteriormente vivia na cultura do serviço público:
A instituição não queria a gestão, o controle, porque vivia na cultura do
funcionário publico, na qual os ganhos são fixos e trabalha-se menos. Agora na
cultura da participação em resultados, significa ter mais trabalho e mais
envolvimento. Esse discurso é ideológico, e produtor de grande estresse para a
maioria dos trabalhadores. (ex-diretor do ZTEC).
17
Notas pessoais.
108
O treinamento de integração era o passo seguinte para o processo seletivo.
Visava a integrar todos os empregados recém-admitidos à fundação, através do
“Programa Boas-Vindas”, com vídeos, palestras, visita às dependências do ZTEC e
repasse de dados e informações. O objetivo era que o novo empregado fosse inserido
na cultura da organização. Esses ritos de doutrinação eram o primeiro passo para
instituir a adesão à missão, filosofia e projetos da empresa no novo empregado.
Criamos um evento de sedução para que o recém-admitido se sentisse atraído pela
empresa, estabelecendo vínculos de identificação. Dizíamos abertamente que se ele se
entregasse de corpo e alma à empresa, a organização saberia reconhecê-lo e
recompensá-lo, através de crescimento na carreira, investimento em treinamento e
desenvolvimento, ou seja, acenávamos para eles com a possibilidade de realizar um
“projeto e receber os aplausos e as gratificações indispensáveis aos seus anseios
narcísicos” (FREITAS, 2002, p.76). Mas a maior ênfase recaía sobre as vantagens de
se estar sob a bandeira de uma grande empresa, organização de notório
reconhecimento. Ao final, as pessoas deviam se sentir agradecidas e orgulhosas por
terem sido aceitas em uma instituição tão séria e grandiosa.
O segundo pilar de nossa atuação era Desenvolvimento de Pessoas. A própria
definição das políticas e diretrizes já explicitava o objetivo de qualificar o corpo técnico
da empresa, garantindo aumento de produtividade. Nesse sentido, era declarada a
intenção das ações de treinamento e desenvolvimento. Embora T&D seja importante
para o progresso da empresa, ele efetivamente traz um ganho para o trabalhador, que
se qualifica para melhores posições tanto na empresa quanto no mercado de trabalho.
No caso especifico do ZTEC, tivemos a chance de qualificar pessoas com
escolarização em nível de ensino fundamental e médio, através dos telecursos
implantados dentro da empresa. Também foram beneficiados os funcionários que
obtiveram ajuda18 para custear estudos em nível técnico, de graduação, pós-graduação
e mestrado/doutorado. Em troca desse beneficio, o empregado assinava um termo no
qual se comprometia a permanecer na empresa por pelo menos dois anos após o fim
do curso, ou teria que ressarcir os valores pagos por ela. Esse “acordo”, além de
18
O percentual do beneficio era de 100% para o nível técnico e variava de 50% a 70% do valor das
mensalidades para os cursos de graduação e pós-graduação. Para os casos de mestrado ou doutorado,
a empresa liberava o empregado do trabalho para as aulas e custeava viagens quando necessário.
109
colocar o empregado “refém” por determinado período, criava um sentimento de eterna
gratidão do empregado, que em muitos casos se transformava em subserviência, como
vemos nos relatos de pessoas que tiveram estudos custeados pela fundação:
Eu sou eternamente grata pelo que vocês estão fazendo por mim, eu sozinha
não conseguiria. Saiba que podem contar comigo para qualquer coisa.
A gente tem que agradecer muito, porque essa oportunidade de crescer,
estudar, poucas empresas dão.
Eu valorizo muito esse benefício, e vou procurar retribuir da melhor forma.
Podemos inferir, através desses relatos, que os empregados se sentiam em
dívida para com a empresa, sendo presa fácil para servir aos interesses da
organização. A maioria dos gerentes da fundação e do ZTEC teve seus cursos de pósgraduação pagos dessa forma. Esse benefício gerava uma cobrança maior por
resultados e pressão de tempo por parte da diretoria: “estamos investindo em vocês, e
esperamos que tragam algo novo para a instituição, que agreguem valor” (CEO do
ZTEC, 2004).
Outra etapa do pilar T&D era o Desenvolvimento Gerencial. Nesse programa, o
objetivo precípuo era desenvolver nos gestores habilidades para gerir pessoas,
processos e resultados. Queríamos criar a mentalidade do “gestionários”, que Gaulejac
tão bem descreve como sendo a
(...) arte de governar homens e coisas: - fazer a arrumação e dirigir, ordenar e
arranjar. (...) Conjunto disparatado de tecnologias, de regulamentos, de
procedimentos, de arranjos e de discursos que emergem em dado momento
histórico. (GAULEJAC, 2007, p.107).
A idéia era formar um corpo gerencial com conhecimento em gestão de pessoas,
financeiro e negócios. Os gerentes deveriam ter ainda habilidades em planejamento,
trabalho em equipe, administração de conflitos, visão estratégica e outras, sempre
voltadas para resultado. A proposta do CEO era preparar líderes, conceito que estava
associado à capacidade de influenciar pessoas, levando-as a sonhar o sonho da
organização. Trabalhava-se com a idéia que um líder tem seguidores fiéis até a morte.
Investimento em profissionalização gerencial estava no mesmo patamar de
110
aquisição de novas tecnologias, equipamentos médicos, melhoria do atendimento, etc.
Essas ações eram atreladas à prática da inovação organizacional e de novos serviços,
novos negócios, para agregar valor aos serviços prestados ao cliente. Entendemos hoje
que desenvolver um “poder gerencialista” era o objetivo final, com os treinamentos
gerenciais nos quais “(...) busca-se transformar a energia libidinal em força de trabalho.
Mobilização psíquica a serviço da empresa. A repressão é substituída pela sedução, a
imposição pela adesão, a obediência pelo reconhecimento” (GAULEJAC, 2007, p.109).
O último componente do pilar T&D que trabalhávamos era o desenvolvimento
pessoal. Nele, estavam inclusas práticas de ginástica laboral, palestras, filmes, livros. O
nosso objetivo era melhorar a qualidade de vida dos empregados, mas tais atividades
também tinham veio ideológico forte, que não identificávamos a época. Sabíamos que
estávamos criando, moldando uma cultura, mas não tínhamos a dimensão da
profundidade com que estávamos atingindo as pessoas, modelando comportamentos
para gerar uma identificação total com a empresa como locus de orgulho e confiança.
Os filmes e livros que introduzíamos sempre estavam ligados a algum tema que
gostaríamos de desenvolver nas pessoas, como trabalho em equipe, foco no cliente,
iniciativa, busca de melhores resultados, relacionamento interpessoal e outros. A
discussão de um filme ou livro sempre era dirigida com cunho pró-empresa, levando as
pessoas a raciocinarem num tipo de pensamento que era “fundado sobre um objetivo
de transformação da energia psíquica em força de trabalho” (GAULEJAC, 2007, p.108).
Nosso discurso incitava à busca da implicação subjetiva e afetiva dos empregados.
O terceiro pilar proposto pelo DRH foi Gestão da Remuneração, que tinha como
objetivo estabelecer a implantação da remuneração baseada em resultados. Para isso,
reduzimos o número de cargos, extinguimos algumas funções, aglutinamos outras,
sempre com o objetivo de permitir maior flexibilidade para a empresa gerir seus
recursos humanos. Muitos cargos consagrados, como eletricista, marceneiros e
mecânicos foram extintos, e suas funções foram aglutinadas em cargos genéricos,
como “oficial de manutenção”, o que tirou a identidade de seus ocupantes, como se
verifica nas falas de empregados quando da mudança de seus cargos, em 2003: “eu fui
eletricista a minha vida toda, e agora ? o que é que eu sou ?”; “se eu sair daqui, como
vou provar que sou marceneiro? na minha carteira não vai ter mais” (trabalhadores do
111
ZTEC, 2003).
Apesar das reclamações, tentávamos explicar os motivos da mudança dizendo
da necessidade de ser ágil, que estávamos propiciando um ganho para as pessoas,
favorecendo o desenvolvimento dos ocupantes, dando-lhes oportunidade de agregarem
outras atividades a seus cargos, enriquecendo suas funções, aumentando-lhes as
responsabilidades e até ganhos reais de salários (promessa nunca cumprida). Mais
uma vez, privilegiamos a gestão em detrimento dos empregados, desconsiderando a
identidade funcional das pessoas. Achando que estávamos sendo democráticos, agindo
de forma participativa, pois nesse projeto trabalhamos com os gerentes e um grupo de
representantes dos empregados. Fomos, porém, arrogantes e pretensiosos, tirando do
empregado o que realmente lhe pertencia, sua profissão. E não foi coincidência que,
justamente na área de manutenção, concentraram-se os maiores problemas de
adaptação à nova cultura, com fortes resistências às mudanças que exigiam cada vez
mais dos empregados. A tensão chegou ao limite, gerando briga séria entre os
empregados, na qual um feriu o outro com uma faca, devido à rivalidade entre os
colegas, pois um dizia que o outro era “puxa saco do patrão...”. Agora, com certa
distância dos acontecimentos, não é difícil perceber que a racionalização das tarefas
que impusemos, a obrigação de aprendizagem de novas funções e a pressão por
tempo provocaram perda de identidade nos profissionais que tinham um saber
desconsiderado pela nova ordem, pelo novo modelo de gestão. As conseqüências eram
visíveis: nível de stress profissional aumentado, relações degradadas, embora não
piores do que antes de chegarmos. Porém, não entendíamos o nexo causal entre as
nossas racionalidades e os comportamentos desadaptados dos empregados.
Chegamos à instituição para mudar a imagem do RH de “recursos des-humanos” para
uma atuação que levasse em conta as pessoas, mas cometemos erros crassos para
quem tinha essa pretensão.
4.2. O eixo do sentido
Embora o projeto do DRH tenha sido planejado para privilegiar as pessoas da
organização, sabemos hoje que atuamos no eixo da eficiência, privilegiando a gestão,
112
atendendo à demanda da administração. Por outro lado, também adotamos algumas
práticas diferenciadas, que possibilitavam a escuta dos empregados, procurando darlhes melhores condições de trabalho e melhoria da qualidade de vida. Trata-se do
acompanhamento psicofuncional, descrito no capítulo II. Entendemos que esse tipo de
prática, além de inovadora no escopo das atividades de RH, traz um conceito, uma
ideologia subjacente, na qual pessoas não são recursos, mas sujeitos.
Considerar o outro sujeito é considerar o indivíduo ou grupo como interlocutor e
reconhecer neles a capacidade de compreender as próprias dificuldades, bem
como a capacidade de elaborar significações que lhes permitam um certo
distanciamento, uma nova forma de mobilização que tenha efeito sobre eles
mesmos e sobre a situação. (DESPRAIRIES, 2001, p.231).
Quando escutávamos as pessoas individualmente, estávamos buscando os
sujeitos, dizendo-lhes que eram importantes e que queríamos ouvir o que tinham a
dizer. Barus-Michel explicita bem o que é ser sujeito reconhecido: “para ser sujeito, é
preciso ser reconhecido em sua semelhança, em sua diferença, sua palavra, seu lugar.
O sentido só se elabora na relação com os outros, na troca e na reciprocidade”
(BARUS-MICHEL, 2001, p.174).
Nossa escuta aproximava-se de uma intervenção psicossociológica (IP), na
medida em que não tínhamos nada definido a priori. As psicólogas estavam ali para
escutar, como facilitadoras para fazer emergir os conflitos do grupo. Araújo (2007)
esclarece bem a diferença entre a atuação de orientação psicossociológica e orientação
positivista. Esta segunda compreende ações:
(...) autoritárias e, em geral, simplificadoras, típicas de modos de gestão
baseadas na eficácia, na eficiência, na equivocada qualidade total. (....) remete
a uma prática de expertise diretiva...propostas prontas, conselhos, receitas.
(ARAÚJO, 2007, p.407).
Nossa escuta, no entanto, não possibilitava a ligação entre o mal-estar das
pessoas e a dinâmica da organização. Não tínhamos recursos teóricos para efetuar
essas conexões e oferecer uma real intervenção, que gerasse relações mais amigáveis,
de cooperação entre os vários atores implicados. Quando instituímos os grupos do CTI
e CC, queríamos ouvi-los com a pretensão de minimizar ou extinguir os conflitos entre
os vários coletivos que ali existiam (médicos, técnicos, enfermeiros, administrativos e
113
estagiários). Em primeiro lugar, nossa “intervenção” não atingia todos os representantes
do grupo (os médicos nunca participaram de nenhum tipo de trabalho realizado pelo
RH). Outra questão é que a demanda era analisada do ponto de vista funcional,
conforme definido nas premissas do projeto (vide capítulo I), aspecto que definiu
também nossos limites de ação.
Fornecer uma linguagem não basta, pois isso pode se limitar a tornar
comunicável de modo soft aquilo que não faz sentido para ninguém. Necessário
seria quebrar ou derreter a crosta do pensar ordinário, para encontrar o fluxo
pulsional e guiá-lo para novos imaginários. (BARUS-MICHEL, 2004, p.184).
Entendemos agora, com Max Pagés (1987), que as empresas modernas e
hipermodernas, através de suas políticas de pessoal, comercial, financeira, buscam
antecipar os conflitos: “elas visam reger a conduta dos trabalhadores, dos clientes e de
todos os grupos sociais com os quais a empresa tem ralações, de maneira a evitar que
estes se agrupem e entrem em conflito com as finalidades da organização” (PAGÈS,
1987, p.34).
Em ultima instância, o que se buscava com esses grupos era a possibilidade de
uma catarse de seus membros, a possibilidade de falar da angústia, dos medos, da
dificuldade de lidar com a dor própria e do outro (pacientes e colegas de trabalho).
4.2.1. O paradoxo da eficiência e do sentido
Enquanto profissionais de RH, tínhamos o ideal de possibilitar aos trabalhadores
relações de trabalho mais prazerosas, melhores condições para execução das
atividades e relações entre chefia e empregado menos autoritária, mais respeitosas.
Queríamos dar voz aos sujeitos na instituição, fazer surgir conflitos para tratá-los, mas
tínhamos limitações de falta de respaldo teórico e, principalmente, a orientação da
gestão voltada para o eixo da eficiência. As práticas que desenvolvíamos para além
dessa orientação eram camufladas sob a bandeira da eficiência. O “para que” dos
nossos projetos e programas visava sempre garantir melhores resultados para a
instituição. Tínhamos liberdade de trabalhar no “como”, e era essa a brecha que
usávamos para buscar o sentido do trabalho para as pessoas, para que as mesmas se
114
sentissem cuidadas, ouvidas em suas necessidades, para que a instituição fosse um
lugar de construção de um projeto de vida. Agindo assim estávamos atuando enquanto
“mães” zelosas, longe de propiciar o desenvolvimento de seres autônomos e livres para
pensar.
Quando criamos o programa de “desenvolvimento de equipe”, ele propiciou a
experiência do “nós” em várias equipes da organização. Pessoas que não conversavam
umas com as outras, chefes que sequer cumprimentavam seus subordinados,
indivíduos que não sabiam para que trabalhavam, qual era o resultado de seu trabalho.
Lembro-me de uma auxiliar da Central de Material Esterilizado, que trabalhava com
esterilização de roupas e equipamentos que, quando soube que o índice de infecção
hospitalar do ZTEC era próximo de zero devido ao bom trabalho de seu setor, chorou
de felicidade: “e sou eu que faço isso acontecer, é o meu trabalho que dá isso”.
As pessoas descobriam os objetivos de seu trabalho, as interrelações entre as
várias funções e os setores e a necessidade de ajuda recíproca. Descobriam a
possibilidade de cooperação real e passavam a interagir de forma a facilitar o trabalho
uns dos outros. Estabeleceram também relações de confiança entre os membros do
grupo e da chefia para com o grupo. Em alguns setores, esta delegou ao grupo a
montagem das escalas de trabalho, de férias, de forma a atender as necessidades das
pessoas (escola, filhos etc.). Baremblitt nos mostra que:
devido ao processo que se chama de “divisão técnica e social do trabalho”,
cada coletivo de uma organização está alienado no não-saber, no não conhecer
quais são as condições reais em que está trabalhando. É vitima de um
desconhecimento devido à desinformação e à estrutura e funções mesmas de
instituições e organizações (BAREMBLITT, 1992, p.80).
Através desse programa, as pessoas apropriavam-se do processo de seu
trabalho, discutindo sobre a melhor forma de atuar, gerando mudanças significativas no
dia-a-dia dos trabalhadores do ZTEC. Uma mudança substancial ocorreu no trabalho
das pessoas da farmácia hospitalar e sua interface com os setores de enfermagem.
Esse processo era gerador de grande estresse para ambos os setores e foi totalmente
remodelado pelas pessoas que executavam as funções – do mensageiro aos gestores.
O ganho foi enorme para os envolvidos, e o programa serviu como:
115
(...) dispositivo no qual os coletivos possam analisar cada um dos fenômenos
de mal-estar, de conflito, de impotência, de disfunção que aparece devido a
toda esta divisão injusta e perversa do trabalho. (BAREMBLITT, 1992, p.81).
Conseguimos, em alguns casos, mudar atribuições de áreas e cargos, para
possibilitar uma melhoria nos processos de trabalho, a partir da efetiva participação das
pessoas
envolvidas
nos
mesmos.
Essas
práticas
não
chegaram
a
ser
institucionalizadas, ficando restritas a alguns setores, mas era nossa intenção estendelas para toda a instituição. Lançávamos esses programas com chefias mais sensíveis a
pessoas e, quando havia resultados positivos, divulgávamos como “cases de sucesso”,
buscando a adesão dos demais gerentes: “não quero ficar de fora, vamos fazer aqui
também“. Com essa estratégia, implantamos práticas que, para os funcionários, foram
um diferencial. Usávamos a lógica do sistema, a competição entre os setores para
implantarmos crenças e valores.
Quando incentivamos as pessoas a estudarem, a se qualificarem, estávamos
promovendo seu desenvolvimento dentro e para fora da instituição. O saber que
adquiriram está com elas. Muitas, hoje, já estão fora da instituição, em condições de
trabalho melhores devido à qualificação que receberam à época. Sabemos que a
motivação para esse benefício era dar a noção de empresa “cidadã” para os públicos
interno e externo, mas também produzir benefício real para os funcionários.
As práticas adotadas pelo DRH no ZTEC podem ser inseridas, em sua maior
parte, no eixo da eficiência, e outras poucas, porém significativas, no eixo do sentido.
Vivemos, assim, minimamente que seja, o paradoxo entre os dois eixos. Nosso desejo
era que ocorressem mais práticas que produzissem sentido para os atores da
instituição.
As empresas modernas, e o ZTEC pode ser caracterizado como uma delas,
buscam habitar o imaginário de seus empregados, fazendo deles amantes ardorosos
totalmente rendidos à grande mãe, como observa Pagès (1987). A relação
transferencial da empresa com os indivíduos é de tal monta que “cria um ambiente que
sugere a possibilidade de resgatar e resolver dilemas e conflitos adormecidos no
psiquismo humano” (MOTTA, 2002, p.70). Sendo ainda o ZTEC uma instituição de
saúde, sugere-se que seja o lugar onde se busque tratar todo tipo de sofrimento.
A grande maioria do corpo funcional (auxiliares e técnicos de enfermagem,
116
correspondendo a mais de 50% do total de empregados) era formada por mulheres
oriundas da classe D e E, mães solteiras e responsáveis pela família. Essa
configuração clamava por uma empresa que funcionasse como o ideal do eu e que
tratasse de problemas pessoais. O ZTEC atendia a esse anseio, pois tem “nome e
sobrenome”, com uma história de meio século de credibilidade e confiabilidade em seus
serviços. Ser parte da equipe é se apoderar desse sobrenome, que abre portas e
créditos (ouvíamos relatos dos empregados de que a simples apresentação do crachá
funcional da empresa era suficiente para abertura de crédito em lojas da capital) e é
garantia de auto-estima e respeito da comunidade na qual vivem.
Trabalhávamos
para
atender
a
demanda
dessas
pessoas,
mas
não
problematizávamos suas necessidades e terminávamos por infantilizá-las, criando
dependência cada vez maior da instituição, que, em contrapartida, cobrava mais
comprometimento e identificação com os projetos institucionais. Essa relação está
destinada ao fracasso, é um “amor destinado à desilusão e ao abandono, pois se trata,
desde o inicio, de um amor fictício ou de um amor impossível e sem chance de
concretização, dado que é um sentimento entre um indivíduo e uma coisa” (MOTTA,
2002, p.71).
Dialetizar as relações, no âmbito da organização, significa abrir espaço para
reflexão, discussão e negociação, mas também mediatizá-las pelas estruturas
inconscientes e suas interrelações sociais.
117
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de pesquisa influencia e modifica o olhar do pesquisador. Nosso
olhar inicial sobre o objeto de estudo também é modificado. Nesse sentido, o
conhecimento pode mesmo vir a ser revolucionário. Não fazemos uma pesquisa e
saímos incólumes. Nossa percepção da realidade é alterada.
Neste trabalho, questionamos o que fizemos até aqui, enquanto profissional de
RH, para buscar novas formas de atuar, rupturas, sair do lugar no qual nos sentimos
confortáveis, fazendo cair saberes conhecidos com novas perguntas que dessem lugar
a outros modos de intervenção. Definitivamente, nossa atuação não será mais a
mesma. Essa tomada de consciência e elaboração, não nos permite atuar com os
mesmos métodos anteriores. Nossa prática está sendo re-elaborada, tentando construir
intervenções que possibilitem o surgimento de questionamentos no interior das
organizações, através da liberação da palavra que busque o sentido do trabalho para
os diversos atores da organização.
O principal objetivo desse projeto foi fazer uma releitura de uma experiência de
Recursos Humanos à luz da Psicossociologia francesa, com uma abordagem dialética
dos fenômenos organizacionais. A Psicossociologia é uma prática clínica que se
distancia criticamente da racionalidade instrumental, tão em voga nos receituários dos
gestores. Sem negar a necessidade da racionalidade técnica, necessária ao
funcionamento de qualquer organização, busca também levar o trabalhador a
interrogar-se sobre o sentido do trabalho, seu lugar de sujeito que pode pensar e ajudar
a redefinir processos e a organização do trabalho, de modo que possa, como sujeito
coletivo, sair do lugar de mero objeto, de mero “recurso”, para, em algum momento,
construir sua história.
Entendemos que esse objetivo foi cumprido à medida que o aporte teórico da
Psicossociologia permitiu compreender a lógica dos conflitos entre pessoas e grupos,
nos níveis horizontal e vertical, dentro da organização. Conseguimos resgatar vários
discursos que, em um primeiro momento, apareciam como retalhos e precisavam ser
118
costurados, a fim de repensar as práticas de RH em uma perspectiva crítica e, por
conseguinte, repensar minha atuação como profissional de recursos humanos.
Identificamos, ainda que, em parte, a origem dos conflitos entre o corpo clínico e
a nova gestão partia das atuações do CEO, buscando alterar a forma de trabalho e
controle dos médicos. Localizamos vários níveis de poder, individual e coletivo, bem
como jogos de poder, nos quais os vários atores buscavam controlar as ações uns dos
outros. A identificação da cultura missionária da organização, que privilegia as relações
de confiança entre os diversos atores, principalmente entre os escalões mais altos,
possibilitou compreender uma das razões de nossa saída da empresa quando da troca
de diretoria. Hoje, entendemos que estávamos construindo uma cultura, a gestionária,
que desconsiderava a existente na organização. Esse conflito de culturas também foi
determinante para o fim da experiência.
O diálogo que estabelecemos ao longo dos quatro capítulos, com as abordagens
críticas, à medida que teorizávamos uma prática, possibilitou enxergar os equívocos
ligados a nossa atuação. Verificamos que, na verdade, estávamos reproduzindo
práticas perversas da ideologia capitalista, tão típicas do mundo gerencialista. Embora
efetivamente tenhamos implantado projetos e programas diferenciados, na organização
hospitalar aqui analisada estes foram incipientes e não provocaram mudanças
definitivas na arraigada cultura médico-hospitalar.
Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, vimos a passagem
do clássico modelo de administração de recursos humanos para o de “gestão de
pessoas”. Na verdade, esse movimento não representou uma ruptura. O velho
paradigma continua a ser a busca por pessoas meramente funcionais, a serviço de
melhores resultados organizacionais. O discurso das empresas modernas é o da
parceria, do ganha-ganha. Mas o modelo é o da gestão, que pressupõe “recursos” ou
“pessoas”
como
instrumentos
passivos
para
levar
a
termo
as
estratégias
organizacionais. As organizações têm construído um modelo equivocadamente
idealizado,
baseado
na
harmonia
social,
para
atingir
objetivos
econômicos
contingentes. As empresas são hoje, ou pelo menos até o presente momento (a crise
econômica mundial faz voltar à cena o Estado intervencionista), uma das instituições
mais influentes da sociedade. Elas são responsáveis pelo imaginário que povoa as
119
mentes de um grande contingente de pessoas, que sonham fazer parte de uma grande
empresa, “as melhores para se trabalhar”. Essas empresas hipermodernas estão
edificando uma nova subjetividade em seus atores. São ícones de sucesso, desejadas
tanto quanto se deseja a felicidade. Mas sempre foram e continuarão sendo palco de
tensões, conflitos e crises, de ambigüidades e desigualdades.
As áreas de RH têm trabalhado para incrementar a maximização do resultado
econômico e da melhor performance dos empregados, uma vez que, em tese, toda a
comunidade organizacional seria beneficiada pelo aumento da produtividade. No
entanto, sabemos que os objetivos da administração estratégica de RH jamais
atenderão às necessidades dos empregados, pois seu substrato teórico e suas práticas
não permitem a análise crítica das organizações.
Em nossa atuação no ZTEC, não questionamos o modelo de gestão, que era
totalmente voltado para o aspecto econômico, em detrimento do humano. A proposta
de construção de uma empresa humanizada, no entanto, jamais saiu do discurso. Nós,
enquanto área responsável pela gestão de pessoas, não conseguimos fazer das
pessoas o centro de nossas ações, embora acreditássemos nisso. Críamos que, se
ajudássemos na produção de resultados para a empresa, através da capacitação e
motivação das pessoas, no preparo para se superarem, estaríamos atendendo aos
nossos principais “clientes” – empresa e empregados. Trabalhamos muito na busca de
recompensas, de contrapartida para o envolvimento das pessoas com a nova gestão.
Queríamos que tivessem retorno sobre o que estavam investindo. Nossos programas
incentivavam a assumir mais responsabilidades, dando uma pseudoparticipação nos
processos de trabalho, mas abemos hoje que essa era mais uma tentativa de
instrumentalizar e manipular com novas roupagens. A lógica era totalmente voltada
para a competitividade. Apregoávamos o culto da excelência, mexendo com o
narcisismo das pessoas, fazendo-as crer que poderiam alçar vôos jamais imaginados.
Pensar a organização com seus diversos grupos e suas articulações e
influências pelos atores que os constituem é pensar psicossociologicamente, é
entender os grupos e pessoas na articulação do psíquico com o social. A intervenção
que realizamos no ZTEC teve alguns pontos de aproximação com a intervenção
psicossociológica. A possibilidade de efetiva intervenção, em certos processos de
120
trabalho, possibilitou para algumas pessoas a “apropriação” do mesmo, dando lugar à
melhoria das relações interpessoais, da comunicação, e gerando ganhos de
produtividade. Quando, através dos trabalhos de desenvolvimento de grupos,
possibilitávamos a discussão dos processos, as relações entre chefe e subordinado, as
interfaces com outros setores, estávamos possibilitando, mesmo que em pequena
escala, a produção de sentido para o trabalho. Quando reconhecíamos as pessoas, o
trabalho ganhava novo sentido e, provavelmente, melhorava os relacionamentos com
colegas, pacientes e outros atores da organização. Este tipo de intervenção tem caráter
emancipatório. Do ponto de vista empresarial, que é a eficiência, acreditamos que um
processo de intervenção seja mais eficaz que os “treinamentos mecânicos”, que
também praticávamos com o objetivo de melhorar a comunicação e as relações
interpessoais. Desses últimos, tudo o que conseguíamos era um sorriso forçado e
falsas amabilidades (que duravam pouco tempo, aliás) e a continuação de todas as
formas de alienação, de exploração, de submissão, etc.
A sonhada harmonia no modo de produção capitalista é estruturalmente
impossível, devido aos conflitos de interesse. Vimos como a vida psíquica coloca-se
nas organizações, através dos vínculos afetivos, das manifestações das pulsões de
vida e de morte. Os novos conhecimentos descortinados pela descoberta do
inconsciente permitem entender as contradições inerentes à natureza humana, onde
quer que ela esteja, seja na vida privada ou nos interstícios institucionais e
organizacionais.
Na atualidade, mesmo sob as sombras do chamado desemprego estrutural, o
trabalho tem ocupado quase que a totalidade da vida das pessoas. Entender as
organizações somente com base nas teorias administrativas, sem buscar aporte de
outras disciplinas, seria reduzir a dimensão humana à insignificância.
Por outro lado essa pesquisa também nos permitiu compreender que há brechas
para o questionamento das práticas de RH. Discussões que levem em conta as
dimensões psíquicas, sociais, políticas, ideológicas inerentes a toda organização
poderão levar a resultados que privilegiam o sentido do trabalho, não apenas a busca
da eficiência. Vimos a importância da leitura crítica das organizações, analisando-as em
dimensões diversas, especialmente quando estas, identificadas como sistemas cultural,
121
simbólico e imaginário, capturam os trabalhadores em sua teia. Tal análise permite
discernir o que está oculto, de forma perversa, nas diversas práticas gerenciais.
A possibilidade de introdução de novas formas de atuar em RH requer, pois,
maiores investigações, uma vez que esse terreno é dominado por teorias e práticas
funcionalistas, visando prevalentemente os interesses do capital. É inegável, no
entanto, especialmente nos meios acadêmicos, que existe uma corrente crítica dos
discursos e das práticas organizacionais, que inclui alguns autores os quais recorremos
ao longo desta dissertação. Porém, quando examinamos a maioria das publicações
relativas à administração, percebemos nelas a falta de embasamento teórico ou, mais
que isso, de um modelo de pensamento crítico frente aos modismos gerenciais que
sempre se repetem sob rótulos diferentes, o que impede os profissionais de RH de
buscar novas alternativas à sua atuação. Logo, as práticas tradicionais, bem como as
oriundas da reestruturação produtiva, estão a serviço do pensamento dominante no
sistema gestionário, fundado essencialmente na racionalidade instrumental.
O presente estudo faz reconhecer, antes de tudo, que as práticas de RH se
situam em um terreno de conflitos e contradições, pois visam atender a interesses
estruturalmente inconciliáveis: do capital e do trabalho. Assim ao mesmo tempo em que
o gestor busca criar valores para a organização através das pessoas, coloca-se cada
vez mais distante delas, de suas necessidades e de sua subjetividade. Afinal, os
setores de RH são concebidos essencialmente como área estratégica, suporte e ponte
para levar a termo as políticas da empresa.
Apesar dessa constatação, ainda julgamos ser possível repensar a atuação do
RH. Mesmo que esse setor seja estruturado como área de resultado, acreditamos que
ele pode assimilar práticas fundadas no pressuposto de que o coletivo de trabalhadores
é um coletivo de sujeitos que podem discutir, se não as políticas gerais da empresa,
pelo menos os processos, a organização e as condições de trabalho, sem que isso
signifique apenas um “faz de conta” sobre sua participação.
Neste sentido, entendo que a releitura de minha experiência na instituição
hospitalar significou não somente um exercício de análise crítica dos sistemas de RH,
mas a possibilidade de visualizar práticas, principalmente a cargo dos profissionais com
formação em psicologia, que restituam ao coletivo de trabalhadores seu lugar de
122
sujeitos na organização. Talvez aqui resida um resto da utopia que imagina modelos de
gestão efetivamente mais “humanizados”, desde que o termo humanização não se
reduza a vazias armadilhas retóricas perversamente presentes em inúmeros
receituários. Trata-se, afinal, de pensar a dimensão ética da gestão dos trabalhadores.
Sabemos, no entanto, que tal proposta é quase marginal. Ao final na experiência aqui
discutida, prevaleceu a cultura dos sistemas empresariais: em nome dos “valores de
mercado”, ninguém é poupado. Até o CEO, no ZTEC, foi demitido, e, com ele, todos os
gerentes que foram contratados para profissionalizar os serviços daquela organização.
No entanto, acreditamos que ainda restam brechas para intervir nas
organizações e instituições na perspectiva aberta pela Psicossociologia ou pela
corrente crítica da administração. Enquanto consultores, somos demandados a ajudar
nos processos de mudanças, embora estas sejam quase sempre previamente
impostas, sem que se crie um espaço de discussão que permita ao conjunto de
trabalhadores repensar os rumos da organização. No caso de participação efetiva, esse
coletivo teria real acesso a seu lugar de sujeito, e o trabalho poderia ter, para ele, um
sentido não de alienação, mas de realização. É nessa ótica que entendemos a
mudança no interior das organizações.
123
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Dalton Barros de. Introdução. In: PEREIRA, William César Castilho (Org.)
Análise Institucional na vida religiosa consagrada. Belo Horizonte: Publicações
CRB, 2005. p.11-15.
ARAÚJO, José Newton Garcia de. Angústia e temporalidade. In: ANGERAMI-CAMON,
Valdemar Augusto (Org.). Angústia e psicoterapia. São Paulo: Casa do Psicólogo,
2000. p.143-173.
ARAÚJO, José Newton Garcia de. Elton Mayo e a escola das relações humanas.
Mimeo. s.d.
ARAÚJO, José Newton Garcia de. Uma clínica do sujeito plural. In: BARUS- MICHEL,
Jacqueline. O sujeito social. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2004. p.11-15.
ARAÚJO, José Newton Garcia de. Trabalho, organizações e instituições. In: JACÓVILELA, Ana Maria; SATO, Leny (Orgs.). Diálogos em psicologia social. Porto Alegre:
Editora Evangraf, 2007. p.399- 411.
ARAÚJO, José Newton Garcia de; CARRETEIRO, Teresa Cristina (Orgs.) Cenários
sociais e abordagem clínica. São Paulo: Escuta/Belo Horizonte, Fumec, 2001.
AUBERT, Nicole. L`individu hypermoderne. Ramonville: Èrès, 2004.
AUBERT, Nicole. Lê culte e l’urgence: la société malade du temps. Paris: Flammarion,
2003.
AZEVEDO, Creuza da Silva; BRAGA-NETO, Francisco C.; SÁ, Marilene C. Indivíduo e
a mudança nas organizações de saúde: contribuições da Psicossociologia. Caderno de
saúde publica, Rio de Janeiro, v. 1, n. 18, p. 235-247, jan/fev. 2002.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.
BARREMBLIT, Gregório. Compêndio de análise institucional e outras correntes:
teoria e Prática. Belo Horizonte: Editora Instituto Felix Guattari, 2002.
BARROS, Amon Narciso de; CRUZ, Rafaela Costa. Melhores para quem? O conteúdo
instituído de uma revista. In: Encontro de Estudos Organizacionais da Anpad, 5,
Belo Horizonte, 2008.
BARUS-MICHEL, Jacqueline. O sujeito social. Belo Horizonte: Editora PUC Minas,
2004.
BARUS-MICHEL, Jacqueline. Intervir enfrentando os paradoxos da organização e os
124
recuos do ideal In: ARAÚJO, José Newton Garcia de; CARRETEIRO, Teresa Cristina
(Orgs.). Cenários sociais e abordagem clínica. São Paulo: Escuta/Belo Horizonte:
Fumec, 2001. p.171-186.
BOURDIEU, Pierre et al. Compreender. In: A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes,
1997. p.693-732.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade
e cultura. v. I. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. A modernização gerencial dos hospitais públicos: o
difícil exercício da mudança. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 31,
n.3, p. 36-47, maio/jun. 1997.
CHANLAT, Jean-François. Ciências sociais e management: reconciliando o
econômico e social. São Paulo: Atlas, 1999.
CHANLAT, Jean-François. Modos de gestão, saúde e segurança no trabalho. In:
DAVEL, Eduardo; VASCONCELOS, João. “Recursos” humanos e subjetividade.
Petrópolis: Vozes, 1997. p.118-128.
DAVEL, Eduardo e VASCONCELOS, João. “Recursos” humanos e subjetividade.
Petrópolis: Vozes, 1997.
DEVEREUX, Georges. De l'Angoisse à la méthode dans les sciences du
comportement. Paris: Flammarion, 1980.
DUTRA, Joel. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2002.
ELIAS, Norbert. Sobre el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
ENRIQUEZ, Eugène. A noção de poder. In: ENRIQUEZ, Eugène. As figuras do poder.
São Paulo: Via Lettera, 2007. p.13-56.
ENRIQUEZ, Eugène. A organização em análise. Petrópolis: Vozes, 1997a.
ENRIQUEZ, Eugène. Instituições, poder e desconhecimento. In: ARAÚJO, José Newton
Garcia de; CARRETEIRO, Teresa Cristina (Orgs.). Cenários sociais e abordagem
clínica. Belo Horizonte: FUMEC, 2001. p.48-74.
ENRIQUEZ, Eugène. Os desafios éticos nas organizações modernas. Revista de
Administração de Empresas – RAE, São Paulo, v.37, n.2, p. 6-17, abr/jun. 1997b.
ENRIQUEZ, Eugène. Perda do trabalho, perda da identidade. In NABUCO, Regina;
CARVALHO NETO, Antonio (Orgs). Relações de trabalho Contemporâneos. Belo
Horizonte: PucMinas, IRT, 1999.
ENRIQUEZ, Eugène. Prefácio. In: DAVEL, Eduardo; VASCONCELOS, João (Org.).
“Recursos” humanos e subjetividade. Petrópolis: Vozes, 1997e. p. 7-22.
125
ENRIQUEZ, Eugène. Rapport au travail et pratique psychosociologique. Connexions,
no. 24, Paris, 1977d. p. 85-108
ENRIQUEZ, Eugène. O homem do século XXI: sujeito autônomo ou indivíduo
descartável. Revista de Administração de Empresas Eletrônica – RAE, v.5, n.1,
jan/jun. 2006.
ENRIQUEZ, Eugène. O indivíduo preso na armadilha da estrutura estratégica. Revista
de Administração de Empresas – RAE, São Paulo, v.37, n.1, p. 18-29, jan/mar,
1997c.
ENRIQUEZ, Eugène. Vida psíquica e organização. In MOTTA, Fernando C. Prestes;
FREITAS, Maria Ester (Orgs). Vida psíquica e organização. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
p.11-22.
FALK, J. A. Gestão de custos para hospitais. São Paulo: Atlas, 2001.
FERREIRA NETO, João Leite. A formação do psicólogo: clínica, social e mercado.
São Paulo: Escuta, 2004.
FERREIRA NETO, João Leite. Processos de subjetivação e novos arranjos urbanos.
Revista de Psicologia da UFF. v. 16, n. 1, 2004.
FISCHER, André Luiz. O conceito de modelo de gestão de pessoas: modismo e
realidade em gestão de Recursos Humanos nas empresas brasileiras. In: DUTRA, Joel
Souza (Org.) Gestão por competências. São Paulo: Editora Gente, 2001.
FISCHER, André Luiz. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de
pessoas. In: FLEURY, Maria Tereza L. (Org.). As pessoas na organização. São Paulo:
Ed. Gente, 2002. p.12-34
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2000.
FOUCAULT, Michel. Historia da sexualidade II: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1984.
FREITAS, Maria Ester de. A moda que não é mais moda. Revista de Administração
Empresas-RAE, v. 5, n. 1, jan./jun. 2006. Disponível em: <http://www.rae.com.br/
eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=4162&Secao=RESENHAS&Volume=5&Nu
mero=1&Ano=2006>. Acesso em 20 mar. 2009.
FREITAS, Maria Ester de. A questão do imaginário e a fronteira entre a cultura
organizacional e a psicanálise. In MOTTA, Fernando C. Prestes; FREITAS, Maria Ester.
(Orgs). A vida psíquica e organização. Rio de Janeiro: FGV, 2002. p.41-74.
FREITAS, Maria Ester de. Contexto social e imaginário organizacional moderno.
Revista de Administração de Empresas – RAE, São Paulo, v.40, n.2, p. 6-15, abr/jun,
2000.
126
FREITAS, Maria Ester de. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma. Rio
de Janeiro: FGV, 2002. 180p.
FREUD, Sigmund. Totem e Tabu. (1930 [1912]). In: FREUD, Sigmund. Obras
completas. v. XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
FREUD, Sigmund. Psicologia de grupo e análise do ego. (1921). In: FREUD, Sigmund.
Obras completas. v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. (1927). In: FREUD, Sigmund. Obras
completas. v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. (1930 [1929]). In: FREUD, Sigmund.
Obras completas. v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
FREUD, Sigmund. Por que a guerra? (1933 [1932]). In: FREUD, Sigmund. Obras
completas. v. XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer (1938). In: FREUD, Sigmund. Obras
completas. v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
FREUD, Sigmund. Moisés e o monoteísmo (1939 [1934-38]). In: FREUD, Sigmund.
Obras completas. v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
GAULEJAC, Vincent. Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e
fragmentação social. São Paulo: Idéias e letras, 2007.
GAULEJAC, Vincent. Psicossociologia e Sociologia. In: ARAÚJO, José Newton Garcia
de; CARRETEIRO, Teresa Cristina (Orgs.). Cenários sociais e abordagem clínica.
São Paulo: Escuta/ Belo Horizonte: Fumec, 2001. p.35-47.
GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: Um enfoque nos papéis profissionais. São
Paulo: Atlas, 2001.
GIUST-DESPRAIRIES, Florence. O acesso à subjetividade, uma necessidade social. In:
ARAÚJO, José Newton Garcia de; CARRETEIRO, Teresa Cristina (Orgs.). Cenários
sociais e abordagem clínica. São Paulo: Escuta/Belo Horizonte: Fumec, 2001. p.231244.
JAQUES, Elliot, AMADO, Gilles. Um debate entre Elliot Jaques e Gilles Amado. In:
ARAÚJO, José Newton de Garcia de; CARRETEIRO, Teresa Cristina (Orgs.) Cenários
sociais e abordagem clínica. São Paulo: Escuta/Belo Horizonte: Fumec, 2001. p. 207230.
LACOMBE, Beatriz Maria B.; TONELLI, Maria Jose. O discurso e a prática: o que nos
dizem os especialistas e o que nos mostram as práticas das empresas sobre os
modelos de gestão de RH. Revista de Administração Contemporânea - RAC, Rio de
Janeiro, v.5, n.2, p.157-174, 2001.
127
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulário da psicanálise. Rio de Janeiro:
Martins Fontes, 1983.
LE VEN, Michel Marie et al. História oral de vida: o instante da entrevista. In: SIMSON
VON, Olga Rodrigues de Morais (Org.). Os desafios contemporâneos da história
oral. Campinas: Centro de memória – Unicamp, 1997. p. 213-222
LÉVY, André. Ciências clinicas e organizações sociais: sentido e crise do sentido.
Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
LÉVY, André. Violência, mudança e desconstrução. In: ARAÚJO, José Newton Garcia
de: CARRETEIRO, Teresa Cristina (Orgs.) Cenários sociais e abordagem clínica.
São Paulo: Escuta/Belo Horizonte: Fumec, 2001. p.75-89.
LIMA, Francisco de Paula Antunes. Ética e trabalho. In: BARBOSA, Íris Goulart (Org.)
Psicologia organizacional e do trabalho: teoria, pesquisa e temas correlatos. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p.69-120.
LOURAU, René. Análise institucional. Petrópolis-RJ: Vozes, 1995.
MACHADO, Marilia Novais da Mata. Três cenários da prática Psicossociológica. In:
ARAÚJO, José Newton Garcia de: CARRETEIRO, Maria Teresa (Orgs.) Cenários
sociais e abordagem clínica. São Paulo: Escuta/Belo Horizonte: Fumec, 2001, p.187209.
MARTINS, Mônica Mastrantonio. A questão do tempo para Norbert Elias: reflexões
atuais sobre tempo, subjetividade e interdisciplinariedade. Revista de Psicologia
Social e Institucional do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de
Londrina, Paraná, n. 2, 2000.
MARX, Karl. O Capital. v.1. São Paulo: Editora Abril,1983.
MATA-MACHADO, Marília N. Práticas psicossociais: pesquisando e Intervindo. Belo
Horizonte: Edições do Campo Social, 2004.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). A construção do projeto de pesquisa. In:
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 31-50.
MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. O processo da estratégia. Porto Alegre:
Bookman, 2001.
MORIN, Estelle M. Os sentidos do trabalho. In: Revista de Administração de
Empresas - RAE, São Paulo, v.41, n.3, p. 9-19, jul/set. 2001.
MOTTA, Fernando C. Prestes. As empresas e a transmissão da Ideologia. Revista de
Administração de Empresas – RAE, São Paulo, p. 38-46, nov/dez. 1998.
MOTTA, Fernando C. Prestes. Cultura organizacional e cultura brasileira. São
128
Paulo: Atlas, 1997b.
MOTTA, Fernando C. Prestes. Organização e poder: empresa, Estado e escola. São
Paulo: Atlas, 1986.
MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria geral de administração: uma introdução. São
Paulo: Pioneira, 1997a.
MOTTA, Fernando C. Prestes; FREITAS, Maria Ester de (Orgs.). A vida psíquica e
organização. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
NOMURA, Felícia Hiromi; GAIDZINSKI, Raquel Rapone. Nursing staff turnover: a study
at a school-hospital. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.
13, n. 5, oct. 2005.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S0104-11692005000500007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 Mar.
2009.
PAGÈS, Max. Et al. O poder nas organizações. São Paulo: Atlas, 1987.
PAZ, Maria das Graças Torres da et al. O poder nas organizações. In: ZANELLI, José
Carlos et al (Orgs.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre:
Artmed, 2004. p.380-406
PEREIRA, William César Castilho. Movimento Institucionalista: principais escolas. In:
PEREIRA, William César Castilho (Org.). Análise institucional na vida religiosa
consagrada. Belo Horizonte: o Lutador, 2005. p.59-90.
RIBEIRO, Renato Janine. Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme: sobre
o mau uso da bibliografia nas teses em ciências sociais. In: RIBEIRO, Renato Janine. A
universidade e a vida atual: Felini não via filmes. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
p.124-131.
ROBERT-DEMONTROND, Philippe. L’entreprise socialement responsable: de l’ideal de
citoyanneté à la aquestion des incivilités ordinares. Revue Internationale de
Psychosiologie, Paris, v.IX, n. 21, p.133-155, 2003.
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no
novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2004.
SILVEIRA, Rafael Alcadipani da. Michel Foucault: poder e análise nas organizações.
Rio de Janeiro: FGV, 2005.
TANURE,
Betania;
CARVALHO
NETO,
Antonio;
SANTOS,
Carolina.
Estresse,insatisfações e infelicidades: um retrato dos altos executivos. In: I Encontro
de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho da ANPAD – Associação Nacional
dos Programas de Pós-Graduação em Administração, Natal, 2007
TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro. Por entre planos, fios e tempos: pesquisa em
129
sociologia da educação. In: ZAGO, Nadir et al. Itinerários de pesquisa: perspectivas
qualitativas em sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p.81-105.
TRASSATTI, Sidney Roberto. Treinamento de competências funcionais: moldando o
futuro organizacional pelas pessoas. In: NERI, Agnaldo (Org.). Gestão de RH por
competências e a empregabilidade. São Paulo: Papiros, 2005. p. 28-49.
TURATO, Egberto Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde:
definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. Revista de Saúde Pública, São
Paulo, v.39, n. 3, 2005, p.507-514.
ULRICH, Dave. Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os
melhores resultados. São Paulo. Futura, 2001.
ULRICH, Dave (Org). Recursos humanos estratégicos: novas perspectivas para os
profissionais de RH. São Paulo. Futura, 1998.
VIEIRA, Marcelo M. F.; CALDAS, Miguel P. Teoria crítica e pós-modernismo: principais
alternativas à hegemonia funcionalista. Revista de Administração de Empresas RAE, São Paulo, v.46, n.1, p.59-70, jan/mar. 2006.