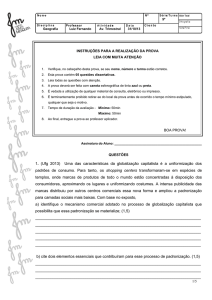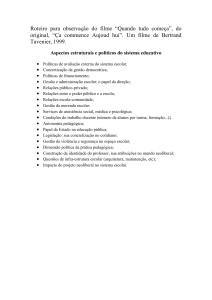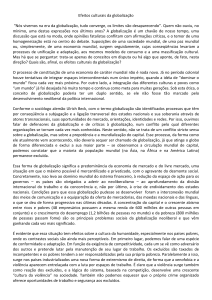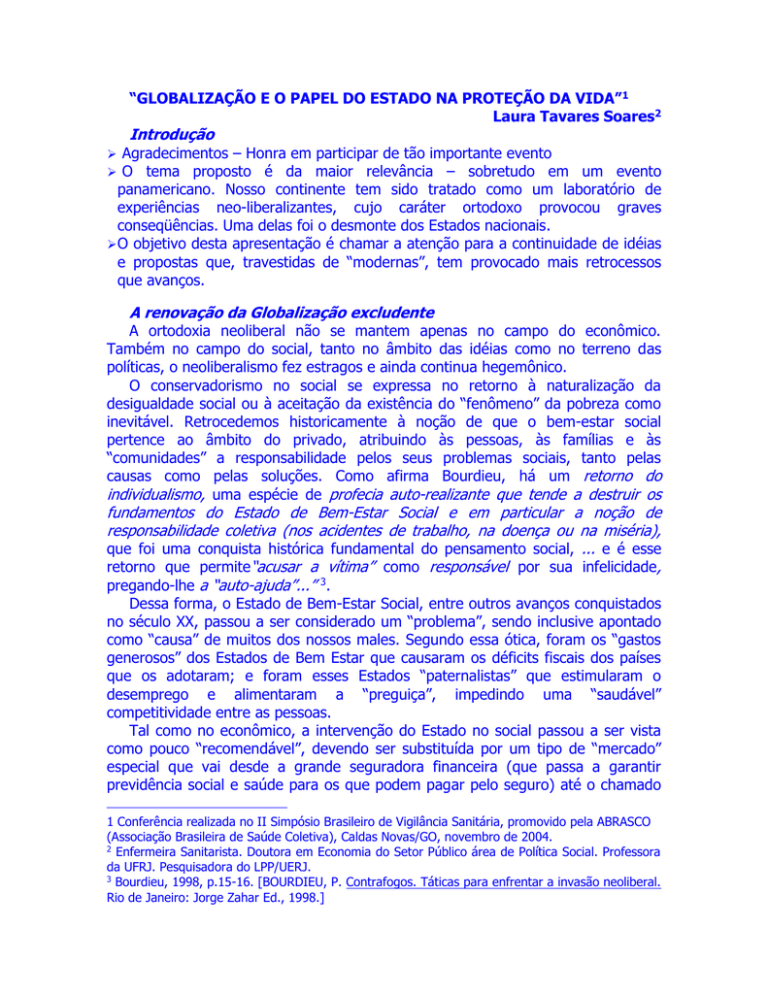
“GLOBALIZAÇÃO E O PAPEL DO ESTADO NA PROTEÇÃO DA VIDA” 1
Laura Tavares Soares2
Introdução
Agradecimentos – Honra em participar de tão importante evento
O tema proposto é da maior relevância – sobretudo em um evento
panamericano. Nosso continente tem sido tratado como um laboratório de
experiências neo-liberalizantes, cujo caráter ortodoxo provocou graves
conseqüências. Uma delas foi o desmonte dos Estados nacionais.
O objetivo desta apresentação é chamar a atenção para a continuidade de idéias
e propostas que, travestidas de “modernas”, tem provocado mais retrocessos
que avanços.
A renovação da Globalização excludente
A ortodoxia neoliberal não se mantem apenas no campo do econômico.
Também no campo do social, tanto no âmbito das idéias como no terreno das
políticas, o neoliberalismo fez estragos e ainda continua hegemônico.
O conservadorismo no social se expressa no retorno à naturalização da
desigualdade social ou à aceitação da existência do “fenômeno” da pobreza como
inevitável. Retrocedemos historicamente à noção de que o bem-estar social
pertence ao âmbito do privado, atribuindo às pessoas, às famílias e às
“comunidades” a responsabilidade pelos seus problemas sociais, tanto pelas
causas como pelas soluções. Como afirma Bourdieu, há um retorno do
individualismo, uma espécie de profecia auto-realizante que tende a destruir os
fundamentos do Estado de Bem-Estar Social e em particular a noção de
responsabilidade coletiva (nos acidentes de trabalho, na doença ou na miséria),
que foi uma conquista histórica fundamental do pensamento social, ... e é esse
retorno que permite“acusar a vítima” como responsável por sua infelicidade,
pregando-lhe a “auto-ajuda”...” 3.
Dessa forma, o Estado de Bem-Estar Social, entre outros avanços conquistados
no século XX, passou a ser considerado um “problema”, sendo inclusive apontado
como “causa” de muitos dos nossos males. Segundo essa ótica, foram os “gastos
generosos” dos Estados de Bem Estar que causaram os déficits fiscais dos países
que os adotaram; e foram esses Estados “paternalistas” que estimularam o
desemprego e alimentaram a “preguiça”, impedindo uma “saudável”
competitividade entre as pessoas.
Tal como no econômico, a intervenção do Estado no social passou a ser vista
como pouco “recomendável”, devendo ser substituída por um tipo de “mercado”
especial que vai desde a grande seguradora financeira (que passa a garantir
previdência social e saúde para os que podem pagar pelo seguro) até o chamado
1 Conferência realizada no II Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária, promovido pela ABRASCO
(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), Caldas Novas/GO, novembro de 2004.
2
Enfermeira Sanitarista. Doutora em Economia do Setor Público área de Política Social. Professora
da UFRJ. Pesquisadora do LPP/UERJ.
3
Bourdieu, 1998, p.15-16. [BOURDIEU, P. Contrafogos. Táticas para enfrentar a invasão neoliberal.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.]
2
“Terceiro Setor”, o qual inclui uma vasta e heterogênea gama de “atores” (desde
as antigas associações comunitárias ou igrejas, até as modernas Organizações Não
Governamentais de todo tipo).
A mercantilização dos serviços sociais - mesmo os essenciais como saúde e
educação - também é vista como “natural”: as pessoas devem pagar pelos serviços
para que estes sejam “valorizados”. As pessoas que não puderem pagar devem
“comprovar” sua pobreza.
A filantropia substitui o direito social. Os pobres substituem os cidadãos. A
ajuda individual substitui a responsabilidade coletiva. O emergencial e o provisório
substituem o permanente. As micro-soluções “ad hoc” substituem as políticas
públicas. O local substitui o regional e o nacional. É o reinado do minimalismo no
social para enfrentar a globalização no econômico. Estamos diante de uma
enorme fragmentação do social em contraposição a uma brutal
“globalização” do econômico. As soluções econômicas sempre dependem
do “macro”, enquanto que as soluções para o social se restringem ao
“micro”. “Globalização só para o grande capital. Do trabalho e da pobreza, cada
um que cuide do seu como puder. De preferência com um Estado forte para
sustentar o sistema financeiro e falido para cuidar do social.” 4.
Frente ao quadro social presente na maioria dos países periféricos, onde se
constata a reprodução e a brutal ampliação das desigualdades sociais, com uma
pauperização generalizada da população, fazem-se escolhas que assumem um
caráter trágico ao eleger apenas soluções “tópicas” para os problemas.
Por trás do quase irresistível apelo feito à chamada “participação da
comunidade” e aos inúmeros exemplos “bem sucedidos” (colocados em quadros
coloridos e chamativos nos relatórios internacionais) o que se vê são “pequenas
histórias” contadas em meio a um mar de dramas sociais.
Existe, portanto, uma flagrante e recorrente contradição nas propostas
hegemônicas feitas pelos organismos internacionais e adotadas pelos governos. Os
programas de “alívio à pobreza” focalizados nos “mais afetados” ou nos mais
“vulneráveis” continuam sendo recomendados, mesmo reconhecendo que os
problemas sociais não são “residuais” e que “os mais afetados” são na realidade a
maioria. O caráter de “alívio” desses programas não apenas sequer “compensam”
as perdas e danos dos mais pobres, como nem chegam perto das suas verdadeiras
causas.
Como é feito o desenho desses programas? Os Estados dos países pobres e
periféricos (sempre chamados de “em desenvolvimento”) devem contratar
empréstimos externos, que terminam por aumentar suas dívidas, para
implementar “pacotes” que em sua maioria não apenas já estão prontos como
impõem uma série de “condicionalidades” para a utilização “correta” dos recursos.
Quais são essas “condicionalidades”? Que os Estados não aumentem seu gasto
público para não produzir “déficit fiscal”; que ao invés de atuar diretamente
através de suas próprias redes, os governos devem estabelecer “parcerias”,
4
Soares, Laura Tavares. In: Prefácio ao livro “Terceiro Setor e Questão Social na Reestruturação do
Capital” de Carlos Eduardo Montaño (Cortez, 2002).
3
repassando seus serviços que passarão a ser prestados por instituições
comunitárias ou ONGs; os recursos devem ser “focalizados” nos mais pobres, e
devem ser priorizados nos chamados “subsídios à demanda” e não na ampliação
da oferta de serviços públicos; as pessoas que trabalharão nesses programas
devem ser preferencialmente “da própria comunidade”, estimulando-se sempre o
“trabalho voluntário”; e o programa deve ser encerrado no momento em que a
própria comunidade esteja em condições de se “auto-sustentar”.
No entanto, o atual desastre social na América Latina já não pode ser
escondido e tornou-se quase um “novo consenso” do ponto de vista do seu
reconhecimento frente às suas evidentes manifestações. O problema continua
sendo a repetição do diagnóstico das causas do desastre e, sobretudo, das
propostas que continuam hegemônicas para o seu enfrentamento.
Ao analisar os inúmeros diagnósticos elaborados por organismos internacionais,
as causas dos nossos males variam desde a nossa incompetência para executar de
forma “adequada” os ajustes e as reformas “necessárias” até a nossa “fragilidade”
política marcada pela “corrupção”. Alguns mais sérios (como a CEPAL5) apontam
para a impossibilidade de melhoria da situação social face às sérias “restrições
econômicas” que não permitiriam a geração de emprego e renda capaz de
absorver a “pressão demográfica” representada pela incorporação de jovens à
população em idade ativa. Os mais radicais, como o FMI, continuam afirmando que
as atuais condições sociais na AL são um preço “necessário” para que os países
possam (algum dia) estabilizar-se e crescer. (Algo assim como os inevitáveis
“efeitos colaterais” do remédio aplicado).
As receitas são equivalentes aos diagnósticos e dão sempre a sensação de
“mais do mesmo” ou “variações em torno do mesmo tema”. Aos países periféricos
são recomendadas políticas de “ajuste” – com abertura indiscriminada, “rigor”
fiscal e “reformas” – políticas que, por sinal, não são adotadas pelos países
centrais que comandam os órgãos multilaterais proponentes e supostamente
financiadores dessas políticas. Diante da corrupção os povos latino-americanos têm
que “aprender a escolher seus políticos”. Diante da violência (traduzida hoje por
“terrorismo”) eles estão dispostos a nos “ajudar”, tanto financeiramente como
inclusive com armas e tecnologia “apropriadas”. E diante das restrições
econômicas, as recomendações variam entre: criar condições “favoráveis” a uma
maior integração com os países do norte (de preferência através dos mecanismos
por eles estabelecidos - como a ALCA); criar “condições” para atrair capital
externo; desenvolver “capital humano” e diminuir os custos das empresas (leia-se
menos impostos) para gerar competitividade; e, sobretudo, a recomendação de
ampliar e aperfeiçoar as chamadas “reformas” (a estas alturas já na sua terceira
ou quarta geração) para diminuir os gastos governamentais e, portanto, o “déficit
fiscal”.
5
Comissão Econômica para a América Latina, órgão da ONU.
4
As conseqüências dessa “globalização excludente”
As conseqüências ou os desajustes sociais provocados por essas políticas são
considerados ou como inevitáveis ou inerentes a um processo em direção à
“modernidade”. Optamos tratar dessas conseqüências sociais como desajustes em
contraposição à noção de ajuste subjacente às políticas neoliberais como algo
“necessário” para que os países “em desenvolvimento” possam atingir uma
suposta “estabilidade”, condição para um futuro crescimento e, quiçá, alguma
distribuição das “sobras” num futuro ainda mais remoto. Criticamos aqui o conceito
de “transição” tal como vem sendo empregado pelos organismos internacionais,
trazendo consigo uma falsa idéia de “evolução” em direção a uma situação
supostamente melhor ou “mais avançada” – noção típica da matriz sociológica que
supõe a “modernização por difusão”. Como contraponto a esta visão, é possível
constatar o retrocesso social de parcelas crescentes da população mundial frente
às políticas deliberadas de corte neoliberal.
Quando tratamos dos países periféricos, aonde já existiam desigualdades
estruturais e históricas, a distância entre os mais ricos e os mais pobres aumentou
ainda mais, provocando uma polarização que tem levado a rupturas sociais agudas
e violentas. Esses países ficaram com o “pior dos mundos”, agravando suas
situações de pobreza e extrema miséria, ao mesmo tempo em que se vêm frente
ao processo contemporâneo de desfiliação daqueles que pertenciam ao circuito do
mercado de trabalho, com algum grau de proteção social.
Assim, o que a “modernidade” nos trouxe foi a superposição perversa de
antigas situações de desigualdade e miséria com uma “nova pobreza” causada
pelo aumento massivo e inusitado do desemprego e pela generalização de
situações de precariedade e instabilidade no trabalho, aumentando o contingente
daqueles que se tornaram “vulneráveis” do ponto de vista social pela redução ou
mesmo ausência de mecanismos de proteção social.
É, portanto, na periferia capitalista, onde a construção de um Estado de
Bem Estar Social foi incompleta ou precária, onde o impacto do ajuste foi
significativamente maior diante do desmonte dos frágeis mecanismos existentes de
proteção social.
Sempre partindo de um recorrente “modelo único”, as formas pelas quais o
ajuste foi implantado em cada um dos países periféricos variaram, dependendo
dos respectivos contextos nacionais e internacionais e das condições econômicas,
sociais e, sobretudo, políticas presentes em cada país. Apesar das
condicionalidades impostas externamente pelos organismos financeiros
internacionais, a sua aceitação ideológica e a sua implementação interna em
nossos países sempre contaram com o valioso apoio e empenho das nossas elites
locais acompanhadas dos nossos governos nacionais. Mesmo considerando a
diversidade do espectro político, esse apoio foi marcado por um autoritarismo que
oscilou desde medidas explícitas e violentas (como no caso do Chile) até aquelas
que foram implementadas dentro do das regras do “jogo democrático” vigente. No
entanto, em todos os países os processos políticos de implantação do ajuste,
guardadas as proporções, foram também marcados pela corrupção, pelo
5
clientelismo e pela cooptação. Muitos presidentes latino-americanos condutores
desses processos em alguns países estão foragidos e/ou com processos na justiça.
Ao analisar os países da América Latina6, podemos esquematizar o impacto
do ajuste sobre as Políticas Sociais em três modalidades. Uma primeira e mais
radical - e que foi pioneira e plenamente executada no Chile do General Pinochet
no início dos anos 80 – foi a substituição total do aparato estatal de proteção
social pela privatização irrestrita das suas instituições. Os sistemas públicos e
universais foram substituídos por seguros privados, ligados ao capital financeiro,
com um gigantesco subsídio de recursos públicos por parte do Estado.
Uma segunda modalidade foi o desmonte de políticas sociais pouco sólidas,
onde os mecanismos de proteção social eram frágeis e não chegavam a constituir
um sistema de proteção social. Nestes casos, foi mais fácil eliminar os poucos
direitos sociais existentes; introduzir a privatização de bens e serviços públicos; e
substituir o aparato estatal de assistência à pobreza por organizações não
governamentais (ONGs). Um dos casos paradigmáticos dessa alternativa na
América Latina foi o Peru.
Finalmente, uma terceira modalidade, da qual o Brasil pode ser citado como
um exemplo, foi a combinação do desmonte de políticas sociais dirigidos aos mais
pobres ou “excluídos” (como a Assistência Social) com “reformas” constitucionais
que reduziram ou eliminaram direitos constituídos ao longo de décadas e
consagrados na Constituição de 1988 - tratando de desmontar, principalmente, a
Seguridade Social. Foram introduzidos mecanismos que interromperam o processo
de construção de uma Seguridade Social mais ampla e generosa, baseada nos
direitos de cidadania e no dever do Estado, e que incorporava três áreas sociais da
maior relevância: Saúde, Previdência e Assistência Social.
Consideramos que o não cumprimento dos preceitos da Seguridade Social,
instituídos pela Constituição de 88, como um dos mais graves retrocessos sofridos
no campo da política social no Brasil. Ao invés de evoluirmos para sistemas
verdadeiramente públicos e universais que garantissem os direitos essenciais de
cidadania das parcelas majoritárias da população, reduziu-se mais ainda a já
debilitada capacidade de intervenção do Estado no social. O frágil direito de
cidadania que vinha sendo construído a duras penas .. foi substituído por
“atestados de pobreza” que permitem apenas o acesso a precários e mal
financiados serviços públicos.7
O papel do Estado na Proteção Social
No campo da oposição ao pensamento único – em uma perspectiva de
construção de um projeto que se oponha à visão neoliberal da sociedade8 - é
6
Ver Soares, 2001. [SOARES, L.T. Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina.
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001]
7
Soares,L.T., 2002, p.72.
8
Ver debate sobre alternativas “não-neoliberais” in: Soares, L. Tavares. O Desastre Social. Rio de
Janeiro: Ed. Record, 2003.
6
preciso reconhecer que não existe propriamente um “consenso” e sim muitos
elementos de debate9.
Hoje muitos críticos do neoliberalismo consideram que ele já estaria
“superado” dado o visível desastre que causou. Gostaríamos de problematizar um
pouco essa questão. Outro aspecto a ser questionado é o suposto caráter de
“inovação” que algumas reformas do Estado assumem em nosso continente.
A História nos permite entender que tanto o “diagnóstico” como as
“soluções” propostas pelo neoliberalismo não têm nada de “novo”. A História do
capitalismo mostra a recorrência e os problemas das soluções “liberais” em tempos
de crise e de reestruturação do capital. A chamada “globalização” também tem
sido um elemento essencial do mundo capitalista desde o século XVI.
A associação das pessoas em “grupos não-governamentais”, por exemplo,
não é nenhuma novidade. A novidade é que eles comecem a assumir funções que
outrora pertenciam à esfera estatal. Nas palavras de Wallerstein “torna-se até
preciso retornar ao sistema pré-moderno: devemos providenciar a nossa própria
segurança. Assumimos as funções de polícia, do arrecadador de impostos e do
professor de escola. Além do mais, uma vez que é difícil assumir todas essas
tarefas, submetemo-nos a “grupos” construídos de diversas maneiras e com
diversos rótulos”. “Depois de cinco séculos de fortalecimento das estruturas
estatais, ..., não é coisa de somenos importância. É um terremoto histórico do qual
somos participantes. Esses grupos aos quais nos submetemos representam algo
bem diferente das nações que construímos nos dois últimos séculos. Os membros
não são “cidadãos”, porque as fronteiras dos grupos não são definidas
juridicamente, mas miticamente; não para incluir, mas para rejeitar.” 10
Também do ponto de vista histórico o papel do Estado não é certamente
uma questão tranqüila. Do ponto de vista das classes subalternas, “os Estados
foram certamente opressivos, pouco confiáveis, mas foram também e ao mesmo
tempo fontes de segurança cotidiana” 11. O problema hoje é que há uma
desistência hoje generalizada da crença nos Estados, “não somente no
Estado em mãos dos “outros”, mas em todo o Estado”.12
Por outro lado, esse “antiestatismo radical” assume feições cínicas quando
assumido por setores capitalistas históricamente favorecidos pelos próprios
Estados. Portanto, apesar do discurso de que o Estado deve “se retirar do
econômico e permanecer no social”, a realidade é inversa. Trata-se de reformular
o Estado, retirando-o de algumas áreas (da “mão esquerda”13 do Estado) e
O que consideramos como uma característica saudável e certamente muito mais democrática do
que a imposição de “consensos”.
9
10
Wallerstein, in: Gentilil (org.), 2000, p.243 [Immanuel Wallerstein. “A reestruturação capitalista e
o sistema-mundo”. In: Gentili,P. (org.).Globalização excludente. Desigualdade, exclusão e
democracia na nova ordem mundial. Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes: 2000. (Coleção A Outra
Margem).]
11
Wallerstein, op.cit.
12
Id.ibid.
13
Expressão cunhada por Bourdieu.
7
reforçando-o em outras (a “mão direita”14). Para que as medidas de ajuste e as
reformas sejam implementadas é preciso que o próprio Estado garanta recursos
financeiros e poder aos novos setores “estratégicos” para o capitalismo, como o
setor financeiro. O Estado é absolutamente necessário para desregulamentar a
economia e flexibilizar as relações de trabalho. É o Estado que garante a tão
almejada estabilização econômica, suposta etapa preliminar para um futuro
crescimento e uma futura, cada vez mais remota, distribuição da riqueza. E,
finalmente, é também o Estado que patrocina e executa as famosas “reformas”
consideradas “indispensáveis”, emprestando-lhes um caráter mágico e infalível na
solução de todos os nossos problemas.
Segundo Atílio Borón15 os capitalistas locais e seus sócios metropolitanos
obtiveram inúmeras vantagens com essas políticas, modificando “a seu favor e de
maneira decisiva, a correlação de forças entre o mercado e o Estado,
condicionando desse modo os graus de liberdade que pudesse ter algum
futuro governo animado por uma vocação reformista ou
transformadora.” Diante desse quadro, se reafirma não ter dúvidas de que a
tarefa mais urgente que os países da América Latina teriam que enfrentar no “pósneoliberalismo” seria a reconstrução do próprio Estado.16
Isto é particularmente mais grave em se tratando de um Estado totalmente
desmontado e destruído em seus mecanismos mais elementares de
funcionamento, sobretudo quando se quer resgatá-lo para uma intervenção efetiva
baseada em um novo projeto de desenvolvimento econômico e social, ou, em um
projeto “anti-neoliberal”. Sob o recorrente argumento da necessidade de
“reformas”17, junto com aquilo que poderia ser considerado o “velho” e
que de fato poderia ser “dispensado”, jogou-se fora uma série de
instrumentos do Estado vitais para qualquer projeto que levasse em
conta o seu fortalecimento numa perspectiva de mudança “nãoneoliberal”.
A supremacia do privado estendeu-se ao social: todos aqueles setores
dos sistemas de proteção social considerado “rentáveis” (como a
Previdência e a Saúde) foram privatizados em nome da preservação de
um Estado para atender os mais “pobres”. O resultado foi o que já vimos: o
que sobrou foi um Estado “pobre” para os “pobres”.
Outro ponto polêmico e delicado nesse debate, por suas implicações frente
ao desenho das alternativas, é o caráter estrutural na reprodução ou na mudança
das condições sociais. Ou seja, se as conseqüências sociais do ajuste são apenas
de natureza “conjuntural”, podendo ser mais facilmente revertidas uma vez
passada essa “conjuntura neoliberal”, ou se o que se está configurando é de fato
uma “nova situação social” cuja estruturação vem se dando de tal maneira que
14
Idem.
Ver In: Pós-neoliberalismo. As políticas sociais e o Estado Democrático. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1995.
16
Borón, op.cit. p.79.
17
Outro termo modificado pelo neoliberalismo e esvaziado do seu conteúdo original de mudanças.
15
8
torna mais difícil a sua reversão ou mudança. Esta certamente não é uma questão
trivial quando se pensa nas “alternativas não neoliberais” na construção e
implementação de políticas públicas e sociais a partir do Estado.
Em nossa tese de doutorado18 já problematizávamos o fato de que a
“destruição” provocada pelo ajuste tornaria muito difícil o caminho “de volta” ou o
caminho da reconstrução. Cabe, portanto, sempre relembrar o caráter amplo do
ajuste, que não se limita apenas a políticas macroeconômicas, mas que possui
todo um arcabouço ideológico e político que orientaram políticas estruturantes do
Estado e suas relações com a Sociedade. As medidas de ajuste, portanto, não
se limitaram a mudanças conjunturais: elas também provocaram
mudanças estruturais cuja possibilidade de reversão depende do grau de
destruição e da profundidade da transformação promovida pelo ajuste.
A pergunta que fica é qual a chance das parcelas crescentes da população
afetadas por esse processo de destruição de serem incluídas pelo “mercado”,
mesmo em condições de crescimento econômico. A última década demonstrou a
baixa capacidade de absorção das economias em períodos de retomada do
crescimento: a velocidade da destruição de postos de trabalho é sempre muito
maior que a da recuperação dos mesmos, que dirá da sua ampliação.
Por outro lado, a enorme e crescente concentração de riquezas nos
permitiria uma margem não desprezível de redistribuição. Nessas condições,
parece imperativo recorrer, uma vez mais, a um Estado que pudesse
cumprir com esse papel redistributivo e, ao mesmo tempo, que sustentasse a
existência de circuitos ou redes públicas que permitisse a inclusão por meio da
garantia dos direitos de cidadania, como o acesso à educação, à saúde, à
habitação, ao saneamento básico, à cultura e ao lazer. Essa “inclusão” não se daria
apenas por meio da transferência de renda – que corre o risco de reproduzir
apenas as políticas de subsídio à demanda propugnadas pelo Banco Mundial – mas
pela existência de redes públicas universais que garantissem o acesso através da
ampliação e da redistribuição dos bens e serviços públicos. A transferência
temporária e isolada de um mínimo em termos monetários na maioria das vezes é
totalmente insuficiente para adquirir no “mercado” bens e serviços essenciais.
Outra restrição é a “focalização” apenas naqueles que conseguem
“comprovar” a sua pobreza em termos de insuficiência de renda, deixando “de
fora” aquelas famílias que porventura estejam um pouco acima da “linha de
pobreza” e, no entanto, em igual situação de precariedade e desamparo, podendo
“cair” abaixo dessa linha a qualquer momento ou por situações freqüentes nessa
faixa da população, como o desemprego ou a doença. O critério da renda quando
utilizado de modo exclusivo termina por excluir. Além disso, o chamado
“cadastramento de pobres”, fica quase sempre submerso em obscuros caminhos
que levam ao clientelismo e a critérios nem sempre justos de “inclusão”.
Nesse sentido, somos mais favoráveis à estratégia que chamamos de
“universalização territorial”. Partindo do pressuposto, já consagrado pela
maioria das evidências e dos estudos ou mapas da pobreza ou da “exclusão”, a
18
Tese defendida em 1995. Ver Soares, Laura Tavares, 2001.
9
pobreza no Brasil possui uma distribuição espacial ou territorial bem nítida19. Dessa
forma é perfeitamente possível garantir que os serviços e bens “cheguem aos mais
pobres” de forma universal e não discriminatória, sempre e quando estejam
localizados próximos aos domicílios desses mesmos pobres. Mais ainda, como em
geral as carências não se apresentam de forma isolada ou independente, as
políticas universais territoriais têm ainda a vantagem de permitir integrar, no
território, as diversas políticas públicas que se façam necessárias. Isto permitiria
uma integração não apenas das políticas como também da população beneficiária,
superando a marca da fragmentação tão presente hoje na área social. Aonde há
doença há falta de saneamento, e aonde há criança desnutrida há uma mãe que
precisa de assistência também. Vou mais longe: essa integração no território
permitiria, ainda, uma “economia de escala”20 dos recursos envolvidos, bem como
uma potencialização dos mesmos, com resultados muito mais efetivos do ponto de
vista do impacto social do que aqueles obtidos com programas fragmentados.
É preciso voltar a utilizar a noção de espaço-território para as políticas
públicas no Brasil. Nem sempre há uma concordância ou uma coincidência desses
espaços com os definidos em termos político-administrativos. Portanto, as políticas
sociais não deveriam ser apenas “municipais” ou “estaduais”. A dimensão regional
deve ser resgatada em âmbito nacional, assim como os territórios “supramunicipais” em âmbito estadual. Um exemplo claro disso é o das regiões
metropolitanas.
A gestão descentralizada de programas sociais, embora casos isolados
consigam alguma sinergia, não tem escala suficiente para substituir o Governo
Central (Federal) e o Regional (Estadual) naquilo que é a principal missão no
campo da Política Social: criar uma dimensão de igualdade no território nacional
no imenso espaço de desigualdades sociais.21
Por outro lado, não existe uma “receita única” para todas as políticas
sociais. Respeitando a natureza específica de cada política e os seus propósitos,
devem ser desenvolvidas estratégias específicas, sempre garantindo o princípio da
universalidade no acesso a redes públicas de serviços e a constituição de sistemas
integrados, onde cada ente federativo assuma a sua responsabilidade - de acordo
com suas realidades e possibilidades – no financiamento, na gestão, na execução e
na fiscalização das várias políticas.22
No debate “descentralização – regionalização” deve-se superar a disjuntiva
“a quem cabe executar as ações”, se à nação, ao estado ou ao município,
evitando-se entrar em falsas discussões no sentido de que a execução por parte do
Pressuposto, aliás, já consagrado por sanitaristas ilustres na nossa história. Josué de Castro já
nos falava da “Geografia da Fome” na década de 40.
20
Critério que anda esquecido pelos economistas e planejadores “de plantão”, muito preocupados
com o “custo-benefício” em termos “micro-econômicos”.
21
Soares, Laura Tavares. “O avanço da política social no Rio Grande do Sul frente ao retrocesso
neoliberal no Brasil”. Introdução ao livro Tempo de desafios. A política social democrática e popular
no governo do Rio Grande do Sul. Coleção “A Outra Margem”. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2002.
p.18.
22
Soares, 2002, op. cit., p.21.
19
10
governo federal ou dos governos estaduais reduziria ou eliminaria a capacidade de
intervenção dos municípios. As evidências mostram o contrário: a garantia de um
desenvolvimento regional e local eqüitativo passa por uma atuação decisiva dos
governos federal e estaduais, atuação essa que, quando articulada, tem forte
relação com as “questões locais” e inclusive fortalecem a atuação das prefeituras
municipais.23
Além da integração das políticas públicas sociais nos âmbitos territorial e
populacional, tratando de superar a fragmentação e a exclusão, temos outra
questão relevante que é o caráter público dessas políticas, que, a nosso ver,
passa por uma atuação estatal. Isto tem um contraponto com as propostas
“hegemônicas” vistas anteriormente de que o âmbito do privado tem supremacia
frente ao estatal e que os governos devem estimular as “parcerias” com o setor
“não governamental”. Respeitadas as experiências históricas e particulares que
possam ter sido consideradas “bem sucedidas”, sempre e quando estejam
garantidas “as boas intenções” e o “espírito solidário” da “organização não
governamental”, as controvérsias nesse terreno são muitas.
Em primeiro lugar, aquilo que se convencionou chamar de “3o. setor” é
hoje uma ampla gama de organizações e instituições, locais, regionais, nacionais e
internacionais, que vão desde a associação de moradores local até uma grande
empresa multinacional com “responsabilidade social”. Independentemente de suas
boas intenções, a maioria dessas organizações, “por políticas explícitas por parte
dos próprios governos, vem assumindo um papel substitutivo ao Estado,
sobretudo naqueles lugares mais pobres e retirados, de onde o Estado ou
se retirou ou simplesmente não existia. É justamente esse caráter
“substitutivo” e não complementar que desmascara as supostas “parcerias”
entre o Estado e a Sociedade.”24.
Em trabalhos realizados25, podemos constatar que quanto mais forte é a
presença social do Estado, maiores as possibilidades de sinergia e de atuação
conjunta com as chamadas “entidades civis”, as quais, inclusive, não assumem a
responsabilidade pela prestação do serviço público e ficam mais livres para
exercer seu papel fiscalizatório e propositivo no planejamento e na avaliação das
políticas. Quando o Estado é omisso ou ausente, e quanto mais carente é a
“comunidade” onde se está atuando, as entidades não-governamentais assumem
uma responsabilidade que não deveria ser delas, além de muitas vezes não ter
condições nem técnicas nem operacionais de garantir a prestação continuada
daqueles serviços.
Por outro lado, por mais idôneas que sejam essas organizações, algum grau
de discricionariedade ocorre na medida em que elas não são capazes de propiciar
a abrangência e a continuidade necessárias para que suas ações produzam algum
23
Soares, op.cit., p.24.
Soares, Laura. Prefácio ao livro “Terceiro Setor e Questão Social na Reestruturação do Capital”
de Carlos Eduardo Montaño (São Paulo, Cortez, 2002).
25
A autora possui trabalhos realizados nessa área no Brasil e em diversos países da América Latina
e Canadá. Acrescente-se a isso que a autora trabalha no setor público há 30 anos e já realizou
inúmeros trabalhos “em parceria” governos e entidades civis.
24
11
impacto coletivo. Assim, enquanto alguns grupos ou indivíduos são “assistidos”,
outros ficam “de fora” por critérios muitas vezes alheios à sua vontade.
Exatamente por sua limitada abrangência ou capacidade de cobertura, o seu
“caráter exemplar” fica muitas vezes prejudicado quando se tenta replicar
pequenas experiências em um âmbito maior de atuação. Dessa forma, o impacto
dessas ações tem sido muito limitado na transformação das condições gerais de
vida de grandes parcelas da população, visto que o simples somatório dessas
experiências localizadas não resulta numa Política Social integrada de âmbito
nacional, regional, ou mesmo local, dependendo das dimensões da população a
ser assistida.
Outra questão relevante na perspectiva da reconstrução democrática do
Estado é o “controle social” e o “controle público”, tratando de superar uma certa
confusão existente no debate. O controle social deveria ser exercido de forma
independente e autônoma pela sociedade organizada, cuja participação deve
nortear a ação governamental, e não substituí-la. Tampouco as experiências de
controle social têm sido homogêneas no território nacional. Quase sempre elas
tiveram uma presença mais forte exatamente naqueles lugares onde se elegeram
governos populares e democráticos. O que reforça, mais uma vez, a nossa tese de
que sem um Estado democrático que assuma um projeto popular e, portanto, antineoliberal, fica muito mais difícil essa participação social em benefício dos
interesses da maioria, e não dos interesses privados das eternas elites minoritárias
que dominaram historicamente os nossos Estados.
Outra coisa é o “controle público” para o qual se supõe a existência de
instituições do próprio Estado que devem cumprir esse papel, como o Ministério
Público. Paradoxalmente, paralelamente ao desmonte do Estado brasileiro, esse
tipo de instituição abre perspectivas no sentido de cumprir seu papel fiscalizatório
sobre os governos em prol do interesse público. Algumas experiências já são
referência no Brasil, como no caso da articulação do Ministério Público com
entidades civis na defesa do caráter público do Sistema Único de Saúde (o SUS),
mostrando, neste caso, uma sinergia entre o controle público por parte do Estado
e o controle social por parte da sociedade organizada. É evidente que esse caráter
público da fiscalização por parte de órgãos do próprio Estado ainda tem muito que
avançar e nem se dá de maneira uniforme em todo o território nacional, mas é um
espaço potencial que precisa e deve ser fortalecido na construção de um Estado
verdadeiramente democrático.
Concluindo, o debate em torno ao papel do Estado no enfrentamento e na
superação da difícil e complexa situação social brasileira é fundamental. Nós que
não acreditamos na “modernização excludente” – herança do passado - além de
propugnarmos por inevitáveis medidas de curto prazo para que as pessoas não
passem fome, temos também a obrigação de pensar alguma perspectiva de
futuro que comece a ser construída no presente. Ou, como diria Cora
Coralina... realizar a profilaxia futura dos erros do presente.
12
Para essa construção, é preciso superar o argumento do possível alegando a
impossibilidade de outras alternativas frente à pobreza que se impõe e, sobretudo,
frente à política econômica que ordena todas as demais políticas. Mesmo que não
seja essa a intenção, essa postura termina por transformar a política social apenas
em um complemento da política econômica, numa relação de subordinação que
limita as escolhas. Esse complemento se traduz, quase sempre, em programas
emergenciais de combate à pobreza, cujo horizonte é obscuro dado o seu caráter
limitado frente à reprodução (e, em alguns casos, ampliação) das condições
geradoras de pobreza.
Mais do que nunca, no Brasil atual, torna-se imperativo uma POLÍTICA
SOCIAL que deixe de ser residual e que represente, ela mesma, uma alternativa
real de desenvolvimento. O singular aqui não é aleatório. É preciso superar o
somatório de programas sociais isolados e fragmentados – construindo uma
Política Social que se constitua numa “meta-política”, determinando e integrando
as diretrizes das demais políticas públicas, inclusive a política econômica. O
princípio da unicidade da Política Social é o que pode garantir o alcance de
patamares sociais mais igualitários no Brasil, superando as nossas enormes
Desigualdades.
Por outro lado, na implantação de um projeto civilizatório para este país, a
Política Social cumpre o papel de garantir direitos que são constitutivos dos direitos
humanos e de cidadania. Nesta perspectiva, educação e saúde não são necessárias
para “aumentar a competitividade”26. Além de gerar emprego e renda, é preciso
propiciar o acesso igualitário a outros direitos sociais fundamentais.
Finalmente, para a construção dessa Política, é preciso perder o medo (que
ainda persiste em muitos setores) de pensar e reconstruir o Estado como um
espaço público e democrático, que possa constituir-se em uma
verdadeira alternativa de incorporação cidadã – na perspectiva da
garantia de direitos – de parcelas majoritárias da população brasileira
que muitas vezes não tem voz nem poder de pressão e cujas chances de
“inclusão pelo mercado” são nulas.
26 Tese hoje muito defendida por organismos internacionais ao colocar como “estratégico” o
denominado “capital humano” para aumentar a “competitividade” dos países “em
desenvolvimento”.
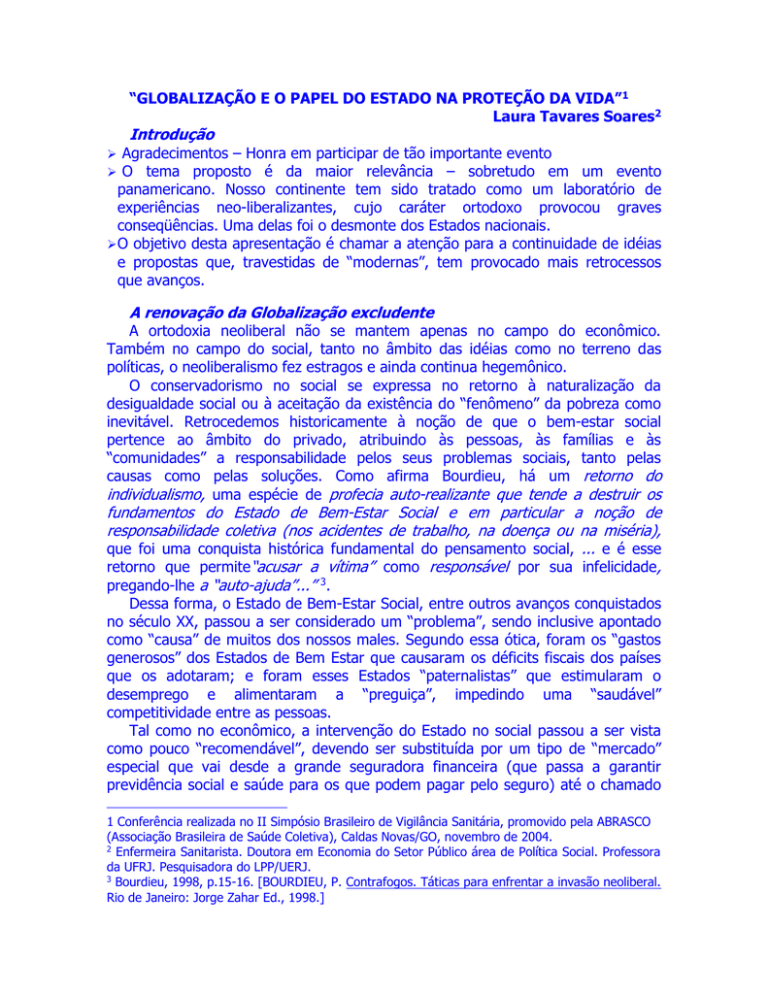
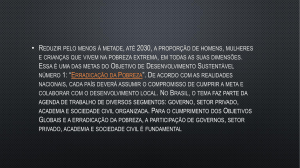
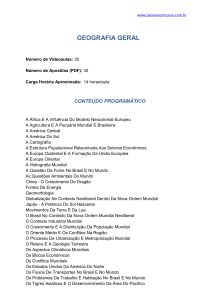

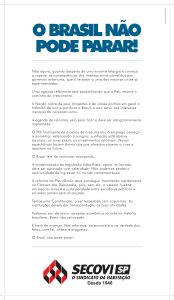

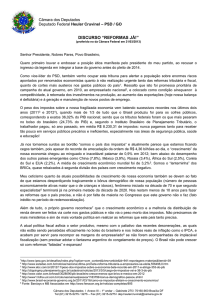
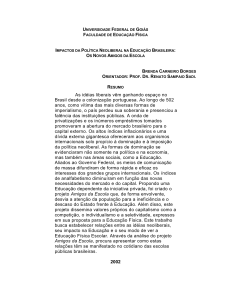
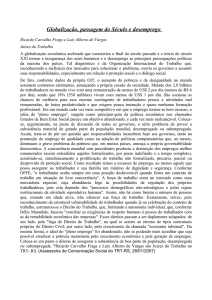
![[sp - 1] estado/primeira/paginas 23/05/17](http://s1.studylibpt.com/store/data/004182966_1-62ba28f7ec4a5028120ec5743e070f85-300x300.png)