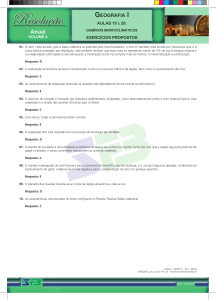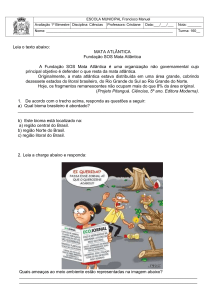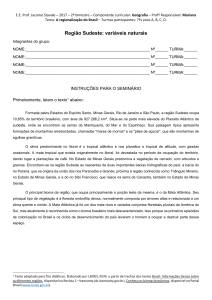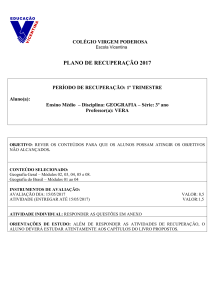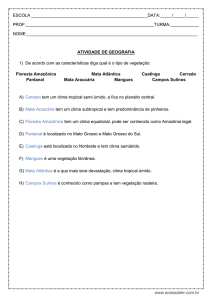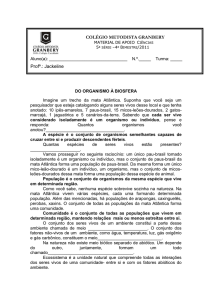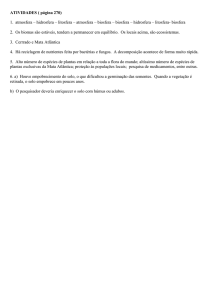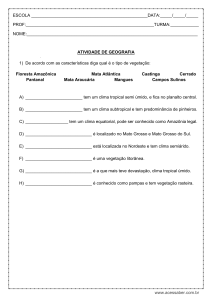A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO E A CONSERVAÇÃO
DOS RECURSOS NATURAIS1
José Augusto Pádua
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
[email protected]
Nota: O texto abaixo apresenta de maneira sintética algumas das reflexões e
evidências históricas que foram trabalhadas de forma bem mais profunda e detalhada
no meu livro “Um Sopro de Destruição: Pensamento Político e Crítica Ambiental no
Brasil Escravista” (Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2002).
Para analisar o modelo histórico de ocupação do território brasileiro,
focalizando suas implicações ecológicas, é necessário partir da constatação de que o
Brasil como entidade histórica é uma construção bastante recente. Não é o resultado
de uma longa maturação, de um lento processo evolucionário, mas sim de pouco mais
de cinco
séculos de um processo de ocupação construído sob o domínio europeu e
neo-europeu. Mais ainda, as linhas gerais deste processo, estabelecidas segundo a
lógica de uma colônia de exploração, continuaram vigentes após a independência
política do país e ainda hoje, em muitos sentidos, continuam marcando profundamente
o nosso modelo de desenvolvimento.
É verdade que as culturas indígenas milenares legaram importantes elementos
para a vida espiritual e material da sociedade brasileira. Mas não se pode esquecer que
as populações indígenas no Brasil, assim como as outras populações das planícies e
áreas costeiras das Américas – e em menor escala as populações situadas nas altitudes
elevadas - sofreram um enorme holocausto demográfico, da ordem dos 90%, nos
primeiros cem anos de contato com os europeus. Ou seja, para cada dez índios que
viviam no litoral brasileiro antes do contato, apenas um sobreviveu. As explicações
para este fenômeno são complexas e requerem a adoção de uma macro-visão históricoecológica. As violências diretas e indiretas ajudam a explicar este holocausto, mas a
difusão de epidemias, um verdadeiro choque epidemiológico, constitui o eixo
explicativo cada vez mais aceito. As antigas populações das Américas, descendentes
dos grupos humanos que entraram no Continente através do estreito de Bering durante
1
Artigo publicado no livro Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências, organizado por M.
Milano, L. Takahashi e M. Nunes, Fundação O Boticário, Curitiba, 2004.
a última grande glaciação, entre 80.000 e 12.000 anos atrás, ficaram totalmente
isoladas do restante da humanidade na medida em que a desglaciação provocou a
subida do nível do mar e o fechamento da passagem entre o Extremo Oriente e o
Extremo Ocidente. O isolamento destas populações – somado ao fato de que o gelo de
Bering serviu como uma barreira para impedir a entrada nas Américas de muitos
patógenos presentes no Velho Mundo, além da pequena presença da domesticação de
animais na economia das populações nativas, o que reduz em muito a transmissão de
doenças – fez com que o nível médio de saúde das mesmas fosse superior ao das
populações européias. O outro lado da moeda, no entanto, foi a inocência do sistema
imunológico dos grupos
indígenas, que sucumbiram com facilidade às doenças
introduzidas pelos conquistadores, como a varíola, a gripe e a peste bubônica (Crosby,
1994 e Cook, 1998).
De toda maneira, o essencial é constatar que o território brasileiro,
especialmente o litoral, ficou bastante despovoado, de tal forma que, segundo Warren
Dean (1998), em um primeiro momento a Mata Atlântica chegou a expandir-se após a
conquista, pela redução das queimadas praticadas pelos indígenas, mesmo que cada
uma delas tivesse uma escala muito menor do que as adotadas posteriormente pelas
lavouras dos
europeus. Este despovoamento abriu espaço para o estabelecimento
gradual de atividades econômicas dirigidas pelos colonizadores e voltadas para a
transferência de riquezas para a Europa, criando pela primeira vez um amplo sistema
produtivo sob o domínio do capital europeu em grandes espaços de um território
tropical. Como mão de obra para estas atividades, inclusive por força da queda da
população nativa, além do importante veio de negócios aberto por este trafico na
economia mundo, foram introduzidos grandes contingentes de escravos africanos.
É preciso ter claro, neste sentido, que o Brasil não nasceu como uma nação, ou
mesmo como um país. O Brasil nasceu de um macro projeto de exploração ecológica
ou, melhor dizendo, de um arquipélago de projetos de exploração ecológica. Isto está
indicado no próprio nome “Brasil”, que venceu uma disputa histórica com o nome
“Santa Cruz”, apesar da força ideológica do catolicismo. O nome “Brasil” indica o
predomínio da exploração ecológica sobre outros valores civilizatórios, na medida em
que o pau-brasil foi o primeiro elemento da rica natureza deste território passível de
exploração pelo mercantilismo europeu. Ao contrário do nome “Santa Cruz”, que
indicaria uma sociedade em evolução endógena a partir de determinados valores
religiosos, o nome “Brasil” sinaliza a exploração direta do mundo natural como
fundamento da apropriação e ocupação social do território.
No que se refere à relação com a Natureza, as linhas gerais deste modelo de
ocupação e exploração do território podem ser definidas através de três características
essenciais que, infelizmente, ainda estão bastante presentes no modo de relacionamento
da sociedade brasileira com o seu entorno ecológico: 1) O mito da natureza inesgotável,
baseado na idéia de uma fronteira natural sempre aberta para o avanço da exploração
econômica; 2) Um grau considerável de desprezo pela biodiversidade e os biomas
nativos e 3) Uma aposta permanente nas espécies exóticas, especialmente em regime de
monocultura, como fonte de enriquecimento econômico e instrumento eficaz de
controle sobre o território.
Quando os colonizadores portugueses começaram a chegar no território
brasileiro, a partir de 1500, encontraram um conjunto impressionante de mangues,
florestas, campos e outras estruturas complexas produzidas pela dinâmica da natureza.
Uma infinidade de ecossistemas agrupados em grandes biomas como a Mata Atlântica,
o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. A existência desse grande potencial de
riqueza veio ao encontro da motivação econômica que dominou o esforço de expansão
marítima das potências européias. O movimento colonizador, com base na doutrina
mercantilista então em voga, visava expandir o espaço do comércio, encontrar novos
segmentos de mercado, estabelecer novos monopólios e aumentar a renda dos estados
europeus em processo de construção.
Os conquistadores logo perceberam que a exploração direta da natureza seria o
principal eixo da busca por riquezas nessa parte da América. A presença da natureza
exuberante, manifestada especialmente nos cerca de 130 milhões de hectares de Mata
Atlântica que cobriam o litoral, marcou profundamente a imaginação dos europeus,
contribuindo para criar uma imagem de abundancia que até hoje faz parte da nossa
cultura. Os
portugueses, acostumados com as restrições espaciais e ecológicas ao
crescimento da economia européia, viram a Mata Atlântica, por exemplo, como um
universo grandioso cuja exploração jamais se consumaria, um oceano infinito de
recursos. O elemento que mais se destacava, nos primeiros séculos da formação
brasileira, era o contraste entre
um espaço ecológico gigantesco e uma sociedade
colonial relativamente pequena e localizada, gerando a sensação de uma fronteira
indefinidamente aberta ao avanço horizontal das atividades econômicas.
É verdade que muitos processos de destruição ambiental foram sendo percebidos,
e mesmo denunciados, ao longo do tempo, especialmente a partir do século XVIII: solos
ficaram estragados, fluxos de água desestabilizados e florestas destruídas, gerando
escassez de lenha. A imagem da fronteira aberta, no entanto, minimizou a importância
das poucas vozes que argumentavam em favor de um uso mais cuidadoso das áreas já
abertas. Na medida em que os solos agrícolas e pastoris tornavam-se estéreis, a fronteira
avançava em direção às florestas e aos campos ainda intactos. Na medida em que
espécies úteis de madeira extinguiam-se na proximidade dos centros
urbanos
e
produtivos, a fronteira buscava reservas onde elas ainda eram abundantes.
Este nomadismo predatório garantiu uma certa continuidade na economia e na
estrutura social do país, não obstante os muitos exemplos de vilas, fazendas e minas
que foram abandonadas por haverem atingido o limite da sua capacidade de sustentação
natural. Desta sensação de inesgotabilidade dos biomas e recursos naturais brasileiros,
que hoje sabemos ser totalmente falsa – o aparente “oceano infinito” da Mata Atlântica
está hoje reduzido a 7% da sua cobertura original - derivou o estabelecimento de
formas descuidadas e parasitárias de tecnologia e produção. A queima da floresta, por
exemplo, constituiu praticamente o único método de plantio adotado no Brasil até o
final do século XIX. Ao invés de adubar o solo, para conservar sua fertilidade, optouse por queimar progressivamente novas áreas de floresta tropical, uma vez que a
riqueza mineral das suas cinzas garantia boas colheitas por dois ou três anos, após o
que a terra ficava estragada e ocupada por ervas daninhas. Nesse momento a fronteira
avançava, buscando novas matas para serem queimadas e repetindo incontáveis vezes o
mesmo ciclo predatório.
Em vez de promover o replantio dos pastos, pois os campos naturais se
degradavam após um ou dois ciclos de pastoreio, optou-se por incendiá-los, na
expectativa de que o fogo impedisse o crescimento das ervas não comestíveis e garantisse
alguma sobrevida ao rebanho. Em vez de alimentar as caldeiras dos engenhos-de-açúcar
com o próprio bagaço da cana, prática rotineira até mesmo em outras colônias de
exploração, optou-se por queimar a Mata Atlântica primária para servir de lenha. Uma
frase do livro “Cultura
e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas”, escrito em
1711 por um padre jesuíta que usava o pseudônimo de André João Antonil, resume bem
essa mentalidade. Após reconhecer que as fornalhas dos engenhos de açúcar eram “bocas
verdadeiramente tragadoras de matos”, o autor não manifestou grande preocupação, já
que o Brasil, “com a imensidade de matos que tem, pode fartar, como fartou por tantos
anos, e fartará nos tempos vindouros, a tantas fornalhas quanto existam” (Antonil, 1976:
115).
O padrão, portanto, era claro, e até hoje em grande parte domina a economia
brasileira: ao invés de cuidar do ambiente natural, modificando-o de forma cuidadosa e
utilizando tecnologias inteligentes e sustentáveis, que garantam alta produtividade com
um
mínimo de redução das formações naturais, opta-se pelo caminho mais fácil da
expansão extensiva, horizontal e predatória. O primeiro caminho, apesar de mais
difícil, por exigir maiores conhecimentos e investimentos, garante a existência de um
futuro benéfico e sustentável. O segundo garante apenas o ganho de curto prazo,
deixando o ônus para as gerações futuras. As duas outras características citadas acima,
que se somam à anterior e o agravam ainda mais o quadro, dizem respeito, de um lado,
à falta de conhecimento e valorização da biodiversidade e da natureza tropical e, do
outro, à aposta exagerada nas monoculturas de espécies exóticas como instrumento de
ocupação econômica do território.
Os neo-europeus ocuparam-se muito pouco do estudo sistemático da natureza
brasileira, até no sentido de nela buscar elementos nativos que pudessem servir para
usos econômicos. Apenas no final do século XVIII, pesquisas nesse campo começaram
a ocorrer de forma um pouco mais intensa. O rico espaço natural do país foi usado de
forma pouco nobre, como um simples estoque de solos e biomassa para subsidiar o
cultivo de espécies exóticas como a cana-de-açúcar e o café, que já faziam parte do
nascente mercado internacional. Os complexos biomas brasileiros não foram
valorizados em toda a sua potencialidade, mas considerados, em geral, como obstáculos
ao desenvolvimento da economia e da civilização. O livro já citado de Antonil, mais
uma vez, revela com clareza a mentalidade do colonizador. Segundo uma formula
apresentada pelo autor, “feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se
e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que podia servir de embaraço” (Antonil, 1976: 112). Em
outras palavras, a natureza tropical, a Mata Atlântica, não era vista mais do que como
um “embaraço” para o avanço para o avanço imperial da monocultura exótica. A
diversidade da vegetação nativa apresentava uma paisagem “suja” e embaraçosa, que
deveria ser queimada e limpada, para que o território fosse ocupado por aquilo que
realmente interessava, a monocultura voltada para o mercado, especialmente o mercado
mundial. Para a mentalidade dominante na formação do Brasil, que até hoje em grande
parte predomina, a exuberante natureza do país não é um tesouro a ser estudado e
aproveitado de forma múltipla e sustentável, mas sim um “embaraço” que deve ser
destruído e sobrepujado.
É significativo o fato de que, apesar de um certo nível de assimilação dos saberes
e tecnologias indígenas ter ocorrido na sociedade estabelecida a partir da conquista, até
por uma questão de simples sobrevivência material, a diversidade do saber indígena
sobre a biodiversidade local foi basicamente desprezada. Ainda no final do século
XVIII, por exemplo, observadores como Baltasar da Silva Lisboa clamavam pela
necessidade de buscar o conhecimento dos índios sobre a fauna e a flora local, acusando
os colonizadores de desprezarem esta fonte preciosa de conhecimentos (Pádua, 2002:
66).
A lógica deste desprezo possui um sentido histórico mais profundo. Apesar de
algum encantamento com elementos isolados da rica natureza tropical, como os
papagaios, macacos, cajus e maracujás – até mesmo como estratégia de valorização do
território colonial aos olhos da Europa - a racionalidade da economia colonizadora não
se baseou no conhecimento e na utilização da biodiversidade local. Muito pelo
contrário, fundou-
se prioritariamente na introdução de espécies exóticas da flora
(como a cana) e da fauna (como o gado bovino) que desde o inicio ocuparam, de forma
especializada, grandes porções do território, desprezando e destruindo a diversidade
natural antes existente. A floresta como um todo foi ainda menos valorizada do que
alguns dos seus componentes. O desprezo pela floresta tropical é mencionado por vários
escritores coloniais e pós- coloniais. Em 1799, por exemplo, escrevendo em Minas
Gerais, o mineralogista José Vieira Couto captou com perfeição a psicologia ecológica
do colonizador, clamando ao mesmo tempo por uma mudança de atitude: “Já é tempo
de se atentar nestas preciosas matas, nestas amenas selvas, que o cultivador do Brasil,
com o machado em uma mão e o tição em outra, ameaça-as de total incêndio e
desolação. Uma agricultura bárbara, ao mesmo tempo muito mais dispendiosa, tem
sido a causa deste geral abrasamento. O agricultor olha ao redor de si para duas ou
mais léguas de matas, como para um nada, e ainda não as tem bem reduzido a cinzas
já estende ao longe a vista para levar a destruição a outras partes. Não conserva apego
nem amor ao território que cultiva, pois conhece mui bem que ele talvez não chegará a
seus filhos” (Couto, 1848 [1799]: 319).
Como se pode através deste documento, a floresta tropical era vista pelo
colonizador como “um nada”, um substrato sem valor para o avanço permanente da
fronteira do ferro e do fogo. Este forma de apropriação da terra, com a mentalidade que
lhe dá sentido, seria apenas uma curiosidade histórica se não tivesse constituído um
padrão essencial de ocupação do espaço brasileiro, que vem sendo atualizado e reatualizado ao longo dos séculos. A história da economia rural brasileira apresenta um
eterno retorno da abertura agressiva de fronteiras monoculturais, que invariavelmente
agridem e destroem a diversidade e a complexidade dos ecossistemas e das relações que
com eles estabelecessem as populações locais. A natureza e as populações tradicionais
das diferentes regiões brasileiras são recorrentemente agredidas pela introdução de
atividades econômicas de conteúdo homogenizador. As sociedades locais são
desprezadas em favor do lucro de agentes econômicos externos, que maquiam seu autointeresse com o discurso abstrato do progresso e do desenvolvimento.
É possível acompanhar, na história do Brasil, este mesmo processo, guardadas
as diferenças de época histórica e especificidades regionais, com as fronteiras da cana,
do café, do algodão, do tabaco e, mais recentemente, do eucalipto e da soja. Além da
separação de cerca de ¼ do espaço nacional para a criação monocultural de gado
bovino, cujo número atual aproximado de 190 milhões de cabeças, apesar da baixa
produtividade média por hectare, já é maior do que o da população humana do país.
Como seria a paisagem brasileira sem os quase 500 anos de pisoteio e
compactação dos solos por parte destes animais ?
O padrão dominante de ocupação do espaço rural brasileiro trás à mente aquilo
que Vandana Shiva denominou em outro contexto – o da expansão das monoculturas de
eucaliptos na Índia – de “mente monocultural”. Para Shiva, a pretensão autoritária das
monoculturas, ao se apresentarem como a única opção racional em termos de
produtividade e manejo “científico” do espaço revela um desprezo pelos ecossistemas e
pelos conhecimentos e populações locais é parte de uma ideologia politicamente
imposta, já que a eficiência substantiva das monoculturas e altamente questionável por
apresentarem, segundo revela a experiência histórica, graves elementos de instabilidade
e insustentabilidade no longo prazo, seja em termos ecológicos ou econômicos (Shiva,
1993).
Não se trata, por certo, de negar a importância da grande agricultura, ou mesmo
de assumir um “chauvinismo ecológico” que vete a introdução de espécies exóticas no
nosso território. É verdade, por exemplo, que a introdução de espécies exóticas
representou um fator histórico importante para a consolidação da economia e da
sociedade brasileiras. As monoculturas de cana e café foram essenciais para a ocupação
de vastos territórios do Nordeste e do Sudeste. O mesmo pode ser dito da introdução de
bois, cavalos e porcos no território brasileiro. As espécies exóticas, por não possuírem
pragas ou predadores explícitos nos ecossistemas brasileiros, conseguiram prosperar de
maneira extraordinária em nossas paisagens ricas em biomassa e água (veja a explosão
demográfica dos bois e cavalos no campos do Sul a partir do século XVIII). Mesmo nas
paisagens semi-áridas do Nordeste estes animais tiveram bastante sucesso. Por volta de
1700, por exemplo, existiam cerca de 300.000 indivíduos nos espaços dominados pelo
colonialismo europeu em todo o Brasil (sendo que apenas cerca de 100.000 eram eurodescendentes). A população de bovinos na mesma época, apenas na Bahia e
Pernambuco, segundo Antonil, somava cerca de 1, 3 milhões de cabeças. Ou seja, quem
conquistou efetivamente os vastos sertões do Nordeste ? Os homens ou os bois ? O
fato é que sem a biota exótica introduzida pelos europeus em seu processo colonizador
seria muito difícil que o mesmo resultasse em sucesso histórico.
O que está sendo criticado aqui, como um elemento altamente negativo na
formação do território brasileiro, é essa combinação entre o desprezo pelos
ecossistemas nativos e o avanço descontrolado das monoculturas exóticas. O preço que
tem sido pago por este modelo é muito alto em termos de destruição ecológica e
insustentabilidade dos sistemas econômicos. O desvalorização da vegetação nativa,
especialmente das florestas, seja por parte da elite ou da população trabalhadora, foi
criticado em diferentes momentos da historia da inteligência brasileira. Escrevendo na
Bahia em 1835, por exemplo, Miguel Calmon du Pin e Almeida falava da “cruel
disposição e furor que excita os nossos feitores à derrubada desapiedada de quanta
árvore encontram”. Uma mentalidade que teria sido herdada dos colonizadores ibéricos
e,
ainda em sua época, continuava a ser justificada através de desculpas
inconsistentes, como as de que as árvores conservam a umidade, atraem cobras,
ofendem os alicerces e tiram a vista: “e por mais que perguntemos – vista de que ? – a
resposta é sempre – porque tira a vista” (Almeida, 1835: 88-92). Quem pode negar que
este tipo de mentalidade ainda possui uma profunda vigência na sociedade brasileira ?
Fazendo um balanço da ocupação histórica do território brasileiro é preciso
considerar, para evitar julgamentos apressados, que a atitude dos colonizadores foi
bastante racional no contexto de uma colônia de exploração. Este tipo de
empreendimento sócio- econômico é sempre brutal e imediatista. A lógica de longo
prazo é, ou deve ser, própria da idéia de nação, do ideal de continuidade histórica de uma
comunidade política. Seria ingênuo esperar este tipo de lógica da parte dos
colonizadores. Eles foram pragmáticos, valendo-se das possibilidades mais evidentes e
menos trabalhosas que a realidade histórica apresentava em cada momento.
O ponto a ser especialmente questionado, portanto, não é o da racionalidade
específica
da herança colonial predatória, mas sim o da sua permanência ao longo da
história do
país independente, inclusive nos nossos dias. O que pode ser considerado
racional no contexto de uma colônia de exploração não deve sê-lo no processo de
construção de uma verdadeira nação. Este último requer uma nova lógica, fundada no
cuidado e na preservação das bases ecológicas, sociais e culturais da existência coletiva,
mesmo que isso signifique mais esforço, mais trabalho e mais estudo.
O estabelecimento desta nova relação com o território e seus ecossistemas precisa
inserir-se em um amplo movimento político em defesa do espaço público e do bem-estar
coletivo, que fortaleça o sentido de cidadania e de comunidade na sociedade brasileira
(inclusive de comunidade com as gerações futuras). A permanência da lógica predatória,
especialmente nas elites econômicas, apenas poderá ser transformada pela ampliação da
consciência de nação entre nós.
Não é aceitável, para mencionar alguns exemplos, que um tesouro ecológico
como
a Floresta Amazônica seja consumido segundo a mesma lógica do “queimar e
seguir adiante”, que destruiu 93% da Mata Atlântica original. Não é aceitável que
espécies valiosas de madeira, como o mogno e a samaúma, sejam exploradas da mesma
maneira inconseqüente que praticamente extinguiu o pau-brasil e o jacarandá. Não é
aceitável
que continuemos a admitir atividades de garimpo que reproduzem, no fim do
século XX, os mesmos métodos rudimentares e destrutivos utilizados nas Minas
Gerais do século
XVIII. Em suma, é preciso superar a herança predatória presente em nossa
formação histórica e trabalhar pela construção de uma nação verdadeiramente digna deste
nome, especialmente no que se refere ao cuidado com o seu espaço de vida.
Referências:
-
Almeida, Miguel Calmon du Pin e, 1834, Ensaio sobre o Fabrico do Açúcar, Bahia
- Antonil, A. J., 1976, Cultura e opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, São Paulo,
Melhoramentos
- Cook, N., 1998, Born to Die: Disease and New World Conquest, Cambridge, Cambridge
University Press.
- Couto, José Vieira, 1848 [1799], Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, Revista
do Instituto Histórico e geográfico Brasileiro, n. 11.
- Crosby, Alfred , 1986, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe,
Cambridge, Cambridge University Press.
- Dean, W., 1998, A Ferro e Fogo: A História e a Devastação da Mata Atlantica
Brasileira, São Paulo, Companhia das Letras.
- Pádua, J.A. , 2002, Um Sopro de Destruição: Pensamento Político e Crítica Ambiental
no Brasil Escravista, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.
- Shiva, V., 1993, Monocultures of the Mind, London, Zed Books.