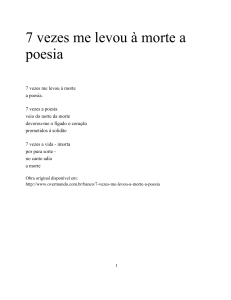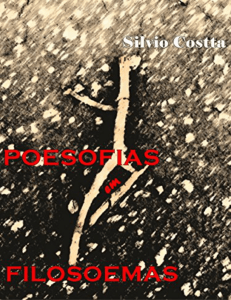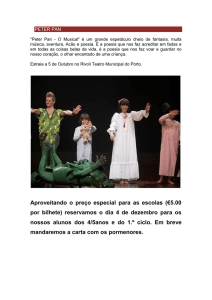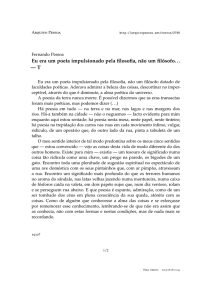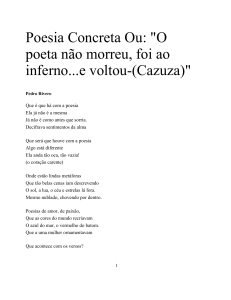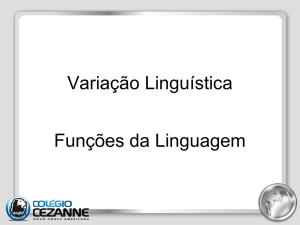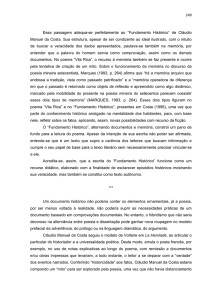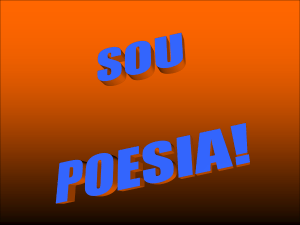Poesia: emoção e razão na escola
Lucilene Bender de Sousa (doutoranda Letras/PUCRS)
Rosângela Gabriel (docente Letras PPGL/UNISC)
Resumo: Neste artigo refletimos sobre a relação emoção e razão na educação e de que forma a leitura de poesias
pode ser um instrumento integrador das dicotomias praticadas na escola. Inicialmente, pretendemos desmistificar
os termos razão e emoção, buscando explicação de alguns teóricos como Damásio, Gardner e Maturana. Em
seguida, pensamos a leitura de poesia como forma de educar o olhar artístico, para fazer emergir os processos de
emoção, que são processos de conhecimento, e que contribuem decisivamente para o encantamento do aluno e
para sua experiência de leitura. Por último, analisamos a contribuição do devaneio, alimentado pelas imagens da
poesia, para os processos de imaginação e criação de si, da arte e da ciência.
Palavras-chave: Razão; Emoção; Poesia; Educação.
Abstract: In this paper we ponder over the relation between emotion and reason in education and how poetry
reading can be an integrative instrument of dichotomies practiced in school. Firstly, we intend to demystify the
terms reason and emotion, based on some theorists’ explanation as Damásio, Gardner and Maturana. Then, we
propose poetry reading as a way to educate the artistic view, to make emotional processes emerge as they are
knowledge processes and contribute decisively to students’ enchantment and reading experience. Finally, we
analyze the contributions of reverie, born due to poetry images, to the processes of imagination and creation of
self, art and science.
Keywords: Reason; Emotion; Poetry; Education.
1 Introdução
Historicamente, observamos uma valorização do racional em vários setores da
sociedade, inclusive na escola. As imposições do mercado de trabalho e o atual modelo
político-econômico colaboram para essa visão. Disciplinas e profissões vinculadas às áreas
artísticas são consideradas pouco relevantes, pois não produzem resultados concretos 1. No
entanto, alguns teóricos começam a alertar para as consequências de se privilegiar apenas a
formação para o trabalho. Edgar Morin (2002), no livro “A cabeça bem-feita”, apresenta
inúmeros argumentos considerando a importância de uma educação interdisciplinar que
contemple a complexidade do ser humano. Com o objetivo de refletir sobre uma educação
integral, que considere os alunos na sua integridade humana, desenvolvemos o presente
artigo. Na primeira parte, discutiremos a relação razão e emoção na cognição humana; em
seguida, apresentaremos como a poesia pode ser abordada na escola de forma a contribuir
para a educação estética do aluno; por último, refletiremos de que forma o devaneio e a
imaginação criadora, advindos do trabalho com a imagem da poesia, podem favorecer o
desenvolvimento criativo dos alunos.
1
A título de ilustração, vale lembrar a expressão usada por um secretário de Estado: “não fazem crescer o PIB –
Produto Interno Bruto”.
2
2 Cognição: emoção e razão
A dicotomia razão e emoção parece ser uma constante dúvida do ser humano.
Questionamentos acerca desses temas são apresentados já em Platão, que em “A república”
mostra-se favorável à exclusão da arte, pois ela poderia corromper o homem. Outro autor
relevante para esse debate foi Descartes, que separou razão e emoção, expressa na célebre
frase “penso, logo existo”, influenciando profundamente o pensamento e a prática
profissionais e educacionais modernas. O imaginário coletivo associa coração à emoção,
razão ao cérebro. A mesma dicotomia observa-se na divisão das disciplinas, no curso de
Letras, por exemplo, temos Literatura associada à emoção, Linguística associada à razão. O
certo é que há muitos pré-conceitos a respeito desse tema. Esses preconceitos se estenderam à
escola, principalmente a partir dos testes de QI, formando uma concepção de inteligência e
ensino quase exclusivamente lógico-matemática e linguística.
Recentemente, pesquisadores de diversas áreas têm-se interessado em estudar a
relação razão-emoção. Conforme Darwich (2005, p. 5), “os mais recentes achados
experimentais e análises interpretativas das neurociências são indicativos da necessidade de
compreensão do organismo de forma integrada. Nestes termos é verificada a existência de
relação entre (a) os grandes sistemas orgânicos; (b) estados fisiológicos e cognitivos; (c) razão
e emoção”. Isso produz inúmeras mudanças em áreas como medicina, psicologia e educação,
que precisam repensar seus conceitos e práticas, entendendo os diversos aspectos constituintes
do ser humano como complexos e interdependentes.
Para entender melhor a interdependência entre razão e emoção, recorremos ao cientista
Antônio Damásio, uma das principais referências nesse estudo. No livro O erro de Descartes,
ele apresenta o caso de vários pacientes com lesões cerebrais. Elliot, por exemplo, após uma
lesão, tornou-se impassível, não manifestava nenhuma emoção, conservava a capacidade de
saber, mas não a de sentir. Seu conhecimento declarativo das regras morais e éticas foi
preservado, no entanto seu comportamento violava esses conhecimentos, ele era incapaz de
avaliar suas ações. Suas decisões, por não levar em conta o sentimento, pareciam totalmente
irracionais. O autor explica: “Todos esses aspectos, emoção, sentimento e regulação
biológica, desempenham um papel na razão humana. As ordens de nível inferior do nosso
organismo fazem parte do mesmo circuito que assegura o nível superior da razão”
(DAMÁSIO, 1996, p.13), portanto, não existe razão sem emoção, ambas compõem a
cognição humana.
3
Em outro livro chamado O mistério da consciência, Damásio investiga a relação entre
a cognição e a consciência, lembrando que nem todas as emoções e nem tudo o que achamos
que pensamos/sabemos é consciente, ele também explica que a cultura e a experiência
influenciam a organização cognitiva, “primeiro moldam o que constitui um indutor adequado
de uma dada emoção; segundo moldam alguns aspectos da expressão da emoção; terceiro
moldam a cognição e o comportamento decorrentes da mobilização de uma emoção”
(DAMÁSIO, 2000, p. 81-82). Segundo o autor, o conhecimento de nós mesmos e do mundo
está fortemente associado ao nosso histórico de experiências emocionais. A emoção faz parte
do nível básico de regulação da vida mais complexo que a razão, que é mais consciente. Ela
regula o estado interno do organismo, que interfere diretamente em todas as outras funções,
desde a percepção da vida até a leitura de um poema, atribuindo a todas as experiências um
valor, uma qualidade emocional.
Um dos autores que tem contribuído para uma mudança de concepção na educação é
Howard Gardner a partir da teoria das inteligências múltiplas. O autor identificou sete tipos de
inteligências:
linguística,
lógico-matemática,
espacial,
musical,
corporal-cinestésica,
interpessoal e intrapessoal, que podem ser subdivididas e que “funcionam juntas para resolver
problemas, para produzir vários tipos de estados finais culturais” (GARDNER, 1995, p.16).
Sendo assim, não existe uma única inteligência, nem uma superior, o que existe é uma
valorização cultural de certas habilidades. A escola, enquanto espaço educacional, deve saber
desenvolver e valorizar todas elas, lembrando que seu funcionamento é interdependente. Na
teoria de Gardner, a inteligência não é considerada apenas pelo ponto de vista da razão, o
poeta, como cita o autor, é quem possui a capacidade linguística mais completa, porém,
acrescentamos, de nada adiantaria essa capacidade se não estivesse integrada com a emoção e
a imaginação criadora, que conferem uma percepção diferenciada da realidade que, por sua
vez, precisa ser expressa linguisticamente. Já dizia Paul Valéry (1999, p.197), “se o outro
nunca fosse algo além de poeta, sem a menor esperança de abstrair e raciocinar, ele não
deixaria atrás de si qualquer traço poético”. Ao refletir sobre o processo criativo, o poeta
admite que existe um estado poético que pode se manifestar por imagens ou intuição rítmica,
no entanto, afirma que é preciso traduzi-lo em linguagem, o que só é possível através do
trabalho inteligente.
Não poderíamos deixar de mencionar a Biologia da Cognição que nasceu dessa
preocupação com a fragmentação do conhecimento e do próprio ser humano. Esse paradigma
busca a reintegração do homem com o homem, com a sociedade, com a natureza, e
poderíamos dizer da razão e da emoção. Maturana apresenta uma descrição dos processos de
4
razão e emoção muito parecida, embora não tão detalhada quanto aos aspectos neurais, com a
descrição que citamos anteriormente de Damásio. Ele explica que “o humano se constitui no
entrelaçamento do emocional com o racional” (1998, p.18), também acrescenta que a
diferença do homem e do animal está no entrelaçamento da linguagem com a emoção, o
racional, por sua vez, está intimamente ligado e expresso pela linguagem. O conhecimento
segundo a noção de autopoiesis não é externo, mas emerge dos processos cognitivos
complexos de auto-organização, acoplamento estrutural, recursividade. (PELLANDA, 2005).
Portanto, o conhecimento é criação.
A leitura é um processo de criação no qual razão e emoção se complementam. Os
textos literários enquanto arte, especialmente a poesia, proporcionam ao leitor uma
experiência estética que só pode ser vivida pela e na emoção. Ao ler uma poesia, o aluno
precisa deixar envolver-se inteiramente, razão e emoção, não para que uma supere a outra,
mas para que ambas proporcionem a fruição do texto poético. A leitura de poesia exige
inteligências múltiplas, sendo um dos gêneros de leitura mais complexos. Por isso, formar
leitores de poesia contribui para o desenvolvimento de inúmeras inteligências, principalmente
linguística, musical, intrapessoal e interpessoal. Dessa forma, a poesia apresenta-se como um
importante instrumento educacional, não menos importante que os cálculos e que as ciências.
A seguir, apresentamos aspectos a serem considerados no ensino da leitura de poesia.
3 Leitura de poesia na escola
A experiência da leitura converte o olhar ordinário sobre o mundo num olhar
poético, poetiza o mundo. (LARROSA, 2004, p.106)
A poesia e as demais artes proporcionam um espaço de liberdade criativa, em que o
aluno pode sonhar e se expressar. Conforme Meira (2006, p.131), “é preciso que se trabalhe
com a imagem como um valor e uma forma de conhecimento, unindo o cognitivo ao afetivo e
ambos às formas vinculadas de comunicação com a cultura, para que a sensibilidade oriente
um agir criador e transformador”. Para isso, o professor precisa educar o olhar dos alunos,
oportunizando a interação com inúmeras formas de expressão artística, entre elas a poesia.
Num país como Brasil, não podemos esperar que todas as crianças tenham contato
com a arte em casa, por isso a escola tem o dever de iniciar o aluno nas artes, desenvolver a
sensibilidade e o gosto através das oportunidades de diversas experiências estéticas. Não se
pode gostar daquilo que nunca se experimentou. O gosto pela arte também deve ser aprendido
e estimulado, não nascemos com ele, pois a arte é um produto cultural. O aluno gosta do que
5
anteriormente teve contato no seu meio social, entretanto isso não quer dizer que deve
continuar o resto da vida gostando daquilo de que seus pais gostavam, a escola deve ampliar o
contato do aluno com a arte e assim, ampliar seu modo de perceber e interpretar o mundo.
Uma das formas mais acessíveis de arte é a literatura. Segundo Morin (2001, p.6), “a
vida não é aprendida apenas nas ciências formais. E a literatura tem a vantagem de refletir
sobre a complexidade do ser humano e sobre a quantidade incrível de seus sonhos”. A poesia,
enquanto arte, busca um conhecimento diferente do científico, um conhecimento intra e
interpessoal, como foi citado anteriormente em Gardner. Esse conhecimento talvez esteja
faltando à humanidade, pois sabemos tanto de matemática, química, eletrônica e tão pouco
sobre nós mesmos.
A definição de Octavio Paz (1982) sobre poesia é muito significativa, pois expressa
sua grandiosidade, que se estende além dos limites do poema. Poesia é “conhecimento”,
“método de libertação interior”, “revolucionária”, “exercício espiritual”, “experiência”,
“sentimento”, “linguagem primitiva”, “loucura”, etc. A poesia é tão infinita quanto os
pensamentos do homem. O poema, por sua vez, é uma possível forma de existência da poesia.
Pensamos que essa definição é a chave para a ampliação da presença da poesia na escola, pois
mostra-nos que a poesia é algo do humano e pode ser encontrada em outros lugares como na
música, na natureza e também no texto do aluno. O primeiro passo para introduzir a poesia é
justamente levar o aluno a compreender que já tem contato com ela na vida. Por isso, o
trabalho de poesia em conjunto com música e outras formas de arte é tão importante, e deve
ser iniciado especialmente na infância, momento em que a criança está aberta para novas
experiências e sua capacidade tanto de aprendizagem quanto imaginativa está no auge.
Conforme Pillar (2006, p.34), “o que mais favorece o desenvolvimento estético é a
exposição, a frequência à arte”, e esse desenvolvimento se estende por toda a vida. Portanto, o
aluno poderá desenvolver sua sensibilidade e nível de compreensão da poesia através do
contato frequente com ela através da mediação do professor, que tem o importante papel de
selecionar autores, ler os poemas para os alunos, apontar para detalhes, direcionar o olhar e a
atenção, com o objetivo inicial de fruição e não de análise técnica. A insegurança de muitos
professores no trabalho com poesia existe porque, talvez, eles não sejam leitores de poesia, o
que indica uma grande lacuna na educação, que se reproduz a cada ano. Essa insegurança só
será superada no momento em que o professor iniciar a leitura de poesia. Só assim, ele poderá
compartilhar com os alunos o prazer da fruição pelas linhas de um poema e que o prazer dessa
leitura está no sentir, no experimentar as palavras e as imagens criadas.
6
O aluno precisa aprender a ouvir a poesia como ouve música. O encantamento se dá
pelo ritmo, pelas imagens e pela significação pessoal do poema para cada leitor. É preciso
recuperar o contato oral com o poema, “o ato de ler em voz alta, por exemplo, de certo modo,
restitui o corpo na escrita, fazer a escrita passar novamente pelo corpo, na teatralização da
fala, na pronúncia em voz alta, no ritmo das palavras” (AL-BEHY, 2002, p.88). Isso fará o
aluno entender a poesia, talvez não em palavras, mas entender de forma íntima, sentir a
poesia, pois, o que afasta o aluno dela é, muitas vezes, a tecnicidade como é apresentada, a
poesia não precisa ser analisada pelo aluno, precisa ser fruída. O que o poeta procura é a
atenção do leitor, não necessariamente seu entendimento, mas a sua presença, a sua leitura
que dá vida às palavras. Isso é o que o professor também deve almejar. O objetivo da
educação não é formar críticos literários, mas bons leitores. Tudo começa com o professor
lendo poesias para os alunos, mas é preciso ler com emoção, com vida. Só depois, aos poucos,
é possível introduzir outros elementos, que poderão ser usados como ferramentas para
compreensão, por exemplo, as figuras de linguagem, imagens, sonoridade. Porém, é preciso
ter cuidado para que a teorização não roube o encantamento produzido pelo poema, o silêncio,
a ressonância por ele produzida e que parece ficar no ar.
Ao ampliar o espaço da poesia, é preciso ensinar um modo particular de leitura ao
aluno, não basta adotar a mesma postura que se tem com os demais textos. A leitura da
poesia, que é arte, exige um novo olhar, atento e sensível. Para orientar o trabalho com poesia,
Averbuck (1993, p.73), a partir de Trevisan, explica que é preciso explorar o corpo da poesia:
o som e as imagens. O som é elemento presente em todas as palavras, porém o significado e a
emoção podem conferir-lhe novo aspecto. Sensibilizar o aluno para a leitura oral é ajudá-lo a
perceber não só as rimas, mas a significação do som, é perceber a sonoridade das palavras que
na língua cotidiana muitas vezes é ignorada. Para isso, não é preciso ensinar métrica, basta
ajudá-lo a encontrar a sonoridade do poema. Proporcionar momentos de escuta de CDs de
poesia também pode auxiliar.
A imagem é “toda forma verbal, frase ou conjunto de frases, que o poeta diz e que,
unidas, compõem um poema” (PAZ, 1982, p.119), cujo significado é polissêmico. As
imagens do poema estão associadas ao imaginário e possuem grande potencial criador. As
figuras de linguagem podem auxiliar na visualização das relações entre as imagens do poema,
como a metáfora, a comparação, a antítese, ironia, etc. O trabalho com a imagem do poema
vai além da compreensão e interpretação, ela pode servir como estímulo para a criação de
novas imagens por parte do leitor. Essas imagens podem ser expressas em palavras e em
outras formas de arte. Segundo Richter (2006, p.195), “a imaginação é a poderosa ferramenta
7
que ao sustentar o sentir, sustenta o raciocínio e, para ambos, cria o sonho”. Pensamos que
esta, juntamente com o desenvolvimento linguístico, é a grande contribuição da poesia para o
desenvolvimento cognitivo (lembrando que inserido neste está o emocional) do aluno, abrir a
possibilidade de sonhar, imaginar, criar. É contraditório querer formar alunos criativos,
quando as exigências da escola são respostas exatas, o que sem dúvida é um contrassenso, se
pensarmos na inexatidão das experiências da vida. O devaneio é um produto das imagens
suscitadas pela poesia e pode ser um espaço interessante de produção da subjetividade
conforme explicamos a seguir.
4 Poesia, devaneio e subjetividade
A escrita pode ter uma função autotopoiética, ou melhor, uma função estética e
política de criação de si. (MACHADO, 2004, p.147)
O conceito de devaneio, segundo Bachelard (1988), está ligado ao conceito de
ressonância e repercussão. A leitura ou escuta de um poema pode provocar ressonâncias, ou
seja, emoção, maravilhamento da superfície, como um sorriso, uma lágrima; a mesma
imagem pode repercutir mais profundamente, podendo manifestar-se, por exemplo, em forma
de recordações conscientemente ou não, no momento da leitura ou depois de muito tempo. A
repercussão da imagem poética “desperta a criação poética na alma do leitor”
(BACHELARD, 1989, p.7), essa inspiração é o devaneio, a necessidade de também ele
escrever e compartilhar sua emoção.
O devaneio é o momento de aproximação do leitor com as imagens da poesia, consigo
mesmo e com o potencial criativo e expressivo da linguagem. Segundo Fronckowiak e
Richter (2005, p. 4), “a imaginação criadora se materializa no devaneio, na
extrema
liberdade concedida ao devaneador”. O trabalho com a poesia não pode deter-se apenas na
leitura, é preciso haver momento de liberdade criativa na escola, o devaneio serve muito bem
para esse objetivo, pois é informal, livre de regras, e o mais importante, o aluno expressa-se
na primeira pessoa “eu”. É nessa relação subjetiva de encontro do “eu” com a linguagem que
ocorre a cumplicidade e o encantamento com o texto escrito. A leitura e a escrita são
processos de formação subjetiva, isto é, influenciam na construção e percepção do “eu”.
“Pensamos o ato de escrever como veículo de criação de novos modos de subjetivação, como
movimento instituinte que ao se atualizar, ao configurar uma dada forma-subjetividade,
concebe e pratica a vida como obra de arte.” (MACHADO, 2008, p.1). Esse é um processo
8
que interessa à escola, especialmente porque crianças e adolescentes estão no auge do
processo de construção da sua subjetividade.
Várias correntes teóricas têm chamado atenção para o poder constitutivo da
linguagem. Para a Psicanálise, a partir de Freud, a palavra tem o poder da cura. A Análise do
Discurso considera a língua como constitutiva da subjetividade: “é na linguagem e pela
linguagem que o homem se constitui como sujeito” (BENVENISTE, 1988, p.284). Os
Estudos Culturais potencializam essa capacidade, a língua não só é constituidora do ser, mas
da cultura e do conhecimento, “os seres humanos são seres interpretativos e instituidores de
sentido” (HALL, 1997, p.15), sendo todas as ações sociais práticas de significação. Para a
Biologia da Cognição, a linguagem é um instrumento autopoiético. Considerando essas
visões, entendemos o poder da língua no conhecimento de si, do outro e do mundo,
conhecimento que é produzido a partir da experiência, do diálogo, da interação. A leitura de
poesia e a expressão artística através do devaneio são exercícios de linguagem subjetiva que
podem potencializar o modo como os alunos veem e agem no mundo, permitindo, através da
imaginação criadora até mesmo criar outros mundos, outras interpretações e possibilidades.
A leitura de poesias e a escritura do devaneio são espaços privilegiados de emoção,
liberdade e criatividade. A criatividade e a imaginação estão em ebulição na infância, é
preciso apenas alimentá-las. Conforme Paiva (2005, p.162), a partir da obra de Bachelard,
percebe-se que “a produção do saber em sua plenitude – poético ou científico – origina-se
nessa fonte imanente à condição humana, qual seja, a imaginação criadora e dinâmica”. Essa
imaginação é que produz a arte e a ciência, o poema e a nave espacial, a pintura e o
computador. É a capacidade de inovar, de brincar com os elementos, de associá-los, sejam
esses elementos químicos, palavras, cores ou materiais. Gardner sustenta a mesma opinião ao
relatar as pesquisas de Gruber sobre a criatividade emergente de Darwin, ele explica que “o
indivíduo criativo também busca (ou é buscado por) algumas metáforas dominantes (...)
frequentemente as chaves para as inovações mais importantes do indivíduo são inerentes a
estas imagens. No caso de Darwin, a metáfora mais fecunda foi a árvore ramificada da
evolução” (GARDNER, 1999, p. 298). A partir disso, reconhecemos a importância da
imagem para a cognição humana, imagem que se origina dos processos cognitivos em que
tanto emoção quanto razão estão envolvidas e através da qual é possível criar a arte e a
ciência.
Portanto, alimentar a imaginação do aluno através da literatura, das artes e da ciência é
fundamental não só para que ele se torne um apreciador da arte, quem sabe até mesmo um
9
artista, mas para que ele seja capaz de imaginar, criar, ultrapassar o conhecimento construído
e a realidade, criando novas possibilidades dentro das mais diversas áreas do saber.
5 Considerações finais
A poesia na escola contribui para a educação integral do aluno em sua dimensão
racional, emocional, subjetiva e social, auxiliando-o a enxergar o mundo em sua
complexidade e a compreender-se enquanto parte do todo. A leitura da poesia é um espaço
privilegiado para o desenvolvimento cognitivo, uma vez que recruta habilidades múltiplas
(linguísticas e não linguísticas), propiciando condições para a identificação e resolução de
problemas através da imaginação criadora, tanto em um plano subjetivo quanto social.
Finalizamos com o poema “Conflito”, de Gilberto Mendonça Teles (1998). Ele exemplifica o
potencial da poesia enquanto janela de conhecimento do mundo e de si, uma janela que faz a
imaginação viajar para além dos limites do quintal, enxergar e recriar o universo.
Conflito
O Antônio me fala em alunissagens e crateras,
se entusiasma com as viagens interplanetárias,
discute a matéria comprimida de estrelas e nebulosas
e me diz que há buracos negros no azul do céu.
Conhece livros e filmes sobre o cosmo,
sobre os dragões do Éden;
cita Carl Sagan, Asimov e outros clássicos do gênero.
Sabe de estrelas supernovas, de nêutrons,
e me descreve uma anã branca,
os quasares,
os pulsares,
os buracos de minhoca
e o sentido do ovo cósmico
no formidável colapso do universo.
E eu, que nem acredito bem nessa história de homem na lua!
E eu, que continuo vendo apenas uma falua de prata
singrando silenciosa as nuvens da minha infância,
quando ainda não havia mar nem transatlânticos,
mas havia canoa nas cheias do Meia-Ponte
e fantasmas embrulhados de luar.
E eu, que até hoje procuro
(disfarçadamente)
o cavalo guerreiro de São Jorge?
10
Referências
AL-BEHY, D. K. Escuta e subjetivização: a escrita de pertencimento de Clarice Lispector.
São Paulo: Caso do Psicólogo; EDUC, 2002.
AVERBUCK, L. M. A poesia e a escola. In: ZILBERMAN, R. (Org.) Leitura em crise na
escola: as alternativas do professor. 11. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993.
BACHELARD, G. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
BENVENISTE, E. Da subjetividade na linguagem. In: Problemas de linguística geral I. 2. ed.
Campinas: Editora da Unicamp; Pontes, 1988.
DAMÁSIO, A. R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
DAMÁSIO, A. R. O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si.
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
DARWICH, R. A. Razão e emoção: uma leitura analítico comportamental de avanços
recentes nas neurociências. Estudos de Psicologia, mai-ago, v.10, n.002, 2005.
DESCARTES, R. Discurso do método. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
FRONCKOWIAK, A.; RICHTER, S. A poética do devaneio e da imaginação criadora em
Gaston Bachelard. In: Anais do I Seminário Educação, Imaginação e as Linguagens
Artístico-Culturais, Criciúma, UNESC, 2005.
GARDNER, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas,
1995.
GARDNER, H. Arte, mente e cérebro: uma abordagem cognitiva da criatividade. Porto
Alegre: Artmed, 1999.
HALL, S. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo.
Educação e realidade, Porto Alegre, v.22, n.2, jul./dez. 1997.
LARROSA, J. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 4. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
MACHADO, D. L. O desafio ético da escrita. Psicologia e sociedade, n.16, 2004.
MACHADO, D. L. et al. Subjetividade e processo de criação na escrita: um sopro de vida. In:
Anais do IV Colóquio Franco-brasileiro de Filosofia da Educação – Rio de Janeiro, UERJ,
2008.
MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 1998,
11
MEIRA, M. R. Educação estética, arte e cultura do cotidiano. In: PILLAR, A. D. (Org.). A
educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Mediação, 2006.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 3ª. ed. São Paulo: Cortez,
2001.
MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002.
PAIVA, R. Gaston Bachelard: a imaginação na ciência, na poética e na sociologia. São
Paulo: Annablume editora, 2005.
PAZ, Octavio. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
PELLANDA, N. M. C. Leitura como processo cognitivo complexo. In: OLMI, A.;
PERKOSKI, N. (Org.). Leitura e cognição: uma abordagem transdisciplinar. Santa Cruz do
Sul: EDUNISC, 2005.
PILLAR, A. D. (Org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Mediação,
2006.
PLATÃO. A república. São Paulo: Nova Cultural, 1997.
RICHTER, S. Infância e imaginação: o papel da arte na educação infantil. In: PILLAR, A. D.
(Org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Mediação, 2006.
TELES, G. M. Conflito. In: FÉLIX, M. (Org.). 41 poemas do Rio. Rio de Janeiro: Funarte,
1998.
VALERY, P. Poesia e pensamento abstrato. In: ____. Variedades. São Paulo: Iluminuras,
1999.