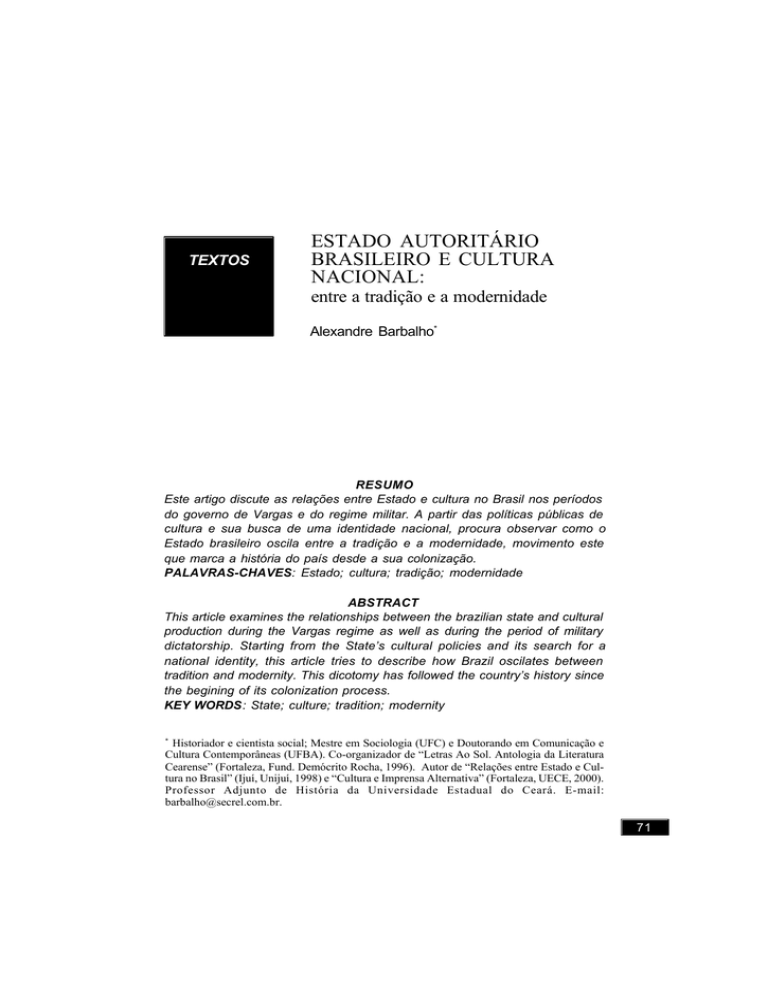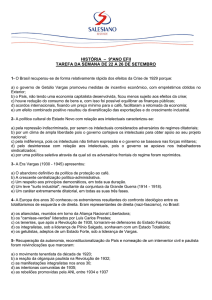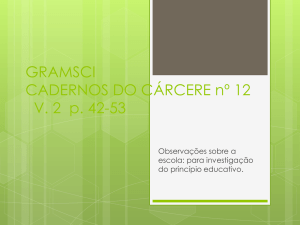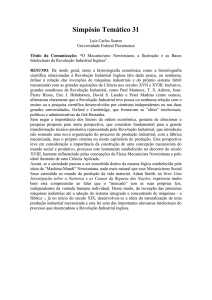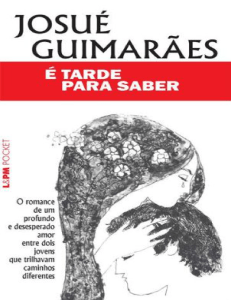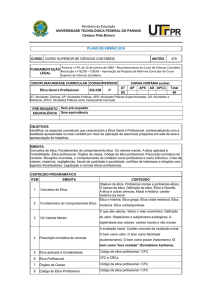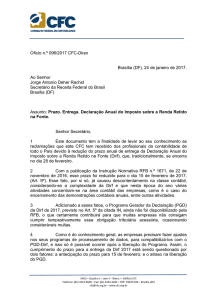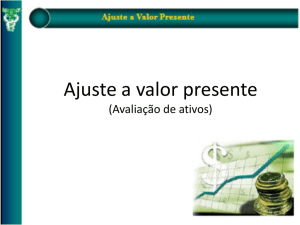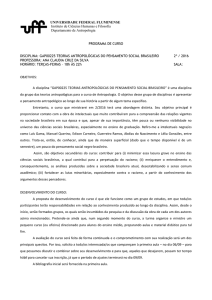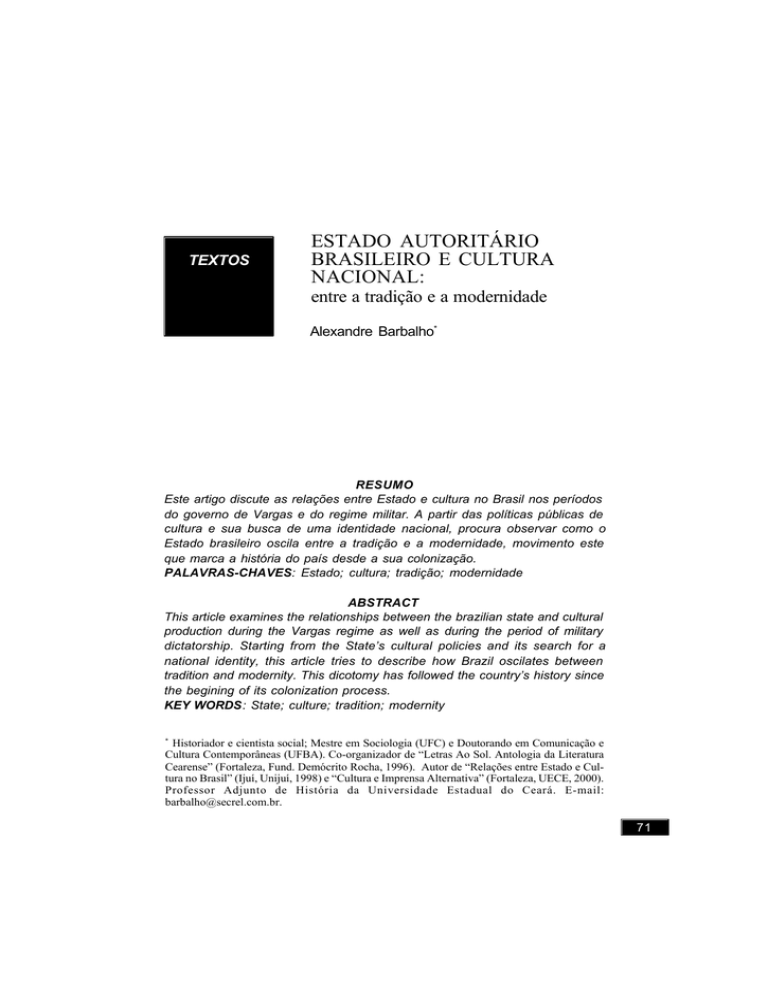
TEXTOS
ESTADO AUTORITÁRIO
BRASILEIRO E CULTURA
NACIONAL:
entre a tradição e a modernidade
Alexandre Barbalho*
RESUMO
Este artigo discute as relações entre Estado e cultura no Brasil nos períodos
do governo de Vargas e do regime militar. A partir das políticas públicas de
cultura e sua busca de uma identidade nacional, procura observar como o
Estado brasileiro oscila entre a tradição e a modernidade, movimento este
que marca a história do país desde a sua colonização.
PALAVRAS-CHAVES: Estado; cultura; tradição; modernidade
ABSTRACT
This article examines the relationships between the brazilian state and cultural
production during the Vargas regime as well as during the period of military
dictatorship. Starting from the State’s cultural policies and its search for a
national identity, this article tries to describe how Brazil oscilates between
tradition and modernity. This dicotomy has followed the country’s history since
the begining of its colonization process.
KEY WORDS: State; culture; tradition; modernity
*
Historiador e cientista social; Mestre em Sociologia (UFC) e Doutorando em Comunicação e
Cultura Contemporâneas (UFBA). Co-organizador de “Letras Ao Sol. Antologia da Literatura
Cearense” (Fortaleza, Fund. Demócrito Rocha, 1996). Autor de “Relações entre Estado e Cultura no Brasil” (Ijuí, Unijuí, 1998) e “Cultura e Imprensa Alternativa” (Fortaleza, UECE, 2000).
Professor Adjunto de História da Universidade Estadual do Ceará. E-mail:
[email protected].
71
TEXTOS
C
ontardo Calligaris, após situar a descoberta e a colonização das Américas como
metáforas do surgimento de uma subjetividade moderna, diferencia o projeto colonizador do norte e do sul americano. No norte, instaurou-se, de fato, um mundo
moderno. Ali o sujeito “não se define pelo mundo que encontra, mas pelo mundo que
ele mesmo faz ou transforma” e “a oportunidade, a potencialidade, enfim o projeto
vem fazer parte integral do ser” (Calligaris, l999, p.18). Há a passagem de um mundo,
possível de se denominar como tradicional e onde o passado determina o presente,
para o mundo moderno, no qual “o futuro é a verdade do presente” e o passado é
memória e não História.
No sul, a América se situa no limbo entre a tradição e a modernidade: “Nascida
de qualquer forma do gesto inicial do colono americano, mas inibida pelos séculos de
paradoxo. É esta uma contradição que o sujeito americano vive cada dia: uma estranha
pregnância do passado a dar forma ao presente, junto com todas as urgências do futuro” (Calligaris, l999, p.19). Assim, no norte, criou-se uma cultura que “considera o
futuro como sua verdade”; no sul, uma outra que “padece da continuidade do passado,
que é, aliás, chamado a justificar seu presente” (Calligaris, 1999, p.21).
A partir das indicações de Calligaris sobre o processo colonizador e sua marca
na América do Sul, gostaria de fazer uma leitura da atuação do Estado brasileiro na
cultura. Em especial, nos momentos em que esta intervenção foi mais forte: os períodos do governo Vargas e do regime militar. Minha proposta é mostrar como, nas
relações Estado-cultura no Brasil, os vacilos entre tradição e modernidade, entre a
pregnância do passado e a urgência do futuro se configuram de forma clara e se tornam um local privilegiado para a observação desta nossa marca identitária.
Aliás, a busca de uma possível identidade nacional foi uma moeda forte na
execução das políticas culturais em ambos os regimes. Até porque se relacionava com
outros elementos motivadores dessas políticas: neutralizar as visões concorrentes acerca
da cultura nacional, atrair intelectuais e artistas através de um “projeto para o Brasil”,
melhorar a imagem do governo junto à população, etc. (Barbalho, 1998).
É importante observar não ser mera coincidência o fato de esses serem períodos de autoritarismo e de preocupação com a “imagem” que o brasileiro deveria
possuir sobre ele próprio. Ao contrário de um governo democrático em que as diversas visões e versões estão postas, as ditaduras procuram monopolizar o discurso
interpretador da nação, unificando as diferenças e eliminando as contradições.
UM ESTADO NOVO, UMA NOVA CULTURA
A “Revolução de 30” foi uma resposta politica às diversas transformações pelas quais o Brasil passava em seu processo de “modernização”: industrialização, urbanização, crescimento da classe média, surgimento do proletariado, etc. Para tanto,
inaugurou um novo formato do Estado brasileiro, que se amplia com a criação de
72
ESTADO AUTORITÁRIO BRASILEIRO...
diversas instituições, inclusive culturais, espalhadas por todo o país, permitindo maior
centralização em torno do Poder Executivo federal. É emblemático, nesse contexto,
que o período inaugurado com o golpe em 1937 se denomine “Estado Novo”, uma vez
que a força do “novo” respalda o processo de criação e intervenção institucional.
Nesse contexto, o governo getulista necessitava de uma nova visão do homem
brasileiro. Era de interesse do Estado romper com a leitura dominante de orientação
racista e que denegria o mestiço, qualificando-o de preguiçoso, insolente e pouco capacitado. Qualidades que não correspondiam às exigências impostas pelas transformações pelas quais ansiava o modelo capitalista brasileiro.
Por sua vez, os “revolucionários de 30” precisavam manter uma certa continuidade com o passado, com a tradição. A modernidade não podia romper radicalmente
com o velho, ela devia ser resultado de uma “modernização conservadora”, como
denomina Lúcia Lippi Oliveira (1982).
Surgiu então, o livro Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre que convertia
em positividade o que era antes negativo, ou seja, a mestiçagem entre o branco, o índio
e o negro. Certamente Gilberto Freyre não escreveu sua obra para atender às necessidades do regime. Mas este se aproveitou da abertura teórica que a “ideologia da
mestiçagem” possibilitava, produzindo, com seu respaldo, um discurso contrário à
“ineficiência inata” de nosso povo. Inconciliável com o novo momento econômico,
essa imagem foi substituída por uma apologia do homem brasileiro trabalhador, qualidade resultante da mistura entre as três raças.
No entanto a apropriação da obra de Freyre pelo regime de Vargas é, ela própria, um sinal da “modernização conservadora”, da manutenção de elementos tradicionais e modernos no discurso ideológico do Governo. Isso porque Freyre era a figura
de proa do Movimento Regionalista lançado em Recife, de cunho altamente conservador e tradicionalista, onde, como situa Ruben George Oliven, o “popular e o regional
equivalem a tradicional (e bom), ao passo que cosmopolitismo equivale a modernismo
(e ruim)” (Oliven, 1999, p.73).
A valorização do trabalhador acabou por influenciar a ação do Estado na área
cultural, inclusive a de origem popular, que ganha status de “cultura nacional”. Assim,
o regime de Vargas se utilizou dos meios de expressão tradicional, como o samba e o
carnaval, para, através deles, reproduzir determinada imagem do povo brasileiro propícia aos seus interesses de modernização do capitalismo no país. Manipulando os
símbolos populares, o Estado os transformava em nacionais e, depois, em elementos
típicos da nova “brasilidade”.
A transformação do popular em nacional e deste em típico corresponde a um
movimento ideológico, denominado por Marilena Chaui (1986) de “Mitologia VerdeAmarela”, elaborada e aplicada ao longo da história brasileira. Inicialmente serviu às
classes dominantes agrárias como auto-imagem celebrativa do Ser nacional, cordial e
pacífico. Num segundo momento, o “mito” incorporou as classes dominantes urbanas
73
TEXTOS
com a idéia do Desenvolvimentismo. Estas duas vertentes se unem para oferecer à
sociedade uma “mitologia” em que é conservado o passado “bondoso” e prometido o
futuro “grandioso”. A “Mitologia Verde-Amarela” transveste-se em palavras-de-ordem adequadas a cada contexto histórico. No Estado Novo, por exemplo, era Construir a Nação, permitindo ao Estado intervir na cultura como elemento dessa construção.
No entanto, para viabilizar seu projeto cultural, o regime necessitava da participação de intelectuais renomados. Para atraí-los, Getúlio Vargas iniciou um processo
que Miceli (1984) denomina de “construção institucional”: espaços dentro do Governo para a atuação dos mais variados produtores culturais. Criou-se, então, uma extensa rede institucional articulando os diferentes interesses e as diversas elites intelectuais no aparelho estatal. Essa “organização” resultou em “compromissos” dos novos
interesses, sem prejuízo dos antigos, das novas forças capitalistas urbanas com as oligarquias rurais e regionais.
Um ponto importante a reforçar as relações Estado-cultura, além da promoção
de um “novo homem brasileiro”, era a pretensão estadonovista de criar uma idéia de
Nação contraposta ao localismo oligárquico da República Velha. Naqueles anos, a
“nação” ainda se encontrava como um projeto a ser realizado, daí a preocupação de
Getúlio Vargas em fomentar o nacionalismo. E o Estado pretendia ser o espaço ideal
para concentrar o debate sobre a integração nacional e concretizá-la.
Na busca de uma sociedade nacional, o regime julgava necessário construir
uma “cultura nacional”, tida como principal elemento de unificação do povo brasileiro. Nesse sentido, formando um habitus coletivo, a cultura permitia a identificação do
indivíduo com símbolos, imagens e mitos nacionais. Ela funcionava como o que Edgar Morin denomina de “pontos de apoio imaginários à vida prática” e “pontos de
apoio práticos à vida imaginária”: “Assim, a cultura nacional, desde a escola, imergenos nas experiências mítico-vividas do passado, ligando-nos por relações de identificação e projeção aos heróis da pátria (...) os quais também se identificam com o grande corpo invisível, mas vivo, que através dos séculos de provações e vitórias assume a
figura materna (a Mãe-Pátria, a quem devemos amor) e paterna (o Estado), a quem
devemos obediência” (Morin, 1981, p.15).
Para os intelectuais brasileiros, que assumiram a posição de porta-vozes da
questão nacional, o Estado passou a ser o local “natural” de atuação, a junção das
figuras “materna” e “paterna”. Por outro lado, o Estado necessitava dos intelectuais
para teorizar essa identidade e propagandear o nacionalismo. O chamariz atingiu grandes parcelas da intelectualidade brasileira, inclusive os artistas ligados ao Modernismo, movimento que, como lembra Silviano Santiago (1987), estava como um todo
bastante marcado por uma visão “restauradora do passado”, tanto na política (nacionalismo), quanto na arte (primitivismo).
74
ESTADO AUTORITÁRIO BRASILEIRO...
A cultura popular, ou o folclore, entra nesse momento de constituição da “cultura brasileira” como força de união entre as diversidades regionais e de classe. Retirada do local onde é elaborada, ocultando assim suas relações sociais de produção, a
cultura popular se torna um elemento unificador. Ela realiza, como mostra Néstor
García Canclini (1983), uma “dupla redução”: da “pluralidade” da cultura popular à
unidade da “arte nacional” e dos processos sociais produtores do objeto ao próprio
objeto coisificado e jogado no passado.
Enfim, o regime de Getúlio Vargas, ao mesmo tempo, reprimia, censurava e
incentivava a produção cultural. Ou, pelo menos, determinada produção, ela também
autoritária, na medida em que se apropriava do monopólio da memória nacional para
promover o novo país. Neste duplo movimento (reprimir e incentivar) reside, segundo
Ruben Oliven (1984), a complexidade da presença de qualquer Estado autoritário na
cultura. Não é exclusiva do Estado Novo. E pode ser observada durante o regime
militar pós-64, como veremos agora.
ESTADO PÓS-64: INTERVENÇÃO PLANEJADA NA CULTURA
Depois do período getulista, um outro momento de nossa história vai observar
também a intervenção sistemática do Estado no campo cultural: o regime militar instaurado no país com o golpe de 1964. Momentos referenciais da relação Estado-cultura no Brasil, o Estado Novo e o regime militar, apesar das diferenças, possuem muitas
semelhanças e continuidades.
Em 1964, a preocupação das elites dirigentes não era mais “criar uma nação” e,
sim, garantir sua integração. No entanto, mais uma vez, a cultura foi percebida como
elemento central na garantia da nacionalidade. Outro diferencial em relação ao período getulista: a presença, principalmente a partir dos anos 70, de uma forte e crescente
indústria cultural no país.
Esses elementos influenciaram profundamente a forma como o Estado lidou
com os intelectuais, o que resultou na tentativa de planejamento das intervenções culturais em planos nacionais. O regime militar, porém, não se apresentava como uma
ruptura radical com o passado. Nesse sentido, ele deu continuidade a um pensamento
anterior sobre a cultura nacional, estabelecido principalmente durante o Estado Novo,
mantendo certa tradição conservadora e ligando um momento ao outro.
Se a década de 30 é reconhecida como marco na instauração de um projeto de
capitalismo moderno no Brasil, a partir do golpe de 64, ocorreu a reorganização econômica e política do país. O Brasil entrou, dessa forma, no circuito internacional do
capitalismo, não apenas como plano, mas como fato consolidado. O Estado reorganizado passou a operar dentro de uma lógica cada vez mais planejada.
A ênfase do movimento de 30, com respeito ao nacionalismo, foi retomada
pelo regime militar, só que com outras preocupações: a perspectiva de um mercado de
75
TEXTOS
bens simbólicos unificado e de uma nação integrada cultural e politicamente. A “Mitologia Verde-Amarela”, sempre retrabalhada pelas elites brasileiras de acordo com o
contexto, assumiu o lema Proteger e Integrar a Nação (Chaui, 1986).
A preocupação com a cultura, por parte do regime, estava inserida naquela
busca pelo poder de alcançar o monopólio de interpretação do país, apontada, na época, por Octavio Ianni: “O Estado detém o monopólio da única interpretação que ele
próprio considera válida para o conjunto da sociedade. (...) O que não se situa no
âmbito da doutrina de ‘segurança e desenvolvimento’ pode ser intolerável ou reprimido (...) Mesmo porque esse Estado precisa alimentar-se da falsa idéia de estabilidade
social e política, da perenidade do presente.” (Ianni, 1978, p.217-218).
No entanto o regime militar não pretendia restringir-se a uma ação repressora
na cultura. Havia o interesse em atuar na área, como forma de colocá-la sob sua orientação, justamente por perceber a dimensão e a força política da produção simbólica.
Dessa forma, foi criado em 1966 o Conselho Federal de Cultura (CFC). O CFC reunia
intelectuais renomados, de perfil conservador e escolhidos entre instituições consagradas como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Academia Brasileira de
Letras. Intelectuais bastante próximos ao poder e que participaram ativamente da criação do Conselho.
Assim, a criação do CFC corresponde à necessidade do regime de elaborar
uma determinada visão de cultura mais adequada aos seus interesses. Para Gabriel
Cohn (1984), o Conselho representava as forças de retaguarda do Estado na luta do
campo cultural da época. Os intelectuais do CFC optaram por trabalhar dentro de um
plano nacional, entendido como a melhor forma de divulgar a “cultura legítima” para
todo o país, como aponta a elaboração das “Diretrizes para uma Política Nacional de
Cultura” em 1973. As “Diretrizes” foram fundamentais no processo que resultou na
Política Nacional de Cultura (PNC) dois anos depois.
Maria Madalena Quintella (1984) percebe no CFC uma formação que o caracteriza como grupo social. Um grupo, aponta Quintella, define-se quando seus membros formam uma unidade. Nesse sentido, o principal elemento unificador da instituição era a reverência ao passado, legitimando e explicando a ação presente. Com isso,
o Estado buscava a continuidade com as raízes de um pensamento já estabelecido
sobre a cultura nacional, principalmente nos anos do Estado Novo. Ou seja, era função
desses intelectuais traçar um passado brasileiro propício ao regime militar e transformálo em “tradição”.
Nesse sentido, o elemento forte do pensamento do CFC será o da mestiçagem,
que tinha sido apropriado pelo regime de Getúlio Vargas (Ortiz, 1985). Se, nos anos
30, a preocupação era com a valorização racial, o tom do CFC era o da pluralidade
cultural advinda da miscigenação entre as raças. Como foi dito, existia uma preocupação da ideologia da Segurança Nacional em garantir a unidade do país. Diante da
76
ESTADO AUTORITÁRIO BRASILEIRO...
indiscutível variedade regional, a saída foi apontar a mestiçagem como emblema da
diversidade na unidade.
Ao lado da miscigenação, aparecia uma outra característica do discurso do CFC:
a tradição. Essa característica tinha dois aspectos relacionados. Um, filosófico, apontava para a natureza constituidora do “Ser brasileiro”, o que a levava à miscigenação:
tradicional significava diversidade na unidade, pois assim se vinha manifestando o
povo brasileiro.
O segundo aspecto tinha razões práticas e apontava para a produção material
deste “ser nacional”. Tradicional era aquela produção legada pela história, reflexo das
mais ancestrais características do país. Preservar essa produção tornava-se uma preocupação constante do Conselho. Foi com a argumentação do tradicional que o CFC
respaldou sua ação na área do patrimônio cultural, propondo a recuperação da memória e da identidade brasileiras. O patrimônio se revelava um objeto ideal a ser preservado por seu caráter aparentemente neutro. Era um patrimônio que, na sua maioria,
encontrava-se distante dos “interesses sociais que lhe deram origem”.
Não é à toa que o estudo e a preservação do folclore eram tão enfatizados. Da
mesma forma que o folclore foi valorizado na ação cultural estadonovista, os intelectuais tradicionais ligados ao CFC retomaram essa preocupação. A base da continuidade estava no significado que trazia o seu estudo, ou seja, o despontar para um espírito
nacional. A visão do folclore como manifestação do “Ser nacional” era uma presença
constante nas ações governamentais de preservação da “memória”, das festas populares, do artesanato, etc.
Percebemos, assim, o amplo espaço de atuação do CFC dentro do Ministério
da Educação e Cultura. Espaço que se manteve mesmo com a entrada de novos agentes no campo cultural estatal, os técnicos culturais, que vinham resolver o problema da
relação entre Estado, cultura e desenvolvimento, entre Governo, arte e mercado.
Paralelo ao papel do Estado e em ligação com este, ocorreu o desenvolvimento
da indústria cultural, que correspondia à necessidade de um crescente mercado consumidor de bens simbólicos. A partir dos anos 60, o volume de produtos simbólicos se
multiplicou. Ao mesmo tempo, passou por um processo de diferenciação, acompanhando a crescente segmentação do público.
Como aponta Renato Ortiz (1989), durante o regime militar se consolidaram as
grandes empresas de comunicação de massa e da indústria cultural, empresas marcadas
pelo capital estrangeiro, configurando-se numa área quase exclusiva das multinacionais.
Temos, assim, os dois grandes investidores na cultura pós-64: o Governo e as
multinacionais.
Fixar essa dimensão econômica é necessário para compreendermos o outro
lado da presença estatal na cultura. Presença que não tinha somente o sentido estritamente ideológico, mas também interessada no desenvolvimento econômico do país,
do qual o mercado de bens simbólicos representava uma fatia considerável e em ex-
77
TEXTOS
pansão. No campo da cultura, portanto, o Estado desenvolveu o papel fundamental de
organizador e dinamizador.
A presença do Estado na cultura, de certa forma, levou a um conflito com o
setor privado. Mas o confronto entre os setores privado e estatal nunca foi às últimas
conseqüências, pois o primeiro sabia quanto o segundo promovia o mercado. Até
porque o Estado procurou investir na esfera da cultura popular ou na de elite, deixando
o setor mais lucrativo da cultura de massas para os empresários.
Ou seja, a atuação do Estado militar na cultura ficou quase que limitada às
áreas de mercado restrito e dependentes de uma produção artesanal (música erudita,
artes plásticas, teatro etc.). Motivado por uma tendência “conservacionista” ou
“patrimonialista”, o Estado assumiu o papel de protetor do acervo histórico e artístico
nacional e dos gêneros que só conseguiam sobreviver com o apoio governamental.
Contudo, com uma atuação, mesmo limitada, na indústria cultural e participando indiretamente do setor (fornecendo infra-estrutura para os meios de comunicação
de massa, principalmente a televisão, por exemplo), o Governo precisava de especialistas para atuar neste campo, que fugia à competência dos intelectuais conservadores
do CFC. Nesse momento, entraram em cena os técnicos culturais.
Os intelectuais do CFC, por sua formação tradicional, viam com desconfiança
o discurso tecnocrático defendido pelo Governo e a atenção concedida à indústria
cultural. A oposição entre cultura e técnica podia ser percebida no discurso do Conselho, que concebia o brasileiro como essencialmente “humanista” e acabava por
contrapô-lo à noção de sociedade moderna, voltada para o “tecnicismo”.
Para tentar livrar-se da massificação inerente à técnica, os intelectuais do CFC
procuraram diferenciar a personalidade cultural brasileira através da valorização da
cultura popular, em detrimento da cultura de massa. De alguma forma, o Estado incorporou elementos desse discurso tradicional quando apontava para uma “humanização
da técnica”. Assim, não só legitimava sua política cultural, mas também sua política
econômica, vinculada ao humanismo.
Porém o confronto entre cultura e técnica era sinal de descompasso entre os
intelectuais tradicionais e o regime militar. Apesar da afinidade ideológica em torno
do conservadorismo, o golpe de 64 não foi apenas um movimento político. Ele propunha profundas mudanças na organização do capitalismo brasileiro, como vimos. O
humanismo dos intelectuais do CFC não encontrava muito espaço num Estado preocupado em planejar a economia. Diante do fato, o regime procurou filtrar as idéias
desses intelectuais, adotando algumas, como foi o caso da mestiçagem como paradigma
da cultura brasileira, e descartando outras.
E, no momento de elaborar um plano nacional de cultura, o Estado convocou
os técnicos culturais que apresentavam uma ligação mais orgânica com a ideologia do
regime. A presença desses intelectuais garantiria para o plano um olhar “econômico”
78
ESTADO AUTORITÁRIO BRASILEIRO...
ao lado do olhar “humanista” dos intelectuais do CFC. Dessa forma, tal como ocorrera
em outros setores governamentais, constituiu-se um grupo de dirigentes para a atividade cultural que, apesar de incluir alguns intelectuais ligados ao CFC, era formado
basicamente por administradores profissionais e seria o principal responsável pelos
projetos no setor.
Podemos perceber, nesses especialistas ou técnicos culturais, a caracterização
do que Marilena Chaui denomina de “discurso competente”. Segundo Chaui (1989), o
“discurso competente” é aceito como verdadeiro porque perdeu as referências de suas
origens. É um discurso instituído, ou seja, indissociável da posição legitimada do
enunciante: alguém fala algo a outro alguém em determinado local e circunstância,
onde toda essa cadeia é devidamente autorizada por esse poder.
A presença dos técnicos culturais representou justamente a chegada na cultura
do processo de racionalização, que implicava uma tecnoburocracia em busca de organizar e sistematizar as ações estatais na área, com vistas ao mercado. Foram os administradores que valorizaram aquelas áreas sempre desprezadas pelo CFC: a distribuição e o consumo. Enquanto os intelectuais tradicionais pensavam uma política de
cultura baseada na preservação do patrimônio, os técnicos envolvidos com os órgãos
culturais procuraram atuar dentro da lógica do mercado. É o que Miceli (1984) denomina de luta entre a visão “patrimonial” e a “executiva”.
Para os técnicos culturais, era necessário uma política de promoção, produção
e distribuição de novos bens culturais, possibilitando o seu consumo. Nesse ponto, a
lógica do mercado se unia ao discurso da “democracia”, uma vez que, estabelecido o
mercado cultural, colocavam-se à disposição do público vários bens possíveis de ser
consumidos. Para o Estado, “democratizar a cultura” passava a significar o consumo
de bens culturais.
Assim, dentro do “desenvolvimento” da cultura, o CFC teria uma função
normativa de elaborar um pensamento que desse conta da especificidade do “Ser brasileiro”. Aos administradores cabia a função de criar programas de ação cultural legitimados por esse pensamento, porém viáveis dentro da lógica do mercado.
De qualquer modo, a presença dos intelectuais, tradicionais ou técnicos, era o
que permitia a ligação entre a “cultura do povo”, em sua essência diversificada, e a
“cultura nacional”, que precisava ser unificada, para cumprir seus papéis ideológicos
de identidade e integração da nação. Não havia um conflito radical entre os dois tipos
de intelectuais e suas atuações. Na realidade, ambos apresentavam propostas, no fundo, partes de um mesmo sistema. Se ocorria, dentro das instituições, um embate entre
esses sobre como orientar a política cultural, ao final, todos participavam da “construção simbólica” apropriada aos interesses governamentais, como a elaboração dos planos nacionais de cultura.
Assim, em 1973, foram elaboradas pelo CFC e rapidamente descartadas as
“Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura”. Na parte conceitual, as “Diretri-
79
TEXTOS
zes” apontavam para um conceito amplo de cultura, resultado de toda criação humana
e da qual todos participam (“idéias e ideais partilhados pelos brasileiros”).
Seguindo esta concepção generalista, as “Diretrizes” definiam a cultura brasileira como resultado da miscigenação de várias influências e o sincretismo final como
o próprio retrato do “Ser brasileiro”. Eram essas “raízes sociais de um povo” que se
tornava necessário conservar e promover, pois só assim seria mantida a identidade
nacional. Nesse momento, ocorria a interligação entre política cultural e política de
segurança nacional.
Na Política Nacional de Cultura (PNC), lançada em 1975, havia uma continuidade conceitual e temática em relação às “Diretrizes”. Mas, apesar das semelhanças
nos fundamentos ideológicos, a PNC somava à visão essencialista do anteprojeto de
1973 uma visão instrumental, o que aponta para a participação dos técnicos culturais.
A base do argumento deixou de ser somente as questões de segurança nacional e englobou a necessidade de desenvolvimento cultural.
Conservar (visão essencialista) e desenvolver (visão utilitarista) passaram a ser
os dois pólos por onde tramitava a política nacional de cultura. Esta dubiedade, segundo a análise de Cohn, acabou por inviabilizar a PNC:
“O tema geral desse documento (...) é bem representativo de uma postura liberal-conservadora às voltas com as exigências contraditórias da
espontaneidade e da intervenção estatal, da modernização e da conservação, do desenvolvimento como meta e da preservação da cultura dos
seus efeitos, da difusão dos resultados e da ênfase na participação criativa (...) Na realidade, o texto é construído de tal modo que a combinação entre suas premissas e as exigências de intervenção que contempla
o conduz à beira do paradoxo de uma proposta antiestatizante a ser efetuado por um órgão estatal” (COHN, 1984, p.92-93).
80
ESTADO AUTORITÁRIO BRASILEIRO E CULTURA NACIONAL:
ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE
Como podemos observar, a atuação do Estado brasileiro na cultura, durante o
regime de Vargas e o militar, é marcada por uma oscilação entre o passado e o presente, entre o tradicional e o moderno. Na realidade, é um híbrido dessas duas correntes.
Como já apontou Néstor García Canclini (1990) para a América Latina como um todo,
a cultura híbrida é a forma com a qual nós entramos na modernidade e dela saímos
constantemente.
Só assim é possível, por exemplo, que o “novo homem brasileiro”, mais apto à
moderrnização econômica do país dos anos 30, seja elaborado a partir de uma obra
que faz apologia de um Brasil tradicional, conservador, aristocrático. Ou que, sessenta
anos depois, o regime militar retome, a partir do CFC, o discurso da miscigenação e da
ESTADO AUTORITÁRIO BRASILEIRO...
tradição e, ao mesmo tempo, incorpore o discurso dos técnicos preocupados com a
racionalização do mercado e a modernização da cultura. E mais, que necessite de
ambos, intelectuais conservadores e técnicos, para viabilizar sua política cultural.
O mais interessante, porque sintomático, é que esta dubiedade, ou melhor, esta
hibridação entre a tradição e a modernidade apareça de forma clara nessas políticas
que pretenderam elaborar a definição de uma cultura, de uma identidade nacional, ou
seja, do nosso “caráter”, de nossa “essência”.
Creio que este recorte da nossa história, o das políticas públicas de cultura dos
anos 30/40 e 60/70, ajuda-nos a compreender, exemplificando, o último parágrafo do
texto de Calligaris com o qual iniciamos este artigo: “Também entende-se que a América Latina esteja se mantendo como Meca da psicanálise. Porque justamente aqui, de
alguma forma, paradoxalmente, o sujeito concilia (e nesta conciliação às vezes ele se
paralisa) o peso das sofridas reminiscências européias com a exigência americana do
projeto” (Calligaris, 1999, p.23).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBALHO, Alexandre. Relações entre Estado e cultura no Brasil. Ijuí: Unijuí, 1998.
CALLIGARIS, Contardo. A psicanálise e o sujeito colonial. In: SOUSA, Edson Luiz André de
(Org.). Psicanálise e colonização. Leituras do sintoma social no Brasil. Porto Alegre: Artes
e Ofícios, 1999. p.11-23.
CANCLINI, Néstor García. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983.
______________. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México:
Grijalbo, 1990.
CHAUI, Marilena. Conformismo e resistência. Aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.
______________. Cultura e democracia. São Paulo: Cortez, 1989.
COHN, Gabriel. A concepção oficial da política cultura1 nos anos 70. In: MICELI, Sérgio.
Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. p.85-96.
IANNI, Otávio. O Estado e a organização da cultura. Revista Encontros com a Civilização
Brasileira, Rio de Janeiro, v.1, p.216-241, 1978.
MICELI, Sérgio. Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. p.53-84: O processo de
“construção institucional” na área cultural federal (anos 70).
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1981.
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. As raízes da ordem: os intelectuais, a cultura e o Estado. In: A revolução de 30. Seminário Internacional. Brasília: UNB, 1982. p.505-526.
OLIVEN, Ruben. A relação Estado e cultura no Brasil: cortes ou continuidade?. In: MICELI,
Sérgio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. p.41-52.
______________. Que país é este? A (des)construção da identidade nacional. In: SOUSA, Edson Luiz André de (Org.). Psicanálise e colonização. Leituras do sintoma social no Brasil.
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1999. p.67-80.
81
TEXTOS
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985.
______________. A moderna tradição brasileira. Cultura brasileira e indústria cultural. São
Paulo: Brasiliense, 1989.
QUINTELLA, Maria Madalena D.. Cultura e poder ou Espelho, espelho meu: existe alguém
mais culto do que eu?. In: MICELI, Sérgio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo:
Difel, 1984. p.113-134.
SANTIAGO, Silviano. Permanência do discurso da tradição no Modernismo. In: NOVAES,
Adauto (Org.). Cultura brasileira: tradição/contradição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor/Funarte, 1987. p.111-146.
82
A LEI É DURA, MAS...
TEXTOS
(Para uma clínica do “legalismo”
e da transgressão)*
Luís Claudio Figueiredo**
RESUMO
Sobre o pano de fundo de um “legalismo”, este artigo nos conduz, de uma
compreensão de inumeráveis episódios de “transgressão da lei”, ao que seria
uma verdadeira “lei da transgressão”. Propõe o conceito de “impropriedade”
como modo de ser, em que uma dissociação constitutiva entre discurso e
prática, entre promessa e realização, parece ser o eixo central sobre o qual
as subjetividades se organizam.
PALAVRAS-CHAVES: legalismo; transgressão; impropriedade
ABSTRACT
With legalism on the backgroun this article leads, from a comprehension of
many episodes of “law trangression” to what would be a true “law transgression”.
It proposes the concept of “impropriety” as a way of being, in wich a constitutive
dissociation between discourse and praxis, promisse and execution, seems to
be the central axis through wich the subjectivities organize themselves.
KEYWORDS: legalism; transgression, impropriety
*
Publicado originalmente na Revista de Sociologia da UnB “Sociedade e Estado”, XI, 1, 1996.
Livre Docente de Psicologia geral na USP, professor da Pós-Graduação em Psicologia clínica
na PUC-SP. Autor de, dentre outros, “Modos de subjetivação no Brasil e outros escritos” (Escuta/Educ, 1995), “Matrizes do pensamento psicológico” (Vozes, 1995), “A invenção do psicológico” (Escuta/Educ, 1994).
**
83
TEXTOS
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
lgumas observações antigas me intrigam. Comecemos pelas mais simples e pelas
mais próximas: por que será que, durante cinco anos letivos, os jovens alunos do
curso de Direito da PUC se fantasiam como velhos senhores e senhoras, numa ‘compostura’ que nem sempre se justifica pelas exigências dos estágios, para, no final do
curso e num dia a isso consagrado, atirarem-se aos maiores desregramentos, praticando vandalismos, inundando os corredores, destruindo móveis e imóveis, desrespeitando funcionários e professores? Por que será que os alunos de todos os cursos de Direito, igualmente trajados no mais convencional dos estilos, institucionalizaram o dia da
grande infração (‘dia do pendura’), comendo e bebendo ilimitadamente e recusandose a pagar as contas? Muitos acabam indo presos, o que dá ao episódio um final
particularmente feliz. Vale dizer que, em nenhum dos outros cursos, observam-se tanto esmero nas aparências dos alunos e tanto empenho em atos transgressivos.
Um pouco de história põe mais lenha nesta fogueira. Convém recordar que, se
o primeiro curso de Direito em São Paulo data de 1828 - tratava-se de formar quadros
administrativos para a jovem Nação e, mais que isso, de facilitar o acesso das elites aos
lustros da cultura européia -, já na década seguinte os que estudavam as leis se notabilizavam pelas arruaças, pelas insolências, pelas infrações à ordem e aos bons costumes, a que não faltaram profanações de cadáveres e orgias em cemitérios (cf. Morse,
1970). No plano das idéias, durante a segunda metade do século XIX, a essa duplicidade
comportamental correspondia uma dupla vinculação à modernidade: ao Iluminismo
doutrinário dos nossos doutores em leis vinha-se somar e a se contrapor o fascínio
pelos valores e pelas poses transgressivas do Romantismo, o fascínio, por exemplo,
pela figura de Byron. Havia, entre outras coisas do gênero, uma organização dos estudantes de Direito chamada ‘Sociedade Epicuréia’, cujos membros procuravam viver à
maneira de Byron “mas com tal exagero que fizeram de seu protótipo uma caricatura
e caíram na degeneração, entregando-se a orgias e excessos físicos de toda espécie e a
um culto mórbido da morte” (Morse, 1970, p. 125). É interessante que se atente, de
passagem, em um paradoxo muito presente em nossa vida intelectual ao longo dos
tempos e ainda evidente nos dias de hoje entre os auto-proclamados pós-modernos: o
byronismo escandaloso dos românticos da Faculdade de Direito representava uma
eloqüente transgressão aos bons costumes provincianos e era, ao mesmo tempo, uma
repetição exagerada e grotesca dos estilos importados. Ou seja: os que posavam de
transgressores no contexto brasileiro eram, ou tentavam ser, conformistas no plano
internacional. E, para cúmulo da embrulhada, eram estes mesmos notívagos que na
sua existência ‘diurna’ representavam as luzes e a esperança de uma construção racional da vida política brasileira.1
A
1
84
Vale a pena considerar quanto situações como essa não são a própria marca distintiva de uma
A LEI É DURA, MAS...
Vamos agora a uma outra ordem de questões: por que será que somos capazes
de despender um tempo infinito na elaboração de regras, de planos, de programas e
estruturas curriculares, de leis ordinárias e de Constituições - processos de elaboração,
diga-se de passagem, conduzidos em meio a disputas exaltadas de que saem arranhadas as imagens de tantas genitoras - para, imediatamente após, nos desviarmos dos
planos, fugirmos dos programas, transgredirmos as regras e as leis? E por que, logo
em seguida, começamos a pensar na sua urgente reformulação, como se as novas
ordenações fossem de fato resolver os problemas que as antigas, e não acatadas, haviam deixado sem solução; e o ciclo se repete interminavelmente? A ponto de já haver
sido sugerida uma nova lei que apenas diria: “Tornem-se obrigatórias as leis anteriores” (cf. Faoro, 1993,p.744).
Como entender, quando se investigam os modos de subjetivação no Brasil, o
que salta aos olhos como um aparente paradoxo: um exagerado apreço às aparências
dos juristas, às aparências jurídicas e às legislações detalhistas e, formalmente, muito
bem delineadas, das quais se esperam prodígios e, de outro lado, a forma ‘abusada’ de
lidar com as leis e com as regras instituídas? Como pensar que sobre o pano de fundo
de um “legalismo” que parece atribuir às resoluções jurídicas poderes constitutivos e
transformadores da realidade - poderes quase demiúrgicos e mágicos -, como pensar,
repito, que exatamente aí algo emerge e nos conduz de uma compreensão dos inumeráveis episódios de “transgressão da lei” ao que seria uma verdadeira “lei da transgressão” à qual os estudantes de Direito pareceriam ser os mais obedientes?
ALGUMAS INTERPRETAÇÕES
A interpretação da história brasileira - engastada na velha história lusitana proposta por Raymundo Faoro (1993) nos traz algumas pistas interessantes para entendermos uma super valorização dos documentos, das portarias, das legislações, e
dos funcionários que as elaboram e aplicam, em Portugal e no Brasil. Conceber as leis
como algo que tem a capacidade de criar a realidade, ao invés de ser apenas sua
reguladora , seria para Faoro uma herança e uma sobrevivência do Estado
Patrimonialista - centralizado no Rei, nos seus ministros e na sua corte de servidores e de suas estratégias de domínio e exploração. Esta pretensiosa precedência e autonomia do legal sobre o real, na forma de um “jurismo” artificioso e vão, esteticista e
empolado, tendencialmente literário e totalmente divorciado das condições sociais e
econômicas subjacentes, será explicada pelo autor em termos sociológicos e históri-
parte significativa da vida intelectual brasileira, aquela parte que poderíamos chamar de ‘minoria estridente’: o que aqui pode passar como extraordinária ruptura cultural quase sempre não é
mais do que a imitação requentada de estilos levemente ultrapassados nas metrópoles.
85
TEXTOS
86
cos decorrentes do próprio processo de formação da Nação portuguesa e de como este
processo se repete e instala no Brasil durante a nossa colonização, permanecendo
conosco ao longo dos séculos.
Na verdade, como bem assinalou Manoel Berlinck após a leitura de uma versão preliminar deste trabalho (comunicação pessoal), toda a constituição da nossa nacionalidade esteve marcada pela presença deste “jurismo” e de seus bacharéis: tanto as
forças conservadoras como as progressistas que participaram dos processos de Independência, de proclamação da República e dos diversos episódios mais significativos
da formação da Nação Brasileira apostaram fortemente na força construtiva das leis e
dos ordenamentos legais. Como afirmou Nestor Duarte (apud Faoro, 1993), “o nosso
jurismo, como o amor às concepções doutrinárias, com que modelamos nossas constituições e procuramos seguir as formas políticas adotadas, é bem a demonstração do
esforço por construir com a lei, antes dos fatos, uma ordem política e uma vida pública
que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não formaram” (apud Faoro,
1993, p.744). Daí é um pulo para se reconhecer o quanto há de verdadeiro na idéia de
“nação fictícia” que, já no século passado, era adotada por José de Alencar (apud
Faoro, 1993, p. 391). Esse caráter moderadamente fictício da nacionalidade, decorrente de um processo constitutivo em que as leis precedem as realidades a serem reguladas (em nítido contraste com a tradição inglesa e americana), mostra, simultaneamente, a ‘positividade’ do nosso “jurismo”, a sua força e a sua eficácia e a permanente
suspeita de que a ‘Nação’ seja apenas a cobertura, a maquiagem e mesmo a máscara
da sociedade, das suas tensões e dissenções. Esta suspeita cresce cada vez que, por
exemplo, o ‘nacionalismo’ se converte em retórica patriótica nas famosas arengas
ufanistas vazadas no eterno estilo bacharelesco. Mais adiante veremos também como
este modo de construção da nacionalidade, originalmente sustentada nas doutrinas,
nos discursos, nas leis e nas ações administrativas, vale dizer, sustentada em dispositivos representacionais e em imagens divorciadas da realidade social - já que eram representações quase sempre importadas da Europa e dos Estados Unidos - torna a própria idéia de ‘Nação Brasileira’ um bem particularmente disponível. Disponível, em
primeiro lugar, para uma espécie de imitação da vida civilizada, mas, também, disponível para servir como resposta ao ‘mandato de exotismo’ que, segundo as análises de
Octávio Souza (1994), nos era endereçado pelos europeus: era obrigatório que fôssemos uma “nação fictícia” para que nossa ‘identidade nacional’ nos colocasse no lugar
do diferente.
“De D. João I a Getúlio Vargas...”, é como começa o último capítulo do livro
de Faoro (1993). Mas, cabe a pergunta, por que parar em Getúlio, se tivemos, no
mínimo, Juscelino, Jânio, Médici, Geisel e Collor em figurinos igualmente principescos, ainda que rotos. Que este superinvestimento dos aspectos legalistas e construtivos
da ação administrativa, profundamente centralizadora, possa gerar, como justa reação
das periferias, uma tendência infratora não passa despercebido ao leitor, embora não
A LEI É DURA, MAS...
seja esta a ênfase de Faoro. Fica também muito claro no texto como este ‘racionalismo
construtivista’ - autor de Brasília, da Transamazônica e do confisco das poupanças,
entre outras proezas - era, ao mesmo tempo, o aliado do velho ‘empirismo’ das conveniências, dos conchavos e das maracutaias.
Numa outra vertente interpretativa, Sérgio Buarque de Hollanda (1993) nos
traz também alguns subsídios para compreendermos esta “confiança no poder milagroso das idéias” (p.118), este “prestígio da palavra escrita, da frase lapidar” (p.117),
ou seja, este “vício do bacharelismo” (p.116) e “este amor pronunciado pela formas
fixas e pelas leis genéricas” (p.118) em que o autor reconhece “um secreto horror à
realidade” (p.118). Ora, não é difícil perceber, a partir das análises de Sérgio Buarque
de Hollanda, como o “legalismo” enquanto negação da realidade pode configurar-se
em si mesmo como violência e autoritarismo. Entre construir uma realidade a golpes
de caneta, como sugere Faoro ser o caso para o estamento burocrático, e dela evadir-se
em vôos rebuscados da mais parva literatice - como nas obras do Senador Sarney - o
que há de comum é, exatamente, a violência mais ou menos dissimulada. Ainda mais
quando, segundo a ótica do autor de “Raízes do Brasil”, o vício bacharelesco está a
serviço do engrandecimento de personalidades que se julgam e se colocam acima de
qualquer contingência e legalidade efetiva. Novamente, parece abrirem-se para os que
ficaram de fora do festim, e com toda a justiça, as portas para o cinismo, para a descrença e para a infração como meios de enfrentar estas manifestações de violência das
elites governantes e de seus acólitos.
Se os dois autores acima referidos focalizaram preferencialmente o nosso
“jurismo” e a nossa propensão às frases sonoras e às leis genéricas e detalhistas, outros, como o psicanalista italiano Contardo Calligaris (1991), têm focalizado, ao contrário, a precária instalação da lei no Brasil, com a conseqüência de uma quase impossível cidadania e de uma tendência infratora reiterada, seja por parte dos que fazem e
aplicam as leis, seja por parte dos que a elas se ‘submetem’. A imposição arbitrária,
pelas elites, de um arremedo de lei que, mais que tudo, legitima e disfarça uma exploração voraz e sem limites, somada à exibição descarada do poder em suas formas mais
cruas, mesmo quando investido de uma prodigalidade generosa que só o engrandece como na política franciscana do “é dando que se recebe”, explicitada pelo falecido
Robertão2 - geram, do outro lado da cena, em contrapartida, um permanente cinismo
com as ‘autoridades’ e uma ávida procura de oportunidades de aproveitar e gozar.
Seria este, inclusive, o mandato contraditório dos pais explorados a seus queridos
rebentos:“goza tu, meu filho, excede-te onde me refrearam”. Excesso de gozo que,
em última análise, destrói qualquer significante paterno: “responder ao mandato pa-
2
Trata-se do falecido deputado por São Paulo Roberto Cardoso Alves.
87
TEXTOS
terno seria então paradoxalmente burlar a lei, qualquer lei” (Calligaris, 1991, p.48).
Uma hipótese curiosa a se considerar seria a de que os excessos alimentares, aquáticos, destrutivos, ruidosos e desaforados da meninada dos cursos de Direito respondam, de alguma forma sutil, aos mandatos de gozo proferidos por seus distintíssimos
mestres que, a bem da verdade, com uma freqüência incomum em outras faculdades,
lecionam (Direito) à margem das leis.3 Uma história que mereceria o título: “Do Foro
ao desaforo”.
Quem sabe? No entanto, em que pesem as boas sugestões dos autores acima
mencionados e sem renunciar a elas, creio que ainda poderíamos avançar mais um
pouco na compreensão desses fenômenos psicossociais marcados pela ambivalência
diante das leis.
O “legalismo” e a “lei da transgressão” revisitados.
LEGALISMO E TRANSGRESSÃO
No livro “Modos de Subjetivação no Brasil e outros escritos” (Figueiredo, 1995),
propus uma interpretação dos nossos modos de subjetivação a partir da qual, as respostas a essas questões talvez possam ser tentadas. Num outro trabalho - Para inglês
ver (Figueiredo, 1996) - tive a oportunidade de avançar em alguns aspectos da minha
interpretação, ao sugerir o conceito de impropriedade como decisivo para a compreensão das subjetividades brasileiras. Penso que esse conceito pode ser uma das chaves
para que se abra e descortine a origem e o sentido, seja do “legalismo”, seja da “lei da
transgressão” a que aludi mais acima. Retomarei a seguir alguns trechos do trabalho
anterior, aos quais irei acrescentando novas observações.
Parto de dois vértices: (1) a questão das “idéias fora de lugar”, sugerida pela
leitura dos trabalhos de Roberto Schwarz (Schwarz, 1991, 1992) e retomada no precioso livro de Paulo Eduardo Arantes sobre as interpretações dualistas do Brasil (Arantes,
1992); e (2) a questão do exotismo, trabalhada por diversos autores em relação a fenômenos da nossa literatura - especialmente no Romantismo - e, em particular e de forma mais abrangente, por Octávio Souza (Souza, 1994). Há uma relação íntima entre
esses dois pontos de partida: a referência privilegiada ao estrangeiro na constituição
das identidades nacionais.
3
Consta que tanto na PUC/SP como na USP alguns professores de Direito tendem a não respeitar certas regras. Diz-se, por exemplo, que alguns titulares não comparecem para dar aulas,
colocando em seu lugar advogados de seus escritórios que nem professores contratados pelas
Universidades são. Como docentes destas duas proveniências costumam estar presentes e em
posições de mando em cursos novos em outras Instituições, estas e outras irregularidades tendem a se alastrar. O resultado é que as reitorias costumam ter as maiores dificuldades para
enquadrar alguns cursos e docentes de Direito que se colocam à margem e acima das Instituições.
88
A LEI É DURA, MAS...
Num caso, procuramos transplantar e imitar as idéias, instituições e hábitos
prestigiosos dos estrangeiros, processo em que se revelam e produzem nossas mais
grotescas diferenças. Alguns episódios da novela “O Bem Amado” (como o da visita
de Odorico Paraguaçu à ONU), levada ao ar há alguns anos pela TV Globo, são exemplares.
No outro, trata-se de reivindicar a liberdade para o exercício e exibição das
nossas supostas e radicais diferenças; aqui se revela, no reverso de uma liberdade
para ser diferente, nossa submissão a uma expectativa e a um desejo colonizador e
primeiro-mundista de que devemos ser de fato diferentes, exóticos, outros em relação
às qualidades físicas e culturais das metrópoles ocidentais, uma espécie de paraíso
neste mundo, no qual se poderão gozar certas delícias impossíveis e proibidas nos
países civilizados. O turismo sexual que enche atualmente as praias nordestinas de
homens europeus, em especial italianos, que aterrissam em manadas atrás de ninfetas
da terra, é apenas mais um capítulo deste “mandato de exotismo”. Vale a pena ressaltar que, quando recentemente perguntada sobre o que diferencia o Brasil e sua gente
dos outros povos e países, uma maioria de brasileiros ainda se referiu, maciçamente,
ao espírito mais alegre, mais festivo, mais afetivo e cordial do povo, à nossa maior
hospitalidade e muito maior religiosidade, além de outros atributos edênicos. Na mesma direção foram as respostas do que melhor simboliza o País: esporte, carnaval,
mulher e belezas naturais somaram sozinhos 71% das respostas. Aliás, esportes, carnaval e mulheres são, segundo os entrevistados, os nossos melhores cartões de visita,
4h
assim como as belezas naturais são o nosso maior motivo de orgul
Eo.
isso já no
final de 1995.
Se o ponto de partida é a referência paradoxal, direta ou indireta, ao estrangeiro, meu ponto de chegada será uma breve consideração das nossas impropriedades.
Vou encaminhar-me nessa direção retomando uma velha expressão ainda de
uso corrente. A expressão “para inglês ver”, em suas origens, nasceu para nos referirmos às leis e medidas policiais com que o País se comprometia internacionalmente
diante das pressões inglesas contra o tráfico de escravos. Na verdade eram leis
inoperantes e medidas nunca executadas para valer, prevalecendo a política das “vistas grossas” para todas as infrações e transgressões. Enfim, havia uma estratégia de
4
Estes e outros dados que serão relatados ao longo do texto foram extraídos de uma pesquisa
realizada pela Vox Populi em outubro de 1995 com 1962 depoimentos em todo o Brasil. A
pesquisa, encomendada pela Revista Veja, serviu, em parte, como material para a reportagem
intitulada “O que é que o brasileiro pensa que é”, publicada em 10 de janeiro de 1996. No
entanto, muitos dados e muitas possibilidades de análise foram desprezadas na reportagem que
insistiu numa certa visão otimista da nossa realidade social e política que nem sempre corresponde
aos resultados da pesquisa.
89
TEXTOS
90
dar uma “satisfação” servil (mas enganosa) ao estrangeiro opressor (que, por sua vez,
durante muito tempo fingia deixar-se enganar) com a finalidade de resguardar (com
brios orgulhosamente nacionalistas) uma certa liberdade. No caso, a liberdade
reivindicada e tão ardilosamente defendida era a de continuar mantendo uma feroz
opressão sobre outros estrangeiros, os escravos. Enfim, de uma só vez, servilismo e
resistência, orgulho e marotagem, brio e canalhice.
Hoje, resolvida a questão da escravidão e da pressão diplomática e militar inglesa, a expressão continua em uso: refere-se genericamente a coisas, leis, decisões,
promessas, etc. feitas para manter as aparências mais ou menos decentes, mas conservando parcialmente ocultas e vigorosas práticas de uma natureza absolutamente contrária. Enfim, a expressão consagra a instalação de uma dissociação constitutiva (e
não acidental) entre discursos e práticas, entre poses e ações, entre promessas e realizações. A essa dissociação constitutiva e que, curiosamente, de uma forma ou de outra
se revela a cada passo, é que chamarei de impropriedade como modo de ser.
Será a partir dessa dissociação que tentarei interpretar a curiosa mistura de
“legalismo” e transgressão. Nessa mistura, o “legalismo” marcará os próprios lugar e
momento de instalação da impropriedade e, nesta medida, convém repetir, o
“legalismo” é de fato constitutivo e não meramente ornamental e retórico. Se me permitirem recorrer a um conceito psicanalítico, mas procurando evitar o risco de uma excessiva patologização do processo, poderíamos falar aqui em um falso self não completamente cindido e auto-referido (cf. Winnicott, 1990). Ou seja: é um ‘falso self’ que
exerce suas funções defensivas sem se implantar como completamente ‘real’, deixando brechas e inconsistências à mostra. A própria idéia de “nação”, entre nós, como
vimos ao comentar a interpretação de Raymundo Faoro, pertenceria ao campo de
abrangência deste conceito winnicottiano.
Enquanto isso e diante disso, é que a transgressão poderá insinuar-se como
uma forma - problemática certamente - de se reapropriar da impropriedade, de recuperar de alguma forma um contato com uma existência mais verdadeira, sem o que, à
falta de melhor solução, a vida se tornaria extremamente pobre e sem graça. Essa
reapropriação da impropriedade, embora não tenha o mesmo sentido para todos, é,
creio eu, uma verdadeira exigência endereçada a todos os brasileiros, o que nos autoriza a falar numa imperativa “lei da transgressão”. Esta, ao contrário do “mandato de
gozo” anteriormente referido, não se resume a produzir uma “inevitável desintegração
do tecido social”, como disse Calligaris (1991, p.48), mas engendra novos padrões de
sociabilidade e, o que é tão importante quanto, novas possibilidades existenciais. No
que se segue, procurarei identificar um pouco mais claramente os sentidos do
“legalismo” e da transgressão para alguns dos modos mais representativos das nossas
subjetividades.
No livro acima mencionado, “Modos de subjetivação no Brasil e outros escritos”, apresentei uma interpretação sumária e introdutória dos processos de constitui-
A LEI É DURA, MAS...
ção das nossas subjetividades, que gostaria de retomar aqui.
O que procuro mostrar neste trabalho é a dificuldade histórica de se abrirem no
Brasil espaços para o exercício de uma subjetividade moderna, marcada pela autonomia do indivíduo e pelo exercício de uma verdadeira cidadania. É interessante, por
exemplo,retomandoapesquisad
Vox
a Populi, considerar que ninguém usou espontaneamente o atributo “empreendedor” ou equivalente para caracterizar o brasileiro e,
quando instado a avaliar o brasileiro sob a ótica de certos atributos ‘modernos’ como
o de “empreendedor”, “disciplinado” e “dinâmico” os índices obtidos para a resposta
“sim” foram, respectivamente 47%, 38% e 54%. Em contrapartida, nessa caracterização dominaram atributos que nada têm com a modernidade e a cidadania, como “afetuoso/carinhoso”, “comunicativo”, “apaixonado”, “extrovertido/aberto”, “alegre”,
“otimista”, “religioso”, “apegado à família” e “esperto”, todos com índices superiores
a 80%. O atributo “alegre” bateu todos os demais, com 95% de “sim”. Por outro lado,
quando apareceu “trabalhador” (72%), o trabalho vinha associado ao esforço, à luta
pela sobrevivência mais que à realização e à produção. Em acréscimo, grassa uma
desconfiança profunda em relação à aplicação da justiça que, segundo a maioria dos
depoimentos, “vai de mal a pior” (44% dizem que a justiça e o cumprimento das leis
está piorando, contra 25% que afirmam o contrário). A mesma desconfiança existe em
relação às autoridades eleitas e aos representantes do povo tanto nas funções executivas e legislativas como também nas atividades sindicais; os que ocupam estes cargos
estão entre os menos confiáveis dos brasileiros. Familiares, líderes religiosos e amigos, nesta ordem decrescente, continuam sendo muito mais confiáveis do que os agentes
típicos da vida política urbana e moderna.
Trata-se, na verdade, de um país historicamente dominado pelas “pessoas muito importantes” que, ainda hoje, freqüentemente reinam em seus contextos relacionais
- suas redes de parentes, compadres, amigos, “correligionários”, apaniguados, protegidos - ou seja, todos os sistemas de vinculação pessoal e lealdades responsáveis pela
distribuição de favores e poderes. São estas características dos regimes de sociabilidade arcaicos, em que todos têm “os rabos presos”, que tornam tão difícil, por exemplo,
a abertura de certas CPIs no Congresso Nacional. Para piorar, essas características
estão cada vez mais ligadas a certos valores ‘supermodernos’, como o do êxito rápido,
o do enriquecimento fulminante, com pouco trabalho e muito consumo (cf. Lipovetski,
1994)5 . Foi a partir destes contextos, que essas “pessoas muito importantes” se associ-
5
Na modernidade clássica, trabalho e esforço eram pilares da ética; hoje, conforme nos mostra
Lipovetski, estes valores foram substituídos por considerações e eficiência e, principalmente, de
conveniência. Curiosamente, o que as elites brasileiras revelam, principalmente em figuras como
PC Farias, é que a ética deste novos tempos conseguem articular-se muito bem com éticas prémodernas.
91
TEXTOS
92
aram aos agentes (econômicos, políticos e culturais) internacionais - que funcionavam
segundo outros valores e normas, os valores e normas da modernidade clássica: a
autonomia individual, a livre iniciativa, a força de vontade e a perseverança, o tino e a
competividade, a submissão às regras impessoais, o êxito baseado no esforço e no
trabalho, etc. Nessa associação, indispensável para o exercício do seu poder, as “pessoas muito importantes” se esforçaram por assumir e exibir os gostos e os modos
estrangeiros da mais refinada civilização - distinguindo-se dos demais brasileiros pelo
verniz europeu e/ou americano, bancando os civilizados. É uma estratégia necessária,
tanto para reforçar suas alianças, como para, internamente, exercer seu fascínio e domínio sobre a “plebe rude e ignara”, como, ainda, para disfarçar sua voracidade predatória com as aparências da moderação e do requinte civilizados. Assim, e sem qualquer sensação de incongruência, estes “pseudos” tiranizaram o resto da nação mediante a combinação de belos discursos civilizatórios “para inglês ver” e práticas de uma
eficácia totalmente dissociada desses discursos.
Parte desses discursos civilizatórios se destinou à ordenação jurídica do país.
As escolas de Direito, como se sabe, nasceram logo após a Independência, para atender às necessidades das elites dirigentes, numa subordinação aos interesses da elite
que não é novidade em lugar nenhum do mundo. Aqui, porém, seria importante ressaltar como uma cultura jurídica importada e o rebarbativo discurso bacharelesco - que
esteve tão presente nas atividades políticas e sociais, como os famosos banquetes e
‘homenagens’ - sempre estiveram associados à estratégia acima referida. De uma parte, como já tivemos a oportunidade de expor, o “legalismo” dos nossos juristas foi
decisivo para a constituição da nacionalidade, ainda que na forma de uma “nação
fictícia”, como afirmou José de Alencar. Vale aqui acrescentar como esta ficcionalidade
vem a calhar para um discurso patrioteiro que dissimula a apropriação e uso do país
pela elite dirigente. De outro lado, contudo, exatamente porque as palavras e modos
da modernidade não eram, de fato, para ser levados completamente a sério, exatamente porque as idéias não eram para ser pensadas e usadas na prática, porque as leis,
finalmente, não eram para ser efetivamente respeitadas é que todo o esforço era feito,
e continua muitas vezes sendo, no sentido de uma absoluta formalidade, de um apreço
minucioso e estetizante pelas formas. Enfim, embora seja sempre possível tirar vantagens de todo tipo deste legalismo, como quando a “estrita observância de uma lei”
propicia a extorsão e o recolhimento de propinas por fiscais subitamente rigorosos processo comuníssimo nas relações dos brasileiros com as ‘autoridades’ - o “legalismo”
ele mesmo, antes de ser um mero expediente a serviço da chantagem, foi um dispositivo de subjetivação: mediante leis, portarias, documentos, discursos vazados nas mais
belas fôrmas, etc., as elites construíram uma identidade ‘civilizada’ com a qual “se
defendem”, seja na mais brasileira acepção do verbo “defender-se” como no mais
rigoroso sentido winnicottiano do ‘falso self’. É por isso que as filigranas importam
tanto; tanto mais quanto menos importam sentido e função prática.
A LEI É DURA, MAS...
Poderia parecer uma crença primitiva no poder das palavras escritas, se tudo
não viesse temperado pela suspeita permanente de que nada é para valer, de que sempre se pode dar um jeito e de que as leis propriamente ditas só cortam as asas dos que
não estão próximos dos que as fazem e aplicam.
Mesmo para estes agentes, contudo, os grandes emissores destas “falas fora de
lugar”, a dissociação não pode ser entendida apenas no plano de uma racionalidade
estratégica. Mesmo para eles, acredito, as impropriedades geram algum tipo de ‘sofrimento’ para o qual se impõe como remédio uma certa modalidade de transgressão.
Fazer da “norma infração e da infração norma ”, como dizem Roberto Schwarz e
Paulo Arantes, talvez seja mais que um uso deliberado dos dispositivos impessoais da
modernidade para alcançar objetivos particulares, e isso aliado ao desprezo tático,
voluntarioso e arrogante das leis sempre que contrariarem as conveniências. Talvez a
volubilidade caprichosa e delinqüencial das “pessoas muito importantes”, tão bem
analisada por Schwarz em alguns personagens de Machado de Assis, seja mais do que
uma exibição despudorada de um poder que, de fato, não reconhece nenhum limite e
disso se vanglorie. O que é, sem dúvida, uma parte, e parte decisiva da verdade. Contudo, penso que a desfaçatez na exibição de um poder arbitrário não seja apenas mais
uma prova de seu alcance, um expediente do seu próprio exercício (como é o gesto de
prodigalidade generosa que confirmaria e engrandeceria o poder, segundo Calligaris),
mas uma forma de glosar a própria impropriedade, de, numa certa medida, resgatá-la,
de conquistar um mínimo terreno de consistência para além da dissociação constitutiva.
A instrumentalização estratégica das impropriedades marcou, por exemplo, a
trajetória de alguns políticos muito bem sucedidos. Jânio Quadros, com sua caspa,
suas falas em português d’antanho, sua dicção amaneirada e sua erudição de almanaque,
seus esgares, seu moralismo e seu nacionalismo histriônicos, suas bebedeiras mais ou
menos públicas, suas idiossincrasias, manias, cacoetes, suas incongruências e
autodiscrepâncias - tão bem registrados numa famosa fotografia do dia em que renunciou, em que aparece andando retorcidamente com os pés cruzados em direções opostas - tirou imenso partido do que poderia parecer, à primeira vista, um defeito: sua
aparência in-crível. No plano político, é bom lembrar, e em absoluta consonância com
a exploração de suas/nossas impropriedades, Jânio procurou encarnar uma espécie de
‘nacionalismo exótico’. Também a estratégia - populista 6 - de Adhemar de Barros –
que, por sinal, era médico formado na Alemanha - na exploração eleitoral de nossas
impropriedades era ainda mais descarada: de um lado, os slogans oficiais da campa-
6
Talvez esteja faltando às muitas análises políticas do populismo brasileiro uma consideração
das suas articulações com o caráter mais ou menos fictício da nacionalidade e com o mandato de
exotismo.
93
TEXTOS
94
nha, com as promessas de realizações e compromissos populares; de outro, o slogan
que corria de boca em boca e “confidenciava publicamente”: “Rouba mas faz”. E o
produto do roubo, a famosa “caixinha”, como todos sabiam, ficava sob a guarda do
Dr. Rui que era, o que todos também sabiam, o cognome da amante dele. Provavelmente foram estas duplicidades marotamente assumidas (o que incluía negações teatrais) o que garantiu para este político, durante um certo tempo, um eleitorado fiel.
Mas será que isso é tudo? Será que esses senhores eram apenas hábeis manipuladores
de imagens e que haviam descoberto que imagens indeléveis e imaculadas podiam
fazer menos sucesso no Brasil do que imagens de alguma forma suspeitas? Quando
terá sido mais convincente, por exemplo, o ex-ministro Ricúpero: como o santinho do
pau oco do Plano Real ou como o aprendiz de canalha na fatídica entrevista?
Há, efetivamente, episódios da vida nacional em que algo de transgressivo parece ir além de uma mera e rasteira instrumentalização. O jornalista Francisco de Assis
Chateaubriand Bandeira de Mello, o popular Chatô, é uma fonte rica para nossas considerações (Moraes, 1994). Há, por exemplo, o caso de uma recepção oficial a um
diplomata americano em que o jornalista discursou no velho estilo bajulador das “boasvindas”, recenseando as maravilhas do País ao alcance dos estrangeiros, entre as quais
incluiu a disponibilidade das brasileiras para o serviço sexual dos gringos, prova de
nossa extrema hospitalidade. Isso numa festa repleta de damas da nossa melhor sociedade. Relembremos ainda o fabuloso gesto de Assis Chateaubriand que, por ocasião
do coroamento da Rainha Elizabeth, mandou pendurar nas ruas de Londres provincianas faixas de pano brasileiras com dizeres tais como “Nossa Senhora da Aparecida
guarde a Rainha”, “Nosso Senhor do Bomfim guarde a Rainha”, todas em português,
é claro, para estarrecimento e perplexidade da comunidade internacional presente às
cerimônias. Recordemo-nos também do episódio em que um dos maiores estadistas de
todos os tempos - Winston Churchill - recebeu do mesmo Chateaubriand um punhal
nordestino na ocasião em que era “armado comendador” de uma inexistente “Ordem
do Jagunço”, inventada pelo jornalista. As fotos das faixas e a de Churchill segurando
o punhal com um sorriso alvar eram, obviamente, publicadas pelos Diários Associados, o que dava a estas encenações, literalmente “para inglês ver”, novos e inesperados sentidos.
Sugiro a hipótese de que estes três gestos de Assis Chateaubriand, além de
colocarem a nu nossas impropriedades de uma forma hilariante, poderiam servir-nos
de indicativo de como ser, simultaneamente, o mais impróprio dos brasileiros e o mais
descolado, capaz de apropriar-se de suas impropriedades, criando uma maneira completamente nova de relação consigo e com os ingleses, franceses e demais estrangeiros. Penso haver nesses gestos mais ou menos transgressivos, e na carreira de
Chateaubriand não faltaram transgressões mais graves, na verdade, algo de terapêutico.
Uma forma de reconquistar alguma consistência que não nega, antes expõe, o que há
de absolutamente inconsistente na figura deste nordestino atarracado, portador de um
A LEI É DURA, MAS...
sobrenome francês impronunciável por seus conterrâneos (sobrenome adotado pelo
avô sertanejo em plena Paraíba), que estudou alemão desde menino, vestia-se como
inglês, deixou-se fotografar nu entre os índios - com as fotos publicadas na maior
revista da época - e era capaz tanto das maiores bajulações, como de duras chantagens
a serviço de causas nobres, ou nem tanto, como, ainda, dessas extraordinárias
irreverências. Isso, de um lado.
De outro, trata-se de um País habitado por uma multidão de “meros indivíduos” extremamente marginalizados econômica, política e intelectualmente, e
freqüentemente, obcecados pela necessidade de se diferenciarem, antes, dos escravos,
dos trabalhadores manuais, hoje, dos ainda mais desvalidos, miseráveis e ignorantes.
Um povo cujas maiores alegrias foram proporcionadas pelos que passaram vertiginosamente da condição de “meros indivíduos” à de “pessoas muito importantes” (como
o Rei Pelé, no esporte 100% brasileiro) ou à de “sujeitos soberanos” da tecnologia de
ponta (como Ayrton Senna, na Fórmula 1), líderes absolutos das preferências populares na pesquisa Vox Populi 7 . (Nessa frase, o termo ‘vertiginosamente’ merece ser
sublinhado.) Daí a necessidade, também por parte dessa população, de um uso igualmente ostentatório e compulsivo das imagens emblemáticas e das falas que os possam
assemelhar, ora aos grandes de sua terra, ora aos metropolitanos modernos. Eis o momento da impropriedade. Nenhuma imitação, contudo, sustenta de forma estável e
confiável essas identificações. Junto ao fascínio pelos modelos, corre, inevitavelmente, muito despeito e rancor, muita desconfiança, uma certa convicção de que as belas
palavras, promessas e regras instituídas escondem mais que revelam e estão mais a
serviço de interesses particulares do que dos “grandes interesses da Nação”. Daí, talvez, a confiança que acabem depositando nos que fazem da impropriedade uma espécie de bandeira, ao invés de tentar disfarçá-la. Daí, talvez, a suspeita generalizada de
corrupção (o maior motivo de vergonha por ser brasileiro, segundo a pesquisa) aliada
a uma certa simpatia por certos notórios corruptos. De fato, o exercício de um poder
infinito e inescrupuloso tem algo de fascinante e já fez o sucesso de certos “vilões” de
novela que esbanjam mais charme que os pobres “mocinhos”.
Para “meros indivíduos” submetidos a uma lei e a autoridades não confiáveis e
potencialmente transgressoras, a transgressão pode muito bem significar uma
reafirmação de si tanto no caminho de uma certa semelhança com os poderosos que se
dão ao luxo da infração contumaz e ostensiva, como no caminho de uma certa autonomia. O mandato “transgrida” universaliza-se, assumindo também aqui uma fisionomia
terapêutica: transgrido, e o faço publicamente, para dar aos outros e a mim mesmo a
7
Já quem insiste na sua condição de pobre, como o Lula, recebe míseros 35% de “sim, traz
felicidade”, contra os 96% de Pelé e Senna.
95
TEXTOS
prova de algum poder em torno do qual reconquisto uma mínima consistência diante
da dissociação constitutiva. Transgrido e convido outros a transgredirem comigo!
Podermos estabelecer, à margem da lei a que continuamos, entretanto, referidos e da
qual continuamos esperando no futuro alguma solução, um território informal - mas
também regulado - de interações pode ser um passo na direção de uma forma embrionária de resistência e cidadania e não apenas um passo na direção da anomia. Passo,
porém, que é logo abortado pelas contradições internas que abriga: seu valor depende
da manutenção daquilo que ele poderia negar - a impropriedade como modo de ser.
Impropriedade que, também nesse caso, não é abolida, mas assumida como algo
perturbador e, em última análise, “positivo”.
Para esclarecer o sentido desta “positividade”, seria interessante pensar, finalmente, como esta reapropriação da impropriedade pela via da transgressão pode ser
incorporada como mais uma resposta ao “mandato de exotismo”, tão bem estudado
por Octávio Souza (1994). Embora tenha uma origem funda em nosso processo
colonizatório, o “mandato de exotismo” se fortalece quando as táticas de identificação
simples com os valores e falas da modernidade clássica - táticas mimetizantes - fracassam: surge aí a ingênua reivindicação de uma diferença radical e específica em relação
ao ‘culto’ e ao ocidental. Essa reivindicação, no entanto, constitui-se e se expõe mediante procedimentos igualmente preparados “para inglês ver”. Aliás, o que mais ingleses e demais europeus gostam de ver que nossas exóticas impropriedades? “O
Brasil não é um País sério”, afirmou certa vez o General De Gaulle para ser repetido
por todos os que apontam a nossa suposta incapacidade de respeitar as leis e cumprir
as promessas (cf. Kepp, 1996)8 . Sintomaticamente uma parcela ponderável dos depoimentos colhidos na pesquisa Vox Populi concorda com De Gaulle, ou seja, 59% dos
pesquisados acham que o país não é mesmo muito sério e os mesmos 59% acham que
esta é a opinião dos estrangeiros a nosso respeito, embora continuem achando o Brasil
o melhor País do mundo para se viver; enfim, são brasileiros que se percebem e se
classificam através dos olhos alheios, reafirmando duplamente as nossas impropriedades.
PARA CONCLUIR
De uma certa forma, indiscutivelmente fazemos parte desta grande região e
deste tempo, o Ocidente Moderno, mas de uma forma peculiar que se tratou de considerar aqui. Tratou-se, enfim, de entender a impropriedade como modo de ser, como
modo de ser em que uma dissociação entre as imagens para uso externo e as práticas
8
A respeito deste artigo há um bom comentário da psicanalista Miriam Chnaiderman(1996) em
que as interpretações de Contardo Calligaris, Octávio Souza e as minhas próprias são avaliadas.
96
A LEI É DURA, MAS...
“para valer”, entre o extremo formalismo e a informalidade, parece ser o eixo sobre o
qual as subjetividades em grande medida se organizam.
Trabalhar teoricamente a questão das nossas impropriedades me parece ser
uma tarefa de extrema relevância e urgência para nós, profissionais psi. Contudo, muito
antes de nós, os literatos e, muito particularmente, nossos humoristas vêm dando contribuições fundamentais para a delimitação e focalização deste fenômeno. Qualquer
edição das Comédias da Vida Privada, baseada nos textos de Luís Fernando Veríssimo,
põe-nos em contato com a impropriedade e, quase sempre, com as tentativas de se
apropriar das impropriedades mediante alguma transgressão, cujo mestre é o
famigerado Boca. No programa exibido no dia 23 de março de 1995, um chefe de
família honesto, mas falido deixa a família exultante com a possibilidade de, ele também, ser corrompido na Capital Federal. Discutem o preço da sua consciência e fazem
planos com o dinheiro que ele exigirá. “Cinco milhões, diz o personagem, me deixarão ofendido e darei uma entrevista coletiva pondo a boca no mundo; dez milhões,
aceitarei; quinze, aceitarei e ainda darei umas sugestões”. Viaja para Brasília e retorna
desolado: o amigo que o convidara para se envolver com um escândalo nacional era
honesto e só lhe tinha oferecido um trabalho... honesto. O ‘escândalo nacional’ eram
as crianças carentes e famintas. A solução que parece se impor é o suicídio. Do qual o
personagem se livra vendendo seu péssimo imóvel a um incauto e garantindo férias na
Europa, durante as quais, consumindo desbragadamente e exibindo aos estrangeiros
uma riqueza que não tem - reapropriando-se de suas impropriedades e novamente
lançando-se nelas -, viverá algum tempo acima de suas posses!
Como, de resto, o País.
REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS
ARANTES,P.E.Sentimento de dialética. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
CALLIGARIS, C. Hello Brasil. Notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. São Paulo: Escuta, 1991.
CHNAIDERMAN, Miriam. Contra o jeitinho. A favor do gingado. Boletim de Novidades
Pulsional, n. 85, 60-63, maio 1996.
FAORO, R. Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro. 9. ed. São Paulo:
Globo, 1993.
FIGUEIREDO, L.C. Modos de subjetivação no Brasil e outros escritos. São Paulo: Escuta/
Educ, 1995.
FIGUEIREDO, L.C. “Para inglês ver”. Cadernos de Subjetividade, 3(2), p. 355- 364, 1995.
HOLLANDA, S.B. Raízes do Brasil. 25. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.
KEPP, M. Modos brasileiros de escapar do ‘não’. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 fev. 1996.
Caderno Mais, p. 3.
LIPOVETSKI, G. O crepúsculo do dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos.
Lisboa: D. Quixote, 1994.
MORAES, F. Chatô. O rei do Brasil. São Paulo. Companhia das Letras, 1994.
97
TEXTOS
MORSE, R.M. Formação histórica de São Paulo. São Paulo: Difel, 1970.
SCHWARZ, R. Um mestre na periferia do capitalismo. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1991.
SCHWARZ, R. Ao vencedor as batatas. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1992.
SOUZA, O. Fantasia de Brasil. As identificações na busca da identidade nacional. São Paulo:
Escuta, 1994.
WINNICOTT, D. Distorção do ego em termos de falso e verdadeiro self. In: O ambiente e os
processos de maturação. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
98
TEXTOS
ORIGENS E DIFERENÇAS:
TEORIAS SEXUAIS INFANTIS?
Mario Fleig*
Conceição Beltrão**
RESUMO
O artigo se propõe examinar a hipótese de que as narrativas e teorias sobre o
Brasil não se constroem sem uma relação interna com as teorias sexuais
infantis. Deste modo, as teorias não respondem apenas à angústia frente ao
estranho, mas, pela operação de complexos mecanismos psíquicos, configuram novas versões do infantil.
PALAVRAS-CHAVES: teorias sexuais infantis; mecanismos psíquicos;
exotismo; racismo; significante
ABSTRACT
This article proposes to examine the hipothesis that the narratives and theories
about Brazil are not built without an internal relation with sexual theories of
children. Thus, theories do not respond only to anxiety in face to the uncanny,
but though the operation of complex psychic mechanisms, form new version
of the infantile.
KEYWORDS: sexual theories of children; psychic mechanisms; exotism;
racism; signifier
*
Psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, membro da Association
Freudienne Internationale,.doutor em Filosofia, professor na Unisinos.
**
Psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, membro da Association
Freudienne Internationale.
99
TEXTOS
O
100
que faz com que sejamos absolutamente obrigados a fazer teoria? Por que al
guns se perguntam tanto e tantas vezes sobre: O que é ser brasileiro? Quem somos nós? Qual a nossa origem?
Existe uma história oficial, iniciada em 1850, com Varnhagen, que se propõe a
responder a essas interrogações. Segundo Reis (1999), trata-se da construção de relatos históricos mais completos e documentados sobre o Brasil. Nessa época, graças à
consolidação do processo de independência e da constituição do Estado nacional, através
do controle das insurreições separatistas, tem início o projeto da escrita de uma história oficial do país. Varnhagen constrói o desenho do perfil de um Brasil independente
e oferece à nova nação a proposta de um passado, a partir do qual seja possível elaborar o futuro. Escreve a história pátria sob os auspícios do Segundo Império. O jovem
imperador, nessa época, tinha necessidade dos historiadores para se legitimar no poder e, portanto, de prestar auxílio financeiro ao trabalho de Varnhagen.
Em 1840, houve um concurso no recém fundado “Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro”. O tema do concurso fora: “Como se deve escrever a história do Brasil”. O vencedor, mas cujo projeto jamais foi executado, estabeleceu que a identidade
deveria ser buscada nas questões mais singulares do Brasil. Primeiramente, a mistura
das raças e, em segundo lugar, a construção da figura do português, misto de conquistador e senhor, que se constituiu a partir do momento em que se libertou da obediência
ao rei. Então, essa história deveria mostrar a vida bem sucedida dos portugueses e
também como esses, como bons cristãos, defendiam as outras raças. Em terceiro lugar, essa história deveria construir a unidade nacional apoiada sobre a mistura das
raças, mas privilegiando a raça branca, representada na figura do Imperador. Para que
houvesse a centralização do poder na figura do Imperador, esse relato histórico deveria apagar as diferenças econômicas e regionais. Para viabilizar esse intento, o historiador deveria viajar e aconselhar os presidentes das Províncias a eliminarem as rivalidades com os vizinhos, evitando a eclosão de novos conflitos. Enfim, essa história
deveria despertar o amor pelo Brasil e promover a defesa da União, da monarquia e da
cristandade, eliminando as desconfianças das Províncias com relação ao poder central.
Essa história oficial demonstrava o horror às diferenças raciais e aos interesses
locais que ameaçavam o poder. A mestiçagem deveria sustentar o poder, mas não
aceder a este, pelo menos de forma oficial. E os únicos mestiços ou negros que foram
alçados ao panteão nacional eram aqueles que davam testemunho de amor para com o
Imperador.
Mesmo que, a partir de 1930, essa história tivesse começado a ser revisada,
isso não seria suficiente para desfazer os efeitos da tentativa das elites de lavar o
sangue e a própria cultura. Podemos observar, através da arte pictórica do século XIX,
a sustentação de um academicismo amparado nos cânones europeus. Este ideal branco
e cristão é sustentado pelo negro e mestiço, que faziam a guerra e o trabalho. Mas o
ORIGENS E DIFERENÇAS...
mesmo tratamento depreciativo com relação ao diferente acontecia nas relações com
os imigrantes europeus, vindos para o sul do país a partir de 1824. Eram tidos como
estrangeiros e ameaçadores, através do tratamento dispensado pelo Governo e pela
Igreja, constituindo quistos raciais.
Podemos observar, após este sucinto relato de nossa historiografia, que a história oficial, ou história pátria, não esgota as perguntas pelas nossas origens, nem consegue recobrir as diferenças. Entretanto, como psicanalistas, não nos cabe fazer referência a esse tema no campo do signo, mas articulá-lo de forma significante.
A psicanálise permite diferenciar na memória a função da rememoração.
Enraizada no significante, ela resolve, pela ascendência na história do homem, as aporias
platônicas da reminiscência. É suficiente ler as formulações freudianas sobre a sexualidade para constatar que todo acesso ao objeto deriva de uma dialética do retorno, à
qual é incorporada a repetição kierkegaardiana, enquanto organizador da cena do
mundo.
A noção freudiana da Outra cena, como o lugar do sonho, leva-o a conceber,
apesar de ser Freud um homem de ciência, que há um mecanismo que rege tanto o
destino dos homens quanto o dos deuses. Lacan (1966) identifica nisso a figura obscena e feroz do pai primordial, diante do qual Freud se curva, rompendo com seus preconceitos, como aparece no mito freudiano da horda primitiva. De mesma forma, o
mito se acha sob a mesma necessidade imposta pelo mecanismo. O mito responde pela
imperiosa proliferação de criações simbólicas nas quais se motivam, até em seus detalhes, as compulsões do neurótico e que se denominam teorias sexuais infantis.
Encontramos no caso clínico de Hans, descrito por Freud, que se constitui num
clássico a respeito da fobia, todas as permutações possíveis de um número limitado de
significantes. Esse menino de cinco anos, face à carência de amarras simbólicas, constrói, sob uma forma mítica, teorias sexuais infantis que visam resolver o enigma, seguidamente atualizado, a respeito de seu sexo e de sua existência. Isso é desenvolvido
em torno do significante de sua fobia.
Portanto, quando fazemos perguntas sobre as origens e sobre as diferenças,
mesmo que sejam perguntas formuladas de modo muito particular por cada um, supõe-se que aí cada sujeito produza uma teoria própria, enlaçando a história oficial e a
construção de sua ficção, numa articulação significante singular que parte de suas
teorias sexuais infantis e de sua rememoração.
Valéry, referindo-se às teorias sobre arte, o que também pode estender-se a
outras formas de teoria, afirma que:
“A verdade é que as teorias não têm nenhum valor universal. São teorias para
cada um, úteis a cada um, feitas dele, por ele e para ele. Falta à própria teoria declarar
que ela não é verdadeira de forma geral, mas verdadeira para “x”, para o qual ela é
instrumento.”a(pud Bergès e Balbo, 1997, p. 4).
101
TEXTOS
102
Então, o que leva um sujeito à produção de teoria? Ora, segundo a concepção
freudiana, o fato de que o corpo tenha orifícios faz a criança se perguntar sobre a
origem dos bebês e sobre a diferença sexual. A resposta a isso não se traduz necessariamente numa teoria, pois pode produzir angústia de castração ou sintomas.
Conforme a demonstração freudiana, o pulsional tende a desembocar numa
teoria. Então, a questão que se coloca é: O que empurra o sujeito a teorizar? O que leva
o sujeito a pensar, arrancando-o do que seja puramente pulsional? Bergès e Balbo
(1997) propõem que a emergência do pensamento, assim como da teoria em particular, não se articulam apenas ao pulsional, mas requerem o que seja da ordem do discurso do Outro. Freud afirma que “não é por interesse teórico, mas sim por interesses
práticos que as atividades de pesquisa começam a se desenvolver nas crianças. A
ameaça às bases da existência de uma criança, oferecida pela descoberta ou suspeita
da chegada de um novo bebê e o medo de que ela possa, como conseqüência disso,
deixar de ser cuidada ou amada, tornam-na pensativa e perspicaz.” (Freud, [1905]
1974, p. 200) Portanto, não é uma necessidade inata que desperta a pulsão de saber,
mas uma ameaça ou um interesse contrafóbico ligado à chegada de outro bebê, despertando interesses egoístas. Isso constitui a existência do irmão fantasmático, que se
reedita no nascimento dos filhos. Então, já se encontra aí algo que impulsiona, que é o
corpo erotizado da criança.
Freud afirma que há um fragmento de verdade na teoria sexual infantil. Balbo
(1997) propõe que este fragmento de verdade tem, nas suas origens, componentes
orgânicos e pulsionais, constitutivos do início de um saber verídico que se confrontaria com um desconhecimento. Contudo, esse desconhecimento como tal não é suficiente, pois se requer que o mesmo seja retomado pelo outro (os pais ou quem tem
autoridade para a criança). Aqui se vê a importância da relação deste saber nascente,
quase pulsional, com o que o outro não quer saber.
Ora, esse desconhecimento diz respeito ao corpo enquanto erotizado. É sobre
esse corpo desconhecido que incide a operação psicanalítica, pois esta se dá sobre o
inconsciente enquanto recalcado. Cabe ressaltar que o corpo resultante dessa operação
do recalcamento diz respeito àquilo que é recalcado no e pelo outro.
Para que haja teoria, Lacan (1967/1968) afirma ser necessário um fragmento
de veracidade que esteja ligado ao corpo enquanto desconhecido. Eis, então, a articulação necessária para que se dê o processo de formulação de teoria. Bergès (1997)
salienta que não se trata de uma erotização abstrata, mas que se liga ao que é desconhecido, quer dizer, o corpo enquanto o próprio teatro do desconhecimento.
Para que a criança possa fazer uma teoria, é preciso que, num dado momento,
sua mãe suponha que ela seja capaz de se fazer uma e se requer, ao mesmo tempo, por
parte da mãe, a capacidade de recalcar certas verdades. Neste sentido é que podemos
compreender que o desejo ou a avidez de saber (Wissbegierde) da criança, expresso
nas intermináveis perguntas em torno de uma única pergunta que ela nunca faz – de
ORIGENS E DIFERENÇAS...
onde vêm os bebês? – e que visa impedir o nascimento de outro bebê, constrói-se na
recusa em acreditar nas explicações que lhe são dadas pelos adultos. Freud (1910) se
refere ao engano ao qual a criança se vê submetida, determinando seu ato de independência intelectual e de oposição aos adultos. Ora, esse engano está ligado ao fato de
que a mãe é capaz de desconhecer algo nela mesma, pelo recalcamento, constituindo
assim o corpo erotizado da criança e abrindo-lhe o caminho para articular um saber
que lhe seja próprio.
Deste modo, o saber sobre as origens está na origem do saber, pois tanto os
orifícios corporais pulsionados quanto o recalcamento operado pelo outro materno
sobre o corpo infantil determinam fragmentos sobre os quais a criança constrói suas
interrogações e sua teoria sexual infantil particular. Contudo, como se passa dessas
teorias sexuais infantis para teorias não-sexuais?
Freud responde a essa interrogação, a partir da observação, em muitos indivíduos, da capacidade de canalizar parte considerável das forças pulsionais sexuais para
atividades profissionais. Especialmente na sua elaboração a propósito de uma recordação infantil de Leonardo da Vinci, sustenta que “a pulsão sexual é particularmente
apropriada para tais contribuições, pois é dotada da capacidade de sublimação, isto é,
é capaz de trocar seu objetivo imediato em favor de outros, não sexuais, eventualmente mais altamente valorizados.” (Freud, [1910] 1974, p. 72)
Segundo a formulação freudiana, o ato de independência intelectual da criança
na sua investigação sexual termina por um forte recalcamento, ligado ao fracasso das
teorias sexuais infantis, determinando três possibilidades diferentes para o destino ulterior da pulsão de investigação: 1. A investigação segue o mesmo destino da sexualidade, e, então, o desejo de saber fica inibido, caracterizando a inibição neurótica; 2. O
desenvolvimento intelectual é suficientemente rigoroso para resistir ao recalcamento,
mas a investigação sexual retorna, sexualizando o pensamento. Disso resulta a ruminação mental, com o pensamento posto ao serviço da satisfação sexual e nada produzindo de novo, caracterizando a compulsão neurótica de pensar; 3. A libido se subtrai
ao recalcamento e é sublimada em desejo de saber, reforçando a pulsão de investigação. “A pulsão pode agir livremente ao serviço do interesse intelectual.” (Freud, [1910]
1974, p. 74)
Disso se depreende que as teorias não-sexuais se formulam no campo aberto
pelos dois últimos destinos da investigação sexual infantil. As duas perguntas infantis
– a origem dos bebês e a diferença sexual – também sofrem diferentes destinos, determinando teorias diversas.
No caso das teorias sobre o Brasil, propomos que as formulações diversas sobre suas origens e sobre suas diferenças sejam consideradas a partir das duas perguntas infantis, como se apresentam no cotidiano. É comum nas relações sociais perguntas como: “Qual é a tua origem? De onde veio tua família? Quem são teus pais?” E
também é comum as pessoas contarem sobre os trajetos familiares. Quando isso surge
103
TEXTOS
104
no relato de analisante, trata-se de mitos familiares com o material das fantasias inconscientes primitivas. A segunda pergunta, sobre a diferença sexual, aparece transposta em duas maneiras cotidianas de lidar com a diferença cultural: o exotismo e o
racismo.
Essas duas perguntas originárias sobre a questão da identidade e da diferença
são trabalhadas por Souza (1994; 1998), que situa no exotismo e no racismo dois
modos de conter a angústia diante do estranho. Ora, para Freud ([1919] 1974), a experiência de estranheza se produz sempre como reatualização de complexos infantis
recalcados (complexo de castração) ou de crenças primitivas abandonadas (crença na
onipotência do pensamento). Deste modo, o estranho corresponde àquilo que é mais
familiar e íntimo e, por ser insuportável e inconciliável, foi recalcado.
As duas perguntas infantis que articulam a emergência do pensamento e da
teoria sexual infantil, se formulam a partir da suposição de um Outro e da tentativa de
se situar diante dele, feita pela criança e sempre atual no psiquismo. O Outro, como
lugar vazio e de endereçamento requerido pela estrutura, faz silêncio, suscitando uma
suposição, do lado do sujeito, que se formula como uma teoria. O silêncio do Outro é
recebido pelo sujeito como insuportável, constituindo, assim, o trauma. O modo de
tentar fazer cessar esse efeito traumático aparece na transformação da pergunta “quem
sou eu?” para “o que sou eu para o Outro?”, ocupando o sujeito o lugar de um objeto
que venha manter a ficção do Outro não-castrado. Contudo, tal fantasia primária não é
suficiente para barrar a suposta voracidade do Outro. Sabemos que a estrutura subjetiva requer a função paterna como interditora do gozo absoluto do Outro, na forma do
ideal do eu freudiano, que recobre o objeto da fantasia primária com a forma narcísica
do eu ideal. A partir das marcas significantes introduzidas pelo ideal do eu paterno,
opera-se um afastamento da posição de puro objeto do gozo do Outro, permitindo ao
sujeito a narração da cena em que se encontra, enunciando seu desejo em palavras e
ações.
Esta operação permite ao sujeito se deslocar do lugar passivo de puro objeto,
que passa a ser investido na forma de eu ideal, tomado de modo ativo, segundo os
limites do gozo fálico, isto é, sob a interdição imposta pelo pai. Tudo isso significa que
a construção das teorias sexuais infantis, assim como a emergência do pensamento e
da teoria, fazem-se sempre no quadro do discurso do Outro, articulando o pulsional.
Ora, a experiência de estranheza que produz o sinal da angústia significa o
risco da fantasia primária, ou seja, de ser o objeto do gozo do Outro. Para se proteger
disso, impõe-se a escolha narcísica do eu ideal, em novas versões que tentam recobrir
o objeto ameaçador. Podemos localizar essa tentativa de recobrimento através do mecanismo psíquico da construção das teorias sexuais infantis e das conseqüentes versões patológicas daí derivadas, como o exotismo, o racismo e a xenofobia.
Segundo Souza (1994), o exotismo e o racismo, e o mesmo vale para a xenofobia, são modalidades de retomada narcísica, através de novas versões do eu ideal, que
ORIGENS E DIFERENÇAS...
visam recobrir o objeto da fantasia primária na iminência de irromper no encontro do
estranho representado no estrangeiro.
“O racismo e o exotismo, por sua vez, são modos de estancar a angústia, posto
que facultam-nos recuperar a possibilidade de dizer o que nos é íntimo sem a necessidade de arcar com as conseqüências de assumi-lo como nosso. Com o racismo, odiamos o que é nosso atribuindo-o ao estrangeiro. Com o exotismo, admiramos o que é
nosso, atribuindo-o ao estrangeiro.” (Souza, 1994, p. 146)
Essas versões do eu ideal, respondendo pela imperiosa proliferação de criações
simbólicas como um mito coletivo ou individual, são patológicas na medida em que a
narrativa se produz na recusa do reconhecimento do estranho como próprio.
Na exposição “Redescobrindo o Brasil”, em São Paulo, agosto de 2000,
deparamo-nos com uma tela, no mínimo, curiosa e absolutamente desconhecida para
nós até então, que retrata a coleção de anões de propriedade de D. Maria I, Rainha de
Portugal que tinha uma coleção de liliputianos, negros oriundos das diversas colônias.
Esses escravos eram presenteados por governadores ou outros mandatários sedentos
de favores. D. Maria se divertia com esses escravos que, pela graça e doçura, recebiam a predileção da rainha. Mas um em particular se destaca do conjunto, e se trata de
Siríaco, um anão bicolor, no corpo do qual o vitiligo desenhou um exótico contraste.
Cabeça e torso negros, e sobre a barriga alva, derramam-se algumas gotas negras. Mas
o desenho no corpo continua absolutamente contrastante, nas cores, com os membros
superiores e inferiores.
Os demais anões da coleção da rainha estão ricamente vestidos como bufões,
os varões e damas da corte, as mulheres. Mas se os demais se prestavam como bibelôs,
preciosas miniaturas, Siríaco valia principalmente pela coloração de seus tegumentos.
Quis o artista, ou isso era imperioso, vestir Siríaco e cobrir seu sexo com um
justo calção também em preto e branco. Visto de frente e em pé na tela, é a única parte
vestida em seu corpo. Logo, fica a pergunta sobre qual seria a cor de suas vergonhas,
como costumamos encontrar na Bíblia a nomeação dos genitais.
Propomos que essa tela seja examinada dentro da concepção freudiana do trabalho do sonho, que segue as leis do significante e que permite diferenciar a operação
dos diversos mecanismos psíquicos, entre os quais a transposição (Entstellung), a
condensação e o deslocamento. Conforme Lacan (1966), a condição imposta ao material significante, denominada de consideração à figurabilidade, produz o sonho, num
movimento mediado pelos mecanismos psíquicos. Este é semelhante a um jogo de
mímica no qual, através de uma cena muda, os espectadores devem adivinhar um
enunciado conhecido ou uma variante deste. É uma cena para ser lida, como uma
escrita, que pode ser testada através da representação das conexões lógicas de contradição, causalidade, hipótese, que também operam plenamente nas teorias sexuais infantis.
105
TEXTOS
Ora, na coleção de bonecos vivos da Rainha D. Maria I, pode-se recortar um
viés da fantasia primária de ser o objeto do gozo do Outro, que, na iminência de emergir, é narrado como exótico. Se nas teorias sexuais infantis, encontramos a versão de
ser o único, visando a garantia de que não haverá outros bebês, o exótico permite
recortar essa posição, narrada como sendo do outro. As características de serem raros,
únicos, mas, ao mesmo tempo, na posição de estarem irremediavelmente à mercê,
edita a dupla condição do sujeito nessa fantasia primária: privilégio de ser único e
desamparo frente ao Outro.
O enigma do que sou para o Outro pode desdobrar-se nas perguntas: “O que
quer o Outro de mim?”, “Quer ele que eu me sacrifique completamente para seu desejo?” e “Quer ele a minha morte?”, na dupla vertente do privilégio e do desamparo. A
pretensiosa suposição narcísica de ter o privilégio de ser o único e o desamparo frente
ao Outro, que são faces da mesma moeda, encontram-se presentes não apenas nas
teorias sexuais infantis, mas continuam atuais, de forma subjacente, nas teorias que
construímos sobre nossas origens e sobre nossa posição na existência. Desse modo, a
história contada por cada um não deixa de ser uma versão singular, que tenta contornar o retorno do objeto primário. Resulta disso que não há como formular de maneira
universal o que constitui as origens e as diferenças, ainda que possamos partilhar de
um recalcado comum, pacto simbólico que permite a efetividade do laço social.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BERGÉS, Jean e BALBO, Gabriel. L’actualité des théories sexuelles infantiles. 1997. (Seminário inédito)
FREUD, Sigmund. Três ensaios para uma teoria da sexualidade (1905). In: Edição Standart
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro : Imago,
1974.
_____.Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci (1910). In: Edição Standart Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro : Imago, 1974.
_____.O estranho (1919). In: Edição Standart Brasileira das Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro : Imago, 1974.
LACAN, Jacques. Ecrits. Paris : Seuil, 1966.
_____. L’acte psycanalytique (1967-1968). Paris : Association Freudienne Internationale, 1997.
REIS, José Carlos. As identidades do Brasil. De Varnhagen a FHC. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV,
1999.
SOUZA, Octavio. Fantasa de Brasil. São Paulo: Escuta, 1994.
_____. Os perigos da reificação da noção de estrangeiro. In: FLEIG, M. (org.) Psicanálise e
sintoma social, livro 2. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 1998, p. 21-49.
106