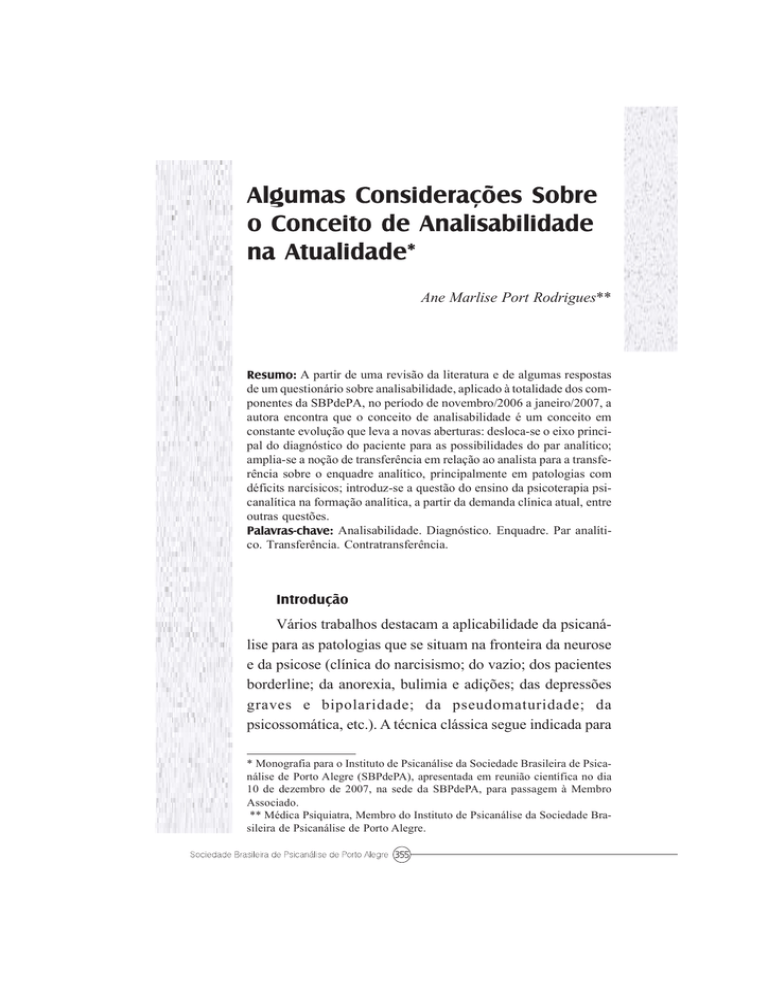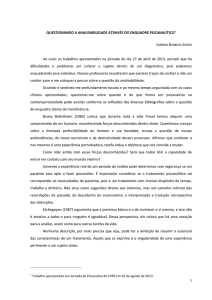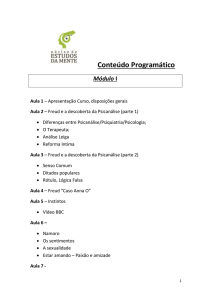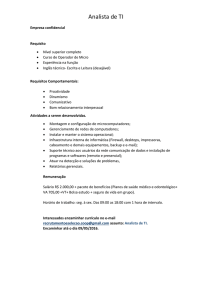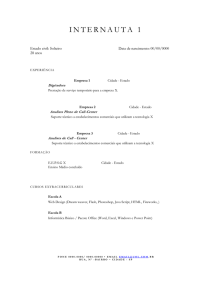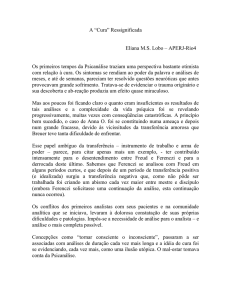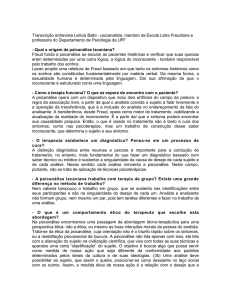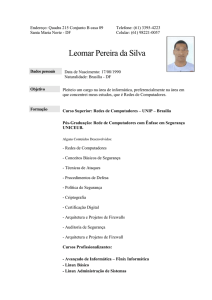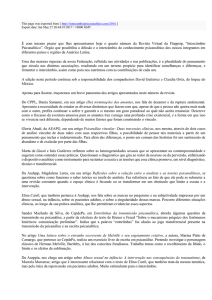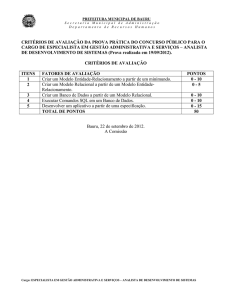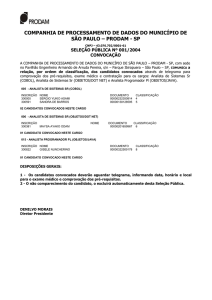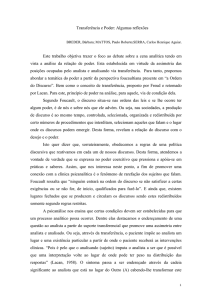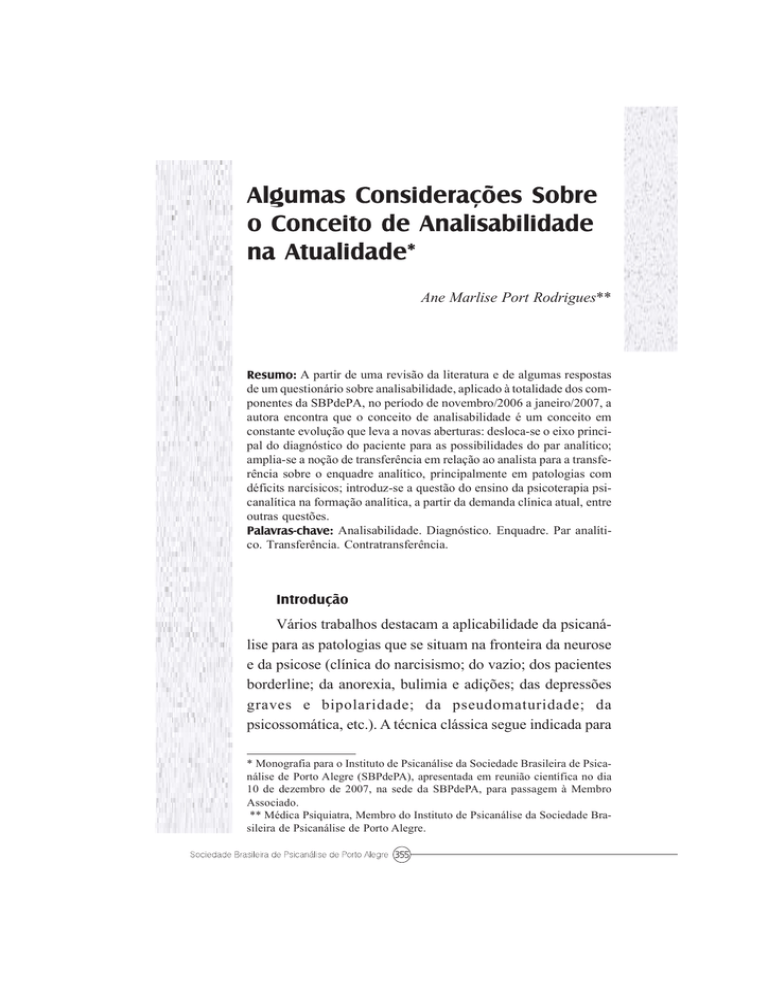
Ane Marlise Port Rodrigues
Ane Marlise Port Rodrigues**
A partir de uma revisão da literatura e de algumas respostas
de um questionário sobre analisabilidade, aplicado à totalidade dos componentes da SBPdePA, no período de novembro/2006 a janeiro/2007, a
autora encontra que o conceito de analisabilidade é um conceito em
constante evolução que leva a novas aberturas: desloca-se o eixo principal do diagnóstico do paciente para as possibilidades do par analítico;
amplia-se a noção de transferência em relação ao analista para a transferência sobre o enquadre analítico, principalmente em patologias com
déficits narcísicos; introduz-se a questão do ensino da psicoterapia psicanalítica na formação analítica, a partir da demanda clínica atual, entre
outras questões.
Analisabilidade. Diagnóstico. Enquadre. Par analítico. Transferência. Contratransferência.
Vários trabalhos destacam a aplicabilidade da psicanálise para as patologias que se situam na fronteira da neurose
e da psicose (clínica do narcisismo; do vazio; dos pacientes
borderline; da anorexia, bulimia e adições; das depressões
graves e bipolaridade; da pseudomaturidade; da
psicossomática, etc.). A técnica clássica segue indicada para
* Monografia para o Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA), apresentada em reunião científica no dia
10 de dezembro de 2007, na sede da SBPdePA, para passagem à Membro
Associado.
** Médica Psiquiatra, Membro do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre.
os casos de neurose clássica, mas têm sido descritos casos mais graves em
que a abordagem técnica e os critérios de analisabilidade são repensados.
Apesar de, em vários trabalhos, os casos mais graves estarem sendo relacionados com a atualidade, sabemos que Freud, Abraham, Ferenczi e os demais pioneiros da psicanálise atendiam vários casos graves.
Diz Freud:
Na realidade, tenho sido capaz de elaborar e testar casos graves – aliás,
os mais graves; de início, meu material consistia inteiramente em pacientes que tudo haviam tentado sem resultado e que tinham passado
muitos dias em sanatórios; [...]. Eram pacientes inaptos para a existência e o êxito da terapia psicanalítica consistia em tornar um número
satisfatoriamente grande deles aptos para a existência (1905, p. 273).
Atendiam, no entanto, sem os desenvolvimentos teóricos sobre a vida
mental mais primitiva em que o trabalho sobre os déficits narcísicos, sobre
a não-representabilidade psíquica e sobre as fixações pré-edípicas tornamse fundamentais; atendiam sem o auxílio da psicofarmacologia que possibilitou que pacientes com maior controle sintomático de sua doença e com
desejo de uma abordagem psicanalítica de sua subjetividade, pudessem ser
tratados.
Quando analistas são perguntados sobre mudanças nas patologias da
atualidade e nos critérios de analisabilidade em relação à época de Freud,
temos os que respondem que tudo mudou por conseqüência do contexto
socioeconômico e cultural e que consideram psicanálise a todo tratamento
feito por um psicanalista; temos, também, os que relativizam as mudanças
e consideram importante manter uma diferenciação entre a psicanálise
como método indicado para as psiconeuroses e para as neuroses de caráter
e a psicanálise com suas variações para casos mais graves, preferindo nomear as variações do método de psicoterapia psicanalítica. Nesse sentido,
Tedesco (1994), quando retoma o trabalho de Stone (1954) – em que este
se mostra favorável à ampliação das indicações de psicanálise que já na
época ocorriam – reforça que a psicanálise tem suas fronteiras naturais
Ane Marlise Port Rodrigues
definidas por seu método, pela psicopatologia e pela analisabilidade do
paciente. Acha importante diferenciar psicanálise de psicoterapia psicanalítica, mesmo quando feita por um psicanalista.
A produção psicanalítica de Stone para cá, parece inclinar-se mais para
a ampliação das indicações de análise sem uma ênfase no diagnóstico, mas
no par analítico. A diferença entre o que o psicanalista está praticando (psicanálise ou psicoterapia analítica) é pontuada por alguns e ignorada pela
maioria.
Há autores (VECSLIR, 2007) que consideram essa diferenciação secundária e propõem que nos ocupemos de outros desafios atuais para psicanálise. Green (2001, 2005), no entanto, considera importante que o psicanalista também seja treinado para as psicoterapias psicanalíticas e
Kernberg (2001) diferencia a psicanálise, a psicoterapia analítica e a
psicoterapia de apoio. Ambos consideram que a aprendizagem da
psicoterapia analítica, dentro da formação analítica, enriqueceria e
embasaria as competências clínicas do analista em formação.
Outros desenvolvimentos importantes dizem respeito à transferência
sobre o enquadre (além da transferência para o analista); ao trabalho junto
ao ego do paciente (estrutura que passa a ser mais estudada) e suas defesas
mais primitivas (como a cisão); e à co-construção (além da reconstrução,
temos novas construções a dois).
Buscando uma aproximação ao pensamento dos componentes da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre sobre o tema da
analisabilidade, foi aplicado um questionário (Anexo A), via correio, em
novembro de 2006, com prazo de devolução até 15 de janeiro de 2007.
Houve um retorno de 32 questionários, ou seja, 30,8% da amostra.
Face ao volume de dados levantados (15 questões com respostas abertas, qualitativas), nesse trabalho serão comentados apenas alguns tópicos
mais relevantes ao tema.
1 Sigmund Freud
1.1 Diagnóstico e resistências do paciente
Como descreve Paz (1971, apud MILLAN, 1995), a questão dos limites da utilização da psicanálise na clínica foi abordada por Freud em muitas
ocasiões. A partir do modelo médico de diagnóstico, proposta terapêutica e
cura, Freud delimitava quais as indicações e contra-indicações para a utilização da psicanálise com alguma perspectiva de sucesso. As psiconeuroses
crônicas (obsessiva, histérica e fóbica) eram as mais favoráveis para o tratamento psicanalítico e contra-indicava os casos de depressão melancólica,
psicose e estados confusionais (FREUD, 1904a, b, 1905).
No entanto, em 1926, coloca que a influência da psicanálise sobre a
demência precoce e a paranóia é duvidosa mas, por outro lado, em circunstâncias favoráveis, pode lidar com estados depressivos mesmo se forem do
tipo grave. Mas, em cada caso, o tratamento exige muito, tanto do médico,
quanto do paciente. Ampliando o espectro dos pacientes atendidos, Freud
coloca que:
Existe, entretanto, outra classe de pacientes psíquicos que visivelmente se assemelham muito de perto aos psicóticos – o vasto número de
pessoas que sofrem de graves neuroses. Nesses casos, o ego mostrouse mais forte e menos desorganizado; muitos deles, apesar da doença e
das inadequações dela decorrentes, foram capazes de manter-se na vida
real. Esses neuróticos podem mostrar-se prontos a aceitar nosso auxílio. (FREUD, 1940, p. 200-201).
Quando Freud (1914) introduz a noção de narcisismo, o ego se
complexiza ao deixar de ser somente o representante das pulsões de
autoconservação e começa a ser participante dos investimentos libidinais,
até converter-se em seu “grande reservatório”. Com a entrada do
narcisismo, a obra freudiana fica situada mais além do campo da
psiconeurose, fora do que se considerava analisável (LERNER, 2007). Mas
considera que não temos êxito nas neuroses narcísicas, porque os pacientes
Ane Marlise Port Rodrigues
não têm capacidade para a transferência: a libido objetal se transformou em
libido do ego (FREUD, 1916).
Enfatiza que o maior êxito terapêutico é obtido com uma determinada
classe de neuroses que provêm de um conflito entre os instintos do ego e os
instintos sexuais; o indivíduo progride do narcisismo para o amor objetal
quando melhora e para a sanidade é essencial a mobilidade da libido
(FREUD, 1917); a força motivadora primária é o sofrimento do paciente e
o desejo de ser curado (FREUD, 1913). Outras condições favoráveis seriam a inteligência, idade inferior a cinqüenta anos, consentimento em relação ao método analítico, confiança no analista, bom nível cultural e de
caráter (FREUD, 1905). Sugeria uma análise de prova de uma a duas semanas para um diagnóstico mais adequado e assim evitar um esforço inútil do
paciente e o descrédito da psicanálise. Também definia o processo analítico como uma aliança do analista com o ego do paciente para integrar elementos do id (FREUD, 1937). Para isso, seria desejável que o ego fosse
“normal”, mas assinalava ser esta normalidade uma ficção ideal.
Em “Análise terminável e interminável” (1937), Freud faz uma reflexão sobre a eficácia da terapia analítica e refere os fatores fisiológicos,
biológicos e o instinto de morte como elementos de destaque nas limitações do tratamento analítico. Diz que a melhor resposta clínica estará nos
casos de neurose de origem traumática e não constitucional, quando aspectos quantitativos da pulsão poderiam ser aliviados através do trabalho em
aliança com um ego maleável, acessível e que altera suas defesas (ego mediando os conflitos entre id, super ego e mundo externo). Assim, o resultado de um tratamento analítico depende da força e da profundidade das resistências ao desprazer (oriundo da realidade externa ou interna) e que ocasionam alterações no ego.
Refere ainda que, no trabalho clínico, surgem resistências que não
podem ser classificadas nem como pertencentes ao id e nem ao ego: 1) o
fenômeno da adesividade da libido (dificuldade de mobilizar libido de um
objeto a outro); 2) a mobilidade exagerada e inconstante da libido; 3) a
inércia psíquica com um grau intenso de rigidez e uma espécie de impossi-
bilidade de efetuar a mudança psíquica; 4) a resistência oriunda da pulsão
de morte.
As resistências mais difíceis de serem removidas são aquelas originadas das vicissitudes das duas pulsões (Eros e Tanatos). Também o sentimento de culpa e a necessidade de castigo constituem parte dessa força de
resistência contra o restabelecimento do paciente e estão ligadas ao
superego. (FREUD, 1937).
Penso que vemos Freud buscando embasar, na teoria e na técnica, as
dificuldades que os casos mais graves traziam para a melhora terapêutica.
1.2 O analista
Nenhum psicanalista avança além do quanto permitam
seus próprios complexos e resistências internas...
(FREUD, 1910, p. 130).
Freud (1937) refere que não só as características do paciente devem
ser levadas em conta, mas também aquelas relacionadas ao analista, que
deve ter perícia e paciência. Cita Ferenczi quando este diz que o êxito depende muito de o analista ter aprendido o suficiente de seus próprios erros
e equívocos e de ter levado a melhor sobre os pontos fracos de sua própria
personalidade.
Aponta que o inconsciente do analista funciona como órgão receptor
na direção do inconsciente transmissor do paciente:
Para o médico usar seu inconsciente como instrumento da análise,
deve ele próprio preencher determinada condição psicológica em alto
grau. Não basta ser ele uma pessoa aproximadamente normal. Deve ter
passado pela purificação psicanalítica e ficado ciente daqueles complexos seus que poderiam interferir na compreensão do que o paciente
lhe diz. Toda repressão não solucionada nele constitui o que foi apropriadamente descrito por Stekel como “ponto cego” em sua percepção
analítica. (FREUD, 1912, p. 154).
Ane Marlise Port Rodrigues
Enfatiza que para ser analista é preciso ser analisado por alguém com
conhecimento técnico; que a solução da transferência é dificultada pela
atitude íntima do médico com o paciente; que o médico deve ser opaco aos
seus pacientes e como um espelho, não mostrar-lhes nada, exceto o que lhe
é mostrado (FREUD, 1912b) (neutralidade em relação aos conflitos do paciente e não frieza emocional).
Conforme lembra Rosa (2007), para que o analista tenha capacidade
de continência e de processamento mental de núcleos mais regressivos do
paciente, deve ele próprio ter analisado seus núcleos psicóticos e seus
déficits narcísicos, do outro modo não os acessa, não os reconhece e não os
suporta.
Exige-se do analista que tenha um caráter ilibado (FREUD, 1905) e
entre suas qualificações estão certo grau de normalidade, correção mental e
amor à verdade, que é imprescindível para o exercício da tarefa. Recomenda a análise pessoal como o caminho para a aquisição das condições necessárias para essa “profissão impossível”. Adverte para os perigos que o contato com o material reprimido dos pacientes pode exercer sobre o material
reprimido do analista e recomenda que, de cinco em cinco anos, o analista
submeta-se a uma nova análise (FREUD, 1937). (Lembremos que as análises, naquela época, eram curtas e não alcançavam o trabalho sobre a personalidade que se faz hoje, quando, além do material reprimido, o material
cindido pode ser reintegrado).
Assim seria a análise do analista, e não somente a do paciente, que se
converteria em interminável. Nesse sentido, penso que o caráter de “impossível” da profissão de analista estaria relacionado com essa condição
nunca alcançada de “sou analisado” como um sistema fechado e terminado. É desejável manter um sistema psíquico o mais aberto, permeável e não
saturado possível para alcançar a ressonância com o inconsciente do paciente e com a vida que se modifica a todo o momento.
O analista necessitaria de constante auto-análise ou de reanálise para
dar conta das intensas pressões desestabilizadoras que a clínica e a própria
vida trazem ao seu aparelho psíquico. Naturalmente, que o prazer que ob-
tém do seu ofício também gera a manutenção do desejo de voltar ao paciente, dia após dia, pois cada nova representação psíquica alcançada a
dois e toda ligação possível das pulsões geram alívio quantitativo e um
salto qualitativo do estado mental e afetivo de paciente e analista. As sublimações e reparações são fortalecidas em ambos.
1.3 Aspectos da técnica
O fenômeno da transferência passa a ser visto como útil ao processo
analítico, pois “é impossível vencer alguém in absentia ou in effigie”
(FREUD, 1912a, p. 143). Também refere como especificidade da técnica
analítica a análise de transferência, pois ocorre a substituição da neurose
comum por uma neurose de transferência (FREUD, 1914). Descobre que a
transferência cria uma região intermediária entre a doença e a vida real
através da qual a transição de uma para a outra é efetuada. Agrega que o
paciente vai conhecer a resistência e ter de elaborá-la. Esse trabalho sobre
as resistências é tarefa árdua que distingue o tratamento analítico de qualquer tipo de trabalho por sugestão.
Sua preocupação em diferenciar a psicanálise de tratamentos por sugestão aparece em vários trabalhos, sendo que a cura transferencial (a transferência removendo os sintomas por si mesma) é classificada como tratamento por sugestão e não psicanálise. (FREUD, 1913).
Perspicaz, reconhece que existe uma batalha dentro da própria mente
do analista contra as forças que procuram arrastá-lo para abaixo do nível
analítico, por sedução do paciente. “Não devemos abandonar a neutralidade para com a paciente, que adquirimos por manter controlada a
contratransferência. O tratamento deve ser levado a cabo na abstinência,
não só na abstinência física”. (FREUD, 1915, p. 214).
Aponta para os riscos de o analista colocar-se como ideal a ser imitado
pelo paciente e, nesse caso, os sucessos terapêuticos sob a influência da
transferência positiva são de natureza sugestiva. Se a transferência negativa leva a melhor, esses sucessos “são soprados como farelo ao vento”
(FREUD, 1940, p. 203).
Como sabem, nunca nos vangloriamos da inteireza do acabamento definitivo de nosso conhecimento e de nossa capacidade. Estamos tão
prontos agora, como o estávamos antes, a admitir as imperfeições da
nossa compreensão, a aprender coisas novas e a alterar os nossos métodos de qualquer forma que os possa melhorar. (FREUD, 1919,
p. 201).
“A psicanálise não é uma panacéia conveniente para perturbações psicológicas. Ao contrário, e sua aplicação tem sido essencial para tornar claras pela primeira vez as dificuldades e as limitações no tratamento de tais
distúrbios (referindo-se aos casos graves)”. (FREUD, 1926, p. 303). “A psicanálise está firmemente alicerçada na observação dos fatos da vida mental
e por essa mesma razão sua superestrutura teórica ainda está incompleta e
sujeita a constante alteração”. (FREUD, op. cit., p. 305).
2.1 Analisabilidade, acessibilidade, “pôr-se à prova”
Para Etchegoyen (1987), deve existir o fenômeno neurótico para que
se constitua a situação analítica, mesmo que nele se enxertem situações
psicóticas. A neurose de transferência não pode estar ausente. Com a psicose pura não poderia haver análise; deve existir uma neurose que de alguma
forma a contenha. Cita dois critérios de analisabilidade: 1) só é analisável a
Ane Marlise Port Rodrigues
Freud nos mostra que mantém a psicanálise como sistema aberto, não
saturado e hipercomplexo. Sua postura é exemplar para os desafios atuais
na teoria e na técnica: “Existem muitos meios e modos de praticar a
psicoterapia. Todos os que levam à recuperação são válidos”. (FREUD,
1905, p. 269). “Uma compreensão interna mais profunda do processo da
vida mental apontará os meios e modos de alcançar as armas na luta contra
a doença”. (FREUD, op. cit., p. 316). “A extraordinária diversidade das
constelações envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a
riqueza dos fatores determinantes opõem-se a qualquer mecanização da
técnica”. (FREUD, 1913, p. 164).
pessoa que desenvolve uma neurose de transferência; 2) é analisável toda
pessoa com um núcleo são de ego que lhe permita configurar uma aliança
terapêutica. Considera que os critérios de analisabilidade e acessibilidade
estão além das categorias diagnósticas e que podem ser usados como indicadores de um prognóstico, mas não para selecionar o paciente para análise. Reforça o conceito de acessibilidade que só poderá ser estabelecido
com a própria marcha da análise e que depende do vínculo estabelecido e
da personalidade profunda do paciente (e não do tipo nosográfico).
Ferro (1998) refere que a literatura a respeito dos critérios de
analisabilidade é muito vasta, sendo evidente a grande disparidade entre a
sua abundância e a escassez de pontos de vista compartilhados em relação
ao tema. Conclui que o eixo de investigação deslocou-se significativamente do estudo das características do paciente para as da dupla e para a
interação entre determinado paciente com determinado analista. Ao conceito de analisabilidade (como possibilidade de cura), foi acrescentada a
questão da “idoneidade” para a análise (capacidade de estar dentro de um
setting analítico e de viver um processo transformador) e a questão da
“acessibilidade” à análise. Pensa que é mais útil falar de um “critério de
capacidade de pôr-se à prova”: todo analista deveria ter consciência de até
que ponto pode ir ao analisar, tendo como base sua própria análise, seu
funcionamento mental, seu grau de tolerância ao risco e à frustração.
Considera válida uma análise que vá até onde possa ser feita, mesmo que o
paciente interrompa, e reconhece uma “análise-diálise”, eventual condição
de análise interminável.
Marucco (2000) coloca que, na prática analítica atual, os analistas recebem pacientes que estavam “nas margens” da psicopatologia e nos limites da psicanálise. Seriam patologias que não teriam sido alcançadas pelas
explicações que a psicanálise encontrou para as neuroses clássicas e para
as psicoses: neuroses narcisistas, patologias limítrofes e psicossomáticas,
adições, bulimia, anorexia, propensão a acidentes, sobreadaptação, novas
expressões de sexualidade, AIDS, violência doméstica e social, maus-tra-
2.2 Enquadre e campo analítico
Em “Enquadre e analisabilidade”, Raquel Goldstein (2002) refere que
o setting ou enquadre cria um contexto para o desenvolvimento dos fenômenos de campo analítico, no qual o encontro analista/analisando põe em
cena, através da regressão, um outro contexto: o contexto dos tempos constituintes e fundantes; o outro pré-histórico inesquecível. Pergunta se esse
amplo grupo de estruturas não neuróticas, muitas inclassificáveis, são
analisáveis. Fala de um “impossível enquadre”, onde tudo se move (em
contraste com as formas mais fixas do enquadre clássico, no qual se estabiliza um marco que deve permitir ao analista investigar as variáveis de seu
paciente e de si mesmo).
O que não poderia se mover é a intenção de compreender e sustentar a
situação posta e o pedido de auxílio. Há vários enquadres em jogo e não
são todos fixos, nem estáveis, nem conscientes e nos colocam nas fronteiras da analisabilidade e ao analista nos limites de sua função, provocando
contratransferências intensas e complexas.
É necessário o resgate do primitivo nas patologias graves para que
juntos, paciente e analista, habitem de novo a zona transicional, numa atividade que se perdeu com os multitraumas durante o estado de desamparo
(GOLDSTEIN, 2002).
Seguindo o estudo dos fenômenos de campo – conforme Baranger
(1962): situação analítica como campo bipessoal dinâmico cuja configuração inconsciente gera fantasias inconscientes da dupla, podendo levar ao
progresso ou ao estancamento do processo analítico –, Raquel Goldstein
(op. cit.) enfatiza que a situação analítica é solicitada a conter expectativas
de um tipo de vínculo e de comunicação muito primitivas. Acha que vem
ocorrendo descobrimentos que contribuem enormemente para a ampliação
da clínica sem diluição da especificidade da psicanálise.
São pacientes experientes no trabalho de desobjetalização (GREEN,
Ane Marlise Port Rodrigues
tos e abuso sexual. Atender essas situações implica que a psicanálise é
exigida a ultrapassar criativamente os próprios limites.
1995) e na dimensão do masoquismo entronizado, matriz da psicopalotogia
do quase não analisável; o analista tenta e nada muda, pois o paciente só
quer uma testemunha para a própria dor, humilhação e impotência e que o
analista sinta o que sentiu (GOLDSTEIN, op. cit.).
Parece-me que aqui o “fazer sentir o que eu senti”, além do sentido de
comunicação da dor, busca uma inversão da situação traumática primitiva,
onde o analista se torna alvo do sadismo do paciente e é desafiado a sobreviver (WINNICOTT, 1958), buscando alcançar alguma representabilidade
para a dor psíquica.
As variantes clínicas da mãe morta ( GREEN , 1986) ou da mãe
imprevisível (WINNICOTT, 1963), levam a deformações do ego e a análises que parecem nunca começar, requerendo elasticidade e flexibilidade na
mente do analista (GOLDSTEIN, op. cit.).
É como trabalhar com a idéia de um enquadre virtual à espera de seu
uso para sonhar. Os fenômenos transicionais e o sonhar criam a tópica onde
trabalhar para ajudar o analisando a ter as suas vivências como experiências pensáveis e a articular uma narração historizável e pessoal
(GOLDSTEIN, op. cit.).
Winnicott (op. cit.), com seu enquadre de regressão à dependência
(temida e desejada), ajuda a explicar essas demandas de reanálise, como
numa clínica “a espera de”, que reedita a dimensão estruturante do jogo e
contrajogo maternos (GOLDSTEIN, op. cit.).
O campo dinâmico da situação analítica também é visto como um processo em espiral (BARANGER; GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1979), numa
dialética que implica todas as dimensões temporais (tanto o passado que se
repete no presente da situação analítica, como o futuro que se abre) e as
posições depressiva e esquizo-paranóide em movimentos regressivos e
progressivos. Podem se configurar estruturas patológicas do campo e as
interpretações podem ser “da transferência” (com referência explícita ao
analista) ou “dentro da transferência” (análise como um processo que se
desenvolve “dentro” da transferência). Roussillon (2006) contribui ao
acrescentar o fenômeno de transferência sobre o enquadre e não somente
O enquadre coloca as condições de um encontro mediatizado por um
contrato simbólico que exerce uma coerção tanto ao analisando quanto
ao analista e que vale como ‘lei’ instauradora de um processo de elaboração. Ele porta os limites necessários a todo trabalho de luto e de
simbolização, limite nas condições do encontro (interdição do tocar,
mediatização apenas pela palavra...), limite na duração do encontro
[...]. Ele marca o custo do trabalho psíquico [...]. (RACKER, 1960,
p. 3).
Considera que nas “situações-limite” da psicanálise, as condições do
enquadre são testadas e o processo é ameaçado por uma espécie de
dessimbolização, que é expressa por um aumento de destrutividade ou de
falsos efeitos. Torna-se necessário “simbolizar a dessimbolização”.
2.3 Enquadre externo e enquadre interno
Frente a situações clínicas em que o enquadre tradicional da psicanálise é questionado e ampliado para outras patologias além das neuroses
(borderline, psicoses, enfermidades psicossomáticas, etc.) e para ações em
tratamentos grupais, familiares e de casal, ou aplicado a distintas áreas da
sociedade e da cultura (educação, arte, catástrofes sociais, etc.), cabe diferenciar o enquadre externo do enquadre interno (ALIZALDE, 1999). O enquadre externo diz respeito à freqüência de sessões, tempo, horários, lugar,
Ane Marlise Port Rodrigues
sobre o analista. Destaca a importância atual da exploração das variações
do dispositivo psicanalítico, particularmente nas situações clínicas nas
quais o sofrimento narcísico – identitário e os estados limites estão em
primeiro plano. Considera que a transferência se dá sobre o enquadre, sobre o qual formas de sedução são transferidas na tentativa de desestabilizálo. Propõe o termo “sedução narcísica” quando o analista tenta se oferecer
como modelo ideal – correndo-se o risco de fazer uma identificação complementar com os objetos internos do paciente, situada como um problema
de contratransferência por Racker (1960) –, e alerta para o aspecto sugestivo dessa abordagem.
honorários, férias, recuperação ou não de sessões, etc. O enquadre interno
depende de fatores intrapsíquicos e é uma conquista que todo psicanalista
vai organizando em seu psiquismo à medida que sua mente se expande na
prática analítica. Trata-se de um delicado processo que resulta do encontro
entre um analista que possui o dispositivo interno de análise e um paciente
analisável que aceita os desdobramentos do trabalho analítico.
O enquadre interno é incorporado na mente do analista graças à sua
própria análise, à auto-análise e a reanálises. É diretamente proporcional à
sua paixão analítica, ao seu talento clínico e à sua saúde mental. Ao formar
parte da pessoa do analista, o enquadre interno se mostra juntamente com a
presença do analista. O paciente pode questionar o enquadre externo; o que
não pode (trata-se de território soberano da psicanálise) é subtrair-se ao
impacto, aos afetos e efeitos do enquadre interno do analista que move
sutis engrenagens metapsicológicas e objetais. Sem o enquadre interno, a
análise não avança, não aprofunda e não leva a mudanças (ALIZALDE,
op. cit.).
2.4 Problemáticas narcísico-identitárias
Nas problemáticas narcísico-identitárias, o material inconsciente não
foi representado e recalcado, secundariamente, pois nunca chegou a ser
consciente. Roussillon (2007b) pontua a repressão originária: o mecanismo que faz com que os conteúdos inconscientes implicados em situações
históricas de natureza ou de efeito traumático sejam contra-investidos desde o início, antes de qualquer apropriação e representação consciente suficiente. Desenvolve-se uma mistura de partes do eu com o outro que produz
formas intrincadas e condensadas de matéria psíquica hipercomplexa. Torna-se necessário um trabalho de descondensação, de transformação e
metaforização que caracteriza a representação simbólica e a subjetivação
verdadeira.
A análise dos limites e nos limites representa, na atualidade, uma das
conjunturas mais propícias para exploração psicanalítica tanto clínica,
quanto técnica e metapsicológica (ROUSSILLON, op. cit. b).
2.5 Pacientes borderline
Os pacientes borderline ilustram, em muitos estudos, o trabalho na
clínica atual. Neles, o vazio representacional e de sentido, sob um individualismo difuso e certa labilidade identificatória e narcísica, facilita as soluções aditivas, a satisfação pulsional imediata e o desinvestimento do pensamento e da palavra. São características: o fracasso parcial da diferenciação eu/não-eu, a irrupção freqüente e massiva de angústias traumáticas (e
não de angústia sinal), com deslizamento interior que vai ao soma e, exteriormente, ao ato; a indiscriminação geracional; a não inscrição do tempo e
do espaço em matrizes simbólicas. As intervenções tornam-se peculiares,
como as sessões familiares ou vinculares para delimitar fronteiras. Tentase ligar o dissociado, construir o que nunca pode vir através de afetos e
pensamentos e moderar as descargas pulsionais, promovendo representações onde predominava a atuação alienada. (STERNBACH, 2007).
Ane Marlise Port Rodrigues
Nesses pacientes, houve um fracasso da organização do funcionamento psíquico suficientemente complexo (uma psiquê com “função limite”
que leva à estruturação edípica) e os paradoxos ocupam o lugar dos conflitos. A maneira como o limite passa entre o “eu” e o “não-eu” ocupa o primeiro plano do cenário analítico. Também o paciente se torna incapaz de
utilizar as potencialidades simbolizantes da situação que o analista lhe propõe ou a utiliza de forma paradoxal. A situação pode tornar-se tanto excitante (com ameaças de interrupção e transferências delirantes), quanto estéril (com congelamento e petrificação). Se o analista “sobrevive” suficientemente, é possível certo trajeto psicanalítico. Nesse trabalho de
perlaboração (ROUSSILLON, op. cit. a), a ênfase é colocada nos aspectos
intersubjetivos do tratamento, na co-construção (ROUSSILLON, 1984),
pois a representação psíquica não está dada, deve ser construída, sendo
fruto da análise, num trabalho onde duas áreas de jogo se sobrepõem.
(WINNICOTT, 1971)
2.6 Ego
Houve um giro histórico que gerou outra modalidade de “mal-estar na
cultura”, produzindo desequilíbrios subjetivos, por quebra de referências,
modelos e ideais. Chamar as patologias de hoje de “atuais” não especifica
que não hajam existido desde sempre. Porém, significa que as conjunturas
políticas, sociais, econômicas e culturais puderam potencializar as quebras
de vários narcisismos lábeis, em egos com falhas em sua constituição e em
sua capacidade de defesa. As transformações produzidas na cultura são
consubstanciadas com as alterações na subjetividade. (ULANOSKY, 2007).
O trabalho sobre o ego também vem encontrando desenvolvimentos.
Assim, Aulagnier (1984) refere que no processo identificatório do ego, em
seu acesso a uma identificação simbólica, em seu trabalho de reunificação
e síntese, não há um espelho, mas vários. As identificações vão se moldando nos resultados sucessivos de encontro entre o ego identificante (que tem
poder de escolha e capacidades potenciais de “inventar” defesas novas
quando faltam certas condições internas ou externas necessárias ao seu funcionamento, que tem poder “desidentificante”) e o ego identificado (sobre
o qual o ego não tem poder, o que vem do olhar e da palavra do outro).
Esse ego mais complexo sempre esteve presente nos tratamentos analíticos, porém sem essa dimensão dupla de ego identificante/ego identificado, que é tão fundamental no trabalho com pacientes com déficits estruturais de ego, onde o olhar e a palavra do analista adquirem nova dimensão e
assumem-se estruturantes.
2.7 Análise em dois tempos
A análise em dois tempos também é referida na clínica atual: 1) no
primeiro tempo, trabalhamos na construção de um espaço analítico como
refúgio que evita o excesso de defusão pulsional; o analista põe seu corpo,
a palavra e sua configuração fantasmática para construir o que não pode ser
constituído nos começos da vida; 2) no segundo tempo, já existe maior
espaço para o pensamento, para o luto pelas perdas, menos angústias
desestruturantes (mais angústia-sinal, com um ego mais integrado que a
Ane Marlise Port Rodrigues
maneja melhor) e, como decorrência, menos atuações. (HORNSTEIN,
2007).
O modelo psicanalítico “associação-livre e atenção-flutuante” é descrito como não funcionante pelo menos no primeiro tempo do processo de
tratamento de pacientes borderline. Cada sessão convoca também atos e
não atuações do analista, além de interpretações e assinalamentos. São
pacientes que põem à prova se o continente do analista pode dar suporte e
suportar as projeções massivas erótico-agressivas que buscam transgredir
o enquadre. O fato de se compreender analiticamente esses pacientes, não
quer dizer que sejam aptos para o processo analítico. (ULANOSKY, op.
cit.).
A compulsão à repetição é ampliada para além do retorno do reprimido, numa clínica do retorno das cisões e numa “coerção à simbolização”
(traumas precoces que não foram representados, mas deixaram suas marcas e seguem buscando repetitivamente inscrever-se no mundo simbólico).
(ROUSSILLON, 1995).
Nos casos mais graves, além do trabalho sobre o narcisismo, entra em
cena o mecanismo de desinvestimento, como uma depressão primária, um
estado de vazio que aspira ao “não-ser” e ao “nada”. Temos a presença da
pulsão de morte e a aspiração ao desejo do não desejo. (AULGNIER, 1975).
Aqui se torna fundamental que o analista possa sustentar seu desejo de
analisar o paciente. (VECSLIR, 2007).
Pensando com Aulgnier (1975), nos casos de não inscrição simbólica
do traumático, tentamos o difícil equilíbrio de exercer a violência primária
(necessária e estruturante para inscrição da palavra no campo psíquico a
partir do outro, através do enquadre), sem exercer a violência secundária
(patologizante, apóia-se na violência secundária já vivida pelo paciente,
representa um excesso prejudicial e não necessário ao funcionamento do
ego).
Como lembra Vecslir (op. cit.), são pacientes com déficit do espaço de
violência primária e de excesso do espaço de violência secundária, com os
quais o analista está sempre na fronteira de não poder funcionar como analista.
2.8 Sugestionabilidade, cura clássica e psicoterapia
A propósito da sugestionabilidade, não é possível ignorar o fato de
que, por mais que o analista cumpra a regra de abstinência, segundo
Zimmerman (2001), quer queira, quer não, sempre seu discurso veicula
algo de sua ideologia particular.
Podemos inferir que, na clínica de pacientes graves, além do já conhecido risco da sugestão veiculada pelas linhas teóricas do analista ou de sua
posição assimétrica em relação ao paciente (onde é investido de poder),
temos o risco de a sugestão ir pela “via de porre”, pois quanto mais primitiva a patologia ou o déficit, maior o risco do analista colocar-se como
substituto ou modelo de objeto ideal. Também a problemática da sedução
mútua torna-se importante fonte de reflexão: paciente seduzindo analista à
atuação ou enactments; analista seduzindo paciente, colocando-se como
objeto ideal. A clínica desses pacientes expõe o analista mais intensamente
aos seus próprios déficits narcísicos e às falhas de seus próprios objetos,
incorrendo mais facilmente em atuações ao oferecer-se, inconsciente ou
conscientemente, como substituto do objeto que trouxe vivências
traumatizantes. O enquadre necessita frustrar o paciente de ser gratificado
em suas demandas anti-analíticas (substituição do objeto pelo analista concretamente) para instaurar a falta, a ausência e as possibilidade de inscrição
simbólica. Ao mesmo tempo, o analista espera, através de sua capacidade
negativa, de continência e de reverie (BION, 1967), que o paciente sinta
que está ao seu lado, autenticamente, buscando construir uma nova história.
Para Green (2005), a cura clássica segue sendo a referência inegável
da prática analítica e a medida com que se mede as demais formas terapêuticas. Refere o polimorfismo do conjunto de pacientes que estão em
psicoterapias com analistas e com os quais é possível, às vezes, fazer um
autêntico trabalho psicanalítico. Considera que o aprendizado da
psicoterapia praticada por psicanalistas é uma necessidade nova na formação analítica.
Para Lerner e Sternbach (2007), a psicanálise nasceu e se desenvolveu
dentro de um marco social e cultural diferente do atual. Esse marco estava
definido pela estabilidade em alguns planos, como o familiar. O olhar se
dirigia ao que sucedia porta adentro, ou seja, à família (complexo de Édipo,
sexualidade infantil) e as neuroses ocupavam o centro da cena analítica.
Consideram que hoje estamos atravessados pelas ausências, pelo que falta.
O centro está ocupado por “patologias atuais” ligadas a problemáticas
narcísicas e fronteiriças. O sujeito alienado, vítima da repressão em torno
de conflitos, foi cedendo lugar ao sujeito fragmentado, mais associado à
idéia de cisão, ao não-lugar, ao que falta (déficit) e ao que não está (vazios).
Para verificar como fatores dessa ordem se refletiam no pensamento
dos componentes da SBPdePA, foram enviados no início do mês de novembro de 2006, via correio, um questionário a todos os 104 componentes
da SBPdePA até então (excluindo a autora), com prazo de devolução até 15
de janeiro de 2007. A devolução via correio era anônima, em envelope
selado que acompanhava o questionário. Alguns envelopes com as respostas foram deixados na Secretaria da SBPdePA. Retornaram 32 questionários (30,8%), o que demonstra um bom potencial de envolvimento do grupo
em trabalhos de pesquisa.
Questão 1. Quanto à sua condição, você é: membro efetivo e didata
– de 17 responderam 4 (24%); membro efetivo – de 4 responderam 2
(50%); membro associado – de 27, responderam 8 (30%); candidato1 – de
48 responderam 15 (31%); convidado – de 8 responderam 3 (37%).
A denominação “Candidato” foi alterada para Membro do Instituto de Psicanálise da SBPde PA,
em junho de 2007.
1
Ane Marlise Port Rodrigues
As preocupações em torno da perda de especificidade do método analítico, parecem-me relacionadas a angústias naturais que o trabalho com
pacientes não neuróticos desperta, a exigências de novos entendimentos
sobre as funções do enquadre e a áreas nebulosas que ficam mais claras à
medida que avança o conhecimento sobre a clínica e a teoria da técnica.
Questão 2. Quanto tempo você tem de prática psicanalítica (em
meses ou anos)? Quase a metade da amostra (47%) tem de 6 a 11 anos de
prática psicanalítica, seguida por 25% de 12 a 20 anos, 16% com até 5 anos
e 12% com mais de 25 anos. Um colega referiu 42 anos de prática. Somando os dois grupos maiores, temos 72% dos colegas com 6 a 20 anos de
prática analítica.
Questão 3. Para que o paciente entre num processo analítico seria
desejável atendê-lo com que freqüência semanal? Constata-se que a freqüência de quatro vezes por semana foi especificada por 21,9% da amostra, sendo que o mínimo de três sessões apareceu em 59,4% das respostas.
Somados perfazem 81,3% que considera que um mínimo de três sessões
semanais, almejando quatro, seria desejável para o andamento do processo
analítico. Se acrescentarmos a resposta de 2 a 4 sessões semanais (3,1%) e
a resposta que considera a freqüência maior importante, mas não especifica
qual freqüência (3,1%), teríamos 87,5% da amostra apontando a alta freqüência (3 ou mais) como condição desejável (o que segue padrões preconizados pela IPA) e favorecedora de um ritmo facilitador para a inserção de
estruturas neuróticas no processo analítico.
Questão 5: Os critérios de analisabilidade expandiram-se da neurose clássica para outros quadros patológicos mais graves. Cite quais
são os seus critérios quando pensa se um paciente é analisável ou não.
A ampliação do espectro de analisabilidade: Ao considerar se um
paciente é analisável ou não, houve menção a um sentimento de confusão
(1 m.2) e de incerteza (1 m.) presentes na avaliação de pacientes mais graves, que precisariam da construção de um aparelho mental (2 m.) antes de
um trabalho possível em nível de transferência (2 m.).
A ampliação do espectro de casos atendidos na clínica psicanalítica
atual é fenômeno referido nessa amostra (15 m.). Surge a pergunta: “Se o
analista não se encarregar da subjetividade desses casos mais graves, quem
se encarregará?” (sic) (1 m.).
À posição de que critérios de analisabilidade seguem restritos à neuro2
A letra “m” designará a palavra “menção”: o número de vezes que algo é mencionado.
Ane Marlise Port Rodrigues
se clássica (1 m.), é acrescentada a idéia de que a psicanálise pode ajudar
muitos pacientes graves como método, de entendimento, de compreensão
do caso, mas a aplicação do método clássico na terapêutica, estritamente
falando, é considerada pouco eficaz (1 m.).
Por outro lado, temos a posição de que a analisabilidade não é critério
pessoal do analista, mas de ambos, analista e paciente (1 m.), sendo que
critérios diagnósticos são considerados restritivos durante a avaliação (1
m.) e a gravidade do caso é posta como questão contingente e não como
verdade absoluta (1 m.).
O paciente é considerado analisável por um determinado analista
quando o último pode conter angústias, projeções e partes psicóticas do
paciente (1 m.) e quando encontra disponibilidade interna para acolhê-lo (1
m.). Assim, “o paciente pode não ser analisável por mim, mas por outro
analista” (sic) (3 m.). É analisável aquele que se pergunta sobre o que ele
tem a ver com seu próprio sofrimento” (sic) (1 m.).
Mesmo que o sofrimento psíquico do paciente (3 m.) seja um elemento favorecedor para uma análise, se for, no momento, muito profundo e
intenso, pode necessitar de outra abordagem terapêutica antes de uma tentativa de análise (1 m.). Provavelmente, são casos que requerem internação,
medicação ou técnicas de apoio.
Quadros patológicos mais graves são considerados abordáveis somente com adaptações da técnica (4 m.), criando um enquadre de características mais flexíveis (1 m.), onde o analista tem de lidar com transferências
muito difíceis e intensas ( l m.), para além da clínica do simbólico (1 m.) e
da repressão (1 m.). A desmentida (1 m.) aparece como mecanismo de defesa da pós-modernidade. Winnicott é lembrado ao dizer que, quando não
se pode fazer psicanálise clássica, faz-se o máximo de psicanálise possível
(1 m.), quando redescreve o enquadre e amplia sua abordagem para casos
considerados não analisáveis até a metade do século passado (1 m.). Também Kohut (1 m.) e Lacan (1 m.) são mencionados como ampliadores do
espectro de patologias abordadas atualmente. No entanto, é salientado que
com pacientes mais graves haveria necessidade de alta freqüência (1 m.),
sendo necessário verificar se, tanto em nível interno quanto externo, o paciente é capaz de manter a alta freqüência (1 m.).
Aspectos do paciente – É considerado que o paciente deve ser capaz
de aceitar algumas regras do tratamento analítico: comparecer às sessões
de alta freqüência (1 m.), ter tempo (2 m.) e dar tempo a um longo processo
de tratamento (2 m.); ter situação financeira compatível com o investimento (2 m.), disciplina (1 m.), capacidade intelectual (1 m.) e uma situação
emocional com predomínio de estrutura neurótica (5 m.) para que seus problemas possam ser abordados pelo método analítico.
Quando são referidas características do paciente favoráveis para análise, as mesmas são mais encontradas nas estruturas neuróticas, mesmo
que isso não tenha sido dito de maneira explícita por todos os colegas.
Assim, temos: capacidade para elaborar repetições no campo transferencial (1 m.), capacidade de introspecção, de subjetividade, de conectar-se
consigo mesmo, percebendo suas emoções e fazendo insights (8 m.); o
conflito ser intrapsíquico (1 m.); ego com recursos (5 m.), que não se desorganize (1 m.) frente a adversidades (1 m.), tendo capacidade criativa e
não só sintomas (1 m.), fazendo movimentos progressivos e não só regressivos (1 m.); plasticidade mental e mobilidade psíquica (2 m.); tolerância à
frustração e capacidade de postergar desejos (6 m.), com predomínio de
funcionamento no nível de processo secundário (1 m.) e tendo menor índice de condutas de descarga no ato (1 m.). É importante avaliar: a gravidade
das atuações (2 m.); a capacidade de simbolizar (2 m.), de aceitar o inconsciente (1 m.), de fazer associações livres (1 m.), de valorizar e ter prazer
nas descobertas proporcionadas pela relação terapêutica (1 m.); se tem objetos internos com características predominantemente positivas (1 m.); sua
capacidade de escuta (2 m.) e de aderência ao tratamento (1 m.); se está em
sofrimento (3 m.).
A história que o paciente conta (seu passado), como interpreta essa
história e como se relaciona com seu presente (2 m.), bem como seu desenvolvimento evolutivo (1 m.) e traumas em idade muito precoce (2 m.), dão
indícios de funcionamentos mais integrados ou não.
Ane Marlise Port Rodrigues
As questões da acessibilidade x pacientes de difícil acesso (2 m.), de
impasse (1 m.) e de reação terapêutica negativa (RTN) (1 m.) aparecem
relacionadas a estruturas clínicas encontradas em pacientes muito narcisistas (2 m.), em patologias tóxicas e traumáticas (1 m.), nos que têm predomínio de aspectos destrutivos (2 m.), com ódio (1 m.) e inveja (2 m.), ou
que usam a análise a serviço da pulsão de morte (1 m.). O paciente não
pode ter traços de caráter que inviabilizem a análise (1 m.). Patologias de
vazio e borderline, bem avaliadas, são consideradas analisáveis (1 m.).
São considerados inacessíveis o paciente perverso que triunfa e desdenha o analista o tempo todo (1 m.), o sociopata (3 m.), o psicótico (4 m.),
o psicótico crônico (1 m.) e o narcisista destrutivo (1 m.). Também foi
levantada a questão de o paciente ter uma doença clínica grave (1 m.)
inviabilizando o processo analítico.
O critério que obteve o maior índice de menções foi o desejo de ser
analisado, a motivação (12 m.), implicando disponibilidade interna real,
com demanda de pensar-se e examinar a própria história. Percebe-se nesse
critério uma relativização do diagnóstico em si.
Outro critério em que o diagnóstico aparece como secundário e que
obteve 10 menções foi a capacidade de vincular-se com seu analista, avaliando-se a história de seus vínculos e seu potencial vincular. “O desejo de
estabelecer a relação analítica comigo é fundamental” (sic) (1 m.). Nesse
sentido, aparece também a valorização da capacidade do paciente de fazer
transferências no sentido amplo, para além da neurose de transferência
(1 m.).
Portanto, nesta amostra, os critérios que obtiveram maior índice de
menções foram o desejo real do paciente de se analisar e a sua capacidade
de vincular-se ao analista, ficando relativizadas as questões diagnósticas.
No item que aborda a ampliação do espectro de analisabilidade, alguns colegas apontam para a importância de o próprio analista desejar analisar o paciente, tendo disponibilidade interna real para acolhê-lo e para
vincular-se a ele (3 m.).
Questão 6 – Cite quais as psicopatologias mais comuns, em sua
clínica, nos últimos anos. Verificam-se duas posições: a que aponta para
singularidade do paciente, não enfocando o diagnóstico, e a que leva em
conta o diagnóstico.
a) A singularidade do paciente
Não penso em psicopatologia, este é um critério psiquiátrico. As singularidades do paciente não cabem nessa terminologia. O campo de trabalho da psicanálise está nos conflitos intrapsíquicos relacionados à raiz
edípica e narcísica. Importa a história singular dos destinos pulsionais e
identificatórios, articulando limites e recursos diante de possíveis
desencadeantes atuais, elementos que atualizam sofrimentos de outra dimensão, atemporal e subjetiva. Essa posição situa o desencadeante atual
como um resto diurno, no modelo da teoria dos sonhos e articula o passado
(sic) (1 m.).
Mesmo levando-se em conta a singularidade da pessoa do paciente,
foram referidas pela grande maioria da amostra as diversas psicopatologias
que mais comumente encontram em sua clínica.
b) Psicopatologias – Foram referidas: neuroses (21 m.);
psicopatologia narcísica (17 m.); transtorno de personalidade (15 m.);
transtornos depressivos (14 m.) e bipolaridade (3 m.); fronteiriços/
borderline (12 m.). Observe-se o predomínio de estruturas neuróticas na
clínica dessa amostra, mesmo que sejam atendidos vários casos mais graves.
c) Outras patologias – Distúrbios alimentares (4 m.), drogadição (4
m.), transtornos de ansiedade (4 m.) e pânico (2 m.), quadros
psicossomáticos (4 m.) e somatizações neuróticas (1 m.), onde a
simbolização é escassa, lembrando o quadro de neurose atual de Freud.
Psicose (1 m.) e patologias trangeracionais (1m) foram mencionadas.
Questão 7. Você acha que, na atualidade, as psicopatologias mudaram, o analista mudou sua escuta e seu olhar ou nada mudou?
a) As psicopatologias mudaram? – Percebem-se opiniões divididas,
Ane Marlise Port Rodrigues
com algum predomínio para a consideração de que as psicopatologias não
mudaram: 47% – não, o que mudou foi a forma de apresentação; são mais
detectadas as patologias; 37% – sim, existem novas patologias.
b) O analista mudou sua escuta e seu olhar? – 90,7% consideram
que mudou; 9,3% – não responderam explicitamente, mas parece consenso
que “mudou e vem mudando”.
Portanto, a ênfase da mudança na atualidade foi colocada na escuta e
no olhar do analista e não tanto no paciente em si mesmo. Esse fato indica
que o analista atual está bastante focado em seu próprio papel ou potencial
no atendimento do paciente, relativizando o papel da psicopatologia do
paciente.
Questão 9. Quanto à citação de A. Green (1972, Sobre a loucura
pessoal, p. 42): “Eu, pessoalmente, não acho que todos os pacientes são
analisáveis, mas prefiro pensar que o paciente sobre quem eu tenho
dúvidas não é por mim analisável”, você concorda com o autor?
( ) Sim. Por quê? ( ) Não. Por quê?
Dos 32 colegas, 30 (93,75%) responderam que concordam com Green
quando diz que nem todos os pacientes são analisáveis e levantam uma
série de fatores relativos à dupla, ao método, ao analista e ao paciente que
impedem a instalação ou evolução do processo analítico. Comparativamente, o número de referências a questões envolvendo o analista ou a dupla analista/paciente foi quatro vezes maior em relação a questões do paciente ou do método. Percebe-se a guinada no olhar que antes era focado
somente no paciente e suas limitações e que passa a centrar-se no analista
ou na dupla formada.
Os dois colegas que não concordam com Green (do grupo de candidatos egressos de seminários e que fazem supervisão curricular) enfatizaram
que certa dose de dúvida e incerteza faz parte da posição do analista, que o
mesmo deve sustentar essa sensação “para podermos nos surpreender; não
sabemos tudo e podemos descobrir com o paciente” (sic). No grupo que
concorda com Green, também houve uma menção sobre a importância de
sustentar um estado de incerteza e que “a dúvida deve estar sempre presen-
te” (sic). Penso que aqui os colegas de ambos os grupos destacam a importância de o analista não se engessar em certezas, o que tolheria sua flexibilidade e criatividade. Ser continente de dúvidas, incertezas e exercitar a
capacidade negativa da mente são qualidades da função analítica.
Voltando aos aspectos citados por 93,75% da amostra, temos:
a) Fatores do paciente e do método – É apontado que nem todos os
pacientes são analisáveis, por não terem indicação de análise (5 m.), como
os psicóticos crônicos (2 m.), os pacientes muito destrutivos (1 m.) ou
aqueles que não se enquadram no setting analítico centrado na resolução da
neurose de transferência (1 m.). São pessoas com as quais o processo analítico não se instala (3 m.) ou não tem continuidade, sendo interrompido (5
m.). Seriam pessoas sem estrutura psíquica (2 m.), sem disposição mental
(1 m.) para os questionamentos analíticos e que não conseguiriam manterse no setting proposto.
Verifica-se que nem sempre o método analítico é benéfico para o paciente (4 m.). É dito que não ser analisável não quer dizer não ser tratável
(2 m.); todo mundo pode ser ajudado por alguém de alguma maneira (1
m.); a psicanálise não é uma panacéia universal (1 m.); é mais um recurso
entre outros (4 m.); existem outros recursos terapêuticos que podem ser
mais eficazes para o paciente que não tem indicação ou que não se beneficia (5 m.); nem todos os pacientes são analisáveis na forma clássica (1 m.);
“numa época se dizia que pacientes narcisistas não estabeleciam transferência e, portanto, não seriam analisáveis; hoje se reconhece que há peculiaridades no tipo de transferência estabelecida e são passíveis de análise”
(sic) (1 m.); “muitas vezes, só posteriormente, já com o trabalho em andamento e com transferências instaladas, é que se percebe que o paciente não
avança em sua análise” (1 m.).
b) Fatores do analista e da dupla analista-analisando – As colocações abaixo listadas referem-se ao analista:
Pensar que todos os pacientes são analisáveis é, no mínimo, onipotência do analista (5 m.); não somos seres divinos que tudo podemos
(1 m.); o pensamento de Green representa uma posição menos onipotente
Ane Marlise Port Rodrigues
e mais humilde do analista, aceitando a possibilidade de que outros analistas possuam capacidades que não se tem (2 m.); não posso analisar
todos os pacientes, tenho limitações (17 m.) e pontos cegos (1 m.); posso
não ter os recursos necessários para ajudar e compreender determinada
pessoa (2 m.); o encontro pode ser eficaz com outro analista e não comigo
(1 m.); quando penso que um paciente não pode ser analisado, tendo a
pensar se não é por alguma limitação minha (1 m.); o analista precisa
reconhecer suas condições e sua disponibilidade interna (1 m.); é importante levar em conta a intuição ou sensação subjetiva do que nos chega do
paciente (1 m.); o analista tem seus limites, eu não atenderia um pedófilo
(1 m.); penso que o analista, enquanto pessoa real, tem influência sobre a
analisabilidade ou não do paciente, pois quanto maior for sua experiência
clínica, quanto mais profunda houver sido sua análise pessoal,
disponibilizando seus recursos internos, mais poderá ajudar o paciente (2
m.); a analisabilidade não é uma situação impessoal, que independa da
pessoa do analista (1 m.); dá esperança saber que mais pessoas podem se
beneficiar do método analítico, independentemente de minhas limitações
(1 m.); se o analista não se sente com esperança e nem capaz, não deve
tomar o paciente, pois a análise não acontece (1 m.); se o analista não se
sente em condições para analisar o paciente ou não acredita na capacidade analítica de seu paciente, não funciona nada (1 m.); o próximo analista,
após uma interrupção, tem a vantagem de saber onde o nó arrebenta e o
tratamento poderá evoluir melhor (sic) (1 m.).
Também foram enfatizados aspectos ligados à dupla analista-analisando: o vínculo analítico (4 m.) é bilateral (1 m.), necessita de um bom
encontro (2 m.), de uma boa interação (4 m.), de química (1 m.), de empatia
mútua (4 m.), do desejo do analista em analisar aquele paciente e do desejo
do paciente de ser analisado por aquele analista (1 m.).
O paciente pode ser um desafio (1 m.) ou uma ameaça interna (1 m.)
ao analista, pois “algumas patologias nos tocam mais e talvez não consigamos ser continente para elas” (sic) (1 m.). Mas “o paciente poderá encontrar guarida em um analista capaz de recebê-lo com suas partes psicóticas e
perversas” (sic) (1 m.). A abrangência e a profundidade da análise pessoal
do analista (2 m.) são considerados fatores importantes na ampliação de
sua capacidade analítica.
Portanto, a analisabilidade não é considerada como critério pessoal do
analista, mas da dupla que se forma.
Hoje levamos em conta as dificuldades interpessoais do analista (1
m.), suas limitações no entendimento dos fenômenos clínicos (1 m.), os
efeitos obstrutivos de sua resposta contratransferencial (1 m.), aspectos
que recomendam uma necessária cautela na formulação de nossos veredictos (sic) (1 m.).
Das respostas dos colegas, podemos apreender que esse analista aberto a novos conhecimentos (1 m.) vem aprofundando a percepção de sua
participação na evolução ou não do processo analítico, o que confere novos
desdobramentos à psicanálise, que se mantém como ciência viva, em constante desenvolvimento.
Questão 11 – Cite quais as características ou condições do analista que considera fundamentais para o trabalho analítico (condições do
enquadre interno do analista) – O maior número de citações foi para a
análise pessoal do analista (20 m.):
Fundamental é que o analista tenha feito um profundo e autêntico vínculo com sua própria análise, pois a análise pessoal do analista é a ferramenta mais valiosa para o enfrentamento dos singulares desafios da clínica
(sic);
[...] é fundamental que a pessoa tenha se beneficiado verdadeiramente
com sua análise pessoal e terminado sua análise bastante bem com seu
analista, sem idealizações, mas com gratidão, e que acredite no processo
analítico e na capacidade humana (sic);
[...] a condição fundamental é a disposição psíquica para entregar-se à
aventura de mergulhar nos infernos do paciente, para que seu inconsciente
possa vibrar junto com o dele; sentir o que ele sentiu é a única forma de
compreendê-lo. No entanto, há uma condição também para realizar esse
Ane Marlise Port Rodrigues
mergulho sem aniquilar-se, podendo voltar à superfície: ter realizado uma
profunda análise pessoal, plena e sem anestesia (sic);
[...] fundamental é a velha e boa análise pessoal (sic).
A reanálise (2 m.) é comentada como recurso que deve estar na mente
do analista.
Dentre as características de personalidade do analista, destaca-se a
necessidade de ter o narcisismo suficientemente analisado (6 m.) com a
libido objetal proporcionalmente maior do que a libido narcísica. É comentado que características narcísicas podem estar a serviço dos rigores técnicos (1 m.). É considerado fundamental: disponibilidade interna/afetiva para
o encontro com o outro (12 m.); ter prazer com o que faz (gostar, ter paixão) (6 m.); capacidade para compreender, amar e vincular-se (4 m.); ser
genuinamente íntegro (3 m.); com questões básicas de sua vida resolvidas
(3 m.) e em equilíbrio (1 m.); desejo genuíno de ajudar (2 m.); estar
medianamente satisfeito em relação ao dinheiro (1 m.), à vida sexual (2 m.)
e à vida afetiva (2 m.); honesto em sua prática (1 m.); dispor de estabilidade emocional (1 m.) e coerência interna (1 m.); capacidade para a felicidade (1 m.); ter desejo de ser analista (1 m.); tranqüilidade (1 m.); ser firme
sem perder a ternura (1 m.); ser realmente um cuidador do outro (1 m.) e ter
capacidade de consideração pelo outro (“concern winnicottiano”) (1 m.).
Diz o colega: “Uma clara relação com o método analítico apóia a ética
e o pensar criativo” (sic). Não usar o poder conferido pela transferência
(1 m.) e ser ético (5 m.), bem como ter um conhecimento profundo e sólido
da teoria e da técnica (17 m.), são considerados essenciais para manter a
mente pensante (1 m.), com um permanente questionamento (1 m.) das
teorias, técnicas e afetos envolvidos e fazendo as articulações (1 m.) com a
clínica.
São citadas características da atitude analítica: flexibilidade de pensamento (4 m.); neutralidade (3 m.); disponibilidade de seguir aprendendo
com o paciente, com colegas e com os mestres da psicanálise, com postura
ética de estudo permanente (3 m.); respeito pelas singularidades do paciente (3 m.); capacidade e desejo de manter o enigma (3 m.); abstinência (2 m);
interesse (2 m.); atenção flutuante (2 m.); ter feito e fazer supervisão quando necessário (2 m.); não fechando com interpretações saturadas (1 m.) e
sabendo que jamais alcançará a verdade (1 m.); distanciamento crítico para
preservar o raciocínio clínico (1 m.); segurança para suportar as expressões
da pulsão de morte do paciente (1 m.); capacidade de renúncia pelo crescimento do outro (1 m.).
A preocupação com a formação analítica é mencionada: “Muitos candidatos passam pelo processo analítico apenas para fazer a formação e logo
depois ter alta na sua análise; para mim, isso não vale” (sic). Lembramos
da ênfase posta, anteriormente, no viver uma experiência genuína com sua
análise, com seu analista e com a psicanálise para referendar uma prática
profundamente verdadeira.
Espaço mental considerável, aberto a coisas novas (2 m.), com capacidade de abstração (1 m.) e de fazer relações entre elementos subjetivos (1
m.) aparecem junto “ao que não está permitido ao analista: não ser inteligente, não ser sutil, não ser empático, não possuir um mínimo de informação e cultura que lhe permita estar afinado com a subjetividade de seu tempo ou época” (sic) (1 m.), ou seja, deve estar em relação com seu mundo e
sua época.
Green (2002) comenta que a psicanálise encontra-se frente a um grande paradoxo: a comprovação simultânea da solidez de seu edifício teórico
X o relativismo terapêutico sob sua forma clássica. Destaca: o lugar central
que joga a violência na organização psíquica (violência sexual e
destrutiva), sendo obra do indivíduo e de nações, até mesmo as civilizadas;
os fundamentos da teoria freudiana (mais centrada na pulsão) e os avanços
para o interjogo da pulsão com o objeto; a necessidade de não relegar tudo
à infância, ignorando-se as transformações e a aparição de novas
potencialidade que vêm com o crescimento, como, por exemplo, a puberdade – fase criadora de verdadeiras novidades e desafios para o psíquico.
Nomeia Ferenczi e Winnicott como precursores de análise moderna pelo
Ane Marlise Port Rodrigues
descobrimento dos mecanismos ou das estruturas não neuróticas que formam nosso cotidiano. A partir deles, o trauma passa a ser mais narcísico do
que sexual e é preciso reconhecer a clivagem narcísica que expulsa inclusive as funções vitais para fora da psiquê, que se torna indiferente à destruição do sujeito. Por outro lado, aponta os riscos de uma tendência a obter, a
qualquer preço, a cura pelo apaziguamento (da pulsão e das falhas do objeto) e a assumir um papel materno indulgente em todos os casos difíceis. O
ato de interpretar, mantendo a capacidade de pensar, mesmo sob fortes
pressões transferenciais e contratransferenciais, torna-se essencial na manutenção do setting analítico.
Green também lembra Lacan com a ênfase na importância conferida à
palavra, pois ocorre também a transferência sobre as palavras, assim como
sobre o objeto.
Em termos evolutivos, salienta-se que, nos pacientes com falhas
narcísicas importantes e nos borderline, onde há um déficit importante na
narcisização e na construção da identidade, os desafios técnicos requerem
que se possa ajudar primeiro o paciente a “existir” para depois “desejar”
(conflitos psíquicos em torno da sexualidade infantil entram posteriormente no tratamento). A contemporaneidade exige o pensamento complexo,
onde as teorias estão deixando de ser produtos rígidos que emergem de
causalidades fixas e estáticas, estando abertas ao novo, ao desconhecido
(LERNER, 2007). A psicanálise não é uma panacéia onde “tudo é possível”, mas se os critérios de analisabilidade forem rígidos e dogmáticos,
correrá o risco de sucumbir por falta de renovação de idéias (MILLAN,
1995).
Nessa revisão, constata-se que os analistas estão com a escuta mais
atenta aos fantasmas da fragmentação nas patologias graves, além dos conflitos das neuroses clássicas. Nessa posição de escuta, encontram-se abertos à singularidade com que se apresentam os sintomas do paciente e desenvolvem sua sensibilidade à diferença (numa consonância com a pósmodernidade) e sua criatividade. É unânime a importância fundamental
conferida à análise do analista e à estrutura de sua personalidade.
Nas respostas ao questionário aplicado aos componentes da SBPdePA,
observa-se uma concordância com os dados da literatura atual e uma busca
por acompanhar o paciente em suas necessidades subjetivas (independente
do diagnóstico), levando em conta as possibilidades da dupla formada e o
alcance do próprio analista (alcance teórico-clínico e pessoal). Conforme
lembra Rosa (1986), importa saber “como sentimos o paciente”, ligando a
analisabilidade a um fator de vínculo mais do que a um diagnóstico psiquiátrico. Também Meyer (1987) enfatiza, em relação à analisabilidade, o desejo de análise de um determinado indivíduo diante de um determinado
analista. Assim, o conceito de analisabilidade aparece ampliado e, numa
analogia com a evolução do conceito de transferência e de
contratransferência, parece ter-se movido de um senso clássico ou estrito
para um senso de analisabilidade mais total.
Segundo Simões (1999), os consultórios de hoje são muito diferentes
do que eram até fins dos anos 80. Mudaram tanto os analistas como os
pacientes e suas problemáticas; também mudaram as relações entre eles e a
atitude que ambos têm frente à análise. Tornou-se insustentável a distância
e a impenetrabilidade do analista, principalmente quando o contexto social
(violência, política, dificuldades econômicas, etc.) invade a sala de atendimento. O método analítico segue sendo o mesmo, mas mudaram as regras,
e essas mudanças ainda não estão reformuladas e integradas pelas instituições analíticas.
Para Green (2005) e Kernberg (2001), essas reformulações passam
pela incorporação do ensino das psicoterapias analíticas dentro da formação analítica clássica, tendo em vista o atendimento de casos mais graves
pelos analistas. É uma discussão em aberto.
Também o conceito de transferência aparece ampliado de transferência em relação ao analista para transferência para a palavra e para o enquadre analítico.
Concluindo, esse trabalho permitiu verificar a intensa vitalidade da
psicanálise atual, buscando saídas teóricas para lidar com as exigências da
clínica atual.
From a revision of the literature and some answers to a questionnaire about
analyzability taken by the totality of the members of the SBPdePA, from November 2006
to January 2007, the author finds out that the concept of analyzability is a concept in
constant evolution that enhances other openings: the main axle of the patient’s diagnosis
is displaced to the possibilities of the analytical pair; the notion of transference in relation
to the analyst is enlarged to the transference about the analytical setting, principally, in
narcisist pathologies; the question of the teaching of the psychoanalytical psychotherapy
in the analytical formation is inserted, from the current clinical demand, among other
questions.
Analyzability. Setting. Transference. Analytical Pair.Diagnosis.
A partir de una revisión de literatura y de algunas respuestas a un cuestionário
sobre analizabilidad, aplicado a la totalidad de los componentes de la SPBdePA, en el
período de noviembre/2006 a enero/2007, la autora encuentra que el concepto de
analizabilidad es un concepto en constante evolución, que lleva a nuevas aperturas: se
disloca el eje principal del diagnóstico del paciente para las posibilidades del par analítico; se amplía la noción de transferencia en relación al analista para la transferencia sobre
el encuadre analítico, principalmente en patologías con déficits narcisísticos; se introduce
la cuestión de la enseñanza de la psicoterapia psicoanalítica en la formación analítica, a
partir de la demanda clínica actual, entre otras cuestiones.
Analizabilidad. Encuadre. Transferencia. Par Analítico. Diagnóstico.
ALIZALDE, A.M. El encuadre interno. Zona erógena – Revista Abierta de
Psicoanalisis y Pensamiento Contemporáneo, Buenos Aires, n. 41, p. 34,35,38,
1999.
AULAGNIER, P. El concepto de potencialidad y el efecto del encontro. In:
. El aprendiz de historiador y el maestro-brujo. Buenos Aires: Amorrortu,
2003.
Ane Marlise Port Rodrigues
Agradeço a todos os colegas que contribuíram para a realização desse
trabalho e apontam que a pesquisa e o pensar juntos são saídas criativas
para lidar com mudanças e incertezas.
. La violencia de la interpretación. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 2004.
BARANGER, W.; BARANGER, M. La situación analítica como campo dinamico.
Revista Uruguaya de Psicoanálisis. Tomo IV, n. 1, p. 3-54, 1962.
BARANGER, W.; GOLDSTEIN, R; GOLDSTEIN, N. Proceso en espiral y campo dinamico. In:
. Artesanías psicoanalíticas. Buenos Aires: Kiergeman,
1994. p. 349-370.
BION, W.R. Uma teoria sobre o processo de pensar. In:
. Estudos psicanalíticos revisados. Rio de Janeiro: Imago, 1988. p. 101-109.
ETCHEGOYEN, R.H. Indicações e contra-indicações: analisabildade. In:
.
Fundamentos da técnica psicanalítica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. p.
19-26.
FERRO, A. Critérios de analisabilidade e fim da análise. In:
. Na sala de
análise. Rio de Janeiro: Imago, 1998, p. 27-41.
FREUD, S. (1904a). O método psicanalítico de Freud. In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.7, p. 257-262.
. (1904b). Sobre a psicoterapia. In:
. Obras completas de Sigmund
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.7, p. 265-278.
. (1905). Tratamento psíquico (ou mental). In:
. Obras completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.7, p. 293-316.
. (1910). As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica.In: Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.11, p. 1297-136.
. (1912a). A dinâmica da transferência. In:
. Obras completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v. 12, p. 131-143.
. (1912b). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.12,
p. 147-159.
. (1913). Sobre o início do tratamento: novas recomendações sobre a técnica da psicanálise I. In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.12, p. 183-187.
. (1914). Recordar, repetir e elaborar: novas recomendações sobre a técnica
da psicanálise II. In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.12, p. 191-203.
. (1915). Observações sobre o amor transferencial: novas recomendações
sobre a técnica da psicanálise III. In:
. Obras completas de Sigmund Freud.
Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.12, p. 207-223.
. (1916). Conferências introdutórias sobre psicanálise: conferência XXVII:
transferência. In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro:
Imago, 1980. v.16, p. 503-521.
. (1917). Uma dificuldade no caminho da psicanálise. In:
. Obras
Ane Marlise Port Rodrigues
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.17, p. 199-211.
. (1919). Linhas de progresso na terapia psicanalítica. In: Obras completas
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.17, p. 199-211.
. (1926). Psicanálise. In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio
de Janeiro: Imago, 1980. v.20, p. 297-309.
. (1937). Análise terminável e interminável. In:
. Obras completas
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.23, p. 247-290.
. (1940). Esboço de psicanálise: o trabalho prático: a técnica da psicanálise.
In:
. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
v.23, cap. 6, p. 199-210.
GOLDSTEIN, R.Z. Encuadre y analizabilidad, fev. 2002, p. 1-11. [Texto cedido].
GREEN, A. Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Buenos Aires: Amorrortu,
1986.
. O trabalho do negativo. In:
. Conferências brasileiras de André
Green. Rio de Janeiro, Imago, 1995. p. 63-82.
. A crise do entendimento analítico. In:
. Psicanálise contemporânea. Rio de Janeiro: Imago, 2003. p. 477-491.
. De que se trata? In: LERNER, H.; STERNBACH, S. (Orgs.).
Organizaciones fronterizas: fronteras del psicoanálisis. Buenos Aires: Lugar,
2002. p. 116-135.
. Las psicoterapias practicadas por psicoanalistas. In:
. Ideas
directrices para un psicoanálisis contemporáneo. Buenos Aires-Madrid:
Amorrortu, 2005. p. 47-49.
HORNSTEIN, M.C.R. Navegando hacia la identidad. In: LERNER, H.;
STERNBACH, S. (Orgs.). Organizaciones fronterizas: fronteras del
psicoanálisis. Buenos Aires: Lugar, 2007. p. 73-89.
KERNBERG, O. Psicanálise, psicoterapia analítica e psicoterapia de apoio: controvérsias contemporâneas. In:
. Psicanálise contemporânea. Rio de Janeiro, Imago, 2003. p. 23-49.
LERNER, H. La clínica psicoanalítica convulsionada. In: LERNER, H.;
STERNBACH, S. (Org.). Organizaciones fronterizas: fronteras del psicoanálisis.
Buenos Aires: Lugar, 2007. p. 19-46.
LERNER, H; STERNBACH, S. Prólogo. In:
. Organizaciones fronterizas:
fronteras del psicoanálisis. Buenos Aires: Lugar, 2007. p. 11-15.
MARUCCO, N. La cura en la práctica analítica actual. Revista de Psiquiatria
do Rio Grande do Sul, v. 22, n.3, p.207-210, 2000.
MEYER, L. Analisabilidade. Rev. Bras. Psicanal., n. 21, p. 109-120, 1987.
MILAN, L.R. Analisabilidade: algumas variáveis. Rev. Bras. Psicanal., v. 29,
n.2, p. 333-347, 1995.
RACKER, H. Estudios sobre técnica psicoanalítica. Paidós: Buenos Aires, 1960.
ROSA, M.A. A analisabilidade e a relação analista-analisando. Rev. Bras.
Psicanal., n. 20, p. 300-411, 1986.
. Comunicação pessoal. Porto Alegre, agosto 2007.
ROUSSILLON, R. Construção da cena primária e co-construção do processo analítico, a propósito da interpretação. In: BULLETIN DE LA SOCIÈTÈ
PSYCHANALYTIQUE DE PARIS, 1984. p. 27-44 [referido no trabalho apresentado no Colóquio SSP – 80º aniversário. Paris, 2006].
. La métapsychologie des processus et transitionnalité. Rev. Franc. de
Psychanal., Paris, n. 5, 1995.
. A “linguagem” do enquadre e a transferência sobre o enquadre. In: COLÓQUIO SSP – 80º ANIVERSÁRIO, 2006. Paris: Mutualité, 18 nov.2006.
. A perlaboração e seus modelos. In: CONGRESSO DA IPA, 2007, Berlim.
Trabalho apresentado no Congresso da IPA, Berlim, 27 jul. 2007a.
. La función “límite” de la psique y la representancia. In: LERNER, H;
STERNBACH, S (Orgs.). Organizaciones fronterizas: fronteras del psicoanálisis.
Buenos Aires: Lugar, 2007b. p. 191-206.
SIMÕES, G. La actitud actual de pacientes y analistas. Zona erógena – Revista
Abierta de Psicoanálisis y Pensamiento Contemporáneo, Buenos Aires, n.41,
p. 36-38, 1999.
STERNBACK, S. Organizaciones fronterizas y traumas intersubjetivos. In:
LERNER, H; STERNBACH, S (Orgs.). Organizaciones fronterizas: fronteras
del psicoanálisis. Buenos Aires: Lugar, 2007. p. 137-154.
STONE, L. The widening scope of indications for psychoanalysis. JAPA, v. II,
n.4, p. 567-594, 1954.
TEDESCO, P.C. The “Widening Scope” reconsidered. The psychoanalytic study
of the child, v.49, p. 159-174, 1994.
ULANOSKY, P. Fronteras, bordes, límites. In: LERNER, H; STERNBACH, S
(Orgs.) Organizaciones fronterizas: fronteras del psicoanálisis. Buenos Aires:
Lugar, 2007. p. 91-111.
VECSLIR, M. Las fronteras de la clínica. In: LERNER, H.; STERNBACH, S.
(Org.). Organizaciones fronterizas: fronteras del psicoanálisis. Buenos Aires:
Lugar, 2007. p. 47-72.
WINNICOTT, D.W. Aspectos metapsicológicos e clínicos da regressão dentro do
marco psicanalítico. In:
. Da pediatria à psicanálise. Rio de Janeiro: Imago,
2000.
. (1963). Dependência no cuidado do lactente, no cuidado da criança e na
situação analítica. In:
. O ambiente e os processos de maturação. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1982. p. 225-233.
Agradecimento
Agradeço à Dra. Lúcia Helena Ceitlin e ao Dr. Marco Aurélio Rosa
pelos enriquecedores comentários a esse trabalho, bem como a todos os
analistas, professores, supervisores e colegas que, generosamente, participaram de minha formação analítica, em particular, aos colegas que responderam ao questionário.
Ane Marlise Port Rodrigues
. O brincar. In: O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1971. Cap.
III, IV, p. 59-93.
ZIMERMAN, D.E. Vocabulário contemporâneo de psicanálise. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2001. p. 428.
ANEXO A: QUESTIONÁRIO
A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ANALISABILIDADE
1. Quanto à sua condição, você é:
( ) candidato em seminário e não começou supervisão curricular
( ) candidato em seminário e fazendo supervisão curricular
( ) candidato egresso de seminários e fazendo supervisão curricular
( ) candidato egresso de seminários e com supervisões concluídas
( ) membro associado
( ) membro efetivo
( ) membro efetivo e didata
( ) analista convidado
2. Quanto tempo você tem de prática psicanalítica (em meses ou anos)?
3. Para que o paciente entre num processo analítico seria desejável
atendê-lo com que freqüência semanal?
4. Cite critérios que utiliza para definir o que é processo analítico e como
avalia se seu paciente está evoluindo no processo analítico.
5. Os critérios de analisabilidade expandiram-se da neurose clássica para
outros quadros patológicos mais graves. Cite quais são os seus critérios quando pensa se um paciente é analisável ou não.
6. Cite quais as psicopatologias mais comuns, em sua clínica, nos últimos anos.
7. Você acha que, na atualidade, as psicopatologias mudaram, o analista
mudou sua escuta e seu olhar ou nada mudou? O que pensa sobre
isso?
8. Quais as queixas mais comuns que trazem seus pacientes para tratamento analítico?
9. Quanto à citação de A. Green (1972, Sobre a loucura pessoal, p. 42):
“Eu, pessoalmente, não acho que todos os pacientes são analisáveis,
mas prefiro pensar que o paciente sobre quem eu tenho dúvidas não é
por mim analisável”, você concorda com o autor?
( ) Sim. Por quê?
( ) Não. Por quê?
Ane Marlise Port Rodrigues
10. Você precisou introduzir mudanças no setting analítico com os quadros psicopatológicos que atende?
( ) Sim. Cite quais.
( ) Não. Explique por que não precisou.
11. Cite quais as características ou condições do analista que considera
fundamentais para o trabalho analítico (condições do enquadre interno do analista):
12. O que considera um resultado satisfatório de análise de um paciente?
13. Em sua opinião, qual seria o tempo mínimo de anos desejável para
uma análise de alta freqüência (três ou mais sessões semanais)?
_________anos
14. Considera haver diferenças entre o analista da época de Freud e o analista da atualidade?
( ) Sim. Quais?
( ) Não. Por quê?
15. Espaço livre para comentários: