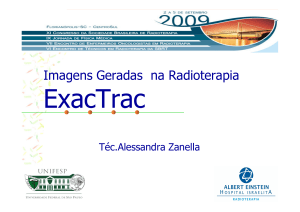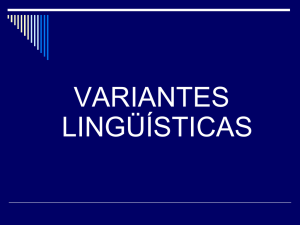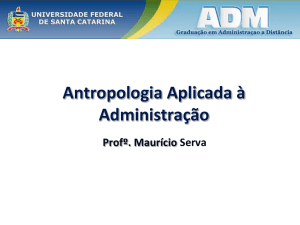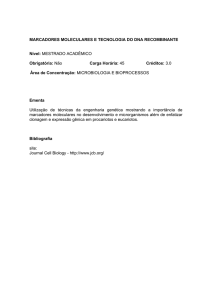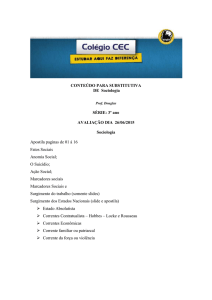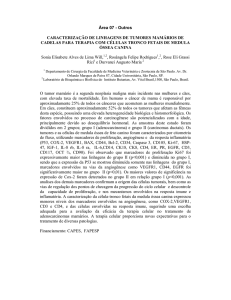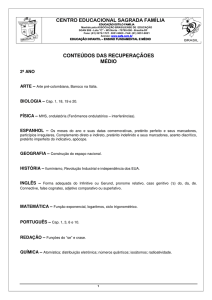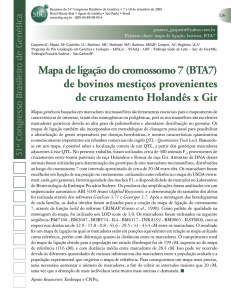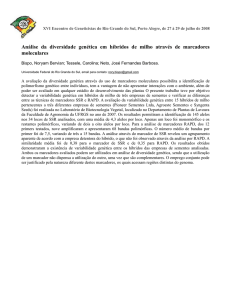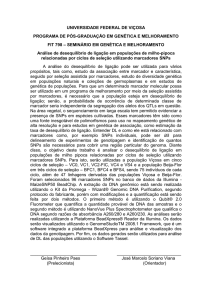OS MARCADORES DE EVIDENCIALIDADE/MODALIZAÇÃO DERIVADOS DA 1ª
PESSOA PLURAL DO VERBO DIZER1
Heloísa Cristina Renovato (UFS)
[email protected]
1 INTRODUÇÃO
Marcadores discursivos são definidos por Freitag como “elementos linguísticos que
exercem funções importantes na interação, amarrando o texto no plano cognitivo e também
Interpessoal” (FREITAG, 2007, p.22). Dentre estes, podemos destacar os marcadores de
evidencialidade e modalização. A modalização refere-se ao modo pelo qual o falante
relaciona-se com o enunciado, utilizando-se do distanciamento e da polidez, ele profere fatos
que induzem o ouvinte a chegar a certas interpretações, sem disso o enunciador se
responsabilizar. Marcadores evidenciais são definidos por Bybee, Perkings e Pagliuca (1994
apud FREITAG, 2003, p.114) como “marcadores que indicam algo sobre a fonte de
informação da proposição”. Os marcadores que analisamos neste trabalho são os originados
das formas verbais de 1ª pessoa do plural, como vamos se dizê/vamos dizer/digamos, cuja
função é dar pistas ao ouvinte sobre o grau de distanciamento com o conteúdo proposicional.
Nosso objetivo, neste trabalho, é mostrar o efeito das sequências discursivas
controladas (narrativa, descritiva, injuntiva e argumentativa) para a emergência das formas e
gramaticalização dos valores de evidencialidade/modalização que os marcadores passam a
desempenhar no discurso.
2 O FENÔMENO EM ESTUDO
A análise apresentada segue a ótica do funcionalismo, que define a língua como um
instrumento de interação social. Segundo Neves, a língua “não existe, em si e por si, como
uma estrutura arbitrária de alguma espécie, mas existe em virtude de seu uso para o propósito
de interação entre seres humanos” (NEVES, 1997, p. 82).
As construções de evidencialidade/modalização vamos dizer/vamos se
dizer/digamos são formadas por sujeito elíptico + verbo com conjugação na primeira pessoa
do plural + complemento oracional. No seu significado original tais construções indicam ação
verbal, ou seja, vamos dizer e digamos significam o ato de falar que algumas pessoas podem
realizar.
(1) De cada turma... de vamos supor... de cem alunos que entram em um curso no
máximo no máximo vinte por cento conclui... o restante fica pelo caminho... (se ita mb
lq 01)
Nesse exemplo, podemos observar que a forma utilizada pelo falante é vamos supor.
É por meio desta que o informante supõe uma quantidade, para explicar que no máximo vinte
por cento dos alunos concluem o curso.
1
O presente trabalho é resultado da execução de plano de trabalho do projeto Procedimentos discursivos na fala
e na escrita de Itabaiana/SE: estratégias de evidencialidade/modalização (Programa Institucional de Iniciação
Científica/Universidade Federal de Sergipe/2009-2010), coordenado pela Profa. Dra. Raquel Meister Ko.
Freitag.
Além desse emprego, também encontramos expressões vamos dizer/ vamos se dizê/
digamos em dois contextos: na primeira, o falante por meio de tais formas, promove uma
fuga, ou seja, não se responsabiliza pelas interpretações que o ouvinte possa fazer; na segunda
o falante faz tal uso para preencher o intervalo, em que está planejando a continuidade da sua
fala ou para conseguir elaborar uma melhor explicação sobre o assunto em conversação, tais
miragens foram encontradas em sequências narrativas e descritivas, respectivamente.
Em suma estas construções marcam a modalização/ evidencialidade, ou seja, o modo
pelo qual o falante se relaciona com o seu enunciado; este pode se dá como uma forma de
fuga, para que o falante não se comprometa com a informação transmitida e com o valor de
marcador discursivo, para auxiliar no momento do rearranjo da fala.
2. 1 CONSIDERAÇÕES SOBRE EVIDENCIALIDADE/MODALIZAÇÃO
Alguns estudos mostram a possibilidade do surgimento de marcas evidenciais no
português brasileiro por meio da gramaticalização, um processo de mudança linguística no
qual itens e construções num determinado contexto linguístico desempenham funções
gramaticais, e depois de gramaticalizados, passam a desenvolver outras funções cada vez mais
gramaticais (cf. BYBEE et alli, 1994; HOPPER; TRAUGOTT, 1993; HEINE et alli, 1991).
Evidenciais são definidos por Bybee, Perkings e Pagliuca (1994, apud FREITAG, 2003)
“como marcadores que indicam algo sobre a fonte de informação da proposição”. As
pesquisas sobre evidencialidade são recentes, por isso, ainda não estão claras as fronteiras
deste domínio. Segundo Freitag (2003), Palmer (1986) considera a evidencialidade unida aos
julgamentos, no campo da modalidade epistêmica; já Galvão (2002) afirma que alguns autores
diferenciam modalidade e evidencialidade, já outros afirmam que a evidencialidade é uma
categoria da modalidade, que pode ou não estar se gramaticalizando.
Segundo Neves (2002, p.171), os modelos lógicos estabelecem, especialmente,
noções como:
a)
A distinção entre a proposição modal de dictum e a de re, que está na
base da distinção entre os dois tipos de estruturas modais nos enunciados
(Nef, 1976);
b)
O estabelecimento de dois eixos conceituais básicos, o do
conhecimento e o da conduta.
Quanto ao de dictum e ao de re, é relevante mencionar que o primeiro é “o
componente proposicional, construído de sujeito + predicado”, enquanto o segundo é o
componente modal ou modus, que é uma avaliação sobre o dictum”. (CASTILHO, 2008,
p.424), em que de dictum trata-se da forma como se diz o enunciado e de re ou modus é o
conteúdo. O de dictum está presente no modo pelo qual o locutor transmite o comentário. Já o
de re trata-se do conteúdo do enunciado, que pode ser abordado com pressuposição e com
estratégias de descomprometimento. A partir disso, diferenciamos de dictum do de re na
nossa investigação, em que o primeiro trata-se apenas das formas vamos dizer/ vamos se
dizê/ digamos empregadas na frase, já o segundo trata-se da avaliação dessas expressões, ou
seja, as intenções (de amenizar a gravidade da informação, para não comprometer-se) do
falante por trás da sua fala.
Quanto aos marcadores discursivos, segundo Freitag (2010, p.2):
Marcadores discursivos (ou ‘marcadores conversacionais’, ‘operadores
argumentativos’, ‘articuladores textuais’, não há consenso na literatura
acerca da denominação) é um rótulo amplo que recobre construções que
atuam tanto no plano textual, estabelecendo elos coesivos entre partes do
texto, como no plano interpessoal, mantendo a interação falante/ouvinte e
auxiliando no planejamento da fala (GORSKI et al., 2004; MARCUSCHI,
1989).
Segundo a autora, os marcadores discursivos estão presentes, tanto no plano textual,
quanto no interpessoal. Porém, como este trabalho visa analisar procedimentos de fala,
estudaremos apenas as ocorrências dos marcadores no plano interpessoal, em que o falante
utiliza-se das formas vamos dizer/ digamos com função de marcadores para auxiliar no
rearranjo da fala.
Em seguida apresentamos algumas funções que os verbos dicendi assumem na fala.
2.1.1 As funções que o verbo discendi (“dizer”) assume na fala
As construções estudadas derivam de verbos discendi, pois tais formas servem para
interpolar a fala do indivíduo. Neves define essa categoria como “verbos de ação cujo
complemento direto é o conteúdo do que se diz” (2000, p.48). Além disso, na forma vamos
dizer, por exemplo, destaca-se o verbo dizer, cuja função é introduzir a fala do indivíduo. Ou
seja, esse verbo serve para acrescentar algo na conversação ou no texto escrito.
Os verbos discendi possuem várias funções, demonstradas por Rodrigues (2005 apud
VIEGAS, 2009, p. 86), a seguir:
a) Transitiva: essa função permeia as demais. Embora alguns verbos discendi sejam
considerados, segundo a tradição gramatical, intransitivos, o fato de esses verbos
estarem, discursivamente, relacionados ao dito, ou seja, de haver um complemento do
discendi, explicitamente, demarcado no texto, já pressupõe um caráter transitivo. Por
outro lado, o “dizer” está implícito em todos os verbos discendi. Assim, negar que
esses verbos admitem transitividade seria de tal forma incoerente que não nos
permitiria chama-los de “discendi”.
b) Metalinguística: essa função torna-se bastante evidente com os verbos discendi, uma
vez que o narrador, ao reportar as falas, centraliza a sua atenção no próprio texto,
tentando caracterizá-lo ou descrevê-lo.
c) Argumentativa: essa função está relacionada à interpretação (bastante subjetiva) que o
narrador faz sobre o dito e que deseja imprimir, no texto final, como verdadeiro. O
escritor, ao selecionar os verbos discendi e, antes ainda, ao elaborar (ou reproduzir) as
falas das personagens, poderá argumentar contra ou a favor.
d) Caracterizadora: essa função é mais facilmente observável quando tomamos o
conjunto de verbos discendi utilizados para uma mesma personagem, considerando-a
como “ser individual” ou “coletivo”.
e) Coesiva: essa função apresenta-se como a principal responsável pela estruturação do
texto reportado. Alguns verbos discendi dão progressão ao discurso, ao passo que
outros o encerram.
f) Expressiva: essa função não diz respeito apenas ao plano conotativo da linguagem,
mas a capacidade de o escritor selecionar e combinar elementos fonéticos, sintáticos,
semânticos, morfológicos, tecendo associações mentais que caracterizem a
criatividade e o “fazer estético” no uso da linguagem.
Diante dessas funções, percebemos que um verbo pode ter vários empregos. Entre
tais enfoques a abordagem deste trabalho está ligada a “argumentativa” e a “expressiva”.
Pois, segundo o autor a primeira trata-se da interpretação que o falante faz e que deseja
passar, ou seja, na sua fala ele induz o ouvinte a compreender certas interpretações que não
foram ditas explicitamente. A segunda relaciona-se a função de marcador discursivo, porque é
através deste que o indivíduo organiza o seu enunciado mentalmente, para assim prosseguir
na conversação, como também, os marcadores podem estar presentes no texto. Contudo, não
nos deteremos neste último, pois foge à nossa investigação que é baseada na fala. A partir de
tais afirmações, o nosso trabalho analisará as funções das construções oracionais, de primeira
pessoa do plural, em que o verbo dicendi (dizer) é utilizado para introduzir a fala dos
indivíduos, as quais podem introduzir certas interpretações implícitas (promovendo o
descomprometimento) ou apenas marcar a continuidade da conversação, tendo o valor de
marcador discursivo.
A seguir, abordamos a preservação de faces que está associada ao
descomprometimento do falante quanto ao seu enunciado. Como também, relacionamos essa
modalização ao emprego das formas estudadas.
2.1.2 A preservação das faces: face positiva e negativa
Na conversação, ocorrem dois tipos de pressões: as comunicativas, para garantir o
entendimento da mensagem, e as rituais, para garantir a recíproca preservação das faces dos
interlocutores. Conforme explicam Saito e Nascimento (2005, p.1-2)
As pressões rituais são as que mais influenciam a estrutura do discurso, pois
o processo de figuração que visa neutralizar as ameaças potenciais à face dos
interlocutores influencia tanto a realização do enunciado quanto a
estruturação da troca comunicativa impondo aos interagentes a adoção de
sutilezas para estratégias de preservação das faces (facework), estratégias de
polidez e estratégias de negociação.
As estratégias de polidez na conversação consistem em amenizar a ameaça à face,
para garantir uma boa relação social, através do bem estar dos interlocutores. Brown e
Levinson (apud SAITO; NASCIMENTO, 2005, p.2) denominam essas estratégias de polidez
positiva, polidez negativa e polidez indireta. A polidez positiva trata-se da reparação de
agravo à face positiva do interlocutor. Em que se satisfaz a pretensão do interlocutor,
demonstrando que compartilham da mesma opinião. Saito e Nascimento (2005) listam
algumas estratégias de polidez positiva: manifeste atenção ao interlocutor; exagere na
aprovação e simpatia pelo interlocutor; mostre que você entende o que ele diz; evite
discordância; dê ou peça razões, justifique-se.
A polidez negativa acontece quando evitamos impor algo ao outro, usando
expressões que facilitam a evasão, em que o locutor não se compromete com o interlocutor.
Saito e Nascimento (2005) abordam as seguintes estratégias: seja convencionalmente indireto;
seja evasivo, não se comprometa; seja pessimista; mostre deferência; peça desculpas;
impessoalize locutor e interlocutor para indicar que o locutor não quer impingir algo ao
interlocutor; ofereça compensações.
A polidez indireta (“of record”) apresenta uma comunicação indireta, em que o
locutor provoca uma fuga para si mesmo, deixando algumas interpretações subtendidas, das
quais ele poderá se defender. Com isso, o locutor tem permissão de pronunciar atos
ameaçadores da face, sem responsabilizar-se. Dessa forma, o interlocutor torna-se responsável
pelas suas próprias interpretações. Saito e Nascimento (2005) destacam os seguintes
procedimentos: forneça pistas e sugestões indiretas; pressuponha; minimize a expressão, não
diga tudo; exagere sua expressão (hipérbole); recorra à tautologia; recorra a contradições; seja
irônico; use metáforas; use perguntas retóricas; seja ambíguo; seja vago; generalize.
Dentre a polidez positiva, a polidez negativa e a polidez indireta, nos deteremos nesta
última, a qual está interligada a nossa proposta de investigação, pois é por meio destas que o
enunciador promove uma fuga, e não se compromete com as interpretações que o ouvinte
venha a fazer, acontecendo, assim, a preservação de face. Dessa forma, ele evita as críticas e
as confusões, que ocorreriam caso a pessoa de quem se fala, ou algum amigo ou parente
soubesse. As sequências narrativas abaixo tratam destes usos, na fala de itabaianenses:
(2)
o:: o outro cidadão... ele só pegou um cortizinho leve no rosto... na face... de...
de... três pontos quatro ponto... mais tava tudo bem... já o meu como abriu o crânio...
aqui a cabeça... eu fiquei em coma... deu traumatismo craniano... e o médico daqui
não::... vamo se dizê que não foi que ele não tava preparado ou... mais eu não sei se a
gravidade era tão grande que ele não quis me é:: mexer muito com essa coisa e
mandou... encaminhou pra Aracaju...
(3)
me atrapalhou no trabalho muito... e aí ficou meio... meio... meio assim... vamo
se dizê o dono ficou meio receoso... eu tinha apenas um ano de trabalho...
(4)
mas:: em questões até:: vamo se dizê... psicológicas... eu acho que hoje... como
tem... isso já tem muito tempo acontecido... to melhor... tal... certas vezes eu ainda dá
um:: dá uns impulsos meio esquisitos né? na cabeça uma dô de cabeça forte... você até
dá um branco...
Esses exemplos encaixam-se na polidez indireta (“of record”), em que o locutor
provoca uma fuga para si mesmo, deixando o interlocutor responsável pelas suas próprias
interpretações, pois o locutor subtende algumas interpretações, das quais ele poderá se
defender. Com isso ele tem permissão de pronunciar atos ameaçadores de face, sem
responsabilizar-se. Entre os procedimentos apresentados anteriormente por Saito e
Nascimento (2005), identificam-se com os exemplos dados: forneça pistas e sugestões
indiretas; pressuponha; minimize a expressão, não diga tudo.
Adiante, vemos o uso das expressões vamos dizer/ digamos com função de
marcador discursivo.
2.2.2 Marcador discursivo
Os marcadores discursivos não estão prescritos nas gramáticas, por isso, seu uso é
estigmatizado, “sendo muitas vezes considerados um ‘vício de linguagem’ ou um ‘cacoete
linguístico’” (FREITAG, 2007, p. 23). Contudo, como veremos adiante, os marcadores
discursivos possuem papéis essenciais na elaboração da fala. Segundo Freitag, “por não
existirem nas gramáticas normativas como uma categoria, os marcadores discursivos são
estruturas às margens da língua, sendo alvo de estigma e de restrição de uso. Porém, não
deixam de ser usados por causa deste estigma, dada a sua motivação funcional”. (2007, p.33).
Ou seja, no momento da conversação o indivíduo tem necessidade de preencher a pausa,
provocada pelo planejamento da fala, com algum termo. Isso para que o ouvinte perceba que
ele ainda não terminou a sua fala, mas está a elaborando.
3 METODOLOGIA
A fim de analisar o fenômeno, foram utilizados dados coletados de duas amostras,
Entrevistas Sociolinguísticas e Fala & Escrita, ambas vinculadas ao Grupo de Estudos em
Linguagem, Interação e Sociedade. A coleta segue a metodologia da Sociolinguística
Variacionista (LABOV, 2008; WEINREICH et al., 2006), nos moldes do que é feito, por
exemplo, pelo VALPB (Variação Linguística no Estado da Paraíba), a fim de possibilitar a
comparação de resultados entre as variedades linguísticas.
3.1 FORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS
O banco de dados constituído conta com vinte e oito entrevistas sociolinguísticas,
com pessoas selecionadas em função de seu perfil social, de acordo com a metodologia
sociolinguística (morador de cidade, nascido na cidade, com pais nascidos na cidade),
estratificados em seis células sociais. Também faz parte do Banco de dados do GELINS à
amostra de Fala & Escrita, constituída nos moldes do banco de dados do projeto Discurso &
Gramática (FURTADO DA CUNHA, 1998). São dezesseis informantes estratificados
socialmente que produziram cinco tipos de texto falados – narrativa de experiência pessoal,
narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e de opinião, os quais foram
registrados por meio de gravadores, – e depois na modalidade escrita, o que totaliza oitenta
excertos de análise. A estes, acrescentamos as entrevistas realizadas com doze universitários,
da UFS (Universidade Federal de Sergipe). Nestes registros de fala, que também foram
obtidos através de gravadores, os entrevistados desenvolveram os seus textos orais, acerca das
dificuldades enfrentadas durante o curso, como também, sobre os projetos e eventos dos quais
participaram e quanto as suas perspectivas profissionais. É importante mencionar, que nestas
últimas entrevistas não foram realizados textos escritos.
3.2 COLETA DE DADOS
Primeiramente, foram escolhidos dez indivíduos para serem entrevistados. Cada
entrevistado produziu cinco tipos de textos orais e escritos, sendo estes últimos realizados a
partir dos primeiros, totalizando assim, cem registros. Os tipos de textos são: narrativa de
experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de
opinião. Os entrevistados foram escolhidos a partir do fator condicionante extralinguístico, em
que foram selecionados dois informantes de: classe de alfabetização-infantil, 5º e 9º ano da
educação básica, 1º e 3º ano do ensino médio. Para aumentar o corpus de análise adicionamos
entrevistas, realizadas com alunos do curso superior, que já estavam perto de se formar ou
tinha pouco tempo de formado.
Antes da entrevista, o informante já sabia quais eram os cinco itens que iria explorar.
Também fora informado quanto à finalidade das coletas, que por sua vez tem fins acadêmicos
e sociais. O anonimato é ressaltado e, por fim, o horário e o local da entrevista são marcados.
Dessa forma, espera-se obter a espontaneidade do indivíduo. Além disso, alguns cuidados o
entrevistador deve adotar: não tornar a entrevista um interrogatório; evitar as interrupções;
preencher a ficha de identificação de informante e tipo de texto coletado e o diário de campo
para cada informante; fazer um relatório de coleta para cada informante.
Após a entrevista, faz-se a transcrição da fala. Porém, invalidam o material, nos
textos escritos, a suspeita de que o entrevistado não teve “boa vontade” para produzir o
material e, nos textos orais, o desvio por parte do informante, do tipo de texto proposto e a
ocorrência de interrupções frequentes do informante. Os textos invalidados são substituídos.
Após detectar a validação passa-se a transcrição, que por sua vez foi baseada em algumas
normas utilizadas pelo Projeto NURC/SP.
Quanto à seleção das ocorrências, depois das entrevistas serem lidas, as sequências
discursivas em que apareciam as construções verbais, de primeira pessoa do plural, com
sujeito elíptico (vamos dizer/ vamos se dizê/ digamos/ vamos supor) foram recortadas. Em
seguida, analisaram-se em quais sequências discursivas tais formas tinham mais ocorrência e
a relação existente entre elas. A partir disso, descobrimos que os falantes além de empregar as
expressões no seu sentido original, modalizaram-nas como estratégias de
descomprometimento em relação ao fato narrado e apresentaram o papel de marcador
discursivo em sequências descritivas.
Nas amostras foram encontradas apenas quinze ocorrências daquelas expressões, por
isso não foi possível realizar a análise quantitativa, mas qualitativa.
O próximo capítulo demonstra tal análise, nos empregos: estratégias de polidez e
marcadores discursivos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto ao tipo de sequência discursiva, destacam-se a narrativa e a descritiva, pois
estas apresentam ocorrências dos marcadores de evidencalidade/modalização vamos se
dizê/vamos dizer/digamos. Na sequência narrativa o falante faz uso de tais expressões para
promover o descomprometimento com o que está sendo dito e na sequência descritiva o
indivíduo pronuncia as construções verbais, no momento da conversação, para preencher a
pausa, enquanto organiza suas ideias mentalmente. Vejamos a seguir estes usos.
4.1 ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ
O termo estratégia é definido pelo dicionário como: “arte de aplicar os meios
disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos”. A partir
disso, Saito e Nascimento (2005, p.2) dizem que “essa definição preserva a ideia de
planejamento e execução de movimentos, de ações linguísticas, ou seja, a melhor maneira de
alcançar um objetivo dentre as possibilidades de escolhas entre as várias táticas”.
A finalidade desse trabalho é observarmos as estratégias da formação do enunciado,
em que o locutor garante seus objetivos comunicativos e interacionais.
Devido às críticas e opiniões contrárias, o discurso do locutor é realizado com
apagamento das marcas da enunciação, ou seja, ele recorre a certos recursos de
impessoalização (“é possível que, parece que, é provável que” (SAITO; NASCIMENTO,
2005)) e de indeterminação do sujeito (“dizem, falam, diz-se” (SAITO; NASCIMENTO,
2005)). Apesar de citados, este trabalho se deterá nas formas, de primeira pessoa do plural,
vamos dizer/ digamos, exemplificadas nas sequências narrativas a seguir:
(5) eu acho que poderia ter uma maior abordagem nela... assim do tipo (hes) incentivar
mais os alunos porque hoje em dia aqui mesmo... vamos dizer... que não é todo
mundo que é tão interessado com estudo (est) é eu não vou citar o meu exemplo
porque ((risos)) mas aqui... percebe-se porque aqui o colégio eu vejo assim pessoas
mais velhas... (M3_2)
(6) não não é... assim... vamos dizer que política aqui o que o povo entende de política
aqui é simplesmente... votação... você vai lá e volta pra escolher... (M3_2)
(7) aí às vezes ela ficava até puxando o meu saco né? Digamos assim entre aspas
((risos)) e aí quando eu saí do ensino fundamental e fui pro ensino ah quando eu sai do
ensino fundamental não... quando eu sai da quarta série do ensino fundamental e fui
pra quinta série do ensino fundamental... (se ita mp lq 03)
(8) mas depois quando eu terminei o ensino fundamental eu acabei namorando com
uma menina que eu conheci que morava bem próximo a minha casa sabe? Mais por
incentivo dela do que meu digamos assim... sabe? Porque ela que... como eu era ainda
bastante tímido ainda né? Eu não tinha... toda essa coragem não ((risos)) (se ita mp lq
03)
(9) durante as aulas de Química no ensino médio... ou seja no meu estágio... que eu
estagiei foi na escola em Aparecida... na escola Estadual João Salónio... no qual os
professores de Química não tinham vamos dizer... não adotavam metodologia de
ensino as quais surtiram efeito ao – à aprendizagem do aluno... e para eles tanto faziam
ter aula de Química como não ter... (se ita mp lq 08)
A partir destes segmentos de fala percebemos que a narração de assuntos
comprometedores acarreta no uso das expressões estudadas, para assim promover o
distanciamento por parte do falante.
No exemplo (5), o falante faz uso da expressão vamos dizer para introduzir o
conteúdo proposicional, por isso trata-se de verbo dicendi. Ao mesmo tempo, o enunciador se
distancia e, assim, se descompromete com aquilo que informou visto que vamos dizer é uma
construção cuja função é supor algo, justamente que o locutor fez. Em (6), o entrevistado mais
uma vez faz uso de vamos dizer para passar a informação que deseja. Através da construção
usada o falante não se compromete com as interpretações possivelmente feitas pelo ouvinte,
dando origem a preservação de face.
Já em (7), observamos a ocorrência da forma digamos cuja função é corrigir o que
foi dito, ou seja, o de re avalia o de dictum, em que o falante está tencionado a provocar um
certo distanciamento do assunto sobre o qual falou.
O exemplo (8) apresenta a construção digamos que provoca o distanciamento e o
descomprometimento do enunciatário em relação a sua afirmação. Por fim, no exemplo (9), a
expressão vamos dizer foi empregada como estratégia de descomprometimento, pois, o
falante não se compromete com as interpretações que o ouvinte possa realizar.
4.2. MARCADORES DISCURSIVOS
Muitas vezes, a organização da fala necessita de algum termo para preencher a pausa,
enquanto o falante projeta o que será dito. Essa função do marcador discursivo é denominada
por Marcedo e Silva (1996) como “requisito de apoio discursivo”. A partir disso, este estudo
analisará os marcadores discursivos (vamos dizer e digamos) que exercem tal papel na
conversação, principalmente em segmentos descritivos, como veremos adiante.
Os requisitos de apoio discursivo são essenciais na formação da fala, nos planos:
- interpessoal tem necessidade do uso do marcador para produzir a fala e assim dar
continuidade à conversa. Os exemplos abaixo demonstram tal uso, com os marcadores, em
primeira pessoa do plural, vamos dizer/ digamos presentes em sequências descritivas:
(10) Bom o lugar onde eu mais gosto de ficar no momento é a casa da minha né?
((risos)) pra eu descrever é assim... é uma casa não muito grande... é um pouco
afastada da cidade... (hes) vamos dizer assim (hes) tem... pastos assim perto... (M3_2)
(11) mas eu sempre fui um cara que nunca... fui obediente à mãe sabe? Digamos
assim... porque eu tenho os meus pensamentos e eu considero eles como certo... já ela
considera o meu como errado porque diz que adolescente não pensa... (se ita mp lq 03)
(12) então eu acho que não é bem por aí e o conhecimento o saber popular é também
às vezes é válido né? Então vamos dizer o exemplo do casaco né? A mãe pede por
pro filho colocar o casaco para esquentá-lo né? Mas na realidade cientificamente o
casaco não esquenta né? O casaco é só um isolante (se ita mp lq 05)
(13) pra ser sincero já falavam do curso... eu entrei com um pouco de medo... pelo fato
de eu ser de uma cidade assim... afastada de Itabaiana... o pessoal muito tímido... é
você de uma família (hes) vamos dizer... de classe média... de classe média na
verdade... (se ita mp lq 08)
No exemplo (10), vamos dizer tem valor de marcador discursivo, pois é uma forma
do indivíduo continuar a descrição, do local onde mais gosta de ficar, ou seja, o verbo dicendi
(dizer) tem a função de introduzir uma informação. Como também, esse marcador tem a
função de preencher a pausa, para que o falante organize suas ideias.
Em (11), o informante utiliza a forma digamos com valor de marcador discursivo,
pois serve para reformular suas ideias e assim continuar a descrição do relacionamento dele
com a mãe. No exemplo (12), identifica-se a expressão vamos dizer, com função de ajudar na
continuação da descrição do saber popular, esta feita em forma de exemplo. Novamente em
13, temos a presença de vamos dizer, como marcador. Essa expressão tem a função de
planejamento verbal, pois após essa pronúncia o locutor consegue terminar a descrição da sua
família.
- interpessoal e textual precisa do marcador, para dar ênfase a algo que já foi dito ou corrigir
alguma afirmação. Os exemplos a seguir mostram esse uso, com os marcadores, em primeira
pessoa do plural, vamos dizer/ digamos:
(14) Bom a questão da educação... a educação eu acho que assim... aqui em Sergipe
não vamos dizer no Brasil né? Ela não eu eu assim tenho pra mim que ela não é
abordada como deveria... (se ita mp lq 03)
(15) adolescente (hes) não tem a cabeça no lugar digamos assim... mas eu eu sempre...
sempre não... de um tempo pra cá eu venho colocando as coisas no lugar e sempre
venho fazendo as coisas do jeito que eu quero sabe?
No exemplo (14), vamos dizer tem a função de marcador discursivo, porque essa
pronúncia serviu para o indivíduo fazer uma pausa na fala para repensar e assim corrigir a
descrição a cerca da educação. Logo, essa expressão marca a discordância do que foi dito
anteriormente. Por fim, em (15), observamos que a forma digamos ao ser empregada, o
falante preenche a pausa para a organização do falante para descrever seu comportamento em
relação aos demais adolescentes. Esta expressão também marca oposição ao que foi dito
anteriormente, pois apesar do falante ser adolescente “coloca as coisas no lugar”.
- rítmico necessita de marcadores que atuam no ritmo e na pontuação. Conforme Freitag,
“Nesta sub-categoria, estão os marcadores né? e tá?, que apesar de serem formas reduzidas,
extremamente recorrentes e esvaídas de significado referencial, desempenham a função de
manter e ritmar o turno do falante” (2000, p.26). Contudo, vamos dizer/ digamos não tiveram
ocorrência com essa função.
Percebemos, portanto, que as formas oracionais de primeira pessoa do plural do
verbo dizer podem apresentar outros usos, com diferentes sentidos e significados. Para tanto,
o falante modaliza as palavras alterando o sentido delas segundo suas necessidades de fala.
Por isso, houve ocorrências das formas em estudo nas sequências narrativas e descritivas,
indicando respectivamente, descomprometimento e função de marcador discursivo.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram analisados os procedimentos de polidez e das estratégias que
marcam o distanciamento por meio de construções verbais, vamo se dizê/ vamos dizer/
digamos, de 1ª pessoa do plural, encontradas em sequências narrativas. Como também, foi
observado tal uso com função de marcador discursivo, presentes em segmentos descritivos.
Esses estudos foram realizados a partir de análises qualitativas, isso devido ao pequeno
número de ocorrências de usos (apenas quinze), dessas formas nas funções citadas abaixo, na
fala de itabaianenses.
Os verbos estudados desempenham diferentes funções do seu sentido original. Isso
ocorre porque, o falante tem necessidade de moldar os verbos para realizar a comunicação. A
partir de tal afirmação, analisamos a modalização das formas investigadas e identificamos
dois tipos: o descomprometimento do indivíduo, em relação à narração transmitida, e o uso de
tais expressões com valor de marcador discursivo presentes em seguimentos descritivos. Este
auxilia a interação verbal, pois enquanto a pessoa o pronuncia faz o rearranjo das ideias
descritivas e mostra ao ouvinte que ainda não terminou a sua fala, mas está organizando-a
para ser transmitida.
Quanto à modalização de descomprometimento, descobrimos que o indivíduo faz uso
de tais construções verbais, em sequências narrativas, para não se responsabilizar com a
gravidade da informação, ou seja, se for abordado quanto ao assunto pronunciado ele poderá
se defender, pois não disse tal afirmação apenas ficou subentendido, isto é, faz parte da
interpretação do ouvinte.
REFERÊNCIAS
CASTILHO, Ataliba T. de; ILARI, Rodolfo; NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática
do Português Culto Falado no Brasil. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008.
FREITAG. Raquel Meister Ko. Gramaticalização e variação de acho (que) e parece (que)
na fala de Florianópolis. Dissertação (Mestrado em Linguística). Curso de Pós-Graduação
em Linguística, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
FREITAG, Raquel Meister Ko. Marcadores Discursivos não são vícios de Linguagem!
Revista Interdisciplinar, v. 4, n. 4 - p. 22-43 - Jul/Dez de 2007.
FREITAG. Raquel Meister Ko. O papel de frequência de uso na gramaticalização de acho
(que) e parece (que) marcadores de dúvida na fala de Florianópolis. Veredas, Juiz de Fora,
v.7, n.1 e n. 2, p.113-132, jul./dez.2003.
GALEMBECK, Paulo de Tarso. Unidades discursivas na fala culta de São Paulo.
Disponível em <http://www.filologia.org.br/viicnlf/ caderno07-19.html> . Acesso em 30 jun.
2010, p.04-05.
KOCH, Ingedore G. Villaça. Gramática do Português Falado – Desenvolvimento.
Campinas: Ed da Unicamp, 2002.
MACEDO, Alzira Tavares; SILVA, Gisele Machline de Oliveira e. Análise sociolinguística
de alguns marcadores conversacionais. In: A.T. MACEDO; C. RONCARATI; M. C.
MOLLICA. (orgs.). Variação e discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. p. 11-50.
NEVES, Maria Helena de Moura. A modalidade. In: KOCH, Ingedore G. Villaça. Gramática
do português falado. 2ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de uso do português. São Paulo: Editora
UNESP, 200.
PEIXOTO, Jackeline de Carvalho; RENOVATO, Heloísa Cristina; FREITAG; Raquel
Meister Ko. Estratégias de evidencialidade/modalização na fala e na escrita de Itabaiana/SE:
abordagem preliminar. In: Anais do 19º Encontro de Iniciação Científica da UFS. São
Cristóvão: 2009a, p. 615.
PEIXOTO, Jackeline de Carvalho; RENOVATO, Heloísa Cristina; FREITAG; Raquel
Meister Ko. Estratégias de evidencialidade/modalização na fala e na escrita de Itabaiana/SE:
abordagem preliminar. In: GESTRA – Gestão de Trabalhos para o ensino da Língua
Portuguesa. São Cristóvão: Departamento de Letras, 2009b.
VIEGAS, Ilana da Silva Rebello. Os verbos discendi na construção de personagens da
literatura brasileira. In: Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos –
CIFEFIL. Rio de Janeiro, 2009, p. 81-92.
SAITO, Cláudia Lopes Nascimento; NASCIMENTO, Elvira Lopes. Preservação da face e
estratégias de polidez: um jogo de sedução nas interações face a face. Disponível em:
<http://www.deiritto.it/archijio/1/20656.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2010, p.01-02.
SANTOS, Márcia de Freitas. Modalizadores epistêmicos: uma investigação funcionalista.
Línguas & Letras, v. 8, n. 14, 1º sem. 2007, p.182.
TARALLO, Fernando. A Pesquisa Sociolinguística. São Paulo: Ática, 1997.