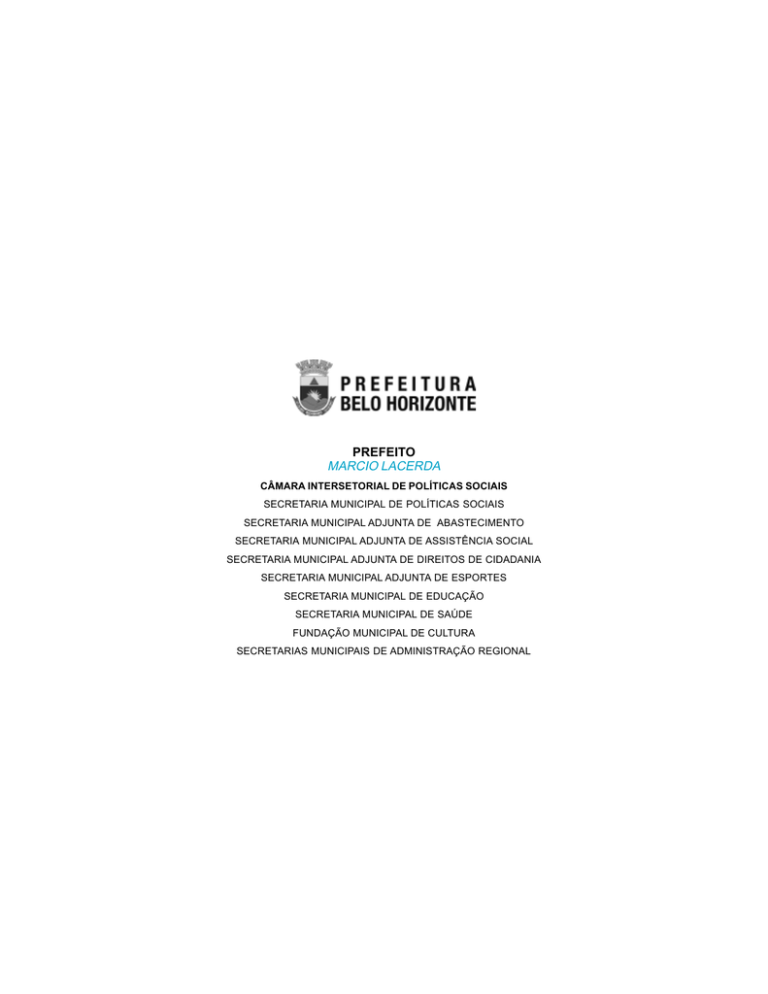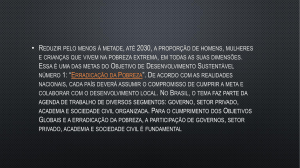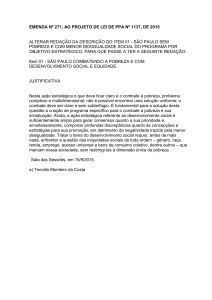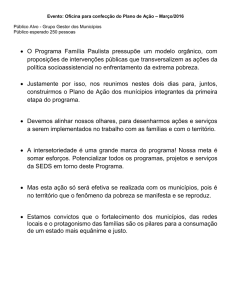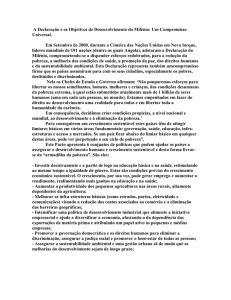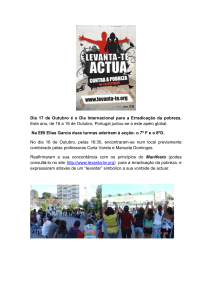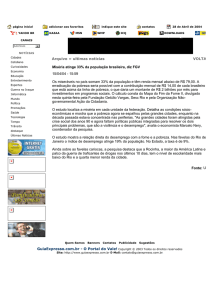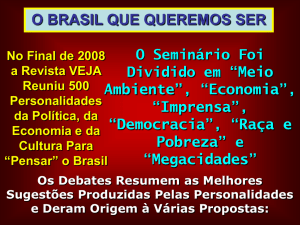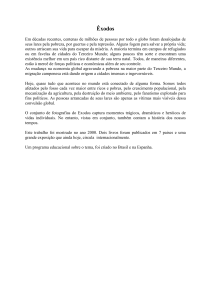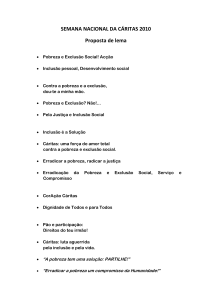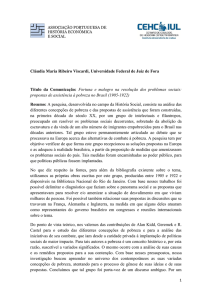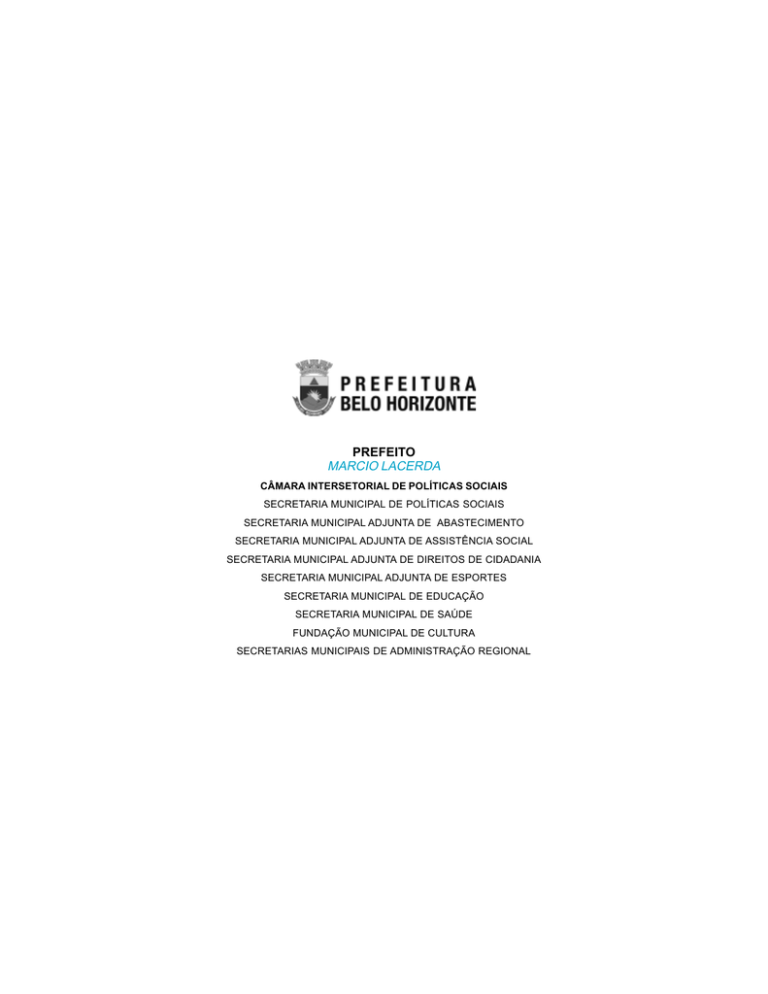
PREFEITO
MARCIO LACERDA
CÂMARA INTERSETORIAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
1
Pensar BH/Política Social, nº 25 - março de 2010. Belo Horizonte.
Prefeitura de Belo Horizonte/Câmara Intersetorial de Políticas Sociais.
1. Política Social 2. Administração Pública 3. Prefeitura de Belo Horizonte
CDD 323
ISSN 1676-9503
2
PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Apresentação
Pela construção de
uma cidade de oportunidades
É
com muito orgulho que vemos mais uma edição da Revista Pensar BH/Social,
que neste número se propõe a trazer para o debate temas não somente
ligados ao campo das políticas sociais como também ao campo das
políticas urbanas. E nesta 25ª edição, o destaque é para o tema da qualificação.
Esse é um dos eixos-base do nosso Planejamento Estratégico 2030 e do
Plano BH Metas e Resultados: a construção de uma cidade de oportunidades.
As grandes metrópoles encontraram o caminho da prosperidade ao associarem
o seu dinamismo econômico a setores modernos e inovadores, intensivos em
conhecimento. E dentre várias características que se destacam nestas metrópoles
— como serem centros de tomadas de decisão, terem mercados amplos, dinâmicos
e atraentes — uma delas é justamente o fato de possuírem uma força de trabalho
qualificada e diversificada. Diante desses fatos, são capazes de atrair e reter
talentos além de abrigarem setores econômicos de valor agregado.
Esse é um dos nossos grandes desafios: criar um ambiente econômico propício ao
desenvolvimento de negócios, com destaque especial para a promoção de um salto
de qualidade da educação e no nível de escolaridade média da sua população e
fomentar boas oportunidades de trabalho e de qualificação profissional em todo o
espaço urbano.
Criar oportunidades para todos, para que possamos viver em sociedade justa e
igualitária, prevê a adoção de políticas sociais de inclusão, bem como políticas de
qualificação profissional e geração de renda para seus habitantes. Esse é um dos
elementos centrais da nossa agenda estratégica de longo prazo de Belo Horizonte.
Dentro deste compromisso, a Prefeitura tem oferecido cursos de qualificação para
jovens e adultos, com prioridade para os que são beneficiários de programas
sociais desenvolvidos pelo município, permitindo assim o aumento da possibilidade
de inserção no mercado de trabalho formal e em oportunidades de geração de
trabalho e renda.
Temos, em parceria com o Sistema S, os programas de Formação de Base
Tecnológica e Requalificação de desempregados e queremos ampliar esses
programas para que possamos capacitar até 2012 150 mil jovens e adultos, além de
implantar novas modalidades, como o Planseq e a Elevação de Escolaridade com
Qualificação. Nossa meta é aumentar o percentual de pessoas inseridas no mercado
de trabalho de 9% — o que representa cerca de 10 mil pessoas — para 30% até
2012. E aumentar de 3% para 50% o número de beneficiários de programas sociais
inseridos no Programa de Estágio da Prefeitura a partir de janeiro do ano que vem.
São metas ambiciosas, mas que, em parceria com os empresários e a sociedade
civil, temos certeza que iremos atingir. Nosso objetivo maior é a construção de uma
cidade cidadã, onde impere a lei de igualdade de oportunidade para todos.
A presente edição da Revista Pensar BH/Política Social é mais uma oportunidade
de debate e reflexão sobre os nossos compromissos com todos que fazem parte da
cidade. Uma proveitosa leitura para todos.
Marcio Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
3
Pensar BH/Política Social
Gestão Municipal
5 Belo Horizonte:
Política Urbana
32 Inclusão socioespacial e construção
Programa Bolsa Família e a gestão intersetorial
do direito à cidade na trajetória da política
de regularização de BH
Márcia Marques Teixeira et all
Flávia de Paula Duque Brasil e Ricardo Carneiro
9 Congonhas:
A mobilização e a organização Social
Germano de Siqueira Cesar
e os desafios para a mensuração
Carla Bronzo
Assistência
20 Adolescentes em conflito com a lei:
contribuições da política pública, da rede de
atendimento e a participação social
O Estatuto
da Cidade
regulamentou
a política urbana
no país
Arquivo SMURB
Pobreza
12 Exclusão: delimitação conceitual
36 A Cidade dos Bondes
Elementos para uma política pública a partir do
resgate da memória do transporte coletivo
Nelson de Mello Dantas Filho e Míriam Gontijo de Moraes
Rosimery Iannarelli e Sônia Lopes Siqueira
Educação X Qualificação
24 Rediscutindo a relação educação e trabalho
no Brasil: notas para um debate
Previdência
41 Padrões de financiamento da saúde do trabalhador:
da Seguridade Social ao seguro saúde
Eli Iola Gurgel Andrade e Pedro Paulo de Salles Dias Filho
Diogo Henrique Helal
28 Trabalho, sem pecado original
Lucia M. de Oliveira
30 A questão da qualificação no Brasil
Lucia M. de Oliveira
Resenha
47 Política de Segurança Pública: como avaliar?
Robson Sávio Reis Souza
50 Instruções para colaboradores
EXPEDIENTE
EDIÇÃO GERAL:
Giselle B. Nogueira - RG 2285/MG
REVISÃO:
Geraldo Silvério Filho
SUPERVISÃO EDITORIAL:
Jorge R. Nahas (SMPS)
Carlos Alberto dos Santos (ASCOM/PBH)
FOTO CAPA:
Alessandro Carvalho
CONSELHO CONSULTIVO:
Bruno Lazzarotti Diniz Costa (Escola de Governo FJP), Carla
Bronzo (Escola de Governo FJP), Carlos Aurélio P. de Faria
(PUC-Minas), Cristina Almeida Cunha Filgueiras (PUC-Minas),
Eleonora Schettini M. Cunha (DCP/UFMG), Eli Iola Gurgel (Medicina/UFMG), Joseph Straubhaar (Texas University); Marlise
Matos (DCP/UFMG), Ricardo Cardoso (Universidade do Porto/Portugal), Rogério Faria Tavares (UNA).
COLABORAÇÃO:
Renata Cristina Martins (SMPS)
TRADUÇÃO:
Português/Inglês:
Andréa Magdalena Figueira
Jayne Vaz de Melo Martin
4
PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Rua Espírito Santo, 505/4 º andar - Centro
(031) 3277-9786 Telfax: (031) 3277-9796
E-mail: [email protected]
Endereço Eletrônico: www.pbh.gov.br/politicas-sociais
IMPRESSÃO:
MJR Editora Gráfica Ltda.
Rua Dr. Carlos Pinheiro Chagas, 138
Balneário da Ressaca - Contagem - MG
Tiragem: 2.500 exemplares
Gestão Municipal BELO HORIZONTE
Programa Bolsa Família
e a gestão intersetorial
MÁRCIA MARQUES TEIXEIRA*
FLÁVIA LUCIANA CARVALHO RESENDE**
MARIA THEREZA NUNES MARTINS FONSECA***
PATRÍCIA BORGES REGO****
SANDRA DOS SANTOS QUEIROZ VIEIRA*****
Este artigo discute as inovações ocorridas na gestão do Programa Bolsa Família no
município de Belo Horizonte por meio da experiência intersetorial, entendida como política
que visa a ampliar os espaços da complementaridade e da sinergia das ações do Poder
Público. A intersetorialidade está baseada em ações nas quais sua implementação permite
vivenciar a construção e efetivação das políticas. Portanto, trataremos, aqui, das discussões que envolvem conceitos que estruturam o Programa Bolsa Família e seu gerenciamento e as ações complementares que se efetivaram a partir dos espaços destinados à
intersetorialidade.
O
Programa Fome Zero, instituído em 2003 pelo Governo
Federal, foi criado no intuito de
combater a fome, a miséria e
a exclusão social. Com diretrizes pautadas em causas estruturais, este programa implantou uma linha de ação voltada à transferência de renda com condicionalidades, alimentação e nutrição e
acesso à informação e à educação. O
Programa Bolsa Família é um projeto de
estímulo à emancipação sustentada das
famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza1.
Em Belo Horizonte, a gestão do
Programa Bolsa Família é desenvolvida
pela Secretaria Municipal de Políticas
Sociais, por meio da Gerência de Coordenação Municipal de Programas de
Transferência de Renda, de forma descentralizada, com gerenciamento nas
nove regionais administrativas do Município mediante as diretrizes do governo
federal. Essa coordenação compreende
o cadastramento único, o acompanhamento das condicionalidades e a viabilização de ações complementares.
Diante disso, a gestão intersetorial
é uma prioridade no Programa Bolsa
Família por oportunizar debates específicos que devem pautar as ações sociais do Poder Público. Conforme Inojosa
(2001), a intersetorialidade é definida
como "a articulação de saberes e experiências com vistas ao planejamento,
para a realização e avaliação de políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em
situações complexas"; como ocorre em
Belo Horizonte, a partir da organização
da gestão e da efetivação das ações
complementares.
Os programas que engendram as
políticas públicas de inclusão social,
como o Programa Bolsa Família, são
orientados pela situação de vulnerabilidade socioeconômica. O conceito de
vulnerabilidade se destaca como ponto
de partida para diversas ações e projetos. Conforme Carla Bronzo, a vulnerabilidade deve ser entendida como a exposição das famílias a riscos de toda a
natureza que podem comprometer o ciclo de vida dos indivíduos e famílias:
"Vulnerabilidade relaciona-se com a exposição ao risco, por um lado, e com a
capacidade de resposta, material e simbólica, que indivíduos, famílias e comunidades conseguem fornecer para fazer
frente ao risco ou ao choque (que significa a materialização do risco)" (BRONZO, 2007). Diante disso, as políticas
públicas e programas como transferência de renda devem contribuir não somente para criar redes de proteção social, mas também para possibilitar "capacidade de respostas" a riscos que
determinada população pode vivenciar.
O Cadastro Único dos Programas
do Governo Federal (CadÚnico) compõe
uma base de informações utilizada pelos governos municipais, estaduais e
federal, que tem como finalidade obter
um diagnóstico socioeconômico das famílias beneficiárias. Isto possibilita um
mapeamento de dados que se constituem como instrumento de análise das
principais necessidades dessas famílias, contribuindo, portanto, para a formulação de políticas públicas e gestão intersetorial. Em Belo Horizonte, o CadÚ-
*
Márcia Marques Teixeira - Coordenadora Municipal de Programas de Transferência de Renda
Flávia Luciana Carvalho Resende - Gerente de Articulação e Integração de Ações de Transferência de Renda, Assistente Social, Especialista em Políticas Públicas.
***
Maria Thereza Nunes Martins Fonseca - Analista de Políticas Públicas, Mestre em Administração Pública, Doutoranda em Ciência Política.
****
Patrícia Borges Rego - Analista de Políticas Públicas, Assistente Social.
*****
Sandra dos Santos Queiroz Vieira - Socióloga, Mestre em Sociologia.
1
Famílias com renda per capita de até R$140,00 inseridas no Cadastro Único dos Programas do Governo Federal (CadÚnico).
**
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
5
nico possui uma base de dados atual de
126.472 famílias, das quais cerca de 70
mil são beneficiárias do Bolsa Família.
O Índice de Gestão Descentralizada (IGD), instituído pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, avalia a operacionalização do
programa. Isso significa que, ao atingir
mais de 70 pontos, o município alcança uma posição de destaque, conforme os parâmetros de análise, em relação à gestão de cadastro e no acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família. O município
de Belo Horizonte possui um dos melhores índices entre as cidades com
mais de 100 mil habitantes.
São previstas às famílias beneficiárias condições relativas à saúde, ao acesso à educação e à assistência social. O
objetivo das condicionalidades é assegurar que os beneficiários participem de
políticas sociais básicas, no intuito de
promover a melhoria das condições de
vida de seus membros, propiciando a
garantia dos mínimos sociais. Segundo
Sposati (2001), os mínimos sociais correspondem às necessidades fundamentais a serem satisfeitas pelas políticas
sociais. Em síntese, os mínimos sociais
são entendidos como um patamar do
padrão básico de qualidade de vida,
abaixo do qual nenhum cidadão brasileiro deveria estar. Esses mínimos sociais devem ser assegurados por um sistema de proteção social, cabendo ao
Estado a principal responsabilidade de
instituí-lo e gerenciá-lo.
O acompanhamento das condicionalidades do programa, juntamente
com o repasse da transferência de renda, pode impulsionar de forma positiva
a vida da população beneficiária, propiciando melhorias nas condições de
vida, maior acesso a bens de consumo, desenvolvimento nutricional e educacional, fatores esses imprescindíveis
ao desenvolvimento humano. Cada família responde aos estímulos concretos a que se encontram submetidas,
conforme estruturas, subjetividades e
vivências familiares. Se essas condicionalidades não se realizam, torna-se
possível identificar as famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social ou que apresentam dificuldades de
acesso aos serviços básicos.
Esse indicador possibilita ao município identificar e atuar, de modo a reverter situações de exclusão de acesso
a bens sociais básicos, que não estejam sendo oferecidos no nível exigido
pela demanda social local. São indica-
Intersetorialidade
A Prefeitura fez uma ampla campanha de
divulgação do Planseq da Construção Civil
dores que demonstram também as dificuldades dos grupos familiares em garantir proteção e promoção aos seus
membros. No caso de uma gestão intersetorial, como ocorre no município de
Belo Horizonte, as condicionalidades se
apresentam como norteadoras de ações
de promoção social, por identificar as
famílias em maior grau de vulnerabilidade social.
Em relação à saúde, as condicionalidades previstas pela Portaria MS/
MDS n.º 2.509, de 18 de novembro de
2004, estabelecem que as famílias com
crianças até 7 anos devem se comprometer com os cuidados em relação à
vacinação dessas crianças, mantendo
atualizado o calendário de vacinas, assim como mantê-las rotineiramente examinadas para verificação de pesos e
medidas, conforme determinações do
Ministério da Saúde. As gestantes devem participar do pré-natal, dando continuidade, após o nascimento da criança, à participação em atividades educativas desenvolvidas pelas equipes de
saúde sobre aleitamento materno e formas de alimentação saudável.
No que compete à educação, as
condicionalidades previstas pela Portaria MEC/MDS n.º 3.789, de 17 de novembro de 2004, determinam que as crianças de 6 a 15 anos devem estar matriculadas na escola e ter frequência mínima de 85% das aulas a cada mês. Os
adolescentes de 16 e 17 anos devem
estar matriculados na escola e ter frequência mínima de 75% das aulas a
cada mês.
As iniciativas intersetoriais são instrumentos eficazes para viabilizar estas
ações, o que exige definição de conceitos e planejamento de fluxos de ação
acordados entre os parceiros. As situações de exclusão são mais amplas que
a pobreza. As famílias beneficiárias
apresentam potencialidades e fragilidades, que precisam ser acolhidas e qualificadas sob uma perspectiva intersetorial. Cabe ressaltar que as políticas sociais são historicamente fragmentadas,
sobrepostas, e têm o indivíduo como
público de suas ações, que, em geral,
não são monitoradas e avaliadas.
A prática nos mostra que uma única política é insuficiente para atingir positivamente as condições complexas
dessas famílias. É imprescindível que os
gestores dessas políticas se articulem
para discutir os casos e definir os encaminhamentos e as ações intersetoriais
que levem aos resultados almejados.
Com esse propósito, a Prefeitura de
Belo Horizonte, através do Programa
Bolsa Família, criou e implementou o Núcleo Intersetorial Regional (NIR) nas nove
regionais administrativas. Esse núcleo foi
instituído em 2004 e ficou responsável
por articular práticas de ações intergerenciais. Em 2009, o NIR2 foi regulamentado através do Decreto n.° 13.660, de 3
de agosto de 2009, visando à promoção
da intersetorialidade e descentralização
das ações de inclusão social para as famílias atendidas nos Programas e Serviços Sociais do Município, com prioridade para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
O NIR é composto majoritariamente por representantes das gerências de
assistência social, saúde e educação. O
Programa Bolsa Família, ao criar o Núcleo Intersetorial Regional, possibilitou
um ambiente de encontro e discussão,
ampliando a construção de fluxos para
o atendimento às famílias. Como ocorre
na questão das ações para o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. A articulação entre
todas as políticas sociais da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte incorpora
serviços de proteção governamentais e
não governamentais. Essas atribuições
possibilitam a viabilização dos fluxos,
como citado anteriormente, para a gestão do programa e metodologias de políticas de atenção às famílias. As ações
complementares são contempladas neste espaço quando são definidas estratégias de ações intersetoriais voltadas
2
A experiência do NIR foi publicada no Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa Bolsa Família (PBF)/ MDS. Esse Observatório é um espaço que tem por
finalidade identificar, reunir e divulgar as boas práticas na gestão do PBF, desenvolvidas pelos estados e municípios, e apoiar a constituição de uma rede de gestores que
atuam na implementação e no acompanhamento do Programa.
6
PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Arquivo SMPS
à reinserção familiar e comunitária como
institui o decreto.
Os programas complementares são
ações nas áreas de geração de trabalho e renda, de acesso ao conhecimento dos direitos que visam a promover o
desenvolvimento social e econômico
sustentável das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família.
Atualmente, está sendo implementado em todo o Brasil, inclusive em Belo
Horizonte, o Planseq/Próximo Passo
(Plano Setorial de Qualificação e Inserção Profissional) para os Beneficiários
do Programa Bolsa Família. O objetivo
desse projeto tem sido a implementação de um modelo unificado de ações
complementares que ampliem as oportunidades de inclusão ocupacional dos
trabalhadores beneficiários do Programa Transferência de Renda e atender
à demanda de mão de obra qualificada
para as vagas criadas pelo crescimento econômico e inseri-los no mercado
de trabalho.
A Secretaria Municipal de Políticas
Sociais, por meio da Gerência de Coordenação dos Programas de Transferência de Renda, da Gerência de Coordenação dos Programas de Emprego e
Capacitação de Mão de Obra e do Núcleo Integrado de Apoio ao Trabalhador
(NIAT), articula ações de mobilização
com as famílias beneficiárias, a fim de
intensificar a divulgação dos cursos do
Planseq/Próximo Passo. Os cursos oferecidos são da área da Construção Civil
e Turismo.
A estratégia de mobilização adotada pelas redes intersetoriais da Prefeitura de Belo Horizonte leva em consideração as características da Cidade, a
divisão administrativa e as especificidades de cada Regional. O trabalho de
mobilização e sensibilização dos beneficiários está estruturado em três eixos:
O primeiro é a parceria com a URBEL
para mobilização e execução dos cursos nas áreas do Programa Vila Viva,
Orçamento Participativo da Habitação e
demais obras de urbanização dentro de
vilas e favelas. Outro eixo é a articulação com os Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS); escolas,
Centros de Saúde e demais programas
e serviços sociais, por meio dos Núcleos Intersetoriais Regionais. Por fim, a
integração das ações de mobilização
para a atualização cadastral e a divulgação para os cursos do Planseq/Próximo Passo constitui-se mais um eixo de
enfoque.
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais promove, também por meio do NIAT, ações para
mobilizar as famílias beneficiárias
É importante ressaltar aspectos relevantes na implantação do Planseq/Próximo Passo. Os atores envolvidos no
processo deparam, cotidianamente, com
desafios. Esses, contudo, ampliam e direcionam a construção das políticas públicas. No caso deste programa de qualificação, foi possível atentar para quesitos desafiadores, como as questões
institucionais entre Estado e entidades
executoras. Muitas dessas questões foram previamente definidas formalmente
no convênio; entretanto, não é possível
abranger todas as situações em que o
público alvo encontra-se inserido. Nosso desafio se coloca diante de uma população vulnerável, que tem na informalidade ocupacional um modo de sobrevivência e, também, decorre da percepção dessas transformações para melhor
inserir os beneficiários da Bolsa Família
nos padrões de exigência do mercado
profissional.
Inclusão produtiva
Outra ação complementar desenvolvida em Belo Horizonte é o projeto "Geração de trabalho e renda: construindo
uma alternativa solidária e cidadã". Esse
projeto constitui uma demanda do Minis-
tério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com recursos do
FINEP3, do Ministério da Ciência e Tecnologia, numa parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte4 e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
PUCMinas.
O objetivo desse projeto é a inclusão social e produtiva das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família,
com medidas de fortalecimento das políticas de segurança alimentar, de transferência e de geração de renda que integram o Programa Fome Zero.
O empreendimento está inserido em
uma proposta de desenvolvimento local,
um dos princípios da Economia Solidária
para viabilizar as demandas e o fortalecimento das comunidades, respeitando as
suas diversidades, potencialidades e os
desafios postos. Para tanto, vale ressaltar a articulação interinstitucional entre
organizações governamentais, não governamentais e setores representativos
das comunidades locais. Essa parceria
inovadora possibilita o estabelecimento
de uma rede de formulação e consolidação de conhecimentos e experiências.
Conforme o projeto implementado pelo
poder público e parceiros, a busca de alternativas é necessária para enfrentar o
3
A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à Ciência,
Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.
4
A Prefeitura de Belo Horizonte, representada pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais (SMPS), vinculada ao Programa Bolsa Família, pela Secretaria Municipal Adjunta dos Direitos de Cidadania (SMADC), pela Secretaria Municipal Adjunta de Abastecimento (SMAAB), pela Secretaria Municipal Adjunta de Assistência
Social (SMAAS) e pela Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
7
cenário de disparidades sociais a partir
do desenvolvimento e potencialidades
locais, minimizando o caráter distributivo
de riqueza desigual. Sobretudo, na perspectiva de gênero, tendo em vista a histórica discriminação das mulheres nos
processos decisórios. Esse projeto trata,
portanto, de um modelo de implementação de economia solidária alicerçada no
empoderamento feminino.
Os três empreendimentos econômicos solidários previstos no projeto (hortas com ervas finas, frutas desidratadas
e condimentos) foram desenvolvidos
com as beneficiárias do Bolsa Família
residentes na regional Barreiro. Essas
beneficiárias participam do projeto com
o plantio e manutenção da horta, elaboração dos doces e condimentos com a
supervisão de profissionais capacitados
para o acompanhamento. A partir disso,
os beneficiários encontram possibilidades de ocupação e perspectivas de
emancipação econômica.
As ações complementares do Programa Bolsa Família são também desenvolvidas na área da Região Metropolitana. A consolidação de conhecimento e
experiências já citados refletem no Fórum Metropolitano do Bolsa Família.
A Prefeitura de Belo Horizonte compõe a Comissão Organizadora do Fórum
Metropolitano do Programa Bolsa Família. Criado em março de 2007, o Fórum
é um espaço de interlocução entre os
municípios da região metropolitana de
Belo Horizonte para o aprimoramento da
gestão do Programa.
O objetivo do Fórum é manter um
espaço permanente de interlocução dos
municípios da região metropolitana; aprimorar e estimular a gestão intersetorial
do Programa Bolsa Família, organizando e integrando as ações das diversas
políticas sociais para a inclusão e promoção das famílias mais pobres do município. O Fórum conta com a participação de 34 municípios e representantes
das áreas de governo estadual e federal. Para sua implantação e coordenação, foi criada a Secretaria Executiva,
que é composta por dez municípios da
região metropolitana de Belo Horizonte5.
Nos encontros mensais, são debatidos diversos temas de interesse, em
busca de soluções aos desafios na gestão do Programa Bolsa Família. Essa
prática permitiu a criação de câmaras
temáticas para a análise de temas referentes à gestão das condicionalidades/
benefícios, do Cadastro Único. Trata-se
de uma experiência inovadora, reconhecida pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Conclusões
A intersetorialidade é o motor que
engendra as políticas sociais no município de Belo Horizonte e neste artigo
pretendeu-se expor a realidade das experiências inovadoras que se apresentam a partir deste modelo de estrutura
de gestão.
São muitos os avanços da gestão
do Programa Bolsa Família no município de Belo Horizonte e, também, são
grandes os desafios que se apresentam
para efetiva implementação da proposta intersetorial, por se tratarem de âmbitos específicos de ação com diversas
lógicas e temporalidades, o que inibe o
compartilhamento das ações e sua integração ao cotidiano.
O espaço fundamentado pelas políticas públicas que envolvem a descentralização constitui um ambiente propício
à emergência de novos atores sociais e
políticos. Como as experiências ocorridas
na Incubadora Tecnológica e no Planseq/
Próximo Passo que vem demonstrando
que a participação dos beneficiários no
planejamento, execução e avaliação das
ações é um instrumento de vigor que incita novas atitudes e vivências em relação às condições de superação de vulnerabilidades a que muitos desses participantes estão submetidos. Essas experiências, portanto, devem ser aperfeiçoadas, a fim de potencializar novos espaços de transformação social que visem
ao exercício da cidadania plena e à transparência na gestão pública.
É fundamental que haja um comprometimento com a prestação de serviços sociais para a população que garanta medidas eficazes, eficientes e, sobretudo, efetivas, capazes de identificar e implementar políticas que visem
a assegurar os mínimos sociais. O presente artigo sugere uma reflexão contínua em busca do aperfeiçoamento das
políticas aqui descritas.
Abstract
This article discusses the inovations happened in the management of the Family Scholarship Program in Belo Horizonte municipality through the intersectional
experience, understood as a policy that
aims to enlarge the completeness and
the synergy spaces of the public power
actions. The intersectionality is based on
actions on where its implantation permits
to experience the construction and the
policies effectiveness. Therefore, we will
deal here with the discussions that involve concepts that structure the Family
Scholarship Program and its management and the complementary actions
that were effectived from the spaces destined to the intersectionality.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de jan 2004.
BRASIL, Decreto Federal n.° 5.209, de 17 de setembro de 2004, Regulamenta a Lei n.° 10.836,
de 9 de janeiro de 2004, Diário Oficial da União, Brasília, 20 set 2004.
BRASIL, Portaria MS/MDS n.º 2.509, de 18 de novembro de 2004 Diário Oficial da União,
Brasília, 22 nov 2004
BRASIL, Portaria MEC/MDS n.º 3.789, de 17 de novembro de 2004 Diário Oficial da União,
Brasília, 18 nov 2004.
BRONZO, Carla. Vulnerabilidade, Empoderamento e metodologias centradas na família: conexões e uma experiência para reflexão. 2007. Disponível em http://
www.gestaodeconcurso.com.br/site/common/BaixarArquivo.aspx?guid=056ef1ec-cbe3-45c7952f-a6352747775c. acessado em 15/01/2010.
CKAGNAZAROFF, I. B.; Mota, N. R. Considerações sobre a relação entre descentralização e
intersetorialidade como estratégias de modernização de prefeituras municipais. In: Economia
e Gestão, Belo Horizonte, v. 3, n. 6, p. 23-41, dez. 2003.
Decreto Municipal n.º 13.660, de 3 de agosto de 2009.
FONSECA, M. T. N. M. e DINIZ, S. G. M. Trabalhando em rede nas políticas sociais. Revista
Pensar BH/Política Social, Belo Horizonte, n.o 3, p.26-28, mai/jul 2002.
INOJOSA, R. M. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social com intersetorialidade. São Paulo: Cadernos FUNDAP, n.o 22, 2001, p. 102-110.
MAGALHÃES, E. P. de; CORRÊA, I. M. Descentralização e intersetorialidade: desafios para a
gestão do BH-Cidadania. Revista Pensar BH - Política Social, n.o 10, p.5-9, junho de 2004.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Projeto de Geração de Trabalho e Renda :
construindo uma alternativa solidária e cidadã - Incubadora Tecnológica Solidária. 2005.
SPOSATI. Aldaíza de Oliveira. A inclusão social e o programa de renda mínima . Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, ed. Cortez, n.o 66, julho de 2001, p. 77-96.
TARABINI. Aina. Impactos educativos do Programa Bolsa Escola municipal de Belo Horizonte: limites e oportunidades. Revista Pensar BH - Política Social, Belo Horizonte, n.o 15, abril/
junho de 2006.
5
Os municípios que compõem a Secretaria Executiva são: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Caeté, Rio Acima, Nova Lima, Raposos, Pedro Leopoldo,
Ribeirão das Neves.
8
PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Gestão Municipal CONGONHAS
A mobilização e a organização Social
GERMANO DE SIQUEIRA CESAR*
O artigo relata a experiência de mobilização e organização social da Prefeitura
de Congonhas, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência
Social, considerando a participação como um valor democrático.
*
Arquivo PMC
A
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Congonhas recebeu como desafio
a incumbência de mobilizar a
opinião pública, agitar os movimentos
populares, promover os cidadãos congonhenses, torná-los protagonistas de
uma história criada por eles. Enfim, fazer com que a democracia, a organização e mobilização social de agora em
diante fizessem parte da vida dos 50 mil
habitantes da cidade.
Mobilização e Organização Social
é o envolvimento não de um, dois ou alguns indivíduos, mas de uma sociedade em prol de um objetivo. É a participação conjunta da comunidade, empresas,
governos, instituições, entidades e associações para o combate de um problema social: a fome, a pobreza, a violência, a ignorância, os descasos, os
desperdícios e uma infinidade de ações
repulsivas.
Ver o mundo através de uma janela é bem diferente de abrir a porta e ultrapassá-la. Deixando de lado o estado
contemplativo de observação, o melhor
é a interação e a participação em um
mundo que aguarda a mobilização e a
organização social. Para ir a seu encontro, a criação de programas que façam
com que a sociedade passe a se interessar e valorizar esse mundo, e que
nesse meio de convívio, seja um agente
protagonista e transformador.
Conscientizar a comunidade de que
a atividade desenvolvida pela organização, de alguma forma, contribui para a
melhoria do ambiente, das pessoas, da
qualidade de vida. Mostrar que ações
O processo de mobilização das pessoas para uma causa de longo prazo é constante
conjuntas, então, provocam maiores resultados ainda. Os gritos ouvidos a partir da organização serão mais fortes e
de maior alcance. E por que não dizer
mais objetivo, real e verdadeiro?
Mobilizar pessoas para uma festa,
uma passeata em prol de uma causa,
um protesto contra um governo indesejado ou multinacional que desagrade é
fácil. Difícil é fazer com que essas pessoas legalmente se organizem e mudem
de hábitos. É necessário entender que
o processo de mobilização para uma
causa de longo prazo é constante. Ou
seja, mobilizar para o presente é mais
tranquilo do que mobilizar para o futuro.
O futuro requer organização, planejamento, objetivo, e para o sucesso da
mobilização, a palavra de ordem é trabalho.
Se você faz parte de um conselho,
de uma associação, de uma entidade,
pensa e trabalha em prol da educação,
saúde, meio ambiente, trabalho, renda,
cultura, esporte, desenvolvimento rural,
desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, emprego, turismo, direitos humanos, habitação, saneamento,
lazer ou em qualquer outra política pública, para a credibilidade de seu pensamento e efetividade de seu trabalho,
a conscientização do seu meio de convivência deve manter um alinhamento de
objetivos e todas as suas pontas devem
estar amarradas. Isso define que os fins
justificam os meios.
Pergunte-se: "Qual o meu papel
neste Conselho?" ou "O que posso fazer para melhorar minha comunidade
fazendo parte desta Associação de Moradores?" ou "O meu interesse é o de
todos?". Depois disso, é promover ações
que possibilitem que aquilo que foi compreendido seja colocado em prática. De
Gestor da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Congonhas.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
9
que adianta fazer uma campanha, provocar debates consistentes ou contribuir
com atos cidadãos se não há interesse
no desenvolvimento social?
A organização social é a participação em um processo de mobilização
social, o que significa que pode ser ao
mesmo tempo meta e meio. Por isso,
não podemos falar da organização e
participação apenas como pressuposto,
como condição intrínseca e essencial de
um processo de mobilização. Ela de fato
o é. Mas ela cresce em abrangência e
profundidade ao longo do processo, o
que faz dessas duas qualidades um resultado desejado.
Considerar a participação como um
valor democrático: toda ordem social é
construída pelos homens e mulheres
que formam a sociedade. A ordem social não é natural e cada sociedade é que
constrói sua ordem social. Porque ela
não é natural é possível falar em mudanças. Quando a sociedade começa a
entender que é ela quem constrói a ordem social, vai adquirindo a capacidade de autofundar a ordem social, de
construir a ordem desejada, vai superando o fatalismo e percebendo a participação, a diferença e a deliberação de
conflitos como recursos fundamentais
para a construção da sociedade. A participação deixa de ser uma estratégia
para converter-se em ação rotineira,
essencial. Nesse sentido, a participação
é o modo de vida da democracia, o que
justifica a organização e a mobilização
social.
Com tudo isso, é necessário incorporar as propostas dos movimentos populares às do governo do momento. É
nosso dever colaborar com isso. Por que
não criar mais propostas e efetivar as já
existentes? Temos que unificar pensamentos, desenvolver ações. Hoje, percebo
como uma ação de realização é necessária e vou mais longe: temos de manter uma
relação de rotina com os movimentos populares. E tudo isso vem através da organização e a mobilização social.
A voz de Congonhas
Em 2005, o prefeito Anderson Cabido apresentou à cidade uma nova estrutura de governo. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que
além de coordenar as atividades de assistência e promoção do cidadão, prioriza, ou melhor, enfatiza o desenvolvimento comunitário, a opinião pública, os conselhos municipais, entidades, associações, os movimentos sociais e principalmente os populares.
Coordenar o planejamento e execução das ações relativas à mobilização e organização social, desenvolver
e implantar a assistência a movimen-
tos populares, interagir com os movimentos populares e auxiliar em sua organização, encaminhar solicitações das
entidades organizadas para providências, promover a articulação das secretarias do governo com as entidades organizadas, autorizar a subvenção social ou auxílio financeiro para entidades
sem fins lucrativos são competências
da Diretoria de Mobilização e Organização Social, portanto atribuições da
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
Para entendermos a força desse
trabalho em Congonhas, no período de
2005 a 2008, lembrando que a cidade
possui 50 mil habitantes, foram realizados 240 atendimentos a produtores rurais do Programa "Luz Para Todos"; 24
solicitações de terrenos e imóveis para
entidades; 44 acompanhamentos nas
eleições das associações; 208 atendimentos às demandas das associações;
124 atendimentos na orientação para
criação de entidades; 40 recebimentos
de reivindicações de bairros; 176 alterações, reformas ou emendas em estatutos; 796 elaborações de declarações,
editais, atas, ofícios; 248 esclarecimentos a reclamações diversas; 204 elaborações de projetos; 1.280 reuniões com
comunidades; articulação da participação de 300 lideranças diversas do município na audiência pública na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, na
qual a pauta era o "Luz Para Todos",
de 200 pessoas em encontro para debater Direitos Humanos na Romaria, em
Congonhas, de 300 pessoas, em média, nas Conferências Municipais, como
Cultura, Assistência Social, Mulher, Idoso, Juventude, Pessoas com Deficiência, Esporte, Criança e Adolescente,
Igualdade Racial, Antidrogas; 25 Conselhos Municipais foram criados, 90
entidades legalizadas.
A partir de 2009, a cidade de Congonhas redobrou a atenção ao movimento popular, com o fortalecimento
das entidades, associações e conselhos, a promoção de encontros, fóruns
e seminários, a capacitação de associações de moradores e conselhos municipais, o relacionamento entre município e entidades legalizadas, o acompanhamento de todos os projetos populares do município, a contribuição no
fortalecimento das associações de moradores. Buscou-se colocar o movimento popular como referência para os diversos segmentos populares e o convencimento às entidades, associações
e conselhos municipais para a necessidade de capacitação como rotina.
Buscou-se também o fortalecimento de
entidades, associações e conselhos,
aos quais foram distribuídas informações das políticas públicas.
10 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Vale a pena citar que em Congonhas a organização e mobilização social não estão presentes somente na legalidade das entidades ou na mobilização para audiências públicas e conferências. Estão presentes em tudo que
aconteça na cidade que promova o desenvolvimento e envolvimento do cidadão. No calendário de eventos do município, por exemplo, as entidades, associações, conselhos e ONGs contribuem
e participam na elaboração, planejamento e execução de festas como o Carnaval, Semana Santa, Semana de Museus,
Festival de Quitanda, Festival de Inverno, Semana do Aleijadinho, Semana da
Cidade, Natal Luz e Reveillon Popular.
E no final de 2009, a comunidade foi
chamada a participar dos diversos encontros em todos os bairros e regiões
da cidade, para conhecerem, discutirem
e efetivarem o Orçamento Participativo,
implantado pelo governo municipal em
setembro de 2009.
Abstract
The article reports the experience of the
social mobilization and organization of
Congonhas City hall, through the Municipal Secretary of Social Development
and Assistance, considering the participation as a democratic value.
Congonhas, seus
conselhos, suas
entidades,
suas associações,
seus números
I - Conselhos Municipais
1. Conselho Municipal de Assistência Social
- Lei 2.340, de 08/05/2002
2. Conselho Municipal Antidrogas - Lei 2.387,
de 19/11/2002
3. Conselho Municipal Gestor Programa Família de Congonhas - Lei 2.508, de 03/06/
2005
4. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Lei 2.542, de 15/
09/2005.
5. Conselho Municipal de Cultura - Lei 2.765,
de 21/12/2007.
6. Conselho Municipal de Defesa Social.
7. Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico - Lei 2.117, de 27/11/1996.
8. Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural e Sustentável - Lei 2.675, de 22/12/
2006.
9. Conselho Municipal de Educação - Lei
2.802, de 18/08/2008.
10. Conselho do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Básico - Lei
2.719, de 18/07/2007
11. Conselho de Alimentação Escolar - Lei
2.271, de 29/12/2000.
12. Conselho Municipal de Habitação - Lei
2.376, de 19/11 2002.
13. Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - Lei 2.385, de 19/12/2002.
14. Conselho Municipal da Juventude - Lei
2.789, de 23/04/2008.
15. Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - Lei 2.372, de
8/11/2002.
16. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Lei 2.812, de 4/11/2008.
17. Conselho Municipal da Igualdade Racial
- Lei 2.829, de 30/12/2008.
18. Conselho Municipal da Saúde - Lei 2.706,
de 16/07/2007.
19. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - Lei 2.513, de 24/
06/2005.
20. Conselho Municipal de Turismo - Lei
2.625, de 21/06/2006.
21. Conselho Municipal de Esporte e Lazer Lei 2.766, de 21/12/2007.
22. Conselho Municipal de Desenvolvimento
e Planejamento Urbano - Lei 2.768, de 27/
12/2007.
23. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Lei 2.813,
de 04/11/2008.
24. Conselho Curador do Fundo Profeta - Lei
2.336, de 07/05/2002.
25. Conselho Comunitário de Segurança
Pública.
II- Associações Comunitárias,
Entidades e ONGs de Congonhas
1. União das Associações Comunitárias de
Congonhas
2. Associação dos Amigos do Bairro da Praia
3. Associação dos Moradores dos Bairros
Basílica e Cruzeiro
4. Associação dos Moradores dos Bairros
Plataforma
5. Associação Comunitária de Dr. Joaquim
Murtinho
6. Associação dos Moradores do Distrito do
Alto Maranhão
7. Associação Comunitária Progresso
8. Associação dos Moradores do Bairro Novo
Rosário
9. Associação dos Moradores dos Bairros
Rosário e Alvorada
10. Associação Comunitária de Santa Quitéria
11. Associação dos Moradores dos Bairros
Unidos
12. Associação Comunitária do Povoado do
Pequeri
13. Associação de Desenvolvimento dos Bairros Vila Marques e Vila Cardoso
14. Associação Comunitária Nossa Senhora
Aparecida
15. Associação dos Moradores do Bairro Jardim Profeta
16. Associação dos Moradores do Bairro Boa
Vista
17. Associação Comunitária Lobo Leite
18. Associação Comunitária do Bairro Grand
Park
19. Associação Comunitária dos Moradores
do Campinho
20. Associação Comunitária do Bairro Nova
Cidade
21. Associação dos Moradores do Residencial Tancredo Neves
22. Associação Comunitária Lucas Monteiro
23. Associação Comunitária do Bairro Pires
24. Associação Comunitária do Bairro Zé Arigó
25. Associação dos Moradores do Bairro Dom
Silvério
26. Associação dos Moradores dos Bairros
Vila Andrezza e Jardim Vila Andrezza
27. Associação Comunitária de Autodesenvolvimento do Residencial Casa de Pedra
28. Associação de Moradores dos Bairros
Bom Jesus e Lamartine
29. Associação Comunitária do Campo das
Flores, Barnabé e Mineirinha
30. Associação dos Moradores do Bairro Eldorado
31. Associação dos Moradores dos Bairros
Vila Rica, Fonte dos Moinhos
32. Associação dos Moradores dos Bairros
Belvedere e Novo Belvedere
33. Associação dos Moradores da Matriz
34. Associação dos Moradores dos Bairros
Primavera e Rosa Eulália
35. Associação Comunitária do Bairro Ipiranga
36. Associação Comunitária Esmeril
37. Associação dos Amigos do Tijucal
38. Associação Comunitária da Vila Nereu e
Adjacências
39. Centro de Apoio ao Menor de Congonhas
40. ONG Mulher, Cidadania e Paz
41. Associação Cultural Canto Livre
42. Associação Cultural Palco Tablado
43. Associação de Dança, Arte e Cultura
44. Grêmio da Juventude de Congonhas
45. Sociedade Musical Nossa Senhora da
Ajuda
46. Corporação Musical Bom Jesus
47. Associação dos Pequenos Produtores e
Artesãos da Agricultura Familiar de Congonhas Nossa Família
48. Lar Comunitário das Operárias de São
José
49. Associação dos Catadores de Papel e
Material Recicláveis de Congonhas
50. Associação dos Pescadores Amadores
de Congonhas
51. ONG Associação Cultural Raça Negra
52. Clube do Cavalo de Congonhas
53. Associação dos Amigos Artechão
54. Associação Congonhense de Radioamadores
55. Golaço Esporte e Cidadania
56. Associação Ciclística de Congonhas
57. Associação Congonhense de Caminhadas 'Pelas Trilhas'
58. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Congonhas
59. Grupo da Melhor Idade Arte de Viver
60. Grupo Renascer da Terceira Idade
61. Grupo Reviver da Terceira Idade
62. Renasce Eterna Juventude
63. Grupo Poente Prateado - POP
64. Grupo Viver de Novo da Terceira Idade
65. Folia de Santos Reis e São Sebastião de
Congonhas
66. Folia de Santos Reis e São Sebastião de
Santa Quitéria
67. Folia de Santos Reis do Divino Espírito
Santo
68. Folia de Santos Reis de São Sebastião
com Proteção de São José
69. Folia de Santos Reis de São Sebastião
com Proteção de Nossa Senhora da Conceição
70. Bandas de Congado e Marujo Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia
71. Diretório Regional de Congado de Nossa
Senhora do Rosário, Folia de Reis e Pastorinhas de Congonhas
72. Associação Guarda de Marujos Marinheiro Sereia do Mar e Nossa Senhora do Rosário
73. Congado Dança de Langra do Alto Maranhão
74. Congado Nossa Senhora do Rosário Beija-Flor do Campinho
75. Associação de Artesãos e Produtores Caseiros de Congonhas e Região
76. Associação dos Vendedores Ambulantes
de Congonhas
77. Instituto Vida Nova
78. Associação Kioey Kay Kan Karate Do
79. Associação Hospitalar Bom Jesus
80. Conselho Central São Vicente de Paulo
81. Associação de Pais e Amigos do Excepcional
82. Lions Clube de Congonhas
83. Rotary Clube de Congonhas
84. Rotaract Clube de Congonhas
85. Casa da Amizade das Senhoras Rotarianas
86. Associação da Renovação Carismática
Católica
87. Associação Municipal de Pastores Evangélicos de Congonhas
88. Núcleo de Teatro Dez pras Oito
89. Associação Torcida Organizada Rapozama
90. Associação Orquidófila de Congonhas
91. Pastoral da Criança
92. Paróquia Nossa Senhora da Conceição
93. Paróquia São José Operário
94. Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja
95. Primeira Igreja Batista de Congonhas
96. Igreja Nacional do Senhor Jesus INSEJEC
97. Loja Maçônica de Congonhas
98. Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Congonhas
99. Agência para o Desenvolvimento de Congonhas
100. Sindicato Metabase dos Inconfidentes
101. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
102. Sindicato do Comércio Varejista de Congonhas
103. Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro
Branco e Congonhas
104. Associação dos Psicólogos do Alto Paraopeba
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
11
Pobreza
Exclusão: delimitação conceitual
e os desafios para a mensuração
CARLA BRONZO*
Alessandro Carvalho
Este texto trata da concepção de exclusão social e identifica, a partir da análise da
literatura, os limites e as possibilidades dessa concepção ampliada sobre a pobreza em
termos de sua operacionalização; ou, dito de outro modo, as consequências e implicações
para a mensuração da pobreza, quando esta é entendida sob a perspectiva da exclusão
social.
A identificação de quem são os pobres permite à PBH identificar o público alvo das suas políticas de proteção voltadas para a superação
das condições de privação, além de orientar a implantação de programs e equipamentos públicos
* Professora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, membro do Conselho Consultivo da Revista Pensar BH/Política Social
12 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
D
istintas abordagens levam a diferenças na identificação de quem são os pobres, a partir de distintas
formas de mensuração da pobreza, o que tem implicações para a política pública, incluindo, dentre outras coisas, o aspecto da focalização (Laderchi, Saith e Stewart,
2003, p. 26). Os critérios de focalização utilizados para definir
o público legitimamente demandatário das políticas estão diretamente relacionados com a concepção de pobreza que lhe é
anterior. Quer dizer, os critérios, escolhas e unidades de análise da focalização decorrem de definições prévias sobre o que
é a pobreza e como ela deve ser caracterizada. Também essas definições trazem, de forma mais ou menos explícita, uma
proposta de solução para o problema da pobreza.
Não se trata, contudo, de uma disputa apenas teórica ou
metodológica, uma vez que distintos enfoques e formas de
mensuração decorrentes conduzem à seleção de grupos distintos de beneficiários, o que impacta fortemente não apenas o
processo de focalização, mas também a proposição de alternativas de intervenção. É importante reter que o processo de
mensuração extrapola o âmbito de interesse propriamente
metodológico e remete ao tema das políticas públicas pela via
da focalização, da identificação de quem são os pobres e de
como deve ser feita a distinção entre os pobres e os não pobres, de forma a identificar o público-alvo das políticas de proteção voltadas para a superação das condições de privação.
Diferentes enfoques identificam dimensões distintas,
salientam aspectos da realidade como mais legítimos e adequados de serem considerados na mensuração do fenômeno, enquadrando as diversas situações de privação sob certas matrizes cognitivas e também valorativas e assim delimitam a realidade, construindo-a como objeto de análise e intervenção social.
Delimitações de um conceito:
as características da concepção de exclusão
Alguns estudos situam diferentes enfoques e tradições
no estudo sobre pobreza (Spicker, 2005; Mideplan, 2002; Laderchi, Saith e Stewart, 2003; Feres e Mancero, 2001; Franco, 2003), embora não haja consenso sobre os enfoques existentes. Os enfoques sobre a pobreza a compreendem, basicamente, como ausência de recursos monetários, de não realização de capacidades, como necessidades básicas insatisfeitas, como processos de exclusão e desqualificação social, como vulnerabilidade e riscos. Tais enfoques não incorporam ou enfatizam o mesmo conjunto de questões, relativas
à definição da pobreza, às suas causas, o que a faz permanecer, o que é necessário para superá-la.
Cada perspectiva constrói-se em torno de conceitos e
pressupostos teóricos chaves que orientam as metodologias
de mensuração. Os enfoques e as diferentes estratégias de
mensuração distinguem-se em pontos diversos: o grau em
que os parâmetros utilizados em um contexto podem ser aplicados sem alterações significativas em outros; a ênfase em
métodos objetivos ou subjetivos na mensuração do fenômeno; a visão uni ou multidimensional da pobreza; seleção de
unidades de análise (indivíduos, famílias, territórios); definições de cadeias de causalidade da pobreza e estratégias para
sua superação (Laderchi, Saith e Stewart, 2003).
Enquanto o enfoque monetário se distingue pela unidimensionalidade da abordagem, pela ênfase nos métodos objetivos, no foco em indivíduos ou unidades familiares identifi-
cados a partir da renda per capita, a perspectiva da exclusão
é multidimensional, focaliza os aspectos também subjetivos
e relacionais e amplia o olhar para o território e para coletivos
específicos. Se a definição de linhas de pobreza basta como
estratégia de mensuração (e focalização) pelo enfoque monetário, a perspectiva da exclusão demanda a construção de
outros parâmetros para identificar tais processos.
A emergência da concepção de exclusão social agrega
um outro olhar sobre a pobreza, ressaltando a presença, na
caracterização desse fenômeno, de aspectos subjetivos, relativos a valores, identidade, crenças e comportamentos,
apontando para a dimensão relacional presente na produção e reprodução da pobreza e para a dimensão de processo e trajetória.
Sem contornos claros, com fronteiras amplas e ambíguas, o conceito de exclusão é abordado diferentemente por
diversas tradições disciplinares e enfoques. Exclusão é um
termo utilizado, frequentemente, para se referir a todo tipo de
mazela social, e é usado de forma pouco parcimoniosa com
sentidos sobrepostos, referindo-se a fenômenos diversos, tais
como pobreza, desigualdade, isolamento, preconceito, privação, vulnerabilidade, dentre outros. É criticado por alguns
autores, por um lado, devido à sua generalidade, imprecisão
e ambiguidade, e defendido por outros pelas possibilidades
abertas de investigação empírica. Mesmo tendo emergido tão
recentemente, e apresentando contornos fluidos e consensos fracos sobre o seu significado e alcance, ganhou centralidade nos discursos e na agenda política internacional, nos
conselhos de decisão mundial e nas agências internacionais,
ocupando grande espaço na produção acadêmica e de pesquisa atual (Laderchi, Saith, Stewart, 2003, p. 20)1.
A aparição do termo exclusão data de meados da década de 1960, na Europa, e, naquele momento de prosperidade
econômica, a noção remete a uma população mantida à margem do progresso econômico e da partilha dos benefícios do
desenvolvimento2. O sentido e o sentimento que tal termo carrega dizem respeito a uma desilusão com o progresso que,
em sua marcha, não consegue erradicar os mecanismos de
reprodução da miséria. A concepção de exclusão, nesse momento, refere-se a uma espécie de "resíduo inevitável", que
não confere ameaças, entretanto, à sobrevivência do conjunto da sociedade. A noção envolvia diferentes tipos de problemas e condições individuais e coletivas, relacionadas à inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho, situações de dependência, segregação, grupos vulneráveis afetados por situações de desestruturação familiar, por doenças
e incapacidades ou por condições específicas ligadas ao ciclo de vida familiar (Lavinas, 2003; Haan, 1999; Laderchi,
Saith, Stewart, 2003; Burchardt, Le Grand, Piachaud, 2002;
Silver, 1995). O conceito chamava a atenção para diversos
tipos de pessoas — os inadaptados sociais — que não conseguiam viver de forma socialmente adequada, que não compartilhavam dos frutos do crescimento ou das marés cheias
dos ciclos de prosperidade econômica. A emergência do conceito de exclusão não respondeu a uma necessidade teórica,
sendo que o uso do termo não tinha pretensões de funcionar
como categoria analítica, mas antes como elemento que norteasse a formulação de políticas, que dirigisse a ação governamental de forma consistente a grupos menos favorecidos.
O termo se expande a partir dos anos 1980 na Europa,
quando os analistas articulam o fenômeno da exclusão aos
processos de instabilidade dos vínculos entre indivíduos e
1
O enfoque da exclusão foi adotado recentemente pela União Européia para analisar processos e condições de pobreza nos países europeus contemporâneos, ganhando
espaço cada vez maior nos discursos programáticos e nos estudos e produção teórica e acadêmica latino-americana.
2
De acordo com Paugam, o termo exclusão aparece inicialmente em uma obra (L´exclusion social) publicada no auge do movimento internacional ATD Quart Monde, por
seu fundador, Joseph Wrésinski e também no documento (Les dividendes du progrés) de Pierre Massé, secretário geral do Plano do governo francês (Paugam, 1996, p.9).
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
13
sociedade, tendo como referência central a dimensão do trabalho. As mudanças no mercado de trabalho e os processos
decorrentes da globalização levam à ampliação do conceito
de exclusão para referir-se aos fenômenos provocados pelo
desemprego recorrente, de longa duração, pela inserção pouco qualificada de indivíduos no mundo do trabalho, ressaltando as consequências, também sociais, daí advindas. Os temas da nova pobreza e a dimensão da precariedade ocupam
a cena e os debates na França, sendo sob esse registro que
o fenômeno da pobreza passa a ser enfocado nos anos 1980.
O foco não reside mais nos grupos marginais, mas sim em
grupos de pessoas que tinham um emprego e um lugar social
e foram deslocados em função da instabilidade econômica e
do mercado de trabalho, os novos pobres.
Os estudos nessa época e com essa abordagem centram-se na análise das trajetórias sociais e profissionais, nos
comportamentos e formas de adaptação diferenciadas frente
às mudanças do mercado de trabalho e novas configurações
do Estado e da sociedade. A constatação, cada vez mais clara, era que o desemprego e a precariedade do trabalho tinham consequências para além da renda, provocando alterações em outras dimensões da vida social, enfraquecendo
laços e redes sociais, diminuindo a autoestima, provocando
o isolamento e a apatia (Saith, 2001, p. 3). Nesse sentido, o
conceito de exclusão deixou de referir-se a grupos periféricos
ou desviantes para constituir-se em uma situação que afeta a
todos em uma sociedade, remetendo à natureza dos vínculos que unem indivíduos e sociedade, ligada ao tema da coesão social. O conceito sinaliza, e essa constatação é sua
marca, processos de desintegração social, ameaças de ruptura nas relações entre indivíduo e sociedade. O conceito de
exclusão coloca com toda a ênfase a questão da ordem social e também aponta para os limites da excessiva desigualdade e destituição para a vigência da democracia e o efetivo
exercício dos direitos sociais.
A partir dessa perspectiva, inúmeros programas foram
desenvolvidos nos anos 80 do século passado, no âmbito
do sistema francês de proteção social, todos ancorados em
uma visão republicana do Estado e da sociedade, sustentados pelas noções de solidariedade, coesão, laços sociais (Silver, 1995, p. 64). Trata-se, portanto, da dimensão da integração social, eixo central para compreender a vida social. Robert Castel fornece a base para a concepção de exclusão
como ameaça à coesão social, ainda que adote o termo de
desfiliação e não de exclusão para se referir ao sentido de
perda de raízes, como fenômeno que "situa-se no universo
semântico dos que foram desligados, desatados, desamarrados, transformados em sobrantes, inúteis e desabilitados
socialmente" (Kowarick, 2002, p. 73). Castel aborda o conjunto das transformações econômicas e sociais tendo como
base a questão social, entendida a partir das possibilidades
de manutenção do tecido social: "a aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de sua
coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. É um desafio
que interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade (o que, em termos políticos, se chama de uma nação)
para existir como um conjunto ligado por relações de interdependência" (Castel, 2003, p. 30).
O autor prefere os termos desfiliação e invalidação social
ao de exclusão e justifica sua posição afirmando que o conceito de exclusão é estanque, e não captura processos, percursos e trajetórias que a determinam. Entretanto, é importante
salientar que não parece haver uma distinção substantiva entre esses dois conceitos — exclusão e desfiliação, ao se considerar que grande parte da literatura reconhece a dimensão do
processo como crucial para caracterização do fenômeno da
exclusão. Mas Castel enfatiza essa distinção. Para esse autor,
o foco da concepção de desfiliação está na visão dos proces-
14 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
sos que levam da integração à vulnerabilidade, ou da vulnerabilidade para a "inexistência social". Seu objetivo, como ele
próprio afirma, é:
"dimensionar este novo dado contemporâneo: a presença,
aparentemente cada vez mais insistente, de indivíduos
colocados em situação de flutuação na estrutura social e
que povoam seus interstícios sem encontrar aí um lugar
designado. Silhuetas incertas, à margem do trabalho e nas
fronteiras das formas de troca socialmente consagradas
— desempregados por período longo, moradores dos subúrbios pobres, beneficiários da renda mínima de inserção, vítimas das readaptações industriais, jovens à procura de emprego e que passam de estágio a estágio, de pequeno trabalho à ocupação provisória... — quem são eles,
de onde vêm, como chegaram ao ponto em que estão, o
que vão se tornar?" (Castel, 2003, p.23).
O autor privilegia a categoria de trabalho e assalariamento, na análise da questão social, identificando a emergência de uma nova instabilidade com o fim do trabalho como
eixo privilegiado de integração social, ou como ele diz, como
"suporte privilegiado de inscrição na estrutura social" (Castel,
2003, p. 24). O foco reside nas relações existentes entre a
precariedade econômica e a instabilidade social, sendo a "vulnerabilidade social uma zona intermediária, instável, que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes
de proximidade" (Castel, 2003, p. 24).
Para esse autor, a dimensão econômica, pautada pela
estabilidade e regularidade do trabalho, e a dimensão social,
referindo-se às redes de sociabilidade primária — família, vizinhança, comunidade — configuram quatro zonas: de integração, vulnerabilidade, assistência e desfiliação. A primeira,
integração, reflete uma situação de emprego estável e relações sociais sólidas; a vulnerabilidade é marcada por uma
fragilização das condições de inserção produtiva e social; a
assistência configura uma situação na qual o recebimento de
subsídios públicos constitui a forma de se evitar um desligamento social e econômico e a desfiliação marca uma situação de desemprego e de perda dos laços sociais (Kowarick,
2002, p. 73). A coesão de um conjunto social é dada, segundo Castel, a partir do equilíbrio existente entre essas zonas. A
redução e o controle das zonas de vulnerabilidade é condição para manutenção do equilíbrio social, para a "estabilidade de sua estrutura". Castel se pergunta, contudo, se a expansão da zona de assistência seria a única saída para fazer
frente à fratura na zona de integração, à expansão da zona
de vulnerabilidade e à desfiliação (Kowarick, 2002, p. 73).
A concepção de trajetória é trabalhada de forma mais
explícita no trabalho de Serge Paugam (2003), que de forma
mais concreta que Castel, incorpora as categorias de dinâmica e processo na análise das trajetórias das famílias em situação de pobreza, destituição ou exclusão social, enfatizando
as diversas situações de vulnerabilidade que minam a ordem
e a coesão social. Na esteira da produção francesa sobre o
tema da exclusão social, esse autor aborda o tema da "desqualificação" social, relacionando os processos de desqualificação aos serviços de proteção social. A abordagem de Paugam insere-se no campo de uma sociologia compreensiva
que busca recuperar, para além das condições objetivas da
pobreza, o sentido e o significado que as pessoas conferem
à sua situação vivida, tendo como pano de fundo questões
relativas à construção da identidade, status e resistência ao
estigma, variáveis centrais para compreender o processo de
desqualificação social, tendo como foco grupos e indivíduos
que gravitam, com intensidade distinta, em torno do sistema
francês de proteção social.
O ponto pelo qual a formulação de Paugam é pertinente refere-se à abordagem da pobreza a partir dos processos
de identificação operados pelos serviços sociais. Os pobres,
e, portanto, legítimos demandatários das políticas de proteção social, constituem uma categoria construída pelos agentes das políticas de proteção, e a pobreza é examinada sob
a ótica dos serviços sociais, a partir das relações que se
processam entre os beneficiários e agentes da intervenção
pública. O mérito do trabalho de Paugam reside em analisar
como processos e trajetórias de exclusão interagem com dinâmicas que ocorrem no campo do sistema de proteção social, cuja atuação pode ter um impacto profundo nas condições de vida dos indivíduos intitulados pobres, redefinindo
ou reforçando essas mesmas trajetórias. Esse ponto é fundamental para o exame das implicações para as políticas
públicas de inclusão social.
Ao enfatizar a dimensão dos processos e trajetórias, essa
abordagem lança luz sobre as estratégias de prevenção e
não apenas de superação das condições de pobreza e exclusão. Esse pode ser um grande mérito que tende a passar
despercebido nas discussões conceituais sobre pobreza: em
que, medida a concepção de exclusão, resulta em uma nova
orientação na intervenção social, no conteúdo e na forma de
prestação de serviços sociais. Sob a perspectiva da exclusão, a estratégia de ação pode estar mais fortemente orientada para a prevenção, com maior atenção aos processos que
levam da vulnerabilidade e precariedade à desqualificação e
exclusão social. Um ponto importante, presente nos estudos
sobre processos de exclusão, consiste em afirmar que estes
processos são dinâmicos, mas não inexoráveis. As políticas
públicas, econômicas e de proteção social, são fundamentais na reversão de processos de exclusão, desfiliação ou desqualificação social.
Ao se buscar uma definição mais precisa do conceito,
alguns elementos são comuns em praticamente toda a literatura analisada sobre o tema da exclusão. Vários autores salientam tais características, configurando um mesmo, ou bastante similar, conjunto de questões. De forma geral, entretanto, encontra-se estabelecido na produção sobre o tema (Atkinson, 1998; Laderchi, Saith, Stewart, 2003; de Haan, 1999,
2004; Hills, 2002) um conjunto de aspectos ou elementos que
fazem parte estruturante da noção de exclusão.
Antes de mais nada, o conceito de exclusão envolve, de
uma forma ou de outra, uma dimensão contextual. A ideia básica é que o todo processo de exclusão traduz um fenômeno
contingente e modelado a partir de características próprias de
diferentes sociedades e culturas (Atkinson, 1998, p 13). Exclusão se define a partir dos padrões de integração vigentes em
cada sociedade particular: "la exclusión es una construcción
social contingente que realiza cada sociedade de modo particular" (Mideplan, 2002, p. 30). Essa dimensão relacional não
se expressa apenas no fato de a exclusão ser socialmente construída, na medida em que cada sociedade define seus padrões
de integração social, mas também no fato de a exclusão ser
produto de relações e interações sociais.
O enfoque da exclusão identifica como base de análise
as relações sociais, os grupos e comunidades mais do que
indivíduos (Mideplan, 2002, p 30; Atkinson, 1998, p 14; Sen,
2000; Hills, 2002; Laderchi, Saith, Stewart, 2003, p. 21). A
ênfase nas relações sociais, a natureza e a qualidade dos
laços sociais, é o que constitui, de acordo com vários autores, a matriz genética básica do conceito. A situação na qual
um indivíduo se encontra não depende apenas ou é decorrente somente de seus recursos próprios, mas também dos
recursos da comunidade local, familiares e tradições locais,
padrões de cooperação e redes de sociabilidade. A atenção
às dimensões menos tangíveis do processo da pobreza, tais
como perda da autoestima e da identidade, enfraquecimentos dos laços familiares, sociais e comunitários, com repercussões na manutenção da coesão social, das redes de reci-
O conceito de exclusão sinaliza
processos de desintegração social,
ameaças de ruptura nas relações
entre indivíduo e sociedade.
procidade e solidariedade, é o que constitui, para vários autores, a especificidade e a relevância da concepção de exclusão social (Sen, 2000; Atkinson, 1998).
Além de ser relacional, a exclusão aponta sempre para
um processo, devendo ser vista como uma dinâmica e não
como um estado, o que valoriza uma compreensão mais ampla do problema (Mideplan, 2002, p 30; Hills, 2002) e envolve
expectativas sobre o futuro. Isso significa que as expectativas de futuro são tão relevantes quanto as circunstâncias
correntes para a definição da exclusão, bem como ganha
centralidade o processo que gera privação: "a definição da
exclusão social tipicamente inclui o processo de se tornar
pobre, bem como os resultados da privação" (Laderchi, Saith, Stewart, 2003, p. 21, tradução livre). Na concepção de
exclusão, a dimensão do tempo é central.
Uma terceira característica é que a concepção de exclusão chama atenção para a noção de agência, outra característica que, ao lado da relatividade e do caráter dinâmico do fenômeno, constitui o conjunto de características
definidoras da concepção de exclusão. Isso significa que
exclusão implica ato, tem sempre presente uma dimensão
de ação: "Pessoas podem ser excluídas por decisões bancárias de não oferecer crédito, ou pelas companhias de seguros que não fornecem cobertura. Pessoas podem recusar
empregos preferindo viver de benefícios ou ainda podem
ser excluídas do trabalho por ações de outros trabalhadores, sindicatos, empregados ou governos." (Atkinson, 1998,
p. 14. tradução livre).
Embora pouco explorado pelo autor, o tema remete à
responsabilidade de atores diversos na produção do fenômeno da exclusão, dimensão ausente nas perspectivas do enfoque monetário ou no das necessidades básicas (Laderchi,
Saith, Stewart, 2003, p. 23). Também Gomà atribui essa característica como definidora da concepção de exclusão: essa
consiste no fato deste ser um fenômeno inscrito em atos e
decisões de agentes. Isso quer dizer que a exclusão, a desigualdade ou marginalização não estão inscritas de forma fatalista no destino das sociedades e seriam passíveis de reversão. Nesse caso, o que se pontua é que se deveria falar
de exclusões e não de exclusão, já que cada sociedade, cada
tempo e lugar apresentam seus limites próprios de inclusão/
exclusão. A agência relaciona-se com atitudes e decisões de
agentes públicos, mas também com atos e escolhas dos próprios excluídos. O fato de dotar a idéia de exclusão de uma
clara dimensão estrutural deve ser articulado com sua natureza relativa e emoldurada por uma rede de agentes que tomam decisões, das quais podem originar-se processos de
exclusão. Em outras palavras, estrutura e agência se combinam nas raízes da exclusão, de forma específica, em lugares
e tempos concretos" (Gomà, 2004, p. 4).
Essa característica, embora pouco enfatizada na literatura examinada, é fundamental para reposicionar o conjunto da
sociedade no enfrentamento da exclusão. Nessa perspectiva,
a pobreza deixa de ser um atributo ou condição individual e
sua solução remete ao conjunto da sociedade e suas instituições, em especial aos sistemas e serviços de proteção social.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
15
Outra característica essencial da perspectiva de exclusão, embora Atkinson não o reconheça explicitamente, relaciona-se com o fato da exclusão ser um fenômeno multidimensional. Este remete ao mesmo tempo a uma questão
econômica (acesso de indivíduos aos meios para satisfazer
suas necessidades básicas); ao campo político (direitos) e a
aspectos socioculturais (participação de indivíduos em redes
e relações entre atores, grupos e instituições sociais). Essas
dimensões estão interrelacionadas, com intensidade e gradações variadas, o que faz com que as situações de exclusão sejam múltiplas (Mideplan, 2002, p. 30), o que faz como
que seja problemática uma intervenção unidimensional e setorial da exclusão social. "Marginalização, como temática da
agenda pública, requer abordagens integrais em sua definição e horizontais ou transversais em seus processos de gestão" (Gomà, 2004, p. 18).
Tem-se, como síntese, que o enfoque da exclusão social
enfatiza e confere centralidade às relações sociais, focalizando
os grupos, mais do que os indivíduos isoladamente; diz respeito a processos e trajetórias e não a condições estáticas;
aponta para a natureza multidimensional dos fenômenos da
pobreza, destituição e privação, abrindo caminhos amplos
para o uso de indicadores sociais e para o desenvolvimento
de metodologias mais qualitativas, que resgatam dimensões
também subjetivas do fenômeno.
Como se relacionam as concepções de pobreza e exclusão? Tradicionalmente o conceito de pobreza apresenta
uma forte perspectiva econômica e um viés unidimensional,
enquanto o conceito de exclusão aponta não apenas para a
multidimensionalidade como também para as dimensões não
materiais e relacionais (Mideplan, 2002, p. 30). Esses processos podem ou não convergir, e, nesse caso, pessoas podem ser pobres sem serem excluídas e podem ser socialmente excluídas sem serem pobres (Atkinson, 1998, p. 9).
Embora pobreza e exclusão não sejam termos idênticos, ter
renda (e nesse sentido, não ser pobre) é parte essencial de
um programa de redução da exclusão, como afirma o autor:
"enquanto pobreza não é o mesmo que exclusão, aumentar
a renda das pessoas via seguridade social é uma parte essencial de qualquer programa para reduzir exclusão" (Atkinson, 1998, p. 11. Tradução livre). Uma hipótese de trabalho,
aqui considerada, é que o conceito de exclusão complementa
o de pobreza, ao contemplar um espectro maior e mais diversificado de aspectos.
Críticas ao conceito de exclusão
e limites de sua aplicação em
países em desenvolvimento
Uma crítica forte à concepção de exclusão é a de que
esse seria um termo vago, impreciso e sobreposto ao conceito
de pobreza. Para alguns autores, dentre eles Amartya Sen,
concepções mais amplas sobre a pobreza não teriam nada a
dever a concepções emergentes ligadas à exclusão social.
Nesse sentido, consideram que exclusão não acrescenta nada
ao conceito de pobreza, sendo irrelevante ou, em alguns casos, servindo para identificar um subgrupo de pobres, "os mais
3
pobres dos pobres" (Burchardt, Le Grand, Piachaud, 2002, p.3).
Embora reconhecendo que a concepção de exclusão seja uma
formulação engenhosa, alguns autores salientam que não há
verdadeira inovação no uso dos termos exclusão em relação
ao de pobreza, muito menos no que se refere a formas de
mensuração e nesse caso seria um exagero afirmar que se
trata de um novo enfoque. Incorporar dados sobre domicílios e
não sobre indivíduos ou ampliar o arco de indicadores relevantes para identificar ausência de recursos ou ainda expandir o
horizonte de tempo para análises dinâmicas — que seriam as
formas de mensurar a exclusão — não são suficientes para se
dizer que se trata de algo realmente inovador (Burchard, Le
Grande e Piachaud, 2002, p. 5).
Em outro registro, Amartya Sen (2000) desenvolve um
argumento forte para atenuar a novidade conceitual da exclusão. O que o autor faz é inserir essa concepção no marco de
análise da pobreza como privação de capacidades, entendendo a privação de relações sociais — termo equivalente
ao de exclusão, para esse autor — como uma privação em si
e como causa de outras privações. Esse autor afirma, de forma categórica, que o enfoque da exclusão representa uma
continuidade e uma ampliação do enfoque das capacidades3,
mais do que sua negação ou superação. Sen reconhece que
a importância do conceito reside menos na novidade conceitual que supostamente apresenta e mais na ênfase que essa
perspectiva coloca nos aspectos relacionais4.
A ênfase prática que o conceito de exclusão coloca nos
aspectos ou dimensões relacionais abre um vasto campo de
investigações e reside aí, para esse autor, a maior contribuição
que pode ser dada pela perspectiva da exclusão social. De acordo
com o argumento de Sen, a "vantagem investigativa" da concepção de exclusão está em possibilitar a análise de causas e
interrelações entre as diversas privações, ao ajudar a compreender como aspectos relacionais influenciam a geração de outras privações, mais tradicionalmente reconhecidas no escopo
do enfoque das capacidades (Sen, 2000, p. 10)5.
Apesar de Sen não reconhecer a ruptura trazida pela
concepção de exclusão nos estudos sobre pobreza, uma parte significativa da literatura pontua exatamente o oposto: a
fissura radical que esse enfoque traz na percepção sobre a
natureza da pobreza e sobre as formas de mensuração.
De outra perspectiva, outras críticas à ideia de exclusão
referem-se às implicações de se buscar traduzir a concepção
de exclusão, forjada em contextos de países desenvolvidos,
centrada nos eixos do trabalho e proteção social, para países
em desenvolvimento, com altos níveis de desemprego e privação básica, que não contam com sistemas consolidados
de bem-estar social. Nesse sentido, o termo exclusão, forjado na Europa ocidental e identificado com os eixos do trabalho e da proteção do Welfare State, encontraria limites para
ser aplicado a outros contextos. O status em relação ao emprego é definidor da condição ou não de excluído, na concepção original do termo. Também a inserção ou não no sistema
de proteção caracteriza a exclusão social: ser excluído é ser
excluído do sistema. Nos países desenvolvidos, a vigência
de sistemas mais estruturados de proteção social garante seguros, renda e inclusão no sistema de bem-estar. Entretanto,
Na perspectiva das capacidades, a pobreza é definida como carência ou privação de capacidades, sendo pobres aqueles que carecem de capacidades básicas para
operarem no meio social, que carecem de oportunidades para alcançar níveis minimamente aceitáveis de realizações, o que pode independer da renda que os indivíduos
possuem.
4
Ao buscar exemplificar alguns casos que podem ser beneficiados com o uso da perspectiva da exclusão, Sen identifica e discrimina diversas explicações causais possíveis
para os fenômenos da fome e da inanição: dentre essas causas, têm-se as que apresentam um caráter mais "natural" (perda da colheita devida a fenômenos climáticos),
outras que se referem a causas macroeconômicas (desemprego) e relativas às alterações no mercado (mudanças nos padrões de preço relativos), e outras que apresentam
um caráter mais diretamente relacional e, portanto, melhor focalizadas sob as lentes da exclusão social. A fome pela retirada dos subsídios concedidos a alguns grupos
envolve uma forma ativa de exclusão que é central para um bom entendimento da questão, como afirmado por Sen (2000, p. 11).
5
Um exemplo óbvio é quando a privação da sociabilidade reduz as oportunidades econômicas que advêm dos contatos sociais, seja através do conhecimento da oferta de
vagas de trabalho, acesso a créditos e subsídios econômicos.
16 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
ainda que incluídos no sistema, os desempregados são considerados excluídos socialmente. Isso porque a questão do
desemprego não diz respeito somente à renda ou à produção, como visto a partir de Castel (1998), mas também se
refere à dimensão da sociabilidade, da identidade, dos laços
sociais e sentimento de pertencimento e autoestima. Os excluídos são excluídos, sobretudo, do ponto de vista das relações sociais.
No entanto, nos países em desenvolvimento, a estrutura
do mercado de trabalho (tendo a informalidade e sazonalidade como características principais) tornaria problemática a
aplicação do conceito (Saith, 2001, p.8). Na visão de Saith,
dadas as diferenças estruturais entre os contextos, seria preferível incorporar algumas vantagens do conceito de exclusão — tal como a ênfase nos processos — no interior dos
enfoques existentes e dominantes nos países em desenvolvimento, a tentar modificar e adaptar, para países em desenvolvimento, uma concepção formulada para o contexto e a
realidade de países desenvolvidos (Saith, 2001, pp.13,14).
Essa crítica é pertinente, uma vez que as realidades da Europa e América Latina são distintas quanto à incidência/magnitude e severidade da pobreza e quanto à abrangência dos
sistemas e políticas existentes.
Entretanto, existem também posições que sustentam a
relevância e a utilidade da aplicação da noção de exclusão,
mesmo em países em desenvolvimento e com pobreza de
massa. Segundo De Haan (1999), existem razões pelas quais
o conceito de exclusão apresenta vantagens ao ser utilizado
aí. Para o autor, duas características seriam centrais na definição da exclusão: o enfoque multidimensional e o foco nas relações e aspectos sociais e psicológicos da privação (De Haan,
1999, p. 10). Pelo fato de nos países em desenvolvimento existirem distintos e múltiplos níveis de privações, a perspectiva da
exclusão, com o foco na multidimensionalidade, poderia funcionar melhor do que nos países desenvolvidos, para analisar
como se sobrepõem os diversos vetores de privação em cada
contexto específico. Nessa perspectiva, a pobreza como ausência ou insuficiência de renda seria um elemento da exclusão social, sendo que as políticas de redução da pobreza fazem parte, necessariamente, de estratégias de integração social (De Haan, 1999, p. 11). Quanto ao aspecto relativo às dimensões relacionais do fenômeno da privação, o autor sustenta que não há diferenças substantivas entre as agendas
dos países desenvolvidos e em desenvolvimento no combate
à exclusão e por isso considera útil a utilização do conceito
também nos países em desenvolvimento.
A mensuração da exclusão:
dificuldades de operacionalização
Como já dito, o tema da mensuração encontra seu sentido maior quando se relaciona com a questão da focalização, estando assim situado no plano mais específico das estratégias e ferramentas de intervenção no campo da formulação e avaliação de políticas públicas. Se, do ponto de vista
teórico e analítico, os diferentes enfoques divergem e se distinguem quanto à caracterização da pobreza, e se tais concepções divergentes levam a diversos métodos de mensuração e a diferentes resultados, as consequências práticas não
são irrelevantes, principalmente do ponto de vista das políticas públicas. O tema da mensuração a partir de diferentes
concepções teóricas ganha, assim, uma importância analíti-
Diferentes enfoques podem
identicar direrentes grupos de
pobres, o que tem implicações
diretas na provisão de bens
e serviços públicos.
ca adicional. Esse ponto ganha importância não pela questão propriamente metodológica, mas pelo fato de que diferentes enfoques podem levar, entre outras coisas, a identificar diferentes grupos de pobres, o que tem implicações diretas na provisão de bens e serviços públicos, definindo público-alvo das intervenções, orçamentos e alocações de recursos públicos. Que diferenças ocorrem, na prática, quando métodos alternativos são usados? Os universos delimitados são
os mesmos? Se sim, o uso da renda como base de mensuração, apesar de suas deficiências teóricas, poderia ser utilizado como proxy de outras privações.
Em torno dessas questões, Laderchi, Saith e Stewart
(2003) identificaram estudos empíricos levados a cabo em
diferentes países e que são instigantes do ponto de vista de
seus resultados. Comparando a medida de pobreza pela renda (pobreza monetária) com a mensuração sob o enfoque da
capacidade (mensurada pelo acesso a água, esgoto e pelos
indicadores de educação e saúde) não há uma congruência
ou uma grande sobreposição dos universos mensurados pelos dois enfoques. Existe uma "limitada consistência empírica" entre os enfoques, sendo que essa questão não é banal.
O que é difícil de aceitar é como baixos níveis de pobreza
medidos por um enfoque sejam compatíveis com alto índice
de pobreza em outro. O que os estudos mostram é uma significativa ausência de sobreposição em identificar os indivíduos pobres em um e outro enfoque. Por exemplo, na Índia,
43% das crianças e mais de 50% dos adultos considerados
pobres pelo enfoque das capacidades, não eram pobres no
enfoque monetário e no Peru um terço dos adultos e crianças
considerados pobres do ponto de vista da capacidade educacional não eram pobres na medida monetária. Quando a comparação é com o enfoque participativo, que considera a percepção das pessoas sobre sua condição, as distâncias são
ainda maiores. Na Índia, apenas metade dos classificados
com baixo bem-estar (enfoque participativo) eram pobres
quanto a renda. No Peru, 48% não pobres quanto a renda
foram identificados como pobres de acordo com o ranking do
bem-estar e 39% dos extremamente pobres quanto ao bemestar não eram pobres do ponto de vista da renda. Quase
30% dos que se auto declararam pobres quanto ao bem-estar eram não pobres quanto à renda e 42% dos pobres quanto à renda não se consideravam pobres quanto ao nível de
bem-estar (Laderchi, Saith e Stewart, 2003, p. 33).
Para além de suas virtudes, a abordagem multidimensional da pobreza encontra dificuldades de ser operacionalizada. A compreensão e a mensuração da exclusão têm ocupado espaço no campo de pesquisas e de políticas em todo o
mundo, com maior ênfase nos países europeus6. Estudos so-
6
Estudos bastante instigantes têm sido realizados por diversas agências internacionais e centros acadêmicos em todo o mundo sobre o tema da exclusão e diversas formas
de expressão de situações de vulnerabilidade e risco. Um exemplo é o Centro de Análise da Exclusão Social (Center of Analysys on Social Exclusion-CASE) da London
School of Economics, que apresenta um conjunto expressivo de publicações e pesquisas em curso sobre o tema, com uso intensivo de dados longitudinais (Atkinson, Hills
etc), dados urbanos espaciais, métodos qualitativos e quantitativos de mensuração da exclusão social. Um dos focos dos estudos consiste no exame da exclusão em áreas
e espaços urbanos, o que configura um importante aporte para a análise das situações de pobreza urbana.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
17
bre pobreza, principalmente os que se utilizam de enfoques
multidimensionais, têm mostrado que os grupos de pobres e
não pobres não configuram realidades estáticas ou bem delineadas, sendo denominados como fuzzy sets (como afirmado por Chiappero Martinetti, apud Barrientos e Sheperd, 2003,
p. 14). Como estabelecer o corte? No campo conceitual, embora muito se produza tendo como inspiração a concepção
de exclusão, esta ainda não encontrou um razoável consenso na literatura de maneira a subsidiar processos de mensuração e distinção entre excluídos e não excluídos.
Alguns estudos de natureza empírica concentram-se na
análise de situações concretas de exclusão, sem se deter
no emaranhado conceitual de questões de definição ou na
busca de uma concepção geral de exclusão social. Tais estudos, a partir da definição da exclusão como ausência de
participação em aspectos chave da sociedade, se dedicam,
na esteira dos estudos de mensuração da pobreza e privação, a verificar empiricamente tais questões, definindo indicadores e índices variados para medir a exclusão social. Tal
perspectiva não altera, de forma radical, as dimensões consideradas em enfoques anteriores, no registro dos estudos
de pobreza. A novidade talvez esteja, como visto, na ampliação do arco de indicadores utilizados. De acordo com os
críticos do enfoque da exclusão (Burchard, Le Grande e Piachaud, 2002, pp. 4, 5), essa concepção, embora agregando um número maior de indicadores para mensuração, estaria localizada na esteira dos estudos de mensuração da
pobreza e da privação, sem apresentar uma real novidade,
pelo menos quanto à mensuração da exclusão. Tal perspectiva insere, contudo, uma visão mais ampla da pobreza, rompendo com a unidimensionalidade e abarcando outras dimensões e aspectos das desvantagens ou destituições sociais; priorizando análises dinâmicas e não estáticas do fenômeno e alterando o foco do indivíduo para o nível da comunidade (Room, citado por Burchard, Le Grande e Piachaud, 2002, p. 5). Adotar o enfoque da exclusão amplia a
compreensão do fenômeno, ao articular dimensões objetivas e subjetivas, aspectos mais e menos tangíveis, expandindo o arco de dimensões consideradas como relevantes
na caracterização e explicação da pobreza. Nenhuma dessas questões é tratada com centralidade nas concepções
mais tradicionais sobre pobreza. Isso em si, não é pouco.
Ao considerar a dimensão relacional, contextual e relativa à ordem social da concepção de exclusão, um desafio nada
trivial consiste em definir os limites pelos quais se demarcam
os excluídos em sociedades particulares, especialmente em
países em desenvolvimento ou em sociedades tradicionais,
nas quais as desigualdades e os sistemas de castas naturalizam a exclusão. Definir os marcos da normalidade para então se demarcar as fronteiras da exclusão pode ser uma tarefa impossível e vários estudos empíricos em países em desenvolvimento têm adotado uma variedade de enfoques, sem
uma devida problematização ou justificativa da escolha particular, ou mesmo sem ter como referência o que é considerado "normal" nas diferentes sociedades (Laderchi, Saith,
Stewart, 2003, p. 22).
Examinando estudos empíricos sobre a mensuração da
exclusão em países em desenvolvimento, Saith reconhece
uma grande diversidade de abordagens e de usos de indicadores diversos. Nos estudos sobre a Índia, por exemplo, onde
83% da força de trabalho está na economia informal e ape-
nas 14% tem salário regular e estabilidade de benefícios,
outros critérios e variáveis têm sido utilizados (Appasamy et
al; Nayak, apud Saith, 2001) e enfatizam a exclusão em termos de direitos de bem-estar básicos (saúde, educação, moradia, acesso a água potável, serviços sanitários e seguridade social, desagregados por gênero, idade, nível de renda,
religião e casta). Outra pesquisa enfatiza a exclusão de bens
básicos devido à baixa renda, a exclusão do emprego e a
exclusão de direitos, focalizando situações de trabalho infantil e exclusão via castas (Nayak, apud Saith, 2001). No estudo sobre a exclusão social no Peru (citado por Saith), foram
consideradas três dimensões — econômica, política e cultural — agregando indicadores diversos: acesso ao mercado
de trabalho, a crédito e seguros, direitos de propriedade e
direitos de proteção social e acesso a serviços públicos básicos (saúde, educação e justiça) e exclusão cultural (participação em redes sociais). Em um outro conjunto de estudos
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os grupos
em risco de exclusão são definidos a priori, e incluem uma
diversidade de coletivos possíveis7.
Saith destaca, ao identificar a variedade de estudos de
mensuração da exclusão em países em desenvolvimento,
que não há uma convergência clara entre as dimensões consideradas e o que deve ser considerado em cada uma delas. As realidades são distintas e, dada a multiplicidade de
carências e a baixa capacidade de discriminação da dimensão do trabalho para caracterizar a exclusão em países em
desenvolvimento (dada pelo contingente expressivo de desempregados e pela estrutura do mercado de trabalho), a
mensuração da exclusão nesses países é muito parecida
com os estudos orientados por uma concepção multidimensional de pobreza (Saith, 2001, p.9). De acordo com a autora, nos contextos de países em desenvolvimento, a mensuração da pobreza não pode se ampliar para além de formas
mais consolidadas de medir a pobreza.
Mas o essencial é enfatizar que a mensuração da exclusão avança em relação aos enfoques monetários ou das necessidades básicas insatisfeitas, porque embora o foco na
ausência de recursos materiais permaneça central, têm-se
outros fatores de exclusão — discriminação, doenças crônicas, localização geográfica, identificações culturais, fragilização ou ruptura de laços sociais — que precisam ser considerados na mensuração. O uso da noção de exclusão social
contribui para uma compreensão mais aprofundada da privação, embora do ponto de vista da mensuração pode-se dizer
que não existe, de fato, muita novidade em relação ao que
vem sendo feito há dezenas de anos com o uso de indicadores múltiplos de privações, em estudos orientados para verificar correlações entre eles.
Vale salientar, concordando com Saith, que o enfoque
das capacidades tem uma ampla aplicação em países desenvolvidos e em desenvolvimento, e sua operacionalização vai além das necessidades básicas, podendo capturar
aspectos de autoestima, identidade, dignidade, liberdade e
autorespeito, categorias centrais na perspectiva de Sen. Mas,
nos casos dos países em desenvolvimento, com tantas privações básicas, a mensuração das capacidades tem se restringido às capacidades mais básicas (Saith, 2001, p.12). A
adoção de parâmetros de mensuração relativos é pertinente em países desenvolvidos, mas no caso dos países em
desenvolvimento, ainda tem sentido adotar padrões absolu-
7 Como na Tanzânia urbana, são considerados como excluídos os mendigos, cortadores de pedras, traficantes, comerciantes de rua, vendedores de alimentos nas ruas,
cortadores de peixe, trabalhadores casuais. Nos grupos rurais da Tanzânia, os excluídos referem-se aos sem terra ou com acesso precário a ela e o não acesso a
fertilizantes. Na Rússia, a exclusão é mensurada a partir do desemprego a longo prazo, salário do estrato social médio, e proporção de moradores em zonas rurais. Na
Tailândia, os grupos excluídos são formados por minorias étnicas, mulheres, doentes, camponeses com pouca educação, trabalhadores do setor informal e pessoas sem
casa, vivendo debaixo das pontes (Saith, 2001).
18 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
tos para medir privações, tais como os enfoques das necessidades básicas e, de certa forma, o enfoque das capacidades. Isso quer dizer que adotar a característica de relatividade do conceito de exclusão para pensar realidades tais
como a brasileira, com altos e múltiplos níveis de privações,
pode ser dispensável. Entretanto, não estamos no Brasil na
mesma situação de diversos países da África, por exemplo,
que se encontram, de forma mais homogênea, no nível de
ampla insatisfação de necessidades básicas. No caso do
Brasil, as grandes diferenças regionais e intraregionais demandam e justificam o uso de critérios relativos de mensuração, capazes de capturar, de forma mais clara, as dimensões da desigualdade.
O artigo, ao analisar a concepção de exclusão, teve como
objetivo problematizar uma categoria utilizada de forma ampla (e muitas vezes pouco consistente) na literatura e apontar
alguns desafios relativos à sua operacionalização. As concepções importam, e não se tratou aqui de sustentar debates
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALWANG, Jeffrey; SIEGEL, Paul B.; JORGESEN, Steen. Vulnerability:
a view from different disciplines. Social Protection Discussion Paper
Series n 0115, World Bank. June 2001
ATKINSON, A. Social Exclusion, Poverty and unemployment. In Atkinson, A. and Hills, J (eds.) 'Exclusion, Employment and Opportunity',
STICERD, London School of Economics Discussion Papers Series
CASE nº 4, 1998
BARRIENTOS, Armando; SHEPERD, Andrew. Chronic Poverty and Social Protection. Paper prepared for presentation at the CPRC Conference on Chronic Poverty, University of Manchester, april 2003.
BRONZO, Carla. Programas de proteção social e superação da pobreza: concepções e estratégias de intervenção. Tese de Doutorado defendida na FAFICH/UFMG, em dezembro de 2005.
BURCHARDT, Tânia; LE GRAND, Julian; PIACHAUD, David. Introduction. In: Hills, John et all. (Ed.) Understanding Social Exclusion. Oxford,
2002. Oxford University Press, p. 202-225.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do
salário. 4º ed. RJ: Vozes, 1998.
DE HAAN, A. Social Exclusion: Towards an Holistic Understanding of
Deprivation, Social Development Department, Dissemination Note No.
2, Department for International Development, London, U.K. (trabalho
apresentado no seminário Villa Borsig Workshop Series 1999. Inclusion, Justice, and Poverty Reduction). http://www.dse.de/ef/poverty/
dehaan.htm acesso em 29 out 2004
DE HAAN, Arjan. Social exclusion: enriching the understanding of deprivation. Geneva: International Institute for Labour Studies. http://
www.sussex.ac.uk/Units/SPT/journal/archive/pdf/issue2-2.pdf
FERES, Juan Carlos e MANCERO, Xavier. Enfoques para la medición
de la pobreza. Breve revisión de la literatura. CEPAL, Série Estudios
Estadisticos y Prospectivos, nº 4. Santiago do Chile, 2001.
FRANCO, Susana. Different Concepts of Poverty: An Empirical Investigation and Policy Implications. Queen Elizabeth House, University of
Oxford. Paper for WIDER Conference on Inequality, Poverty and Human Well-being. Helsinki, 30-31 May 2003
GOMÁ, Ricard. Processos de exclusão e políticas de inclusão social:
algumas reflexões conceituais. In; Bronzo, Carla; Costa, Bruno Gestão
Social, o que há de novo? Belo Horizonte, 2004
GORE, C and FIGUEIREDO, J. Social exclusion: Rhetoric, reality, responses, ILO. 1995
HILLS, J. Does a focus on social exclusion change the policy response? In: Hills, J.; Le Grand, J.; Piachaud, D. (orgs) Understanding Social Exclusion Oxford University Press, 2002
HILLS, John. Does income mobility mean that we do not need to worry
about povert? In: Exclusion, Employment and Opportunity. Atkinson, A.
B., Hills, John (ed) Case paper nº 4, London School of economics,
January, 1998
estéreis e meramente acadêmicos, mas de apontar algumas
dificuldades e implicações quanto à focalização do públicoalvo das intervenções públicas.
Abstract
This text is about the social exclusion concept and identify,
from the literature analysis the limits and the possibilities of
this amplified concept about the poverty in terms of its accomplishment; or, in other words, the consequences and implications for the poverty measurement when this one is understood under the social exclusion perspective.
HULME, David; MOORE, Karen; SHEPHERD, Andrew. Chronic poverty: meanings and analytical frameworks. Chronic Poverty Research
Centre, Working Paper, 2. November, 2001 (ISBN: 1-904049-01-x)
KLEINMAN, Mark. Include me out? the new politics of place and poverty. Case Papers, 11, 1998
KOWARICK, Lúcio. Sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil .
Estados Unidos, França e Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais vol 18 n. 51, fevereiro 2003.
LADERCHI, Caterina R., SAITH, Ruhi; STEWART, Frances. Does it
matter that we don´t agree on definition of poverty? A comparison of
four approaches. Working Paper 107. Queen Elizabeth House, University of Oxford, may 2003
LAVINAS, Lena. Pobreza e Exclusão: traduções regionais de duas categorias de prática . Econômica, v. 4, n.1, 2003.
MIDEPLAN - Ministerio de Planificación y Cooperación. División Social. Departamento de Evaluación Social. Síntesis de los principales enfoques, métodos y estrategias para la superación de la pobreza . Santiago de Chile, 2002
OLIVEIRA, Luciano. Os excluídos existem? Notas sobre a elaboração
de um novo conceito. RBCS, nº33. ANPOCS 1997
PAUGAM, S. La constituion d´un paradigme. In: L´exclusion. L´etat
des savoirs. Editions La Découvert, Paris, 1996
PAUGAM, Serge. Desqualificação social. Ensaio sobre a nova pobreza. SP: Cortez, 2003
RICHARDSON, Liz and LE GRAND, Julian. Outsider and Insider Expertise: The Response of Residents of Deprived Neighbourhoods to an
Academic Definition of Social Exclusion. Case Paper nº 57, april, 2002.
RICHARDSON, Liz; MUMFORD, Katharine. Community, Neighbourhood, and Social Infrastructure. In: Hills, John et all. (Ed.) Understanding Social Exclusion. Oxford, 2002. Oxford University Press, p. 202225.
SAITH, Ruhi. Social Exclusion: the concept and application to developing countries. Working paper, 72. Queen Elizabeth House, University
of Oxford, 2001
SEN, Amartya. Social exclusion: concept, application and scrutiny. Social Development Papers, 1. Asian Development Bank, Philippines, june
2000
SEN, Amartya. Reflexiones acerca del desarrolho a comienzos del siglo 21, 1996 Mimeo.
SILVER, Hilary. Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of Social Exclusion. In Gerry Rodgers, Charles Gore, and Jose
B. Figueiredo, eds., Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses.
Geneva: International Institute of Labor Studies/United Nations Development Programme, 1995.
SPICKER, Paul. The idea of poverty, unpublished draft work. Mimeo,
2005.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
19
Assistência
Adolescentes em conflito com a lei:
contribuições da política pública, da rede
de atendimento e a participação social1
ROSIMERY IANNARELLI*
SÔNIA LOPES SIQUEIRA**
O artigo, com base no trabalho desenvolvido pelas autoras, destaca aspectos importantes que fazem parte do
acompanhamento aos adolescentes em cumprimento da
medida socioeducativa de liberdade assistida: a medida socioeducativa, o acompanhamento, a articulação com a rede
de atendimento e a participação da sociedade civil através
do trabalho desenvolvido pelo "orientador social voluntário".
N
o Brasil, passados os anos do
regime ditatorial que deixou
marcas de injustiça e desigual
dade em todos os setores da
vida nacional, entre perdas e conquistas, instalou-se um contexto marcado
por disputas pelo movimento social pródemocracia participativa, tendo no ano
de 1988 a inauguração da nossa Constituição cidadã.
Em 1990, decorrente de um amplo
movimento de trabalhadores e militantes
da área da infância e juventude, foi aprovado pelo Congresso Nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) —
Lei n.° 8090, de julho de 1990. Com a
consolidação do ECA, a proteção foi tomada como diretriz da sua concepção
político-social, realizando assim, num
movimento processual, um rompimento
com a velha concepção ditada pelo antigo Código de Menores, que se fundava
na doutrina da "situação irregular"2 .
Nesse contexto, já inaugurando uma
resposta política no campo da garantia
de direitos, em Belo Horizonte, a sustentação de novas diretrizes de atendimento passou a estabelecer perante as políticas públicas, em especial àquelas direcionadas ao público infantojuvenil, novas
deliberações nas suas relações e execução de ações, frente aos objetivos preconizados pela nova lei e pela política
pública de assistência social3, que já ganhava sua estruturação na Cidade. No
ano de 1998, foi criado o Programa Liberdade Assistida4, com objetivo de atender jovens em conflito com a lei, envolvidos com prática de ato infracional, sujeitos às medidas socioeducativas em meio
aberto previstas em lei.
Desde então, a Cidade vem sustentando um trabalho afinado com as diretrizes constitucionais, bem como com
aquelas estabelecidas pelo ECA, traduzindo em ações práticas a execução de
**
políticas públicas voltadas para garantia de direitos da infância e juventude em
risco pessoal e social, ampliando a percepção com as questões de sua territorialidade, uma vez que o território
representa o chão do exercício da cidadania, pois cidadania significa vida
ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, as relações
de vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É no território que
as desigualdades sociais tornam-se
evidentes entre os cidadãos, as condições de vida entre moradores de
uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, a presença / ausência dos
serviços públicos se faz sentir e a
qualidade desses mesmos serviços
apresenta-se desigual. (Koga,
2003:33)
A Caracterização da
Medida socioeducativa de
Liberdade Assistida
Contemplada no Art. 118 e 119 do
ECA, a medida socioeducativa de liberdade assistida é adotada sempre que se
afigurar a mais adequada para o fim de
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, tendo a família, a escola e o
trabalho/profissionalização como eixos
do acompanhamento, considerando a
atenção a cada caso bem como os as-
Assistente Social, com Especialização em Políticas Sociais e Movimentos Sociais, pela Universidade Estadual Paulista / UNESP e em Políticas Públicas, pela UFMG. É
técnica do Serviço de Liberdade Assistida da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social/Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Assistente Social, com Especialização em Violência Doméstica contra crianças e adolescentes, pelo Laboratório de Estudos da Criança/LACRI/USP e em Gestão de
Políticas Sociais, pela PUC - MG. É Analista de Políticas Públicas da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
1
Este artigo é uma adaptação do trabalho selecionado para apresentação no I Congresso Mundial de Justiça Juvenil Restaurativa, exposto pelas autoras na Pontifícia
Universidade Católica de Lima, no Peru, em novembro de 2009.
2
Doutrina sustentada pelo antigo Código de Menores que direcionava a política de atendimento para as instituições com aparato judicial, policial e correcional, no qual não
se consideravam crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, mas - principalmente os pobres, abandonados, delinquentes - como "objetos" da intervenção do Estado.
3
Com a Constituição Federal de 1988, juntamente com a saúde e a previdência social, a assistência social ganha conotação de política pública, compondo o tripé da
Seguridade Social. Tem como respaldo a Lei n.° 8.742, de dezembro de 1993 — Lei Orgânica da Assistência Social, que define objetivos e diretrizes da Assistência Social
enquanto política pública não contributiva, colocando, dentre outros, o público infantojuvenil como público prioritário de suas ações e serviços.
4
Atualmente, fundamentado na perspectiva do SUAS - Sistema Único de Assistência Social - que organiza os serviços socioassistenciais em níveis de proteção básica e
especial (de alta e média complexidade), passa por um processo de reordenamento institucional e está sendo denominado como um serviço de ação continuada de proteção
especial de média complexidade — Serviço de Liberdade Assistida — vinculado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social / CREAS, sendo executado
nas nove regionais administrativas da Cidade.
***
20 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
pectos comunitários, uma vez que o jovem não sairá do espaço onde vive para
ter seu acompanhamento efetivado.
Então, quem são os adolescentes
que chegam para cumprir a medida socioeducativa de liberdade assistida? De
onde vêm e como se apresentam? Em
sua maioria são adolescentes vindos de
regiões periféricas da Cidade e suas histórias retratam o envolvimento com furtos, pichações, roubos, assaltos, tráfico
de drogas, homicídios, ameaças, lesões
corporais, desacato a autoridade, danos
ao patrimônio público, dentre outros. Nos
primeiros encontros, chegam com a cabeça baixa, o olhar disperso, a voz trêmula e poderíamos dizer um olhar de
desprezo ou, quem sabe, de medo do
desconhecido. Não sabem ao certo o
que significa a medida recebida: "Liberdade Assistida". Vivenciam um contexto
paradoxal: como podem ser livres se alguém lhes assiste? (Pinheiro e outros:
2002). Alguns apontam o sofrimento vivenciado em seus territórios, que vai
desde disputas por espaço no tráfico de
drogas à falta de moradia digna, com privações de várias ordens: materiais, culturais e, muitas vezes, afetivas.
Diante disto, faz-se necessário um
acompanhamento no qual a acolhida e
a escuta se tornam instrumentos imprescindíveis para o desenvolvimento de um
trabalho que prevê a garantia do cumprimento da medida no que ela apresenta de aspecto socioeducativo, sem perder de vista a dimensão da responsabilização pelo ato infracional praticado. Ou
seja, o acompanhamento busca criar
condições para que o adolescente cumpra a medida, contemplando uma atenção sistemática e individualizada com a
garantia de espaço de atendimento para
verbalizar suas questões e aquelas relacionadas ao contexto familiar e comunitário no qual se encontra, pois operamos um serviço que realiza o acompanhamento através da oferta de um espaço que se orienta pela palavra, estabelecendo uma conexão constante com
os espaços por onde o jovem circula,
associados aos eixos do acompanhamento: Família, Escola e Trabalho/Profissionalização.
No eixo Família, cabe destacar que
o acompanhamento ao jovem não pode
ser dissociado do olhar que envolve suas
relações familiares. A família também
precisa ser acolhida e implicada na sua
responsabilidade em auxiliar o jovem a
cumprir a medida determinada. Para tanto, deve-se ofertar espaço para que ela
apresente suas vulnerabilidades e potencialidades, e caso seja necessário,
receber orientações e acompanhamento no sentido de favorecer os vínculos
familiares, fortalecendo-os ou fazendoos existir, considerando que
Faz-se necessário ter
a família como uma
parceira uma vez que
ela é responsável pela
proteção e cuidado
dos filhos. Não é porque
o adolescente infracionou
que ele vai “perder”
o lugar no contexto familiar.
pretende-se sugerir, assim, uma abordagem de família como algo que se
define por uma história que se conta
aos indivíduos, ao longo do tempo,
desde que nascem, por palavras, gestos, atitudes, ou silêncios, e que será
por eles reproduzida e resignificada,
à sua maneira, dados os seus distintos lugares e momentos na família.
Dentro dos referenciais sociais e culturais de nossa época e de nossa
sociedade, cada família terá uma versão de sua história, à qual dá significado a experiência vivida. Ou seja,
trabalhar com famílias requer a abertura para uma escuta, a fim de localizar os pontos de vulnerabilidades,
mas também os recursos disponíveis.
(Sarti, 2006:26)
Faz-se necessário ter a família como
uma parceira, uma vez que ela é responsável pela proteção e cuidado dos filhos,
e não é porque o adolescente infracionou que ele vai "perder" o lugar no contexto familiar. Ao contrário, às vezes é
neste momento que a família se volta
para suas questões e passa a perceber
o filho adolescente com todas as suas
angústias e tensões. Daí, a importância
de sensibilizar a família sobre a importância de sua participação e envolvimento no processo de acompanhamento do
jovem em cumprimento de liberdade assistida, favorecendo, assim, o fortalecimento e estabelecimento de novos laços.
O eixo Escola nos apresenta grandes desafios: o ingresso (ou regresso)
e a permanência do jovem na escola,
dificuldades da escola e dos educadores em acolher os jovens que se encontram em risco pessoal e social; a baixa
escolaridade; o desinteresse dos jovens
pelo aprendizado e que, por isso, precisa ser estimulado para além do desenvolvimento cognitivo, incluindo outras
dimensões da vida. São questões e impasses que se colocam em nossa prática, e só atravessamos esses impasses
à medida que as demandas vão surgindo e se configuram em uma necessida-
de de conversação com os demais parceiros. E a escola vem a ser um desses
parceiros que também enfrenta dificuldades institucionais e territoriais, e, por
isso, a necessidade de uma aproximação e sensibilização constante.
No que se refere ao eixo Trabalho/
Profissionalização, cabe destacar que
nos anos 1990 a sociedade brasileira entrou em acelerado processo de reorganização do sistema tecnológico e produtivo, ocasionando a precarização do
trabalho, um baixo nível de crescimento
econômico gerando uma massa ainda
maior de desempregados, prevalecendo o trabalho intelectual em relação ao
trabalho manual. Numa sociedade marcada pela desigualdade como a nossa,
nos setores mais pobres da população
urbana, encontra-se uma geração de
jovens excluídos da escola com baixos
recursos educacionais, que enfrentam
dificuldades para entrar no mercado de
trabalho marcado pelo novo modelo. E
o jovem em cumprimento de medida socioeducativa está contemplado no público que enfrenta essa dificuldade.
Para essas novas gerações, estar
inserido na sociedade de consumo pode
gerar sentimentos ambíguos, ora de privações, ora de rompimento com regras
na perspectiva de garantir sua inserção,
o que leva muitos jovens a se integrar
ao tráfico de drogas para obter dinheiro
e se realizar perante o consumo. As implicações da falta de oferta de emprego
para essa categoria da população não
é sem consequências para a vivência
plena de uma cidadania digna, pois parte significativa dos jovens que acompanhamos demanda inclusão no mercado
de trabalho, que, por razões diversas,
exclui muito e sustenta uma inclusão
bastante seletiva.
Esses apontamentos sinalizam que
a construção do acompanhamento se
desmembra em aspectos que perpassam o atendimento ao adolescente, a
participação da família no acompanhamento e também a relação com a rede
de atendimento já constituída — escola, saúde, cultura, trabalho/qualificação,
assistência social, lazer — onde as relações operam com pontos de êxito e
tensão, compreensão e resistência, o
que nos permite dizer que fazer a rede
operar para garantir direitos é um exercício constante.
Possibilidades e desafios
na operacionalização
do trabalho em rede
De acordo com o ECA, a política
de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social far-se-á por um conjunto integrado de
ações governamentais e não governa-
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
21
mentais da União, Estados e Municípios (Art.86 ECA). No caso dos adolescentes autores de ato infracional, o processo não será diferente.
Então, quais políticas públicas irão
compor essas ações? Quais atores fazem parte da rede? Como garantir o funcionamento contínuo da rede? Como
intermediar a inclusão dos jovens e ao
mesmo tempo garantir que, no processo de acompanhamento, reflitam sobre
seus atos? É necessário ofertar algo
para além do espaço de acolhida e escuta, para que ele se sinta inserido nos
espaços comunitários por onde circula?
Para garantir a efetivação dessas
ações, é necessário que outras políticas
para além da Assistência Social se envolvam. E quem estará envolvido neste
acompanhamento que é pautado por
uma situação singular, mas que envolve ações e decisões coletivas? Não temos respostas prontas para as questões
colocadas, mas acreditamos na oportunidade de construir parcerias no processo de trabalho, tornando-o dinâmico e
possibilitando uma conversação com a
rede de atendimento, num movimento de
fazer prevalecer parcerias, buscando,
assim, novas respostas para as perspectivas de inclusão.
No atendimento, uma das estratégias colocadas é a possibilidade de, juntamente com o jovem, "construir" saídas
a partir do acompanhamento feito. Assim, trabalhamos com a escuta, buscando na reflexão conjunta a criação de
novos laços, consolidando direitos e uma
assistência que possibilite novos arranjos na rede de serviços, onde seja possível a construção de uma mudança de
posição sem desconsiderar os aspectos
subjetivos; e que, daí, ele possa encontrar vontade de ocupar novos lugares,
permanecer na escola, tirar documentos, experimentar um curso profissionalizante e a possibilidade de iniciação no
mundo do trabalho.
Para além do atendimento individualizado, a intervenção social no acompanhamento realizado no Serviço de Liberdade Assistida ocorre através das
abordagens familiares, da articulação
com outros serviços, profissionais, e instituições, operando em rede, uma vez
que "as redes podem ainda ser consideradas como sistemas organizacionais
capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e participativa, em torno de objetivos comuns." (Neves, 2009:47).
A articulação em rede é realizada
através de contatos, conversações, reuniões, visitas a novos serviços, e a participação em fóruns, onde são tratados
assuntos de interesse dos adolescentes
e suas famílias, propondo soluções conjuntas, articuladas e integradas. Têm
como objetivos elucidar dúvidas quanto
à orientação, ofertar informações, orientações sobre os serviços, programas e
projetos a serem buscados, como forma de garantir a frequência ao acompanhamento da medida, pois através da
parceria também nos aproximamos do
universo familiar e da dinâmica comunitária dos adolescentes.
Considerando as especificidades
do nosso público, muito ainda há por ser
feito; mas, mediante a busca por ações
integradas, em meio aos desafios aqui
apontados, consideramos que, através
da conjugação de esforços, contribuições se materializam no sentido de
possibilitar aos jovens novas possibilidades e escolhas na vida.
Algumas vivências merecem ser
descritas, como no caso de J.M., de 18
anos, com histórico de trajetória de vida
nas ruas e envolvimento com tráfico de
drogas, que tem um encontro com a arte
no Projeto Arte Livre, no qual, através
da participação na oficina Palavra-Imagem, passou a desenvolver seu talento
nato entre traçados de escritor e poeta.
Em meio ao acompanhamento proposto e à parceria firmada entre os envolvidos, J.M. chegou a conquistar a publicação de um livro com versos e prosa
sobre sua história, suas aventuras e desejos. E como ele mesmo retrata:
Só depois,
Na adolescência
Que descobri
Que a infância
Foi boa
Mas agora
A juventude
Envelhece
A história toda
Temos ainda a experiência de J.C.,
de 16 anos, que ao chegar ao Liberdade Assistida demandou encaminhamento para o trabalho e, através da interlocução com o Programa de Trabalho Protegido, foi encaminhado para trabalhar
no zoológico da Cidade. Na sequência
do acompanhamento, chegou a um dos
atendimentos dizendo da sua decisão de
"abandonar" o trabalho. Disse que estava satisfeito pela inclusão no Trabalho
Protegido, mas seu incômodo era com
o local para onde havia sido encaminhado, que, segundo ele, não lhe apresentava tarefas e ele permanecia "parado o
tempo todo". Isso nos fez acionar os
envolvidos no acompanhamento para
discutir a situação, objetivando uma avaliação conjunta, considerando, principalmente, a experiência vivenciada pelo
jovem, seu relato sobre o desconforto
perante a situação e sua posição de não
permanecer no local. Diante disso, foi
22 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
possível outro encaminhamento, no qual
J.C. pode vivenciar um encontro com "as
tarefas do trabalho e se manter no movimento na produção de trabalho correto e não de furto".
Esses fragmentos sinalizam que,
em meio ao exercício da parceria estabelecida no processo de acompanhamento, é possível apresentar aos jovens
propostas de inserção e a perspectiva
de novos projetos de vida. Isso, sem criar espaços específicos para jovens em
conflito com a lei, segregando-os, mas
inserindo-os nos espaços já existentes,
implicando-os na responsabilização pelo
envolvimento com a prática de ato infracional, apostando na mudança e sensibilizando os parceiros envolvidos para
que eles possam ser incluídos e assim
atravessarem a situação "circunstancial" na qual se encontram.
Sobre o orientador social
voluntário: uma "invenção"
O Art. 119 do ECA, no que trata da
medida socioeducativa de liberdade assistida aponta que um orientador deverá, com a supervisão da autoridade competente, responsabilizar-se pelo acompanhamento e orientação do Adolescente. Então, qual proposta Belo Horizonte
apresenta? A participação social por
meio da figura do orientador social voluntário apostando numa prática com
fundamento legal e no efeito positivo que
essa inovação pode trazer para a vida
do jovem, estabelecendo, assim, um
convite ao exercício da cidadania para
os habitantes da Cidade numa nova forma de operar a política pública, pois,
conforme depoimento de Edmilson Rodrigues, citado em Caccia-Bava, "a principal obra de um governo é a construção de um novo nível de consciência
social, consciência do povo de que o
futuro depende de sua própria história,
de seu orgulho por ela e de si mesmo".
(Caccia-Bava, 2001:11)
A concepção que permanece sendo desenvolvida pelo serviço busca assegurar e garantir um dispositivo da Lei
no qual, para além do atendimento técnico, um cidadão é designado para o
acompanhamento dos adolescentes, no
caso, o orientador social. E há um efeito
positivo nesta proposta, uma vez que
não é o serviço que seleciona o orientador, mas ele que escolhe e decide ofertar sua ação voluntária mediante a proposta lançada na Cidade: "Seja você
também um orientador social voluntário".
Os cidadãos são convidados a ser
voluntários, na perspectiva de que um
encontro provoque reflexão, elaboração
e ação coletiva das possibilidades. Efetua-se, assim, uma oferta de contribuição
para a vida das pessoas. Contribuição
construtiva, solidária, que amplia a rede
de atendimento, colaborando para possibilitar a inserção do jovem nos espaços para além da inserção na política
pública, pois o orientador atravessa dificuldades institucionais, sendo capaz de
descobrir e propor novos arranjos para a
inclusão no contexto comunitário de forma única, como no caso do jovem G.L.S.,
de 19 anos, que depois de ser "excluído"
da escola pública em decorrência da sua
defasagem escolar e por se encontrar
circunstancialmente em conflito com a lei,
no processo de acompanhamento da
medida de liberdade assistida, foi apresentado pelo orientador social a uma turma de alfabetização de jovens e adultos
ofertada pela iniciativa privada, iniciando,
assim, um novo encontro com o processo de educação formal.
Isso posto, qual sociedade queremos? Com qual projeto político nos identificamos e passamos a dedicar nossas
energias, nosso tempo, nossos talentos,
nossos recursos, nossas capacidades?
Em quais causas da Cidade queremos
nos engajar? Luiz Eduardo Soares diz
que "a carreira do crime é uma parceria
entre a disposição de alguém para transgredir as normas da sociedade e a disposição da sociedade para não permitir
que essa pessoa desista" (2002:145).
No entanto, quando se atua numa política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, a proposta que se
lança é exatamente a de fazer o movimento para que o jovem desista da carreira do crime e se envolva com os aspectos saudáveis e lícitos que a vida
pode ofertar. E o orientador social passa a se envolver com esta causa.
E assim podemos também dizer
que a relação que se estabelece entre a
participação do orientador social voluntário na política pública é uma parceria
firmada com uma parcela da sociedade
que acredita na possibilidade de mudança, em que jovens e cidadãos envolvidos passam a enfrentar os aspectos "duros" da realidade, acreditando em novas
formas de pertencimento, de responsabilizar-se buscando novos laços e vislumbrando no universo da Cidade possibilidades alternativas de inclusão. Tarefa que não é operada sem dificuldades, pois implica em mudança tanto por
parte do jovem como por parte do orientador e do profissional, entendendo que
a mudança
implicará em dar a parte saudável que
estava sendo hostilizada e prejudicada pelo lado destrutivo, o qual terá de
ser compreendido, elaborado, absorvido, não negado e destruído - ou não
haverá mudança efetiva, apenas uma
variação momentânea da correlação
interna de forças. Para mudar é preci-
so, portanto, o solo firme da autoestima revigorada. (Soares, 2004:144)
Assim foi com Lin, que, após ser vítima de um assalto à mão armada no
centro urbano da cidade de Belo Horizonte, se movimentou a partir do desejo de
se tornar um orientador social voluntário.
Iniciou um percurso de trabalho fazendo
uma recusa à inércia, ao medo, passando a criar, mesmo em meio há um contexto de violência urbana, em conjunto
com o poder público, alternativas para
possibilitar aos jovens novas saídas. Em
uma reunião de trabalho cuja proposta
era apresentar depoimentos sobre a experiência de ser um orientador social,
definiu: "Minha vontade de acertar é ardente. Mas sou levado a trabalhar a consciência de que ser orientador social é
antes de tudo saber onde e como me encontro. E só depois, tentar identificar para
que lado fica o norte. Ao orientar, também, procuro ajudar o orientando a identificar o onde e o como ele se encontra
para juntos, a partir desse encontro, identificarmos a direção do norte".
Isso aponta que, mesmo na atual
conjuntura, encontramos cidadãos dispostos a dedicar parte do seu tempo a
serviços voluntários. E isso tem levado
as pessoas a refletir sobre o seu real
papel na sociedade, o que muda uma
concepção meramente assistencialista
para uma visão de responsabilidade e
cuidado com o mundo em que vivemos.
Atualmente, cerca de 800 jovens
são acompanhados pelo serviço de liberdade assistida na Cidade e muitas
possibilidades e escolhas positivas permanecem sendo feitas, mesmo em um
contexto de desafios e impasses. Por
isso, precisamos de cidadãos sensíveis,
para que juntos possamos, governo e
sociedade, realizar mudanças estruturais que possibilitem a cada adolescente um projeto de vida, um futuro com
condições de bem-estar social; situação
que nos faz manter vivo na Cidade o
convite para que novos orientadores se
envolvam com a proposta.
E quanto aos jovens, cabe dizer
que permanecemos sustentando, juntamente com eles, nosso trabalho técnico. E a eles dedicamos estas reflexões, pois, em meio aos espaços de
acolhida e escuta, compartilham conosco suas histórias, e, quer seja acolhendo, mantendo a indiferença (ou recusando) nossas intervenções, contribuem significativamente para o nosso
crescimento profissional e humano.
Abstract
The article based on the work developed by the authors stands out important
aspects that make part of teenagers assistance in the accomplishment of the
social educational action of attended freedom: the social educational measure,
the assistance, the articulation with the
attendance net and the civil society participation through the work developed by
the "social volunteer orientator".
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social.
Liberdade Assistida: uma medida / Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Secretaria Adjunta
de Assistência Social. Organizado por Cristiane Barreto e Mônica Brandão. Belo Horizonte:
PBH/SMAAS, 2008.
BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Política
Nacional de Assistência Social. Brasília, 2004.
BRASIL. Presidência da República. Lei Orgânica da Assistência Social, Lei n.º 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil - Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.
BRONZO, C.; FARIA, C. A. P. de; COSTA, B.L.D. Programas para crianças e adolescentes em
situação de risco: a complexidade do objeto e a dimensão institucional. In: Cadernos da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, v. 13, ano 1999.
CACCIA-BAVA, Silvio. Participação, representação e novas formas de diálogo . São Paulo,
Polis; Programa Gestão Pública e Cidadania/EAESP/FGV, 2001.
KOGA, Dirce. Medidas de Cidades: entre territórios de vida e territórios vividos. São Paulo:
Cortez, 2003
NEVES. Marília N. O Serviço Social e o atendimento em rede. In: Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais (2:2009: Belo Horizonte, MG). Nas trilhas dos Direitos Humanos para combater
as desigualdades / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais - CRESS 6.ª região
(org.). Belo Horizonte: CRESS 6.ª Região, 2009.
PINHEIRO, M.E.R.; IANNARELLI, R.; SIQUEIRA, S.L. Política de Atenção ao Adolescente em
Conflito com a Lei. Revista Inscrita. Conselho Federal de Serviço Social. CFESS. Ano IV. n.º
VIII, maio de 2002
SARTI. Cynthia A. Famílias enredadas. In: Famílias: Redes, laços e políticas públicas. Ana
Rojas Acosta e Maria Amália Faller Vitale (organizadores). 2.ª ed. Cortez, 2006
SOARES. Luiz Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo. In: Juventude e
Sociedade: Trabalho, Educação, Cultura e Participação / (organizadores) Regina Novaes e
Paulo Vannuchi - São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
23
ESPECIAL
Qual a relação
entre educação e
trabalho no Brasil?
Qual a relação
entre qualificação
e emprego?
Estas são algumas
das questões analisadas
nas páginas que se
seguem, aprofundando
um debate que
cada vez mais está na
ordem do dia dos
gestores públicos, em
todos os níveis de
governo.
24 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
ESPECIAL Educação X Qualificação
Rediscutindo a relação
educação e trabalho no Brasil:
notas para um debate
DIOGO HENRIQUE HELAL*
O artigo busca debater a relação educação e trabalho no Brasil. Destaca que os recentes investimentos em ensino superior no país vieram (e vem) acompanhados da promessa e
expectativa de se obter retornos ocupacionais e salariais no mercado de trabalho. Ressalta
que tais promessas se inserem no discurso da empregabilidade, próprio do neoliberalismo.
Por fim, cabe lembrar que, para o caso brasileiro, os investimentos em educação não são os
únicos suficientes para garantir acesso ao mercado de trabalho formal, e que, apesar dos
investimentos em educação realizados pelos brasileiros, eminentemente na última década,
negros e mulheres continuam a ter menores oportunidades ocupacionais.
A
s últimas décadas no País têm
sido marcadas por importantes
alterações na estrutura ocupa
cional e no mercado de trabalho. Nas décadas de 1970 e 1980, observou-se o esgotamento do modelo fordista de produção e organização do trabalho, impulsionando o surgimento de
novas bases institucionais para o desenvolvimento do capitalismo (baseado em
modelos flexíveis de produção, com destaque ao capital financeiro).
Sob essa nova égide, as empresas
iniciaram um processo de reestruturação, centrado em uma nova revolução
tecnológica, de base microeletrônica.
Esse momento ficou marcado pela difusão de um novo padrão tecnológico, que
possibilitou a passagem da fase de mecanização e automação rígida (característica do modelo fordista/taylorista de
produção) para a fase de automação flexível (especialização flexível, para Piore e Sabel — 1984), própria do modelo
pós-fordista.
Mais recentemente, nos anos 1990,
o País passou a vivenciar a terceirização de algumas atividades de sua economia. Esse processo está baseado na
concentração de esforços, por parte das
organizações, em atividades do chamado core business, delegando a terceiros
aquelas outras não ligadas ao objetivo
principal do negócio. A terceirização e a
flexibilização da economia vêm causando fortes impactos no mercado de trabalho em todo o Brasil, que, segundo
Pochmann (2001), vive um momento de
desestruturação. Para o autor, os novos
conhecimentos tecnológicos associaram-se às exigências empresariais de
contratação de empregados com polivalência multifuncional, maior nível de
motivação e habilidades laborais adicionais no exercício do trabalho. A força
de trabalho brasileira mudou de uma situação inicial de forte dependência em
relação a atividades agropecuárias para
uma diversificada estrutura ocupacional
urbana.
Ainda é possível registrar que, desde a década de 1990, o País tem vivenciado um acelerado processo de informalização e precarização do trabalho, o
que vem gerando uma profunda modificação na qualidade da ocupação desenvolvida no País.
Os anos 1990 no Brasil também são
caracterizados pelo início da forte expansão da educação superior. O crescimento do número de faculdades, cursos e
vagas de ensino superior, objetivamente, veio suprir o déficit nessa área, no
País. Àquela época, as opções para um
jovem ingressar em um curso superior
se restringiam, na maior parte dos estados brasileiros, às vagas ofertadas por
universidades públicas.
Ressalte-se que os governos, na
maior parte dos países, têm como uma
de suas principais políticas a implementação de sistemas escolares abrangentes. No século XX, os sistemas escolares em boa parte do mundo se expandiram rapidamente (BLONSFELD e
SHAVIT, 1993). Com a expansão do sistema educacional, há uma tendência,
e/ou promessa, de diminuição das vantagens das classes mais privilegiadas
de acesso à educação (RAFTERY e
HOUT, 1993).
Dado que a educação é o principal
mecanismo de mobilidade social, a diminuição das desigualdades de oportunidades educacionais, bem como a expansão do sistema educacional, tende
a reduzir as desigualdades de oportunidade de mobilidade social (FERNANDES, 2005). No Brasil, embora com atraso, também houve expansão do sistema educacional desde meados do século passado.
A respeito do caso brasileiro, o Plano Nacional de Educação, Lei n.º
10.172/2001, sancionado pelo Congresso Nacional em 2001, estabeleceu metas para a Educação no País com duração de dez anos. Tais metas foram estabelecidas com o propósito de garantir
a elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a
*
Doutor em Sociologia e Política (UFMG). Pesquisador da Coordenação Geral de Estudos Sociais e Culturais, Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ). Email:
[email protected].
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
25
redução das desigualdades sociais e
regionais, a ampliação do atendimento
na Educação Infantil, no Ensino Médio
e no Superior.
É inegável que a expansão no ensino superior nacional permitiu a inúmeros jovens a possibilidade do ingresso
em faculdades e universidades. Há, contudo, de se ressaltar que tal ingresso
veio (e vem) acompanhado da promessa e expectativa de se obter retornos
ocupacionais e salariais no mercado de
trabalho.
Esta relação entre educação e emprego tem sido explorada por diversos
autores em diversas áreas acadêmicas,
no Brasil e no mundo. São os economistas, contudo, os que têm produzido, com
maior frequência, estudos sobre a temática. A já conhecida teoria do capital humano, desde a década de 1970, preconiza que os investimentos em educação
são acompanhados por retornos salariais positivos (BECKER, 1964; MINCER,
1974). Para seus teóricos, quanto maior
o estoque de capital humano de um indivíduo, maior sua produtividade marginal
e mais elevado, portanto, será seu valor
econômico no mercado de trabalho e,
consequentemente, sua empregabilidade. Dentro dessa visão, Schultz (1961;
1973) argumenta que as capacidades
adquiridas dos agentes humanos (capital humano) devem ser vistas como uma
fonte importante dos ganhos de produtividade. "Um investimento dessa espécie (em capital humano) é o responsável pela maior parte do impressionante
crescimento dos rendimentos reais por
trabalhador" (SCHULTZ, 1973, p. 32).
Para o autor, são elementos inerentes
ao capital humano individual: escolaridade, treinamento, experiência de trabalho, migração, condições de saúde e
nutrição, entre outros.
Trata-se, entretanto, de uma visão
limitada sobre o assunto. Por ser produto do enfoque neoclássico da economia,
a teoria do capital humano, ao tratar do
mercado de trabalho, ignora aspectos
estruturais e sociais que porventura estejam associados ao acesso ao emprego e à determinação de salários.
Apesar de seu poder explicativo e
grande sucesso na academia, a teoria
do capital humano vem sendo criticada
por diversos teóricos (THUROW, 1973;
1977; SØRENSEN; KALLEBERG,
1994), que apresentam outras explicações para a relação entre capital humano e mercado de trabalho. Esses autores têm ressaltado a importância que as
expectativas, por parte das organizações, em relação aos custos de treina-
Arquivo SMPS
Mercado de trabalho e os
retornos da educação
A relação entare educação e emprego tem sido bastante explorada em diversas áreas
acadêmicas
mento de novos contratados, assumem
na ocasião do processo seletivo. Thurow (1975) acredita que a educação é
utilizada pelas empresas, no processo
seletivo, como um indicador de produtividade. Os empregadores optam por
esse recurso por ser mais econômico do
que testar, por meio de uma série de
avaliações, todos os candidatos. Os
empregadores analisam os empregados
com base na expectativa de custos de
treinamento, e utilizam diversas características para tal avaliação (background
characteristics). Thurow (1975) destaca
ainda que nesse processo de avaliação
a educação do funcionário (expressa em
credenciais educacionais) possui papel
importante, por razões diferentes das
apresentadas pelos economistas neoclássicos. Para o autor, encontrar as
características dos indivíduos que são
preditoras de potenciais custos de treinamento é tarefa complicada e problemática. E é em função dessa dificuldade que a educação acaba assumindo
papel de destaque nesse processo.
"Educação é uma forma de treinamento. (...) Educação torna-se uma medida
indireta da capacidade de absorção do
indivíduo (individual's absorptive capacity)" (THUROW, 1975, p. 88).
Oportuno ainda destacar os estudos recentes de Bowles e Gintis (2000).
Os autores mostram que a educação
afeta a renda de outro modo que não
apenas pelo aumento das habilidades.
26 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Os autores destacam que a educação
desenvolve "individual traits" (respostas
comportamentais) que contribuem para
o disciplinamento dos trabalhadores e,
portanto, são valiosas para os empregadores, dada a assimetria de informações entre as partes.
Thurow (1977) também ressalta a
existência das filas no mercado de trabalho: de trabalhadores e do trabalho em
si (labor queue). O matching processes
ocorre por meio da combinação das
duas filas: os trabalhadores ficam posicionados com base em seus custos
de treinamento (treinabilidade), assim
sendo selecionados para ocuparem
os cargos.
Outro ponto relevante deste modelo de competição por cargos reside no
fato de ele levar em consideração a posição relativa dos trabalhadores em relação às características do background.
Para os economistas neoclássicos, investimentos em capital humano asseguram maiores retornos no mercado de trabalho. Para Thurow (1977), tais retornos
estão condicionados à posição relativa
do trabalhador na fila, ou seja, dependem das características de background
dos outros indivíduos na fila, além de
depender das características do cargo
e da estrutura ocupacional em si.
O caso brasileiro mostra que a estrutura ocupacional não tem acompanhado a ampliação educacional dos trabalhadores ocorrida nos últimos anos - não
foram criados cargos suficientes que
equivalessem ao ganho de escolaridade. Tal ampliação do nível educacional
também não garantiu os retornos esperados, pois ocorreu para a fila de trabalhadores como um todo. A educação,
nesse contexto, tem se tornado uma
necessidade defensiva. Observa-se que,
em diversos cursos superiores, a obtenção do diploma não tem garantido uma
oportunidade ocupacional equivalente
no mercado de trabalho.
Esse fenômeno — de não correspondência entre o nível e grau educacional, de um lado, e ocupação no mercado de trabalho, de outro, é conhecido na
literatura internacional por "mismatch".
Tal termo pode ser definido como a incompatibilidade entre a escolaridade dos
trabalhadores e a educação requerida
para o exercício das funções ou ocupações nas quais estes estejam empregados. Dito de outro modo, o mismatch
reflete um hiato entre as necessidades
das empresas (demanda) e a formação
disponibilizada aos indivíduos pelo sistema educacional (oferta).
Internacionalmente, o estudo de
Duncan e Hoffman (1981) é um dos primeiros a estudar o fenômeno. Nele, os
autores se preocuparam em estudar os
retornos salariais para os indivíduos sobrequalificados (overeducation - ORU).
Esses autores substituíram a variável
escolaridade pela especificação ORU
em uma regressão de salários Minceriana. O objetivo dos autores era verificar
a incidência de prêmios salariais sobre
incompatibilidades entre escolaridade
obtida pelos trabalhadores e educação
requerida de suas ocupações. Há na literatura (GROOT e VAN DEN BRINK;
2000 e HARTOG; 2000, por exemplo)
vasta evidência de que os retornos sobre ORU são significativos - o que implica dizer que trabalhadores sobre-educados e subeducados percebem, respectivamente, prêmios salariais e penalidades, por exercerem uma ocupação
com educação requerida distinta aos
seus níveis educacionais.
Dolton e Vignoles (1997) mensuraram a duração da Overeducation e examinaram quais fatores influenciavam a
transição de graduados para novo trabalho, após a conclusão do curso superior. Os resultados da pesquisa indicaram que a maioria dos homens graduados, supereducados no primeiro emprego após a graduação, não mudaram de
trabalho nos seis anos após a conclusão do curso superior. Tal achado indica
que a sobre-educação pode ser um problema relativamente permanente para
indivíduos que permanecem em trabalhos para os quais eles são supereducados. Isso seria consistente com a visão de que o trabalhador supereducado
seria, de algum modo, menos capaz que
os outros indivíduos com o mesmo nível
de educação, mas que estão em trabalhos que requerem a educação adquirida. Esse fato parece contradizer a hipótese de que as pessoas podem ser temporariamente supereducadas devido a
um matching ruim (overeducation possa ser o resultado de um matching ruim
entre empresa e empregado) ou porque
eles estão substituindo educação extra
por outras formas de capital humano
(SANTOS, 2002).
Nacionalmente, a tradição de estudos sobre o mismatch é também da economia e demografia. Destacam-se os
estudos de Santos (2002) e Machado,
Oliveira e Carvalho (2003). Neste último,
as autoras, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) no período de 1981 a 2001,
constataram a sobrequalificação (sobreeducação) em muitas ocupações no País.
Educação e Empregabilidade:
promessa e falácia
É importante lembrar que os investimentos em educação vêm sempre
acompanhados da promessa e expectativa de um emprego, para os desempregados, ou de uma melhor oportunidade, para aqueles já ocupados. O grande pano de fundo nesta relação é a tal
empregabilidade.
Esta palavra, empregabilidade, tem
ocupado posição de destaque na Academia, no mundo empresarial e na discussão sobre políticas públicas, no Brasil e em outros países. Convém destacar, entretanto, que seu surgimento é
relativamente recente. É reflexo do agravamento da crise pela qual passa o mercado de trabalho em todo mundo, em
função da diminuição do número de
empregos formais e do aumento dos níveis de desemprego e trabalhos informais (CARLEIAL e VALLE, 1997). É sabido que a terceirização e flexibilização
da economia vêm causando fortes impactos no mercado de trabalho em todo
o Brasil, que, segundo Pochmann
(2001), vive um momento de desestruturação. Para o autor, os novos conhecimentos tecnológicos se associaram às
exigências empresariais de contratação
de empregados com polivalência multifuncional, maior nível de motivação e
habilidades laborais adicionais no exercício do trabalho. Foi o novo contexto do
mercado de trabalho, permeado pelo
desemprego e pela dificuldade em se
(re)inserir neste mercado, que trouxe o
debate acerca da empregabilidade para
a ordem do dia, no Brasil e em diversos
outros países.
Por se tratar de um fenômeno recente, a conceituação e entendimento
sobre empregabilidade são dispersas e
diversificadas. São exemplos:
O conceito de empregabilidade tem
sido utilizado para referir-se às condições da integração dos sujeitos à realidade atual dos mercados de trabalho e
ao poder que possuem de negociar sua
própria capacidade de trabalho, considerando o que os empregadores definem por competência (MACHADO,
1998, p.18).
Para Lavinas (2001, p.03), o uso do
termo empregabilidade remete "às características individuais do trabalhador
capazes de fazer com que possa escapar do desemprego mantendo sua capacidade de obter um emprego". Na visão da autora, o divisor de águas entre
trabalhadores empregáveis e não empregáveis reside no seu grau de aptidão
para um determinado trabalho.
Nas definições de empregabilidade
apresentadas, o termo é visto como a
capacidade de adaptação da mão de
obra frente às novas exigências do mundo do trabalho e das organizações. Entretanto, não há um consenso em relação à conceituação do tema.
Diversos outros autores referemse a empregabilidade como um discurso neoliberal, que transfere a responsabilidade pelo emprego, da sociedade e do Estado, para o próprio trabalhador. Carrieri e Sarsur (2002) entendem a empregabilidade como uma estratégia adotada pela alta administração das empresas, no sentido de transferência da organização à responsabilidade ao trabalhador, da não contratação ou da demissão. Para Rodrigues
(1997, p.228), o conceito empregabilidade, conjugado com outros conceitos
mais gerais, como globalização, competitividade e reestruturação industrial, busca consolidar a "construção de
uma rede discursivo-conceitual que
tenta simultaneamente, por um lado,
explicar uma nova etapa do desenvolvimento civilizatório e, por outro lado,
facilitar as dores do parto do novo
mundo do trabalho".
É possível supor que a ênfase no
mercado e no cliente, nas novas competências gerenciais e na empregabilidade, parecem resolver um tradicional
dilema gerencial, qual seja, controlar e
direcionar os indivíduos para comportamentos desejados: autonomia, flexibilidade, criatividade, autovigilância, espírito empreendedor, etc. Para Freitas
(2000, p. 11), nesse discurso, e também
nas ações organizacionais, é dito que o
indivíduo deve considerar-se como o
"empreendedor de sua própria vida", que
ele seja o "seu próprio projeto" e que se
veja como "um capital que deve dar retorno", buscando sempre melhorar sua
empregabilidade.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
27
Acredita-se também que o acesso
ao emprego não pode ser determinado
de forma simplista e restrita. A realidade
mostra que várias são as explicações e
os determinantes da empregabilidade e
de suas variantes. Segundo Paiva (2000,
p.57), empregabilidade é uma "construção social mais complexa, na medida em
que se descola das instituições formais
e da experiência adquirida para considerar aspectos pessoais e disposições
subjetivas e para dar maior peso não
apenas a aspectos técnicos, mas à socialização".
Essa visão de empregabilidade é
bastante apropriada à realidade brasileira, marcada, segundo Freitas (1997),
por um forte traço de personalismo. Para
o autor, a sociedade brasileira é baseada em relações pessoais. Nesse sentido, não se pode imaginar que o acesso
ao emprego no Brasil ocorra de modo
impessoal e meritocrático, valorizando
principalmente as variáveis ligadas ao
esforço próprio individual, nomeadamente investimentos em capital humano
(educação). Civelli (1998) destaca que
o acesso ao mercado de trabalho deve
ser estudado sob uma perspectiva diferenciada, na qual variáveis simbólicas,
culturais, sociais e de valor estão se tornando fundamentais. Esta foi a estratégia proposta e testada por Helal (2005;
2007), que explora a temática da empregabilidade individual, procurando ampliar a discussão corrente sobre o assunto, centrada na teoria do capital humano. Nesse sentido, o autor propõe e testa um modelo explicativo da empregabilidade individual, baseado em revisão
bibliográfica, com o propósito de buscar
melhor entendimento sobre o que determina o acesso ao emprego. O modelo é
concebido com base em três abordagens: teoria do capital humano, do capital cultural e do capital social.
Os resultados do estudo (HELAL,
2007) indicaram que não apenas os investimentos em capital humano (educação formal) são suficientes para garantir
um espaço no mercado formal de trabalho. Os dados indicaram que, principalmente em posições de maior status ocupacional, como as gerenciais, as barreiras de gênero e cor permanecem. Isso
indica que, apesar dos investimentos em
educação realizados pelos brasileiros,
eminentemente na última década, negros
e mulheres continuam a ter menores
oportunidades no mercado de trabalho.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BECKER, G. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with
special reference to education. Nova York: NBER/Columbia University
Press, 1964.
BLOSSFELD, H. P.; SHAVIT, Y. Persisting Inequality. Boulder, Col., Westview Press, 1993.
BOWLES, Samuel; GINTIS, H. Does schooling raise earnings by making
people smarter? In: K. Arrow; S. Bowles; S. Durlauf (orgs.). Meriticracy and Economic Equality. Princeton-NJ: Princeton University
Press, 2000.
CARLEIAL, Liana; VALLE, Rogério (orgs.). Reestruturação Produtiva
e Mercado de Trabalho no Brasil. São Paulo: HUCITEC-ABET, 1997.
CARRIERI, Alexandre; SARSUR, Amyra M. Percurso Semântico do
Tema Empregabilidade: um estudo de caso em uma empresa de telefonia. Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração EnANPAD, 26, 2002, Salvador-BA, Anais... Rio de Janeiro: ANPAD,
2002. 1 CD.
CIVELLI, Franco. Personal Competencies, Organizational Competencies, and Employability. Industrial and Commercial Training. Guilsborough, v.30, n.02, p.48-52, 1998.
DOLTON, P. J.; VIGNOLES, A. Overeducation Duration: How Long Did
Graduates. In: the 1980s Take to Get a Graduate Job? Tyne Working
Paper, University of Newcastle, 1997.
DUNCAN, G.; HOFFMAN, S. The Incidence and Wage Effects of Overeducation, Economics of Education Review, 1, 75-86, 1981.
FERNANDES, D. C. Estratificação Educacional, Origem Socioeconômica e Raça No Brasil: as Barreiras da Cor. In: Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas. (Org.). Prêmio IPEA 40 Anos. Brasília: IPEA,
2005, p. 21-72.
FREITAS, M. E. Contexto social e imaginário organizacional moderno.
Revista de Administração de Empresas, n. 2, p. 6-15, 2000.
GROOT, W.; VAN DEN BRINK, H. Overeducation in Labor Market: A
Meta-Analysis, Economics of Education Review, 19, 149-158, 2000.
HARTOG, J. Over-education and earnings: where are we, where should
we go, Economics of Education Review, 19, 131-147, 2000.
HELAL, Diogo Henrique. Flexibilização organizacional e empregabilidade individual: proposição de um modelo explicativo. Cadernos
EBAPE.BR. v.III, n.1, p. 1-15, março, 2005, ISSN: 1679-3951.
HELAL, Diogo Henrique. Empregabilidade no Brasil: padrões e tendências. In: IPEA. (Org.). Prêmio Ipea 40 anos IPEA-CAIXA-2005 : monografias. Brasília: IPEA, 2007, v. , p. 1-726.
28 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Abstract
The article searches to debate the relation education and work in Brazil. It stands out that the recent investments in the
higher education in the country came
(and come) together with the promise
and expectation of getting ocupation and
wage reward in the work market. It emphasizes that such promises are inserted in the employment speech, characteristic of the neo liberalism. Finally, it is
worth reminding that in the Brazilian case
the investments in education are not the
only ones sufficient to guarantee the access to the formal work market, and although the investments in education carried out by the Brazilian, specially on the
last decade, afro descendants and women continue to have smaller ocupational opportunities.
LAVINAS, Lena. Empregabilidade no Brasil: inflexões de gênero e diferenciais femininos. TD - Texto para Discussão, n.826. Rio de Janeiro,
IPEA, set. 2001, p.01-24.
MACHADO, Ana Flávia; OLIVEIRA, Ana Maria Hermeto Camilo; CARVALHO, Nayara França. Tipologia de qualificação da força de trabalho: uma
proposta a partir da noção de incompatibilidade entre ocupação e escolaridade. Texto para Discussão, n.º 218, CEDEPLAR/UFMG, agosto de 2003.
MACHADO, Lucília. Educação Básica, Empregabilidade e Competência. Trabalho & Educação - Revista do NETE. Belo Horizonte, n.03,
p.15-31, jan./jul. 1998.
MINCER, J. Schooling, experience, and earnings. Nova York: NBER/
Columbia University Press, 1974.
PAIVA, Vanilda. Qualificação, Crise do Trabalho Assalariado e Exclusão Social. In: P. GENTILI e G. FRIGOTTO (orgs.). A Cidadania Negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho. 1.ed. Buenos
Aires: CLACSO, 2000, p.49-64.
PIORE, M.; SABEL, C. The second industrial divide: possibilities for
prosperity. New York: Basic Books, 1984.
POCHMAN, M. O emprego na globalização. A nova divisão internacional do trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo: Boitempo, 2001.
RAFTERY, A.; HOUT, M. Maximally maintained inequality: Expansion,
reform and opportunity in irish education 1921-1975. Sociology of Education, 66 (1), pp. 41-62, 1993.
RODRIGUES, José. Da Teoria do Capital Humano à Empregabilidade:
um ensaio sobre as crises do capital e a educação brasileira. Trabalho
& Educação - Revista do NETE. Belo Horizonte, n.02, p.215-230, ago./
dez. 1997.
SANTOS, A. Overeducation no Mercado de Trabalho Brasileiro , Revista Brasileira de Economia de Empresas, 2 (2), 2002.
SCHULTZ, T. W. Investment in human capital. American Economic
Review, v. 51, p. 1-17, Mar. 1961.
SCHULTZ, T. W. O capital humano: investimentos em educação e pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.
SORENSEN, A. B.; KALLENBERG, A. L. An outline of a theory of the
matching of persons to jobs. In: GRUSKY, D. B. Social stratification in
sociological perspective. Class, race, & gender. Boulder, Colorado:
West View Press S.F., 1994.
THUROW, L. Generating inequality. New York: Basic Books, 1973.
THUROW, Lester. Education and economic equality. In: J. Karabel;
A.Halsey (orgs.). Power and Ideology in Education. New York: Oxford
University Press, 1977.
ESPECIAL Educação X Qualificação
Trabalho, sem pecado original
LUCIA M. DE OLIVEIRA*
"(...) são poucos os que sabem da existência de um pequeno cérebro em cada um dos dedos da mão, algures entre a
falange, a falanginha e a falangeta. Aquele outro órgão a que chamamos cérebro (...), nunca conseguiu produzir senão
intenções vagas, gerais, difusas, e sobretudo pouco variadas, acerca do que as mãos e os dedos deverão fazer. Por
exemplo, se ao cérebro da cabeça lhe ocorreu a ideia de uma pintura, ou música, ou escultura, ou literatura, ou boneco de
barro, o que ele faz é manifestar o desejo e ficar depois à espera, a ver o que acontece. Só porque despachou uma ordem
às mãos e aos dedos, crê, ou finge crer, que isso era tudo quanto se necessitava para que o trabalho, após umas quantas
operações executadas pelas extremidades dos braços, aparecesse feito. Nunca teve a curiosidade de se perguntar por que
razão o resultado final dessa manipulação sempre complexa, até em suas mais simples expressões, se assemelha tão
pouco ao que havia imaginado antes de dar instruções às mãos(..), ao nascermos, os dedos ainda não têm cérebro, vãonos formando pouco a pouco com o passar do tempo e o auxílio do que os olhos veem". José Saramago, A Caverna, 2001.
O objetivo desse artigo
é situar algumas questões
que envolvem as definições
de qualificação e sua relação
com o emprego e a gestão
do trabalho.
O
conceito vigente de o que é
trabalho define como qualifica
ção as qualidades humanas
implicadas no ato de trabalho.
E mais, a qualificação é entendida como
algo externo ao trabalhador e inerente
ao posto de trabalho ao qual o indivíduo
deve alienar seus conhecimentos como
executor de tarefas. Essa conceituação
sustenta as diversas teorias que têm em
comum a noção sobre "a necessária
adequação do trabalhador aos requerimentos do posto de trabalho". Hoje,
dada a amplitude e ambiguidade da definição desse posto de trabalho, diz-se
mais frequentemente "às necessidades
do mercado".
Consolidado como pensamento científico por Taylor, no início do século 20,
o conceito de trabalho prescrito, que supõe a execução do ato pensado e elaborado por outro, concepção e execução
como atos separados, o corpo da alma,
o modelo da operação permanece como
referente para a regulamentação do objetivo e sentido da qualificação. Entendida como algo adquirido para ser usado
segundo a demanda do posto de trabalho. Ainda que os processos de trabalho
*
tenham se modificado profundamente ao
longo da história, a questão de como este
ocorre de fato não foi incorporada como
elemento essencial de construção das
estratégias produtivas e educativas. Passou-se, quando muito, da prescrição por
tarefas para a prescrição por procedimentos, do controle por tarefa para o controle por resultados.
Tais considerações são necessárias para entendermos a disseminação de
noções como a empregabilidade, que,
como a teoria do capital humano (despontada nos anos 1950), busca orientar
os conteúdos e objetivo da qualificação.
Nos limites desse artigo, não corresponde o desenvolvimento dos fundamentos da concepção do que é o trabalho no modelo da operação; mesmo assim, vale a pena recapitular alguns de
seus elementos:
Trabalhar é desenvolver um conjunto
de tarefas previamente prescritas
quanto a sua maneira de fazer, os tempos em que deve ser realizado, assim
como seu resultado.
A descrição do trabalho está atrelada
ao posto de trabalho e a este está referenciada a qualificação requerida.
Tarefa é uma parte sequencial ou isolada do conjunto dos atos de trabalho
que resultam em um produto determinado.
Nesse universo, mercado de trabalho
não é entendido como uma relação
social, mas "ente" determinante com
poder unilateral de decisão.
A negociação colocou-se como uma
necessidade nesse processo de regulamentação.
Como a relação de exploração do
trabalho existe de fato, expressa em lu-
tas sociais, impôs-se com o tempo a intervenção do estado como órgão regulamentador das suas relações, definindo direitos e deveres no contexto desse
marco conceitual.
Em 1919, foi criada a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), organismo tripartite. O objeto de negociação
mudou de acordo com as transformações
no mundo do trabalho, com o grau de organização e legitimidade dos atores envolvidos e das aspirações de desenvolvimento das relações sociais: Limitação
da extensão da jornada de trabalho, em
seus primórdios, a temas como trabalho
decente e estratégias de desenvolvimento e emprego, na atualidade.
No mundo rígido da produção em
massa, comandado pela oferta de produtos, sem intervenção do cliente, quanto à necessidade, qualidade, preço,
modelo, embalagem, etc, a ilusão de que
o trabalho é apenas a execução da ação
prescrita em tempos e forma ganhou
força. A produtividade é medida pelo fluxo de produtos hora/homem. A intervenção individual ou coletiva dos operadores sobre o processo de trabalho — denotando a verdadeira organização — na
solução de problemas, não prevista nessa estrutura, fica camuflada pela aparente harmonia do previsível.
Foi o período do auge dos ofícios,
da formação técnica como função pública, do ingresso ao emprego como aprendiz como caminho para a carreira profissional, através da experiência. O conhecimento técnico e experiência dos
operadores permitiram ao modelo da
operação fazer frente aos grandes problemas recorrentes de todo processo de
trabalho, o imprevisto.
Socióloga do Trabalho.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
29
O pós-segunda guerra mundial e a
expansão da produção capitalista, do
consumo, começa a arranhar essa estrutura e, a partir dos anos 1960, com o
surgimento das novas tecnologias microeletrônicas, a expansão da transmissão
de dados e o acirramento da concorrência entre as firmas, esta forma de gestão da produção e do trabalho torna-se
incompatível frente à necessidade de
responder aos novos desequilíbrios na
produtividade, no emprego e no consumo. Em um mundo onde crescia o clamor social por participação, ampliação
dos direitos de opinião e escolha.
A resposta do sistema capitalista foi
a teoria do Estado mínimo e a desregulamentação do mercado de trabalho, o
neoliberalismo, como foi popularizado,
em plena expansão nos anos 1970. Alguns de seus componentes centrais são
o desemprego, a desregulamentação
dos contratos de trabalho e o desmantelamento do arcabouço que sustenta a
proteção social, visando a reduzir custos, principalmente os custos variáveis
(reestruturação produtiva) para dar conta
das variações no mercado de consumo.
À forma tradicional de medir a produtividade, produtos hora/homem, incorporam-se aspectos subjetivos, difíceis de
mensurar, e que estão relacionados às
novas necessidades de gerenciar a demanda do cliente, de onde passa a ser
ditado o objetivo da produção. É também parte do elenco a ofensiva privatizadora, da qual não escapam a educação terciária e profissional1 e a profusão de teorias de gestão do trabalho instrumentais à nova face do modelo da
operação.
O debate sobre a gestão do trabalho não deu lugar a uma revisão do modelo da operação. Nas teorias de gestão do trabalho que sucedem ao taylorismo, concepção e execução permanecem como momentos e atos separados.
Não ocorre uma prescrição operativa do
trabalho, mas a prescrição dos resultados, uma prescrição detalhada e precisa do produto a ser alcançado, com especificação da qualidade, dos prazos de
entrega, do volume, etc.
É o auge das consultorias privadas,
contratadas pelas empresas, que através
da crítica, apenas formal, ao Taylorismo
apelavam ao retorno do cérebro ao executor de tarefas. O posto de trabalho re-
Alunos do Senac participam de curso de hotelaria realizado em parceria com a PBH
queria alguém que também fosse capaz
de "pensar" para não só executar, tomar
iniciativas e, sobretudo, adaptar-se, rapidamente, às mudanças no produto e nos
prazos, agora ditados pela demanda do
cliente. Às "habilidades requeridas" do
"saber fazer" (trunfo do setor de recursos humanos), são incorporados requisitos morais e pessoais como compromisso, engajamento com a empresa, responsabilidade, mas que ficam fora do contrato de trabalho e do reconhecimento
profissional e salarial.
Os operadores, alijados do processo de decisão sobre os objetivos do trabalho, não respondem às tentativas das
empresas de conquistar o seu compromisso e envolvimento na gestão por resultados. O fracasso dessas novas teorias de gestão do trabalho está centralmente relacionado ao não envolvimento dos
trabalhadores e, muitas vezes, registramse retrocessos na produtividade.
A empregabilidade é parte dessa
nova abordagem do modelo da operação,
definindo o novo perfil adequado do trabalhador. Já não mais o operador atrelado ao posto fixo de trabalho, mas o trabalhador "adaptável", fragmentado em
especialidades, segundo as exigências
do produto a alcançar. A empregabilidade é o reverso da sociedade do conhecimento. A forma barata de usufruir da diversidade das qualidades humanas para
dar conta das variações na produção.
A questão do emprego e da eficiência do processo (do qual depende o
emprego) é situada, exclusivamente, no
indivíduo, tendo por desafio cumprir
metas cujo objetivo e clareza não domina, colocado em uma organização cujo
centro é a competição entre pares2.
A desregulamentação das relações
de trabalho é um imperativo para seu
desenvolvimento pleno (o contrato temporário, o emprego precário, a mão de
obra descartável, etc). Ainda que os fundamentos teóricos do Estado mínimo e
da regulamentação através do mercado
já tenham sido duramente questionados
com a última crise, sua superação não
implica, ainda, revisão desses parâmetros que orientam as relações de trabalho e o objetivo da qualificação.
No curso desse processo, desenvolve-se em algumas experiências empresariais, mas, sobretudo, em alguns meios acadêmicos (na França, em particular) a crítica aos fundamentos do trabalho prescrito, abrindo caminho a uma
nova sociologia do trabalho. O centro da
nova concepção do trabalho é que “trabalhar é atuar sobre as situações de trabalho” (Zarifian). A organização é colocada como o espaço de elaboração do
conhecimento sobre o trabalho, de cooperação. Não se trata do aprender fazendo, o aprendizado teórico é uma das condições de eficiência do processo, e deve
ser realizado em tempos diferidos. Tratase de conceber a organização como lugar de desenvolvimento das competências, onde se integram cérebros, mãos,
dedos e olhos, através da circulação,
comunicação e integração de conhecimento, do domínio técnico dos proces-
1
Alguns dos resultados da privatização, em Belo Horizonte: existem, atualmente, 63 instituições privadas, credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação, ofertando
cursos de nível técnico e apenas dois institutos públicos de âmbito federal. Quanto às universidades, existem 27 faculdades e universidades privadas e duas públicas, uma
federal e uma estadual. No caso da Universidade Federal, nos últimos anos o governo vem investindo no aumento da oferta de vagas e de cursos, entre outras políticas de
democratização do acesso, como a validação da prova do ENEM para ingresso dos alunos oriundos da escola pública e a cota para negros. (ver matéria anexa)
2
Um exemplo extremo de organização adversa ao trabalho são os suicídios na empresa France Telecom, na França, onde 24 trabalhadores suicidaram-se de fevereiro de
2008 a 28 de setembro 2009. O diagnóstico de sindicatos e do governo de que os suicídios devem-se às medidas aplicadas pela empresa de permanente mobilidade
(função, localidade geográfica, base salarial, etc), instabilidade e estresse, gerando situações de sofrimento e mal-estar, obrigou a empresa a comprometer-se a suspender
as medidas de mobilidade e a restabelecer as negociações em temas como organização do trabalho, condições de trabalho, equilíbrio vida privada, vida profissional,
organismos representativos dos empregados e regras de mobilidade. Le Monde, 15 e 28 de setembro 2009.
30 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
sos, para que seja possível planejar, elaborar, reelaborar, antecipar e resolver
problemas, enfim, agir, sem comprometer a qualidade do trabalho, o produto, os
prazos, etc. Essa relação deve ser explícita e reconhecida formalmente e requer
condições de confiança da hierarquia,
autonomia e segurança para a tomada
de decisão, o comprometer-se, por parte
do pessoal envolvido no processo. Transita-se do conceito de qualificação ao de
competência. A produtividade passa à
qualidade do processo.
A noção de empregabilidade traz
consigo as seguintes questôes:
O emprego está dissociado da empresa, pertence ao mercado. E como o desemprego, é uma responsabilidade do
indivíduo, não casualmente surgiram
os movimentos em prol da responsabilidade social das empresas, sustentados por isenções fiscais.
Ter empregabilidade é aceitar as regras, definidas unilateralmente, sobre
as condições de trabalho.
A qualificação coloca-se como um desafio para o indivíduo.
A ênfase em qualificação passa a ser
a certificação e em anos de escolaridade. Em um país como o Brasil — que
só muito recentemente passou a assegurar educação fundamental a todos
— e o poder público retomou sua participação na formação técnica e uni-
versitária, pode-se medir a contribuição desse modelo na exclusão social.
Ao requerimento de maior grau de
escolaridade não correspondem mudanças nem na qualidade do emprego e nem salarial 3.
Em 1999, a OIT propôs a Agenda
do Trabalho Decente, um instrumento de
construção de novos acordos, recolocando a questão do emprego e sua qualidade, além da garantia e extensão da
proteção social no centro do debate
mundial, na contramão do projeto socioeconômico, hegemônico4.
Comentários:
O conceito de trabalho como concepção externa ao sujeito que o realiza
permanece vigente tanto no modelo da
operação por posto de trabalho fixo
como no do posto "mutável".
As qualidades humanas permanecem
recortadas em uma qualificação requerida e como produto externo ao trabalhador, cujo valor de uso está definido
pelo posto de trabalho ou o produto a
alcançar.
O desafio de pensar a organização
como espaço que integra o trabalhador
como sujeito da ação, para que ele possa de fato apropriar-se da situação de
trabalho e atuar sobre ela, permanece
como o problema a ser resolvido.
Abstract
The aim of this article is to place some
issues that involve the qualification definitions and their relation to the employment and the work management.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-DIOGO, Maria Fernanda. Os sentidos do
trabalho de limpeza e conservação. In: Psicologia em Estudo, Maringá, v. 12, n. 3,
p. 483-492, set./dez. 2007.
-Estudos e Projetos desenvolvidos em várias empresas uruguaias. Equipe de pesquisa sobre setor produtivo (De OLIVEIRA, L; MASSERA, E; MENDY, M; MORALES S; PITTALUGA, L.). Convênio Universidad de la República e empresas dos setores de alumínio, papel, frigorífico, laticínios, transformadores, autopeças. Documentos de Trabalho. UDELAR. 1996 a
2003. Uruguai.
De OLIVEIRA, L; MENDY, M.: Conhecimento em ação. Uma ferramenta competitiva em contextos adversos. Em: Gestão
do Conhecimento. USP-São Paulo-Brasil.
2003.
-ZARIFIAN, Philippe, Evénements, travail
et compétence, conferência em CNAMTS,
maio 2008.
-------- De la notion de qualification à celle
de compétence. Cahiers français, n.º 333.
Janeiro de 2007.
3
No mercado de trabalho dos empregos classificados como não qualificados ou semiqualificados, em Belo Horizonte, 55% das vagas estão ocupadas por pessoas com 11
anos ou mais de estudos e 20%, por pessoas com ensino médio incompleto. E 37% dos colocados têm entre 18 e 24 anos. Fonte: Rafante, H. Base de dados SIGAE, das
unidades de intermediação municipal. 2009.
4
O Brasil, em 2003, aderiu à Agenda do Trabalho Decente e em 2006 lançou o Plano Nacional de Trabalho Decente, integrando também a Agenda Hemisférica.
A questão da qualificação no Brasil
A questão da qualificação no Brasil esteve marcada pelo preconceito
contra o trabalho manual e o dualismo
entre os objetivos da educação acadêmica e da formação profissional. Nos
anos 1940, as leis orgânicas da educação nacional definiam como objetivo do ensino secundário e normal o de
"formar as elites condutoras do País" e
o objetivo do ensino profissional o de
oferecer "formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da
sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho."
Determinação constitucional estabelecendo o ensino vocacional e prévocacional como dever do Estado, com
a colaboração das empresas e dos sindicatos, possibilitou a definição das
Leis Orgânicas do Ensino Profissional,
propiciando a criação de entidades especializadas como o SENAI, em 1942,
e o SENAC, em 1946, e a transformação das antigas escolas de aprendizes
artífices em escolas técnicas federais.
Em 1942, um Decreto-Lei estabeleceu
o conceito de menor aprendiz para os
efeitos da legislação trabalhista e, por
outro Decreto-Lei, dispôs sobre a "Organização da Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial".
Com essas providências, o ensino profissional se consolidou no Brasil, embora ainda continuasse a ser preconceituosamente considerado como uma
educação de segunda categoria.
Na década de 1950 foi introduzida a equivalência entre os estudos
acadêmicos e profissionalizantes, permitindo que concluintes de cursos profissionais pudessem continuar estudos
acadêmicos nos níveis superiores,
desde que prestassem exames das
disciplinas não estudadas naqueles
cursos e provassem "possuir o nível
de conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos". O enfoque dualista, contudo, só desaparecerá formalmente com a Lei federal n.º
4.024/61.Esta foi a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional a estabelecer a plena equivalência entre todos os cursos do mesmo
nível, sem necessidade de exames e
provas de conhecimentos.
De acordo com Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), a
educação para o trabalho não tem sido
tradicionalmente colocada na pauta da
sociedade brasileira como universal. O
não entendimento da abrangência da
educação profissional, na ótica do di-
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
31
reito à educação e ao trabalho, associando-a unicamente à "formação de
mão de obra”, tem reproduzido o dualismo na sociedade brasileira entre as
"elites condutoras" e a maioria da população, levando, inclusive, a considerar o ensino normal e a educação superior como não tendo nenhuma relação com educação profissional.
A reforma de 1971, durante o governo militar, reformulou a Lei de 1961
e introduziu a profissionalização compulsória no ensino médio, na tentativa
de qualificar mão de obra para a expansão industrial. Na realidade, essa
"fusão", ao não preservar a carga horária destinada à formação de base, terminou por prejudicar tanto este nível
de ensino como a não atender às necessidades da formação profissional.
Atenuada em 1982, com a Lei Federal
n.º 7.044, que tornou facultativa a profissionalização no ensino médio, deixou como saldo "o desmantelamento
de grande parte das redes públicas de
ensino técnico, a descaracterização
das redes de ensino médio e normal
mantidas por estados e municípios e a
criação de uma falsa imagem da formação profissional como solução para
os problemas de emprego. Após 1982,
as escolas passaram a oferecer apenas o ensino acadêmico, às vezes
acompanhado de um arremedo de profissionalização" (CNE)
Lei federal n.º 9.394/1996
A nova Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) de 1996, instituída durante o governo neoliberal, propôs-se a sepultar definitivamente o dualismo, o preconceito e o caráter assistencialista
que marca a formação profissional ao
definirque "a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva", a ser "desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por
diferentes estratégias de educação
continuada," na perspectiva do exercício pleno da cidadania.
Arcabouço central da reforma de
1996 e do Decreto 2.208:
Adequação da escola e do ensino profissional às tendências mais recentes
do mercado de trabalho (racionalização, flexibilidade, produtividade).
Proibição da integração da formação profissional ao ensino médio (revoga lei federal n.º 5.692/71, que institui a profissionalização universal e
compulsória).
Introdução do conceito de indepen-
dência e articulação entre os diferentes níveis e áreas da educação.
A formação profissional passa a estar associada ao termo laboralidade.
Organização da formação profissional por áreas profissionais.
Instituição de três modalidades de
formação profissional:
• básico - sem requisito de escolaridade;
• técnico - cursando ou concluído o
ensino médio;
• tecnológico - nível superior - concluído o ensino médio.
Introdução do conceito de competência e de certificação de competências
Instituição das seguintes orientações para o ensino técnico:
• competências para a laboralidade;
capacidade de o trabalhador moverse entre múltiplas atividades produtivas;
• flexibilidade, interdisciplinaridade e
contextualização;
• identidade dos perfis profissionais;
• atualização permanente dos cursos
e currículos;
• autonomia curricular da escola.
A formação profissional no Brasil, nos anos 1990, sofre os impactos
da política nacional de privatizações
e autoexclusão do estado da esfera de
investimento público, entre eles a educação superior e profissional. E entre
os anos 1996 a 2002, ocorreram três
fatos marcantes na esfera da formação profissional:
redução do investimento público nas
redes de ensino técnico com o estancamento do número de vagas, cursos e institutos (pela via econômica,
acentua a exclusão social do ensino
profissional de boa qualidade);
surgimento de uma ampla oferta de
cursos técnicos da área privada, com
autonomia curricular;
desenvolvimento de uma oferta pública de qualificação para pobres. O
poder público cria o programa de
ações de qualificação, na modalidade de formação básica, localizado no
Ministério do Trabalho e Emprego,
cuja função era o repasse de recursos a organizações civis, sindicatos
e instituições da área da educação,
com o objetivo de ocupar a mão de
obra desempregada e mais vulnerável socialmente, em atividades marginais de geração de renda e empregos desqualificados (Planfor, sucedido pelo Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador - PNQ).
A partir de 2004, começa o processo de reversão desse cenário. Vários decretos, pareceres e resoluções
alteram a lei de 1996, em particular
32 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
os artigos 39 e 41 e os decretos de
1997 e 2001.
Decreto n.º 5.154/2004
revoga o decreto n.º 2.208/1997,
regulamenta o § 2.º do art. 36 e os
art. 39 a 41 da lei n.º 9.394/ 1996,
define novas orientações para a organização da educação profissional.
prevê três alternativas de organização da educação profissional: integrada com o ensino médio, concomitante e subsequente.
Resolução CNE/CEB n.º 1,
de 21 de janeiro de 2004
Estabelece diretrizes nacionais
para a organização e a realização de
estágio de alunos da educação profissional e do ensino médio, inclusive nas
modalidades de educação especial e
de educação de jovens e adultos.
Parecer CNE/CES n.º 277/2006,
aprovado em 7 de dezembro de 2006
Organiza a educação profissional e
tecnológica de graduação por eixos
temáticos.
Integra a formação profissional e tecnológica à política de desenvolvimento.
Cria uma matriz dos eixos tecnológicos dividida em três categorias: tecnologias simbólicas, tecnologias físicas e tecnologias organizacionais.
Define os eixos tecnológicos que devem ser revistos e atualizados de forma permanente
A partir daí, a formação profissional de nível técnico passou a ser enfocada como parte dos instrumentos
do desenvolvimento estratégico nacional, requerendo, portanto, a intervenção do estado quanto a recursos,
programa curricular e planejamento
da oferta de formação. O PNQ, que
substituiu o Planfor, foi reformulado
no sentido de definir carga horária
mínima, estabelecer os desempregados como público prioritário, e limitou sua execução aos governos estaduais e municipais, através de convênios. Permaneceu, contudo, nos
marcos do conceito de qualificação
para pobres, com forte conotação assistencial por parte das instituições
gestoras dos recursos e executoras.
Política Urbana
Inclusão socioespacial e construção
do direito à cidade na trajetória
da política de regularização de BH
O presente artigo
aborda a política de regularização urbanística e fundiária das vilas-favelas de
Belo Horizonte. A conformação histórica dessas
áreas remete à dinâmica
de urbanização brasileira,
caracterizada por fenômenos como a magnitude das
desigualdades de renda e
da pobreza urbana, o alto
grau de informalidade e de
precariedade ambiental, e
os processos de segregação e de exclusão social,
econômica e espacial.
A análise empreendida compreende duas seções, além das considerações finais. Na primeira seção, faz-se
uma breve recuperação da trajetória da
temática da regularização fundiária na
agenda pública do País, colocando em
relevo os avanços político-institucionais
introduzidos pela Constituição Federal
de 1988 e, adiante, no Estatuto da Cidade e seus desdobramentos posteriores. A segunda seção é dedicada ao
exame da política de regularização fundiária implementada em Belo Horizonte, que tem como marco a proposição
do Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA), ocorrida
em meados dos anos 1980. Nas consi*
**
Arquivo SMURB
FLÁVIA DE PAULA DUQUE BRASIL*
RICARDO CARNEIRO**
A política de regularização fundiária implementada em Belo Horizonte tem, como marco, a
proposição do Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA)
derações finais, retoma-se a discussão
relativa à experiência belorizontina, procurando-se, ao mesmo tempo, chamar
a atenção para os desafios imbricados
nesse tipo de intervenção e apontar possíveis caminhos para fazê-lo avançar.
A emergência da regularização
fundiária na agenda da política
urbana nacional
A tematização e a mobilização em
torno da questão da urbanização e regularização das áreas de vilas-favelas têm
ocorrido no País envolvendo um conjunto amplo de atores coletivos. São relevantes, no processo, os movimentos de
moradia organizados a partir de diferentes bases sociais e motes de atuação
(moradores de cortiços, moradores de
favelas, ocupações, sem-teto e outros);
as articulações movimentalistas, que remontam aos anos 1980; as associações
de base territorial e as entidades vinculadas à Igreja Católica; as associações
profissionais; as assessorias aos movimentos; e, mais recentemente, as organizações não governamentais (ONGs).
No âmbito nacional, em diversos momentos, os atores organizados pressionaram
a agenda pública com ações de natureza diversa (BRASIL, 2004).
De forma mais ampla, tem se salientado a influência dos atores coletivos
Mestre e doutoranda em Sociologia pela UFMG; Professora e Pesquisadora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política; Professor e Pesquisador da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
33
e de seus projetos voltados para a inclusão e democratização, sobretudo a
partir da Assembleia Constituinte (DAGNINO, 2002; BRASIL, 2004; BRASIL e
MENICUCCI, 2005). A Constituição Federal de 1988 reflete tal influência apresentando avanços em três eixos fundamentais: a descentralização e ampliação
da autonomia municipal; o alargamento
dos direitos sociais; e a democratização
do Estado e de suas relações com a
sociedade, especialmente por meio da
participação.
Nesse contexto, destaca-se a formação do Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU), articulando uma
ampla rede de atores coletivos em torno
de uma plataforma de reforma urbana,
cujo núcleo básico aglutina o direito à
cidade e à moradia, a função social da
propriedade e a gestão democrática das
cidades. O referido movimento encaminha uma emenda popular que é em parte assimilada pelo texto constitucional,
nos artigos referentes à política urbana.
O artigo 182 da CF 88 avança no enunciado da função social da propriedade e
da cidade, dentre outros pontos, e o artigo 183 remete à regularização fundiária, via usucapião urbano e concessão.
No entanto, novas mobilizações fizeram-se necessárias para que a moradia fosse incorporada como direito - fato
que só veio a ocorrer em 2000, por meio
de emenda constitucional. Também foram requeridas mobilizações para a efetivação da necessária regulamentação
do capítulo constitucional de política urbana, por meio do Estatuto da Cidade,
servindo também de veículo para o encaminhamento de outras reivindicações,
como a criação do Fundo Nacional de
Moradia Popular, dentre outros avanços.
Afinado com essa perspectiva e frentes
de mobilização, o MNRU rearticulou-se,
em 1989, como Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), congregando
movimentos de moradia, associações
sindicais, ONGs de assessoria e formação e, ainda, associações profissionais.
Sob essa nova roupagem, atua no decorrer de toda a década de 1990, especialmente em prol da aprovação do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2004).
Aprovado apenas em 20011, o Estatuto da Cidade veio regulamentar a
política urbana no País, consoante os
artigos 182 e 183 da CF 88. A referida
lei apresenta princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos que permitem intervir nas questões urbanas e habitacionais, tendo em vista a realização da
função social da cidade. São dispositi-
vos institucionais que ensejam uma ordem socioespacial mais justa e includente, devendo-se destacar, neste sentido,
a regulamentação de instrumentos de
regularização fundiária, a preconização
da gestão democrática da cidade e a
participação no planejamento. Outros
avanços têm ocorrido mais recentemente, impulsionados pela criação, no primeiro Governo Lula, do Ministério das
Cidades, responsável pela formulação
de um conjunto de políticas urbanas e
habitacionais, onde se destaca a instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).
No bojo dos avanços normativos
determinados pela Constituição e pelo
Estatuto da Cidade, interessa ressaltar
o reconhecimento do direito à moradia
e à cidade. As áreas de ocupação informal foram historicamente ignoradas pelo
poder público, não constituindo objeto de
planejamento e intervenção com vistas
à sua efetiva incorporação ao tecido urbano formal, ou seja, à cidade oficial. Ao
lado disso, não raro foram objeto de remoção. A partir dos novos marcos legais,
passam a ser contempladas com políticas e programas de regularização urbanística e fundiária.
No âmbito local, os municípios devem assumir o norteamento dos novos
ordenamentos normativos e os princípios mais gerais introduzidos no âmbito
federal (como a função social da propriedade, o direito à moradia e a gestão
democrática das cidades) e aplicar os
instrumentos regulamentados de regularização fundiária, ao lado de outros
voltados para o desenvolvimento urbano. Sobre a questão, cabe observar que
no curso dos anos 1990, anteriormente,
portanto, à aprovação do Estatuto da
Cidade, diversos municípios (como Belo
Horizonte) já haviam avançado no reconhecimento do direito à cidade e à moradia, incorporando as áreas informais
como objeto de intervenção.
Tem-se sublinhado, na literatura, que
os governos locais vêm se afirmando
como loci de experimentalismo e inovação (FARAH, 2000) e, no campo das políticas de regularização, podem-se associar estes avanços voltados para a inclusão
e democratização às questões tematizadas pela sociedade civil e à sua influência
na agenda governamental, bem como, em
diversos casos, ao perfil progressista dos
governos locais. O caso de Belo Horizonte, a seguir abordado, constitui uma referência precursora no País de reconhecimento de assentamentos informais como
objeto de políticas públicas.
1
A trajetória da política de
regularização em Belo Horizonte
Ainda na primeira metade dos anos
1980, de forma pioneira no País, o governo de Belo Horizonte reconheceu a
ocupação informal das favelas, via legislação que prevê a regularização urbanística e fundiária destes assentamentos, implicando o desenho de instrumentos com tal finalidade. Isto se faz por
meio da Lei n.o 3.532, promulgada em
6 de janeiro de 1983, que autoriza o executivo municipal a criar o já citado Programa Municipal de Regularização de
Favelas2 . A pressão então exercida pela
atuação dos movimentos sociais e associações de moradores das favelas (ao
lado de entidades ligadas à Igreja Católica) sobre a agenda pública nos anos
1980 mostrou-se decisiva para a ocorrência dos avanços no tratamento da
questão. Esses atores lograram sucesso em influir na formulação do instrumento regulatório que constitui o arcabouço inicial de intervenção, ensejando
o reconhecimento das áreas de ocupação informais como um setor especial
— SE-4 — na Lei de Uso e Ocupação
Solo de 1986 (BRASIL, 2007). Tal inovação é precursora no País do que veio
a ser adiante o estabelecimento do instrumento jurídico-urbanístico das Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS),
que têm, como horizonte, a regularização dessas áreas de ocupação informal.
O protagonismo que o município de
Belo Horizonte assume na busca de soluções para o atendimento das demandas habitacionais dos segmentos populacionais inscritos na pobreza, que não
encontram atendimento por meio do
mercado imobiliário, ganha maior impulso com a Constituição Federal de 1988.
Refletindo os efeitos descentralizantes
do texto constitucional, há um alargamento do repertório de intervenções
adotadas pela administração local, "com
a incorporação de novos princípios, formatos e conteúdos, na linha das ações
de regularização fundiária ou da realização de investimentos em urbanização
e melhorias no acesso a serviços de infraestrutura urbana" (SOUZA e CARNEIRO, 2007, p. 380).
Ao longo dos anos 1990, o conteúdo substantivo e as formas de intervenção dos programas de urbanização e de
regularização foram redesenhados ou
aprimorados em diversas ocasiões no
Município. Uma inflexão mais significativa nesse sentido ocorreu a partir de 1993,
com a formulação da Política Municipal
Lei n.o 10.257, promulgada em 10 de julho de 2001.
O PROFAVELA visava a criar condições institucionais para a urbanização e regularização jurídica de favelas, sendo aplicável, no entanto, somente àquelas áreas mais
densamente ocupadas por população carente, existentes até o levantamento aerofotogramétrico realizado em 1981 (Lei n.o 3.532).
2
34 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Arquivo SMURB
O Programa Vila Viva é um aprimoramento da política que vem se desenvolvendo em Belo Horizonte desde 1993.
de Habitação e a criação do Sistema Municipal de Habitação, constituído pela
Secretaria Municipal de Habitação e a
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) - órgão responsável pela
regularização jurídica e urbanística dos
assentamentos informais, pelo Conselho
Municipal de Habitação, pelo Fundo Municipal de Habitação e pelo Orçamento
Participativo (OP). Em 1996, institui-se o
Orçamento Participativo da Habitação
(OPH). Esse progressivo aprimoramento da política de regularização e de seus
programas desembocou na adoção de
um instrumento de planejamento para
balizar as intervenções estruturais nas
vilas-favelas, denominado como Plano
Global Específico (PGE). O PGE adotou
uma abordagem multidimensional a partir de três linhas de ação: regularização
urbanística, regularização fundiária e desenvolvimento socioeconômico e organizativo (BRASIL, 2007).
Vale notar que a diretriz que informa a concepção dos PGEs é a de se
evitar a remoção das famílias das áreas
onde residem, como reivindicado historicamente pelos movimentos de moradia, o que se justifica, sob a ótica do
morador, tanto pela localização relativamente favorável de tais áreas quanto
pelas redes sociais nelas constituídas.
3
Dentro desta perspectiva, a remoção
ocorre apenas nos casos de ocupação
em áreas de risco, por necessidade de
intervenções viárias ou ainda para possibilitar reassentamentos, que têm ocorrido em parte por meio da construção,
pelo poder público, de unidades habitacionais verticais nas próprias vilas. Destaca-se que as negociações com os
moradores, nos casos de remoção, mostram-se como um dos fatores de complexidade desse tipo de política.
A concepção do PGE abriu espaço
para algumas formas de participação de
cunho mais localizado. Isto se dá no
decorrer de seus processos de formulação e implementação, que envolvem etapas intensivas e extensivas de negociação e redefinições, ainda que pontuais,
em relação às alternativas de intervenção selecionadas.
Um elemento fundamental de inovação consiste na incorporação da participação por meio das instâncias formalmente estabelecidas no âmbito das políticas propostas, como o Conselho Municipal de Habitação e o OP, anteriormente mencionados, além da Conferência Municipal de Habitação. Também o
Conselho Municipal de Política Urbana
(no que se refere às interfaces com o
Plano Diretor e a legislação de uso e
ocupação do solo) e as Conferências de
Política Urbana possibilitam, em alguma
medida, a participação na formulação
das políticas e programas de regularização. No campo dos avanços normativos vinculados a esses espaços, destaca-se a aprovação, em 2000, de uma
emenda ao Plano Diretor que regulamenta as ZEIS e os PGEs, estabelecendo parâmetros urbanísticos e diretrizes
para tais intervenções.
A despeito dos avanços, um dos limites relevantes refere-se ao alcance e
ritmo de implementação da regularização
fundiária propriamente dita, podendo-se
notar que embora a maior parte das vilas
já tenha atualmente seu PGE, a operacionalização ainda é lenta. De fato, até o
final de 2009, haviam sido formulados 54
PGEs, atendendo a 77 comunidades
(282,7 mil habitantes) e outros cinco encontravam-se em andamento, atendendo a cinco novas comunidades (31,8 mil
habitantes)3 . No entanto, apenas 11.719
escrituras ou títulos haviam sido emitidos
entre 1986 e 2007 (PBH, 2009 apud SIQUEIRA, 2009).
Cabe observar que a titulação depende não apenas do plano, mas também da regularização urbanística, de
modo que o ritmo lento pode ser atribuído, em parte, à complexidade inerente a
De acordo com dados da PBH (http://portalpbh.pbh.gov.br).
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
35
este tipo de intervenção, desde os já
mencionados processos de negociação
até os levantamentos requeridos da situação urbanística e da situação fundiária.
No tocante à variável fundiária, por exemplo, a regularização depende da informação relativa à condição de propriedade,
pois envolve instrumentos distintos no
caso de propriedade pública, quando se
aplica a concessão, e privada, quando se
aplica o usucapião, salientando-se que,
não raro, as vilas-favelas e aglomerados
apresentam-se mistas, com diversas situações de propriedade.
Recentemente, foi instituído o Programa Vila Viva, que basicamente apresenta a mesma estrutura, lógica e instrumentos de intervenção já consolidados, podendo-se considerá-lo como um
aprimoramento da política que vem se
desenvolvendo desde 1993. O referido
programa ampliou a escala de intervenção a partir da mobilização de parcerias, como a realizada com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e
da captação de recursos junto a fontes
de financiamento variadas, como a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), dentre outras. Pode-se notar, também, o
alargamento do escopo de intervenções,
sobretudo no que se refere à linha de
desenvolvimento social, com iniciativas
de capacitação profissional, geração de
emprego e renda, e de educação sanitária e ambiental (SIQUEIRA, 2009).
Ao lado dos programas de regularização urbanística e fundiária, as vilasfavelas têm sido foco de intervenção no
campo das políticas sociais por meio do
Programa BH Cidadania, voltado para a
inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais - conjuga intersetorialmente
programas, projetos e ações nas áreas
de educação, saúde, cultura, lazer, esportes e inclusão produtiva. Ganha relevância, nesse contexto, o Centro de
Referência da Assistência Social
(CRAS), equipamento da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social voltado para o encaminhamento de demandas sociais e a realização de atividades
endereçadas a segmentos específicos
da população, como crianças, adolescentes e idosos, dentre outros. Outro espaço de participação é a Comissão Local, composta por coordenadores do
CRAS, gerentes de equipamentos públicos municipais das áreas de intervenção e representantes da comunidade,
que têm um papel chave no processo
de discussão e de aprovação de um plano local de ação (BRASIL, 2007).
Considerações finais
A abordagem da trajetória da política de regularização urbanística e fundiária de Belo Horizonte revela avanços e inovações inegáveis vinculados
ao reconhecimento do direito à moradia e à cidade, à inclusão e justiça socioespacial e à participação e gestão
democrática.
Como visto, o Município introduziu
avanços normativos de forma pioneira
nos anos 1980 e, adiante, já no início
dos anos 1990, reestruturou de forma
mais robusta a política de regularização,
que apresenta diversos traços inovadores - como a lógica multidimensional de
abordagem e a previsão de participação,
bem como constituiu um sistema municipal de planejamento e gestão que conta com instâncias participativas. Do início dos anos 1990 até o presente, a relativa continuidade das premissas dessa política e de sua implementação tem
implicado, certamente, aprendizagens
coletivas que se refletem nos diversos
avanços relativos ao seu desenho, às lógicas de planejamento e intervenção e
às formas de gestão.
Os potenciais que têm sido atribuídos à intersetorialidade de intervir de
forma mais efetiva nas múltiplas dimensões da pobreza e dos processos de
exclusão sugerem que se pode avançar
na articulação entre os programas de
moradia (de regularização urbanística e
fundiária) e os demais programas sociais. A maior articulação entre os programas também favorece, em tese, a mobilização e participação da população
local, uma vez que se apresentam diversos canais e formas pontuais de participação nos processos de gestão destas
políticas.
Os desafios são vários e de natureza diversa, a começar pelo ritmo relativamente lento de implementação, ain-
da que consideradas a complexidade e
dificuldades inerentes a este tipo de intervenção. Ao lado disso, tendo em vista o maior aprimoramento da política de
regularização, mostram-se relevantes os
avanços nas formas de acompanhamento e avaliação, em especial no que se
refere à pós-ocupação.
A questão da violência e segurança, que constitui um problema crítico em
muitas das vilas-favelas, apresenta-se
como outro desafio para as intervenções
nas áreas em foco. Embora tal questão
não se inscreva no rol de atribuições
municipais, algumas linhas de ação no
bojo da política de regularização, para
além da urbanização, como as de iniciativas de fortalecimento das redes sociais locais e de inclusão produtiva, podem contribuir para o enfrentamento do
problema.
Finalmente, um desafio central
consiste no aprofundamento da participação nas instâncias vinculadas à política de regularização, que se mantêm
em funcionamento desde o início dos
anos 1990, considerando os potenciais
de fortalecimento dos atores societários que dela participam e o aprimoramento das intervenções endereçadas à
inclusão socioespacial.
Abstract
The present article approaches the landed and urban regulation policy of Belo
Horizonte village-slums. The historical
conformation of these areas remits to the
Brazilian urbanization dynamics, characterized by a phenomenon like the magnitude of the income inequalities and of
the urban poverty, the high degree of informality and of enviroment precariousness, and the social economical and
spatial segregation and exclusion.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Flávia de Paula Duque. Participação cidadã e reconfiguração nas políticas locais
dos anos 90. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. v. 6, n.o2, 2004.
BRASIL, Flávia de Paula Duque. A participação nas políticas e Programas Sociais. In: FAHEL,
Murilo e NEVES, Jorge Alexandre. Gestão e Avaliação de Políticas Sociais. Belo Horizonte:
Editora PUC, 2007, p. 115-153.
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, espaços públicos e construção democrática no Brasil:
limites e possibilidades. In: DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e Espaços Públicos
no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 279-303.
FARAH, Marta F. S. Governo local e novas formas de provisão e gestão de serviços públicos
no Brasil. Cadernos de Gestão Pública e Cidadania. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas,
1997. v. 4. 45 p. .
MENICUCCI, Telma; BRASIL, Flávia de Paula Duque. Construção de agendas e inovações
institucionais: análise comparativa da reforma sanitária e reforma urbana. In: XXIX Encontro
Anual da ANPOCS, Caxambu, 2005.
SIQUEIRA, Liliana Figueiredo. Políticas de regularização fundiária e urbanísticas: acompanhando a trajetória de Belo Horizonte. Monografia de Especialização em Gestão Pública. FJP,
2007.
SOUZA, José Moreira; CARNEIRO, Ricardo. Moradia popular e política pública na Região
Metropolitana de Belo Horizonte: revisitando a questão do déficit habitacional. In: FAHEL,
Murilo e NEVES, Jorge Alexandre. Gestão e Avaliação de Políticas Sociais. Belo Horizonte:
Editora PUC, 2007, p. 361-418.
36 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
Política Urbana
A Cidade dos Bondes1
Elementos para uma política pública a partir do
resgate da memória do transporte coletivo
NELSON DE MELLO DANTAS FILHO*
MÍRIAM GONTIJO DE MORAES**
O artigo apresenta elementos para pensar políticas públicas de gestão urbana com
base nas noções de desenvolvimento, como
orientador do planejamento em transporte;
patrimônio, como preservador de uma memória, e de espaço, como veiculador dela.
Ao propor uma "Cidade dos Bondes", o trabalho visa costurar soluções urbanísticas contemporâneas com as novas ferramentas de
transporte; novos paradigmas econômicos
com as atuais metas ambientais. A escolha
do modo de transporte é a chave para construir cidades vibrantes e amigáveis e está ligada a uma mudança de paradigma: a implantação dos novos centros regionais apregoados no modelo de cidades policêntricas
junto às extremidades da "cidade dos bondes".
1. Introdução
Existe um reconhecimento de que a política pública de
transportes não só é uma ferramenta da mobilidade sustentável, mas, devido à intersetorialidade, uma ferramenta estratégica para que a cidade possa alcançar suas metas de desenvolvimento urbano e de qualidade de vida. Assim, o alcance das medidas de transporte em desenvolvimento urbano, meio ambiente e saúde não se limita a um subproduto,
passando a incorporar o corpo do problema.
Ao longo do grande ciclo, quando oscilaram as culturas
ocidental e oriental das principais cidades, entramos em ciclos menores que irão formatar as cidades contemporâneas
a partir da tecnologia disponível. Denominada como Era dos
Engenheiros, a disponibilidade das máquinas a vapor e elétricas que possibilitaram as ferrovias, os bondes e os metrôs
ajudou a formatar a cidade industrial, ou a cidade moderna
(BETING, 2009).
É a partir dela que criamos a nossa memória urbana e,
neste contexto, acrescentamos a questão do espaço e da me-
mória ao enfoque tradicional do urbanismo e dos transportes,
visando a um resgate da identidade, no qual sugerimos o resgate simbólico das regiões impactadas pelo bonde e que sofreram uma descontinuidade de investimentos provocada pela
especulação imobiliária.
Para esse resgate, buscamos em Nora a categoria analítica dos "lugares de memória", que são espaços criados pelo
indivíduo contemporâneo diante da crise dos paradigmas
modernos, com os quais se identifica, se unifica e se reconhece agente de seu tempo. "Ela obriga cada um a se relembrar e a reencontrar o pertencimento, princípio e segredo da
identidade. Esse pertencimento, em troca, o engaja inteiramente".. (NORA, 1993).
Na discussão em torno das noções de memória e história, e a formação da memória coletiva que permite ao indivíduo a identificação, a reflexão de Nora, está ancorada pelo
descontentamento geral com o mundo pós-industrializado e
a crise que refletia a necessidade da reelaboração da sociedade moderna altamente historicizada, dando origem à chamada "crítica da modernidade".
Assim, procura-se agregar ao corpo da problemática urbana um diálogo dos sistemas econômicos, do desenvolvimento regional, urbano, tecnológico e de gestão; e inserir a
questão da identidade, memória e espaço em um contexto de
América Latina, lembrando que, além de metas ambientais,
incluir a redução da violência nos objetivos de uma política
de transporte faz parte do tomador de decisão socialmente
responsável.
2. Conformação urbana
e suas narrativas
A necessidade de se criar um Índice de Civilidade é contemporânea porque existe a nítida impressão de perda de algo
inerente à cidade. Realmente, os indicadores de violência
identificam as nossas grandes cidades como análogas a regiões em conflito ou guerra. "Uma geração que ainda fora à
escola em um bonde puxado por cavalos se encontrou ao ar
livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado,
exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de
torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano".
Essa narrativa aparentemente tão bucólica faz parte de
um dos mais fortes textos sobre a descontinuidade do tempo
histórico (BENJAMIN, 1994) e o fim da narrativa provocada
pela grande guerra. Se tivéssemos de apontar apenas um
elemento - comum e o suficientemente forte - para definir ci-
*
Mestre em Engenharia de Transporte - Coppe/UFRJ - [email protected].
Doutora em Ciência da Informação- PPG/CI da UFMG - [email protected].
1
Artigo baseado no 1.º lugar do concurso de Monografias CBTU 2009.
**
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
37
dades brasileiras histórica e regionalmente distintas, ele seria sem dúvida a existência (e permanência no tempo) de
contrastes profundos entre condições urbanas radicalmente
distintas convivendo, muitas vezes conflitando, no interior da
mesma cidade (ROLNIK, 1999)
Numa sociedade regulada como a nossa, a cidade tem
a conformação de dois vetores. O primeiro, de atribuição do
Poder Público no uso de instrumentos de regulação da ocupação do solo, como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Os arranjos produtivos visando à implantação da infraestrutura também. Assim, as redes elétricas, de
iluminação, de saneamento, de comunicação e de transporte foram implantadas. A princípio, tal vetor representa o interesse da coletividade; a disponibilidade e o custo de implantação de infraestrutura; o conjunto de técnicas e de conhecimento disponível e a mediação política dos diversos interesses manifestos.
O segundo vetor representa as forças econômicas e os
seus interesses. Deveriam ser apenas parte da força considerada no planejamento público. No entanto, hoje, são essas
forças que têm moldado a conformação das cidades.
2. 1. A Cidade Industrial
"Foi apenas na segunda metade dos anos 1950 (...) que
a elite empresarial se mostrou capaz de elaborar um projeto
político de dominação centrado na industrialização. É nesse
momento que essa elite se instaura como sujeito político condutor de uma determinada ordenação da sociedade. Tal ordenação, baseada no princípio da racionalidade e pensada
inicialmente dentro do espaço fabril para garantir o aumento
da produtividade, foi aos poucos extrapolada para toda a sociedade. É assim que, neste momento, no Brasil, não só a
fábrica, mas a cidade, a casa, a rua e os meios de transporte
passam a sofrer intervenções que pretendem superar uma
visão do mundo considerada ultrapassada, na medida em que
não condiz com o ritmo do desenvolvimento desejado. A 'racionalidade' passa a orientar as políticas públicas e também a
iniciativa privada, no sentindo da construção do equipamento
necessário para que o ritmo do progresso se acelere." (PIMENTEL, 1993).
A cidade racional, industrial, moderna apresenta um jogo
de luzes e sombras ao não contemplar o ser humano, o seu
usuário no desenho final. As dicotomias apresentadas de
Centro/Periferia, Urbano/Rural, a dimensão humana/da máquina mostram como as cidades perderam o lugar da representação humana plena.
A deterioração das condições de vida nas periferias dos
centros urbanos e outros locais de residência dos mais pobres pode ser vista, portanto, como a face ambiental do processo excludente de desenvolvimento: não apenas a renda e
a riqueza se concentraram nas mãos das elites, mas também
o direito a um ambiente saudável (como, de modo geral, o
acesso a outras formas de bem-estar - segurança, educação,
serviços de saúde).
A noção de subúrbio contém uma nova concepção de
espaço, uma nova sociabilidade, em que ocorre a ruptura e a
transição para a modernidade da cidade. O subúrbio representa o ser dividido entre o urbano e o propriamente rural.
Um conceito que não teve até hoje relevância no mundo acadêmico e foi substituído pela noção de periferia que é seu
contrário. Na periferia se concretiza a subordinação da cidade e da urbanização à renda da terra, a periferia é a negação
das promessas transformadoras, emancipadoras, civilizadoras e até revolucionárias do urbano, do modo de vida urbano
e da urbanização (SOTO, 2008).
Assim, a industrialização não resolveu os problemas de
pobreza e degradação ambiental nos espaços urbanos a princípio identificados com a "modernidade". Por fim, se a socie-
38 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
dade de consumo de massas fosse efetivamente estabelecida, qual seria a pressão sobre recursos naturais? Por exemplo, qual seria o tamanho dos engarrafamentos nas metrópoles brasileiras se os pobres tivessem mais acesso à aquisição de veículo próprio? A crise social atual obriga, porém,
que essas outras manifestações do processo de exclusão e
marginalização sejam incluídas na análise: a violência urbana, os conflitos de terra e a exclusão ambiental são as outras
faces do desenvolvimento excludente. A revalidação da análise centro-periferia exige a inclusão desses outros elementos, visto que o objetivo fundamental não é meramente o crescimento econômico, mas o desenvolvimento sustentável.
2.2. Cidades pós-modernas
"A cidade radioconcêntrica industrial faliu. Ela molesta
os homens impondo as circulações quotidianas, mecânicas e
frenéticas, e determinando uma mistura congestionada dos
locais de trabalho e dos locais de habitação; cinturões sucessivos e sufocantes, interpenetrando-se como engrenagens,
estabelecimentos industriais e bairros de comércio, oficinas
e subúrbios, subúrbios próximos e distantes" (GOMES, 1996).
A cidade pós-moderna é fluida como suas definições, por
exemplo, é onde habita o sujeito descentrado, que na maioria
das vezes perde a orientação espacial num hiperespaço em
que tudo (pessoas, objetos, ideias...) está fora de lugar.
Assim, nos labirintos da cidade pós-moderna encontramos contradições bastante acentuadas entre seus habitantes, entre crescimento e qualidade de vida, e entre o planejamento e seus resultados. Esses labirintos representam o fluxo e a transição constantes, resultado da obsolescência de
todas as coisas, do impacto das novas tecnologias e das transformações ecológicas, mas principalmente da afluência de
indivíduos que carregam consigo conhecimentos, ideias e
crenças as mais variadas.
A cidade do século XXI já está desenhada, cabendo ao
urbanista a formulação de estratégias de intervenção nessa
cidade, adequando-a e conferindo-lhe novas qualidades que
correspondem a novos desejos sociais.
3. Cidades a partir
de outras dimensões
É nas cidades que se dá a emancipação dos indivíduos,
onde a urbanidade, condição urbana da humanidade, se edifica. Mais do que uma circunstância econômica, social e arquitetônica, a urbanidade é a temporalidade da comunidade,
percebida do ponto de vista do indivíduo.
Para entender melhor o conceito de urbanidade, resgatamos nos lugares da memória o Código de Hamurabi e, nele,
os conceitos de urbanidade e civilidade, que passaram a fazer parte da tradição do que é viver nas grandes cidades e
também do que é viver em sociedade.
A urbanidade é a virtude presente naquele que habita a
urbe. Nos dicionários, pode significar delicadeza requintada,
observação das boas maneiras no relacionamento com os
outros, acompanhadas geralmente de finura e elegância na
linguagem, distinção no porte, nas atitudes. Deve-se entender esta acepção de urbanidade à luz de uma ancestral oposição entre a cidade e a ruralidade, entre a cidade e a barbárie. (AFONSO, 2006).
O urbano também se associa ao coletivo. Manifestações
políticas e artísticas são essencialmente públicas. Elas só
existem se forem absorvidas pela coletividade, pelo público.
Civil vem do latim civile, que designava o habitante da
cidade civitate. Quando a humanidade se defrontou com o
raciocínio e realmente teve a consciência do "Eu", houve a
necessidade do respeito mútuo, do respeito ao outro. Começou, então, a codificação de civilidade, isto é, regras de con-
vívio social que no início eram somente de respeito do inferior para com seu superior, hierárquico ou sexual, como nos
animais irracionais.
Fernando Gallo (2009) pondera que o grau de civilidade
de uma cidade pode ser medido pela largura de suas calçadas. "A largura de suas calçadas, quem poderia imaginar? E,
no entanto faz tanto sentido, mais espaço para as pessoas,
menos para as máquinas, abrir lugares para os calçados, que
barulho não fazem, ou fazem menos do que motores, engrenagens, e toda sorte de componentes ruidosos que se põem a
invadir os nossos ouvidos, mal não haverá em mais dignidade
ao trânsito dos pedestres, tão alijados do processo de ir e vir
nessas calçadas estreitas, a desviar uns dos outros, dos postes, a transitar pelo meio-fio, o risco de cair na pista e lhe passarem as rodas por cima a qualquer momento" (GALLO, 2009).
E continua: "A largura das calçadas deveria integrar um
índice de civilidade, mais ou menos nos moldes desse que
chamamos IDH2, utilizado pelas Nações Unidas para auferir
o desenvolvimento humano nos países (alvissareiro que pensadores bem intencionados tenham conseguido estabelecer
alguma humanidade e ciência nisso que temos chamado economia, e que trata tudo tão vagamente, o mercado, o crescimento e tantas outras palavras que de exatas nada têm), sem
fórmulas matemáticas nem metodologias tão acuradas, vamos nos valer apenas de nossa observância, nossa vivência,
disso que alguns chamarão empirismo" (GALLO, 2009).
Não contente com a largura da calçada, ele vaticina outras medidas. "Estando certo que o ponto de partida de nosso
índice serão as calçadas, podemos passar sem grande dificuldade para os outros componentes, mais difícil é começar,
pois passaremos logo às nossas outras proposituras: todos
os assentos do transporte público serão preferenciais, assim
tentaremos corrigir o bem intencionado erro do cidadão que
instituiu os bancos exclusivos, e acabou por excluir dos idosos, das grávidas, das pessoas com deficiência e congêneres a preferência que lhes devemos em todo e qualquer assento (...) Gostaríamos de ver dobrado o tempo em que permanecem abertos os faróis de pedestres, mal eles têm permitido que nós cruzemos as ruas, que dirá os mais sedentários, as velhinhas, as pessoas com restrição de mobilidade,
essas gentes para quem pouco serve esse sistema de governo a que nos habituamos chamar de democracia, talvez devêssemos chamá-lo oligocracia, pouco tem servido à maioria, que dirá às minorias (...) talvez esteja o leitor a pensar em
como pensamos implementar todas as proposições apresentadas, se por força da lei, ao que recordaremos tratar-se de
civilidade, civilidade que se faz com bom senso, gentileza,
generosidade e outros que andam por aí escanteados, mas
que nunca se fizeram por força da lei, senão pela bondade
humana" (GALLO, 2009).
O tempo das urbes é linear, mas segmentado e retalhado pela atividade econômica e social que, apesar de tudo,
possibilita um não-tempo destinado ao lazer e à intimidade,
oferecendo as condições necessárias à criatividade e à exploração de si. As sociedades rurais celebram a repetição,
ritualizando a vivência coletiva do ciclo, ao passo que as sociedades urbanas aderiram a um tempo indefinido, sem um
sentido óbvio e que se caracteriza por um acumular de vestígios, de um lado, e, do outro, por uma necessidade de superação. O tempo é como uma estrada que nos foge debaixo
dos pés.
As cidades são comunidades de indivíduos em trânsito
no tempo. É então que surge a questão da memória e é então
que surgem as narrativas coletivas, em primeiro lugar, logo
seguidas dos relatos pessoais, à medida que a escrita se
vulgariza, à medida que as cidades se expandem.
3.1. Resgate para uma nova cultura urbana
Muito do conhecimento que formatará a cidade desse
novo século já está consolidado no que se denomina estadoda-arte. O que tem diferenciado a sua implantação nas diversas sociedades é o estado-da-prática, e a atomização do conhecimento vem dificultando o diálogo entre atores tão díspares e que perderam a continuidade no processo de planejamento, projeto, implantação e operação da mobilidade urbana. Essa descontinuidade do poder público, somada a uma
democratização tardia, mudança de tecnologia, mudança de
concepção urbana, de paradigma econômico, torna a crise
contínua e arraigada.
Se as cidades pós-modernas nascem com a missão de
romper com a cidade opressora, tanto a radio-concêntrica
industrial quanto a cidade moderna especializada e compartimentada, a resultante foi a criação de cidades confusas, feias, sem qualidade de vida e ineficientes.
O consumismo levado às últimas consequências consumiu espaço e mobilidade de modo irresponsável, instituindo
um modo de vida identificado por casas de subúrbio e automóveis de maneira insustentável. Já a irracionalidade de ocupação das forças de mercado se move pelo gradiente da especulação imobiliária e o marketing fantasioso, congelando
bairros; explodindo, demograficamente, outros; relaxando fronteiras e criando outras.
Nos transportes públicos, a inflexão na curva de desenvolvimento na cidade desenhada pelo Bonde provoca uma
ruptura no desenvolvimento construído e planejado em parceria entre o poder econômico e o poder público. O sucateamento dos bondes nos Estados Unidos gerou um forte problema de suprimento das peças de reposição do principal fornecedor de tecnologia do Brasil. Especulativamente, é razoável imaginar que as forças que atuaram no desmonte dos sistemas de bonde americano também atuaram na América Latina com igual impacto.
As mesmas forças que lutaram contra a mão-forte do
planejamento do estado, a crença no livre mercado, produziram o estado mínimo sem capacidade de regular as forças
gravitacionadas pelo capital, mas capaz de manter um estado assistencialista, por vezes paternalista, orbitado por um
sem número de interesses menores. Uma boa contribuição
para o problema de equilíbrio regional vem do Ministério da
Integração, trazendo para o estado-da-prática o conceito de
estagnação econômica que se incorpora às regiões deprimidas econômicas nas prioridades de investimento compensatório (INTEGRAÇÃO, 2006). O conceito de estagnação usado no desenvolvimento regional pode e deve ser incorporado
ao desenvolvimento urbano.
Augé (1994) define o lugar, enquanto espaço antropológico, como um espaço identitário, relacional e histórico e
o não lugar será, então, um lugar que não é relacional, não
é identitário e não é histórico. As autoestradas, os aeroportos, as grandes superfícies são exemplos de não lugares,
mas também "campos de refugiados, campos de trânsito,
grandes espaços antes concebidos para a promoção do
mundo operário e tornados insensivelmente o espaço residual onde se encontram os sem abrigo e sem emprego de
origens diversas: por toda parte, espaços inqualificáveis, em
termos de lugar, acolhem, em princípio provisoriamente,
2
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. É uma maneira
padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, e vem sendo usado
desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
39
Paulo Fernando Vieira de Almeida
A cidade dos bondes pode vir acompanhada de uma cidade mais humana
aqueles que as necessidades do emprego, do desemprego,
da miséria, da guerra ou da intolerância constrangem à expatriação, à urbanização do pobre ou ao encarceramento"
(AUGE, 1994).
Um modelo interessante é a Criação do Índice de Cultura Urbana. A partir de um peso atribuído a cada modo de transporte, soma-se a diferença entre o tempo de implantação do
primeiro e do último sistema de cada cidade. No comparativo
para a América Latina, foram utilizados cinco sistemas: bonde de tração animal; bonde de tração elétrica; chegada do
trem regional; metrô e trólebus. Usando esse ranking, observa-se uma aplicação de recursos urbanos incompatíveis com
o rastro histórico, mostrando um grande desequilíbrio regional (DANTAS, 2009).
Herdeiras diretas das cidades da Idade Média, as cidades americanas cresceram sobre o signo dessa concepção
monocêntrica, com um centro urbano ao qual a periferia se
dirige para suprir suas demandas. Se havia semelhanças entre
a cidade europeia e a americana até o início do século XX, a
chegada do automóvel mudou radicalmente os dois modelos
e, na América, a crença de que o automóvel seria o meio de
transporte acabou alterando significativamente a ocupação e
as viagens urbanas.
A possibilidade de acessar qualquer ponto da cidade
dentro do orçamento de tempo disponível pulverizou as viagens, atomizando as atividades e roubando a competitividade do transporte público que precisa de grandes volumes para
se viabilizar.
O contraponto dessa cidade atomizada é a cidade policêntrica, na qual cada bairro tem seu centro, onde os cidadãos encontram o emprego, a escola, o posto de saúde, o
40 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
comércio, as casas de entretenimento e toda a infraestrutura.
O que anima essa nova estrutura é a descentralização, pressuposto para a democracia, a cidadania e a eficiência.
Num primeiro momento, o transporte individual seduz
pela possibilidade do serviço porta a porta e pelo conforto
proporcionado, mas, no segundo momento, a baixa eficiência de transporte provoca congestionamentos que exigem
pesados investimentos em sistema viários que resolvem até
novos e maiores congestionamentos. A baixa eficiência energética rouba competitividade da cidade e sua poluição rouba
expectativa de vida da sua população.
Isso explica o porquê do desenvolvimento europeu. Lá,
a preservação do seu sítio histórico exigiu pesado investimento
em transporte público, principalmente ferroviário, e, mais recentemente, em bicicletas; não por acaso, os dois modos de
transporte mais eficientes energeticamente.
Indiferente a essas questões, as cidades brasileiras promoveram a implantação de Planos Diretores que promoviam a
desconcentração da Área Central sem se preocupar em adensar novas centralidades, contribuindo, assim, para o fenômeno de Erosão Urbana preconizado pela jornalista Jane Jacobs.
4. Cidade dos Bondes —
uma proposta de gestão urbana
Uma data de inflexão dos investimentos no transporte
por bonde foi a da entrada do Brasil na segunda guerra mundial. Os dados de produção falam da primeira metade dos
anos 40 como o ápice dos transportes por bonde. A dificuldade de importação de peças e a incipiente concorrência dos
ônibus fizeram com que em 20 anos os bondes entrassem
em extinção total. Esse modo de transporte foi o último de
uma cidade cordial, elegante, onde as regras de sociabilidade são respeitadas e percebidas na ocupação do solo. Coincidentemente, exatamente em 1942, fruto de acordo entre o
governo brasileiro e o estadunidense, chegaram ao País Walt
Disney, a revista Seleções, a Coca-cola, a Kibon..., e o olhar
norte-americano do consumismo, do individualismo, do automóvel, do pragmatismo, do desperdício enfeitiçou toda uma
geração. Esse olhar, somado ao vigoroso processo de urbanização, acabou criando uma cidade de excluídos e a especulação urbana passou a ser protagonista no desenho das
metrópoles embrionárias.
A transformação de uma cidade industrial em metrópole
pós-industrial - bem como uma sucessão de planos diretores
que ajudaram na formação de uma cidade que privilegia o
automóvel em detrimento da utilização e ampliação dos transportes públicos - comprometeu a função da rede ferroviária e,
consequentemente, a composição dos espaços urbanos e do
uso de seu entorno. O que antes determinara a qualificação
espacial hoje representa seu ocaso: terrenos vazios, prédios
abandonados, espaços degradados (LORENZETTI, 2008).
Resgatar a cidade dos bondes significa resgatar a construção histórica das grandes cidades de meados do século XX,
interromper a quebra da narrativa histórica, a criação de não
lugares, preservá-la da erosão urbana, fortalecer a instituição
urbana. A cidade de 1942 é um marco na história brasileira das
cidades e é uma cidade que, hoje, faria uma transição entre o
que é centro e o que é periferia e que possui regiões estagnadas em função da especulação imobiliária desenfreada.
Para isso, é bastante a implantação dos novos centros
regionais apregoados no modelo de cidades policêntricas junto
às extremidades da "cidade dos bondes", deixando a montante destinada a transportes de menor capacidade e a jusante, em direção ao centro, os investimentos mais pesados,
como as linhas de metrô, VLT3, ou VLP. Nesses pontos, teríamos a captura do motorista para um meio de transporte mais
adensado. Ao contrário das estações-shoppings, as novas
estações deverão ter uma grande permeabilidade com a região de entorno.
Levantamento para Belo Horizonte, que já teve 75 km
de linha de bonde, indica que a "cidade do bonde" teria uma
área de 44 km2, contra uma área de oito km2 da parte interna da Avenida do Contorno, considerado centro, e os 330
km2 de toda a Cidade. Em Belo Horizonte, "a pluralidade
das soluções de transporte, visíveis nas ruas, escondia um
processo de exclusão em curso, pois o modelo de desenvolvimento capitalista levaria a uma vertiginosa metropolização e a uma racionalização dos serviços de transporte, quando restou praticamente sozinha a modalidade dos ônibus"
(DANTAS,2009).
A Cidade dos Bondes pode vir acompanhada de uma
cidade mais humana. Resgatar os antigos cursos de água da
cidade através da construção de ciclovias no seu leito e a
devida identificação, denominando as ciclovias como os antigos córregos resgatam a memória à medida que promove um
meio de transporte não poluente. Importante evitar a concorrência das ciclovias com o transporte de alta capacidade.
Entre 1988, promulgação da Constituição, e 2001, aprovação do Estatuto da Cidades, houve um grande avanço dos
instrumentos jurídicos, das formulações de ferramentas teóricas, tais como: o direito de preempção; outorga onerosa do
direito de construir e de alteração de uso; transferência do
direito de construir e operações urbanas consorciadas. A opção pelo pragmatismo levou à mediocridade e à rejeição de
utópicos.
3
Ao identificar vários ciclos que agem na formatação das
cidades e fazendo um paralelo entre as cidades americanas
e europeias é possível caracterizar a mudança de sistemas e
sua consequência, a crise, como uma oportunidade de avançar na implantação de planos de mobilidade sustentável. O
diálogo entre as "ciências doces" e as "ciências duras" procura agregar elementos da memória e da identidade na construção de novos parâmetros a serem tratados dentro do escopo tradicional dos transportes.
Uma "Cidade dos Bondes" visa a costurar soluções urbanísticas contemporâneas com as novas ferramentas de
transporte; novos paradigmas econômicos com as atuais
metas ambientais e um diálogo das cidades modernas com
as cidades pós-modernas. Isso, de uma maneira de fácil identificação, facilitando a adesão de tomadores de opinião.
Abstract
The article presents elements to think about public policies of
urban management based on the development notions as planning orientator in transport, patrimony, as memory and space
preserver and their transmitter. When it proposes a "StreetCar City", the work aims to sew contemporaneous urban solutions to the transport tools, new economical paradigms with
the current enviromental goals. The choice of the transport
way is the key to construct vibrant and friendly cities and it is
linked to a paradigm changing: the implantation of new regional centers announced in the polycentric cities attached to
the extremities of the "Street-Car City".
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AFONSO, David. Urbanidade, Site 5ª Cidade Cidades, Cultura Urbana e Reabilitação. Lisboa. 2006, disponível em
<www.quintacidade.com
AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da modernidade, Lisboa, Bertrand, 1994.
BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BETING, Joelmir. Disponível em <www.joelmirbeting.com.br> acessado em 13.06.09.
BRESSER, Luiz Carlos. Reforma do estado e administração pública
gerencial, 1998.
DANTAS, Nelson, Aplicação de Métodos de Análise em uma empresa de transporte, Conselho de Administração BHTRANS, Belo Horizonte, 1999.
DANTAS, Nelson. Índice de Cultura Urbana - Transportes, 2009.
Disponível em <www.ongtrem.org.br>
INTEGRAÇÃO, Ministério. 2006, disponível em <http://
www.mi.gov.br> acessado em 23.05.2009.
GALLO, Fernando. Civilidade, Sítio Miradouros, Rio de Janeiro. 2009.
Disponível em <http://miradouro.wordpress.com> acessado em
23.06.09.
GOMES, Maria do Carmo. Omnibus: uma história dos transportes
coletivos em Belo Horizonte. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996.
LORENZETTI, Betina. Estação intermodal e parque linear como
estratégia de requalificação urbana , 2008, disponível em
<www.cbtu.gov.br>.
NORA, 2009. Pierre. Entre memória e história: a problemática dos
lugares. Projeto História. São Paulo: PUC-SP. Nº. 10, p.12. 1993.
PIMENTEL, Thais. A torre Kubitschek: trajetória de um projeto em
30 anos de Brasil. Belo Horizonte: Secr. de Estado da Cultura, 1993,
p.70.
ROLNIK, Raquel. Exclusão Territorial e Violência, PUC Campinas,
1999.
SOTO, William. Subúrbio, periferia e vida cotidiana, Rio de Janeiro,
2008.
Veículos Leves sobre Trilhos
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
41
Previdência
Padrões de financiamento
da saúde do trabalhador:
da Seguridade Social ao seguro saúde1
ELI IOLA GURGEL ANDRADE*
PEDRO PAULO DE SALLES DIAS FILHO**
Este artigo pretende analisar as alterações no padrão de financiamento da saúde do trabalhador no País, desde os tempos antes da criação do Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS), em 1966, vis
à vis o processo de penetração das relações capitalistas de produção no âmbito da
assistência médica. Para contribuir para a
compreensão desse fenômeno, serão analisadas as políticas previdenciárias (CORDEIRO, 1984).
A
retomada no processo de construção de um siste
ma de Seguridade Social no Brasil não pode pres
cindir da necessária revisão de fatos e momentos
decisivos, que ainda permanecem, vinte anos depois, como entraves relevantes à consolidação dos princípios constitucionais que, em 1988, pontuaram a criação de
um estado de bem-estar no País. Dentre os fatos, o modo
específico como se deu a montagem de um setor privado
de prestação de serviços médicos, desde o interior do sistema previdenciário, seu desenvolvimento e ampliação ao
longo da construção do Sistema Único de Saúde (SUS), de
forma a constituir o principal segmento de prestação, quando se fala de cobertura ao conjunto dos trabalhadores/empregados no Brasil.
Ao longo dessa história, é possível constatar que o trabalhador, principalmente dos setores secundário e terciário
da economia, passou a pagar duas vezes pelo benefício à
saúde. Se antes ele estava amparado no seguro social previdenciário, hoje se vê ancorado na saúde suplementar, vinculado aos planos coletivos de empresas, financiando total ou
parcialmente a sua assistência médica e a de seus dependentes, a despeito da continuidade das contribuições previdenciárias.
O trabalho procura resgatar a participação sindical no
que se refere às políticas de assistência médica ao trabalhador. Apesar de alguns autores (COSTA, 1994; VIANNA, 1998)2
identificarem o processo de expansão do mercado de planos
*
de saúde no País como decorrente das demandas sociais
dos trabalhadores e de seus sindicatos, que emergiram das
negociações coletivas dos anos 1980, segundo Pina, Castro
e Andreazzi (2006), existem elementos suficientes para não
se considerarem satisfatórias essas interpretações acerca da
interlocução do sindicalismo com o SUS e os planos privados
de saúde.
Por fim, a questão do subfinanciamento da saúde pública e o decorrente racionamento dos serviços, limitações
corretamente identificadas em Faveret e Oliveira (1990),
permitirão introduzir a revisão do conceito de Universalização Excludente de ambos. O desafio que se levanta, por
fim, é, partindo da gênese e desenvolvimento do setor privado de saúde suplementar no Brasil, compreender as implicações da coexistência de um sistema público e privado
de assistência com formas diferenciadas de acesso, financiamento e produção de serviços, a despeito dos direitos
constitucionais a uma assistência gratuita e universal a toda
a população.
Evolução da assistência no âmbito previdenciário
e a introdução capitalista nas práticas médicas
A assistência médica no âmbito previdenciário teve início com a edição, em 1947, da Portaria 42, do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, que autorizava o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) a conceder
assistência médica, cirúrgica e hospitalar, mediante contribuição suplementar.
Segundo Oliveira e Teixeira (1986), o processo de rápida urbanização, deflagrado a partir do surto industrial dos anos
1950, teve como consequência a criação de expectativas de
consumo próprias do modo de vida citadino, acrescido da deterioração das condições de vida urbana, criando necessidades de consumo de bens, como assistência médica, que não
poderiam ser satisfeitas no mercado, dado o baixo poder aquisitivo dos salários (p. 203).
A Previdência Social, então privada, formada pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), assumia, aos poucos, a assistência médica de seus beneficiários, tendo em
vista as necessidades de saúde da população de contribuintes e seus dependentes. Em 1957, o Congresso dos Industriários aprovou a extensão da assistência médica aos beneficiários do IAPI em todo o País, com manifestações favoráveis
Doutora em Demografia, Professora Associada da Faculdade de Medicina da UFMG
Mestrando em Saúde Coletiva no IMS/UERJ
1
Trabalho apresentado no Seminário CEBES, Seguridade social e cidadania: desafios para uma sociedade inclusiva, em 4 e 5 de setembro de 2008, Rio de Janeiro.
2
apud Pina; Castro; Andreazzi, 2006.
**
42 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
à cobrança de uma taxa suplementar de 1% sobre os salários
para seu provimento. A assistência médica é vista como uma
forma de garantir a produtividade do trabalhador, além de
possibilitar economias pela redução das aposentadorias precoces (CORDEIRO, 1984, p. 35-37).
Ainda segundo Cordeiro (1984), entre 1964 e 1966,
ocorreram importantes medidas normativas que favoreceram os convênios entre empresas e grupos médicos
como modalidade assistencial apoiada pela Previdência
Social. Com a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS)
de 1960, o governo permitiu oficialmente que as empresas atendessem a seus empregados e dependentes por
meio de serviços próprios e contratados. Em maio de 1964,
foi assinado o primeiro convênio-empresa, homologado
pela Previdência Social com a Volkswagen, prática que
pouco depois se generalizaria com a unificação dos IAP
no INPS, em 1966 (p. 45).
O financiamento da assistência médica privada se dava
sob a forma de retribuição. O IAPI retribuía às empresas que
assumissem a assistência dos empregados 1% sobre a folha
de pagamento das empresas, mas logo em seguida a retribuição passou a se fazer em função do salário médio mensal, incidindo sobre o montante da folha de contribuição. Outra modalidade de retribuição usada era a do reembolso das
despesas por unidade de serviço prestado, dentro de limites
fixados para cada especialidade (CORDEIRO, 1984, p. 48).
A unificação da Previdência Social no INPS, em 1966,
marcou a entrada do governo como ator principal da política
previdenciária, para além da regulação. A previdência tornouse pública, na esteira dos acontecimentos que limitavam a
atuação dos institutos de previdência dos trabalhadores, considerando os déficits financeiros e as irregularidades, sonegações e fraudes cometidas nos IAP.
Para Cordeiro (1984), formulou-se uma política mais explícita e articulada de assistência médica, incorporando-a aos
benefícios da população previdenciária. As prestações médico-assistenciais tanto poderiam ser da responsabilidade de
serviços próprios quanto de credenciados, prevendo-se a
participação do usuário no custeio dos serviços. Grupos médicos que emergiram como resultado de investimentos de
médicos autônomos, e que lograram êxitos na implantação
do modelo assistencial da medicina de grupo, obtiveram legitimidade e sustentação política e financeira por parte da Previdência Social (p. 59).
Os sentidos das políticas estatais de saúde e
previdência, redemocratização e reforma sanitária
A unificação da Previdência Social e a criação do INPS
possuem desdobramentos fundamentais na medida em que
o Estado passou a assumir um papel de ator principal da política previdenciária, a que Oliveira e Teixeira (1986) caracterizam como o crescente papel do Estado como regulador da
sociedade, além de apontarem para o simultâneo alijamento
dos trabalhadores do jogo político (p. 201).
Segundo Malloy (1976)3, o processo de unificação das
instituições previdenciárias insere-se numa perspectiva de
modernização da máquina estatal, aumentando seu poder
regulatório sobre a sociedade, além de, obviamente, ter funcionado como componente de desmobilização das forças
políticas estimuladas no período populista, para excluir a classe trabalhadora organizada como uma força social e diminuir
seu papel como mecanismo articulador e de pressão na defesa dos interesses dos trabalhadores.
3
4
Apesar do caráter antidemocrático e limitador da participação dos trabalhadores, é importante destacar que a unificação previdenciária acaba por ter um resultado socialmente
inclusivo. Esse sentido de inclusão pode ser traduzido pela
tendência a uma ampliação da cobertura previdenciária, nos
moldes de uma seguridade social clássica, através de medidas como a integração ao INPS dos seguros relativos a acidentes de trabalho (1967), a extensão da previdência aos trabalhadores rurais (1971), às empregadas domésticas (1972),
e aos autônomos (1973). Excetuando-se os trabalhadores do
mercado informal de trabalho, todos os demais trabalhadores, urbanos e rurais, passam a ser cobertos pela Previdência Social (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1986, p. 205).
Por outro lado, quanto à expansão dos serviços de natureza assistencial, de acordo com Andrade (1999, p. 58), coube ao sistema previdenciário, a partir de meados dos anos
1960, um papel duplamente fundamental: o sistema passou
a se responsabilizar não só pela prestação de assistência
médica, mas também pela expansão da cobertura dessa assistência, colocando-se na condição de "socioprovedor" do
chamado complexo médico-industrial-previdenciário que,
constituindo-se como uma articulação específica entre o Estado e o setor privado de prestação de serviços de saúde, foi
responsável pela expansão da assistência médica individual
no Brasil.
Finalmente, em 1974, o governo dá um grande impulso
às organizações médicas capitalistas ao lançar o Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) que destinou recursos, principalmente à iniciativa privada, para a construção e
reforma de instalações hospitalares, sob a forma de financiamentos a juros reduzidos, proporcionando grande impulso à
remodelação e ampliação do setor privado produtor de serviços médicos.
A esse respeito Faveret e Oliveira (1990, p. 148) apontam que a ênfase na opção privatista se manifestou de diversas formas na política do INPS, e posteriormente do
INAMPS, e produziu um resultado inequívoco: o fortalecimento do setor privado. Com esse fenômeno concorreu, também, a orientação para os agentes privados das linhas de
financiamento à saúde do FAS. Braga e Goes de Paula
(1986)4 mostram que, em 1977, 80% do valor dos financiamentos aprovados para a área de saúde destinaram-se ao
setor privado.
Portanto, os sentidos das políticas públicas de assistência e previdência no período analisado até então, ou seja, fim
dos anos 1940 a até meados dos anos 1980, consenso entre
os vários autores aqui citados, teria sido em primeiro lugar o
privilegiamento da assistência médico-hospitalar em detrimento das ações de saúde coletivas. Em segundo, o modelo de
prestação de serviços e extensão de cobertura foi o da subcontratação pelo setor público, de serviços junto a prestadores privados, em detrimento do crescimento dos agentes públicos e serviços próprios.
Durante o período de redemocratização do País, o destaque foi a 8.ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que
fundou as bases universalizantes do sistema público de saúde, influenciou o capítulo da Seguridade Social do texto constitucional de 1988 e concorreu para a fundação do SUS, universal. O SUS foi aprovado na Constituinte de 1987/88, sendo o relatório da 8.a Conferência a base para a discussão do
modelo do setor de saúde (BATISTA, 1996). No entanto, Baptista esclarece que colocar em prática uma política tão abrangente não seria uma tarefa fácil, considerando-se os limites
da descentralização e do financiamento.
apud Oliveira e Teixeira, 1986, p. 202.
apud Faveret e Oliveira, 1990, p. 148
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
43
Os avanços e limites da Reforma Sanitária
dos anos 1980, a competição dos
planos de saúde privados com o setor público
produtor de saúde e a posição dos trabalhadores
A Reforma Sanitária brasileira completa 20 anos e, no
entanto, encontra-se inconclusa. Apesar disso, a universalização foi um ganho importantíssimo para a sociedade, por
ter facultado acesso a serviços de saúde antes exclusivos
dos empregados contribuintes da previdência social.
Hoje, a rede de serviços do SUS disseminada pelo País
possui 63.662 unidades ambulatoriais e 5.864 hospitais, com
441.591 leitos, responsáveis por cerca de 12 milhões de internações/ano. Em 2005, o SUS realizou mais de 1 bilhão de
procedimentos de Atenção Básica. São 2,3 milhões de partos
por ano, mais de 14 mil transplantes de órgãos e 97% da
oferta de terapia renal substitutiva, todos os procedimentos
providos pelo SUS (8,9 milhões de procedimentos realizados
em 2005) (SOLLA, 2006).
Tendo-se reconhecido o avanço da universalização como
um princípio, há de se abordar a causa primordial do que
queremos chamar de universalização inconclusa, o subfinanciamento. Antes, um parêntese: o conceito de universalização inconclusa, que queremos trazer ao debate, propõe uma
revisão do conceito de universalização excludente de Faveret e Oliveira (1990).
Não é objetivo deste artigo tratar com profundidade essa
questão específica, conceitual; no entanto, cabe esclarecer a
ideia. De um lado, o subfinanciamento estrangula a oferta do
SUS, o que faz com que pessoas e famílias, para ampliar a
sua segurança, busquem acessibilidade no setor suplementar. Faveret e Oliveira (1990) chamam esse fenômeno de universalização excludente, pois acreditam na expulsão de segmentos da sociedade do atendimento SUS.
Por outro lado, queremos introduzir a revisão desse conceito, no qual a mesma ideia toma uma outra dimensão: em
certa medida, o subfinanciamento não permite a expansão
da oferta do SUS a ponto de evitar o racionamento dos serviços, razão pela qual a demanda extra-SUS se sustenta. A
universalização não se concluiu, já que ainda não consegue
atender a todos qualitativamente. Nesse caso, uma melhora
44 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
nos serviços do SUS pode, depois de reconhecida pela população, desestimular a demanda pela cobertura de planos
de saúde de contratação individual, por exemplo.
Essa é uma perspectiva diferente de dimensionar a universalização, que pode se tornar inclusiva uma vez que derivem, dessa nova visão, esforços e propostas para ampliação
do financiamento à saúde, inaugurando uma segunda fase
da Reforma Sanitária brasileira. Mais importante é que a universalização, conseguida na Constituição de 1988, ante uma
luta política legitimada por importante mobilização social, não
seja condenada como excludente. Ela está inconclusa.
Apresentamos, no Quadro 1, o perfil do financiamento à
seguridade num período de 17 anos, antes e após a criação
do SUS. A tabela demonstra o gasto social federal no período
de 1980 a 1996, com um recorte dos gastos em saúde comparados ao gasto com previdência e assistência (OLIVEIRA
JÚNIOR, 1998).
Pode-se observar que, em 1987, com o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS, antecessor do SUS),
houve uma suplementação orçamentária para a saúde, com
parte dos recursos da assistência transferidos da rubrica da
previdência para a saúde. No entanto, a partir da década de
1990, observou-se uma redução dos gastos federais per capita em saúde, sendo que o gasto de 1996 representava 83%
do total gasto em 1980. O Quadro 2 demonstra o gasto social
em saúde e previdência, vis à vis o gasto total, relativamente
ao Produto Interno Bruto (PIB).
Relativamente ao PIB, em 1996, a saúde tinha o mesmo
peso que em 1980. Os ganhos obtidos em 1987 foram sendo
progressivamente perdidos ao longo da década de 1990. Na
previdência, há aumento da participação relativa pelos mesmos motivos apontados nos comentários ao Quadro 1. Essa
demonstração é suficiente para se verificar que a saúde não
estava na centralidade do governo federal no período analisado, tampouco a política social (SALLES DIAS, 2008).
A partir de 1992, a saúde não mais participa do financiamento via orçamento de previdência social. Na conjuntura de
incertezas que caracterizam a primeira metade da década, o
setor passa a trilhar cada vez mais o campo próprio na definição de sua sustentação. Primeiro, na malograda defesa da
divisão tripartite do orçamento da seguridade social entre as
políticas de previdência, saúde e assistência social, seguido
da (até hoje) inconclusa batalha pela regulamentação de
emenda constitucional para definição do financiamento orçamentário setorial.
Na esteira do amplo e complexo processo de descentralização e municipalização que se iniciou, a partir da edição
das Normas Operacionais Básicas de financiamento (NOB),
em 1993, consolida-se o subsistema privado de prestação de
serviços no Brasil, concorrendo estrategicamente com avanços na implantação de um sistema público e universal de saúde no Brasil.
Relatório da OECD (2008) indica que os mercados de
plano de saúde privados são amplamente influenciados pela
estrutura regulatória. A partir de uma perspectiva da política
pública, o plano de saúde particular pode ser considerado
uma alternativa ou uma fonte adicional de acumulação de
reservas para financiar os sistemas de saúde, especialmente
quando os orçamentos públicos estão no limite.
Para Faveret e Oliveira (1990), o que possibilitou a demanda por essas inovações teria sido uma estratégia empresarial de ofertar aos empregados benefícios sob a forma de
salário indireto, sendo o plano de saúde um deles. Os autores apontam, também, o fato de estar se tornando cada vez
mais usual, nos centros sindicais mais organizados, a incorporação na pauta de reivindicações da efetivação, por parte
das empresas, de planos privados de saúde. Esses esquemas de financiamento tendem a ser custeados em parte por
recursos de empresas e, em parte, por descontos salariais,
sendo, ainda, objeto de deduções fiscais.
Do ponto de vista da política sindical, é possível afirmar
que, embora seja correto o argumento da oferta ao empregado,
por parte do empregador, do plano de saúde subsidiado a título
de benefício indireto, o interesse da pauta reivindicatória trabalhista nesse quesito é limitado em face de algumas razões.
Em primeiro lugar, a maioria dos trabalhadores com cobertura extra-SUS continua a depender do setor público para
resolver problemas de média e alta complexidade, que não
são total ou parcialmente cobertos pela atenção médica supletiva (MENDES, 2001; COTTA; MUNIZ; MENDES; COTTA FILHO, 1998)5. Assim, conforme Pina, Castro e Andreazzi (2006),
a inserção de tais segmentos nos planos de saúde não significa sua total saída do sistema público e, muito menos, deveria
explicar, necessariamente, o afastamento do sindicalismo da
efetiva mobilização pela melhoria do SUS (p. 838).
Os autores recordam que, nos anos 1970, sindicatos de
trabalhadores apresentaram inúmeros questionamentos ao
convênio-empresa, denunciados pela falta de isenção na prática médica, subordinada ao empregador, pela queda da qualidade assistencial, restrita a prescrições simplórias, além de
recusa para tratamentos complexos de recuperação longa.
Em 1981, a reunião da Conferência Nacional das Classes
Trabalhadoras (CONCLAT) propunha a extinção dos convênios médicos, concomitante à criação de uma rede base e
pública de previdência (p. 839).
Cordeiro (1984) informa-nos sobre as manifestações
contrárias ao convênio-empresa e às empresas médicas no I
Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, em 1979, na
Câmara Federal. Ressaltou-se, ali, que:
outros tipos de serviços de saúde privados, como a medicina de grupo e as cooperativas médicas, estimulados pela
Previdência Social, são também lesivos aos interesses dos
trabalhadores, porque induzem a uma atenção médica diferenciada, de acordo com níveis de renda, e exercem papel
de controle sobre a força de trabalho. (CORDEIRO, p. 100).
5
6
Nesse mesmo Simpósio, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, Francisco de Araújo Filho6, afirmou:
[...] somente o Estado está capacitado a desempenhar o
papel de gestor do serviço de saúde, pois somente ele pode
reagir com impessoalidade e isenção, sem olhar o status
do cliente, vendo-o como uma pessoa humana [...] em que
pese a desigualdade econômica, financeira, intelectual e
outras similares.
Para concluir, reafirma-se que, ao contrário do que defendem alguns autores, o interesse do trabalhador na cobertura
extra-SUS é difuso e não converge de forma exclusiva para o
fortalecimento ou expansão do setor suplementar privado. Sem
prejuízo do reconhecimento de que a cobertura privada seria
de fato um benefício indireto presente nas negociações salariais, as resistências dos trabalhadores a um maior controle por
parte das empresas não pode ser desprezada.
8.ª Conferência Nacional de Saúde e a reação
do setor privado: o novo modelo de
gestão capitalista da saúde do trabalhador
A 8.ª Conferência Nacional de Saúde marca a politização do debate em torno da Reforma Sanitária Brasileira. A
releitura do Relatório Final permite avaliar que o debate fez
emergir o conflito público/privado. Vale destacar que a palavra expropriação é expressa algumas vezes. O debate sobre
estatização dos serviços de saúde foi marcante. Embora a
proposta de estatização imediata tenha sido recusada, houve
consenso sobre o fortalecimento e expansão do setor público. Foi firmado que a participação do setor privado deveria
dar-se sob a forma de concessão, o que não foi incorporado
em 1988 pelo texto constitucional.
O tema expropriação volta a ser abordado no Tema 2. O
tom de ameaça emerge nas seguintes deliberações: "deverá
ser considerada a possibilidade de expropriação dos estabelecimentos privados nos casos de inobservância das normas
estabelecidas pelo setor público", sinalizando um forte controle da atividade privada no âmbito da saúde.
No Tema 3, Financiamento do Setor, p. 21, o fim da renúncia fiscal foi sugerido. Propunha-se que a maior participação do setor público como prestador de serviços poderia ser
viável, justa e socialmente desejável (p. 16, item 16), com expansão da oferta de serviços públicos, no entanto não houve o
entendimento acerca da fixação de um percentual mínimo de
dotação orçamentária para a saúde (p. 19, item 3 e notas de
rodapé); pior do que isso abriu-se a possibilidade explícita de
redução da dotação orçamentária com a separação dos orçamentos da saúde do da previdência (p. 3, item 3).
Este período (anos 80) da história das políticas de saúde
no Brasil foi marcadamente um período político-ideológico, em que se desenvolveram os principais alicerces de
discussão para a política de saúde a ser implementada. A
importância dessa fase está na capacidade de mobilização e implicação de diversos atores, políticos, sociais e
institucionais, na avaliação e construção de um ideal político para a saúde. (BAPTISTA, 1996, p. 26)
O ponto central que queremos destacar é que as proposições de caráter estatizante da 8.a Conferência criaram desconforto entre empresários das empresas médicas e hospitais.
Ao final da década de 1980, estava em curso na cena
política um processo ideológico de quebra de hierarquia, segundo o conceito de Braudel (1987).
apud Pina, Castro e Andreazzi, 2006, p. 838.
apud Cordeiro, 1984, p. 101.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
45
existem condições sociais para o surto e o êxito do capitalismo. Este exige certa tranquilidade da ordem social, assim como uma certa neutralidade, ou fraqueza, ou complacência, por parte do Estado. [...] O capitalismo tem necessidade de uma hierarquia [...]. (p. 62/63).
A 8.a Conferência, que não contou com a participação
dos empresários, pode ser compreendida como uma tentativa espontânea, não intencional, de quebra da hierarquia. No
entanto, o capital compreendeu bem 'a mensagem subliminar' emanada dessa conferência. Os grupos atuantes não tinham essa dimensão braudeliana; entretanto, o fato é que
aquele ideário provocou, por certo, uma reação do mercado7,
que resultou na expansão capitalista do subsistema da saúde suplementar. Esse segmento, que já havia criado suas
bases na década de 1960 e 1970, expandiu-se vigorosamente nos anos 1980. De dez empresas existentes em São Paulo
no ano de 1965, passa-se a 200 em 1978.
Para ilustrar a expansão do segmento nos anos 1980 e
1990, recorremos a Andreazzi (2002), com dados expressos
da Tabela 1.
A comparação com o tamanho da população economicamente ativa (PEA) em alguns anos dá conta da dinâmica
de crescimento do setor privado de saúde no Brasil: em 1970,
a população de usuários de planos de saúde representava
6,7% da PEA, estimada em 29.557.224 pessoas; em 1980,
essa proporção subiu quase quatro vezes, atingindo 25,6%
e, em 1990, o percentual de 48,8% representava a metade
de uma PEA estimada em 58.456.145 pessoas.
Essa expansão, que se passa a descrever a seguir, tem
outros contornos, que vão além da justificativa econômica,
como nos fazem ver Faveret e Oliveira (1990). Sustenta-se
esse argumento, que nos remete ao Quadro 1, apresentado
anteriormente, e aos dados apresentados na Tabela 28.
Os gastos per capita em saúde sofreram queda pronunciada logo após as recessões de 1982 e 1991. A redução do
gasto per capita de 1983 e 1984 foi seguida da expansão de
vínculos a planos de saúde, podendo-se supor que a ausência do poder público poderia ter impulsionado a expansão do
setor privado da saúde; entretanto, o mesmo não ocorreu entre
1992 e 1993, pois existe outro fator responsável pela expansão do segmento suplementar que vai além da fundamentação econômica; fator esse, abordado a seguir.
Faveret e Oliveira (1990) atribuem o crescimento da
medicina suplementar a um certo tipo de inovação financeira.
Os autores apontam que houve, nos anos 1980:
O surgimento e acelerada proliferação de uma série de
inovações financeiras que viabilizaram o acesso de amplas camadas populacionais ao subsistema privado de
saúde, o que, em última instância, possibilitou a autonomização do subsistema privado na definição e sustentação
de seu processo expansivo. (p. 149).
As inovações a que se referem os autores são os planos
de saúde de contratação individual e coletiva.
Destacar os planos e seguros-saúde e compará-los a
inovações financeiras que teriam surgido nos anos 1980, inovações determinantes da expansão do setor suplementar
nessa década, é não reconhecer que as empresas médicas
já existiam no Brasil desde os anos 1960; operavam tais produtos há vinte anos, razão pela qual não nos parece adequada a caracterização desses produtos como inovações. Também não é suficiente encontrar neles os determinantes da
expansão do setor suplementar. A causa da expansão teve
um componente de reação política. No entanto, está correta
7
a assertiva de que a expansão do seguro saúde, nos anos
1980, possibilitou uma autonomização do setor, o que representou uma alternativa à onda estatizante. As inovações, no
caso, eram os meios alternativos de reprodução capitalista,
financeirizados, virtuais e que, no entanto, não representavam as causas da expansão, mas os meios.
Nessa discussão, é importante enfatizar que, num ambiente político fortemente ideologizado e propositivo de ações
estatizantes, os empresários do setor, já bastante descontentes com os rumos das discussões em torno da reforma
sanitária, buscaram meios que transcenderam à lógica de
prestação dos serviços diretamente ao Estado e, diferentemente do modelo que predominou durante duas décadas, trataram de ampliar a oferta direta de serviços às pessoas físicas ou jurídicas. Por isso, vale recepcionar o argumento de
Faveret e Oliveira (1990) de que essa autonomização sustentou o processo de expansão do subsistema suplementar
nos anos 1980.
A autonomização pode ser entendida como uma menor
dependência do Estado como único comprador do subsiste-
Proprietário dos meios de produção, hospitais, e do capital financeiro acumulado na própria expansão das operações de pré-pagamento.
apud Andreazzi, 2002, p. 83
46 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
financiamento, não apenas para a saúde, mas do conjunto
do sistema de seguridade social no País.
Abstract
ma privado ao ampliar-se a gama de clientes que demandam
procedimentos médico-hospitalares, sobretudo pela expansão da carteira de serviços dirigida às empresas.
A autonomização permitiu aos capitalistas reduzirem a
exposição ao padrão de dependência do Estado, diminuindo os temores da ameaça estatizante. Os capitalistas passaram, em seguida, a influenciar conservadoramente o processo de discussão da Reforma Sanitária, na Constituinte
eleita em 1986, por intermédio do grupo de pressão denominado Centrão9, antes mesmo que a universalização estivesse operando.
Chegamos ao final para constatar que a saúde do trabalhador, em 1966, com o INPS, era gratuita - a política previdenciária era quem administrava e custeava a assistência
médica, nos padrões clássicos de seguridade social - e, a
partir de meados dos anos 1980, o seguro saúde, privado e
pago, passou a ser responsável pela gestão da saúde do trabalhador do setor formal da economia.
Como se observa, o padrão de financiamento da saúde do trabalhador moveu-se, em menos de duas décadas,
da seguridade social ao seguro saúde. Atualizando-se o
argumento de Oliveira e Teixeira (1986, p. 213), ele paga
duas vezes10 ao recolher contribuições previdenciárias e ao
custear um plano de saúde, com ou sem patrocínio do empregador.
A evolução do número de usuários de planos coletivos
de saúde nos últimos três anos assinala a hegemonia dessa
modalidade de contrato na prestação do subsistema privado,
como pode ser visto no Quadro 3.
Nesse cenário, ganha novo sentido a intrincada política
de incentivos que passa a caracterizar a participação do setor público no faturamento dos planos de saúde, consolidando um novo padrão de articulação entre os segmentos público e privado no Brasil. Segundo Bahia (2008), esses gastos
somaram, em 2005, pelo menos R$7,5 bilhões, distribuídos
entre financiamento de planos de saúde para servidores federais, gastos públicos com internações de clientes de planos privados, gastos tributários de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de empresas estatais. Assim, aproximadamente 20% dos gastos com o financiamento dos planos e
seguros de saúde provêm de fontes públicas.
Esse padrão de financiamento dispara consequências
políticas diretamente relacionadas às possibilidades de avanço
na universalização de uma assistência pública de qualidade,
da mesma forma que retira atores relevantes do suporte político (hoje imprescindível) para o resgate de novas bases de
This articles aims to analyze the changes in the financing
worker’s health pattern in the country before the creation of
the National Social Segurity Institute (INPS) in 1966, vis-à-vis
the penetration process of the production capitalist relations
concerning to the medical assistance. To contribute to this
phenomenon understanding will be analysed the previdenciary policies.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, E.I.G (Des)equilíbrio da previdência social brasileira
1945-1997 (componentes econômico, demográfico e institucional).
232 f. Tese (Doutorado) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Minas Gerais, 1999. Disponível em:
www.cedeplar.ufmg.br|pos_em_demografia|teses_aprovadas_2007.php
ANDREAZZI, M.F.S. Teias e tramas: relações público-privadas no
setor saúde brasileiro dos anos 90 . 351 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Medicina Social da UERJ, Rio de Janeiro, 2002.
BAHIA, L. As contradições entre o SUS universal e as transferências de recursos públicos para os planos e seguros privados de saúde. Ciência e Saúde Coletiva, ABRASCO, Rio de Janeiro, v. 13, n.
5, p. 1385-1397, set./out. 2008.
BAPTISTA, T.W.F. Caminhos e percalços da política de saúde no
Brasil: vinte anos da reforma sanitária (partes 1, 2 e 3). Rio de Janeiro, 1996. (Mimeo)
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Caderno de informações da saúde suplementar: beneficiários, operadoras e planos. Ano 3, jun. 2008, dados eletrônicos, Rio de Janeiro: ANS, 2008.
BRAUDEL, F. A dinâmica do capitalismo. Tradução Álvaro Cabral.
Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
CORDEIRO, H. As empresas médicas: as transformações capitalistas da prática médica . Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984.
FAVERET FILHO, P.; OLIVEIRA, P.J. A universalização excludente:
reflexões sobre as tendências do sistema de saúde. In: IPEA, planejamento e políticas públicas. Rio de Janeiro: Ipea, 1990. n.o 3, p.
139-162.
OECD. Reviews of Regulatory Reform Brazil: strenghtening governance for growth, 2008. (p.113:146). Paris: OECD, 2008.
OLIVEIRA, J.A.A.; TEIXEIRA, S.M.F. (Im)Previdência Social: 60 anos
de história da previdência no Brasil. Petrópolis: Vozes/Abrasco, 1986.
OLIVEIRA JÚNIOR, M. O financiamento da área social e do Sistema Único de Saúde no Brasil. Planejamento e gestão em Saúde.
Cadernos de Saúde, v. 1, p. 45-78. Belo Horizonte: Nescon, 1998.
PINA, J.A.; CASTRO, H.A.; ANDREAZZI, M.F.A. Sindicalismo, SUS
e planos de saúde. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.
11, n. 3, p. 837-846, 2006.
RODRIGUES, P.H. Do triunfalismo à burocratização: a despolitização da reforma sanitária brasileira. 1999. 109f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva). Instituto de Medicina Social, UERJ, Rio
de Janeiro, 1999.
SALLES DIAS, P.P.F. Resenha de Baptista (1996): Caminhos e percalços da política de saúde no Brasil - Vinte anos da reforma sanitária (partes 1, 2 e 3). Notas de Aula. Rio de Janeiro: 1996. Disciplina:
Análise do Sistema Político de Saúde. IMS-UERJ. Rio de Janeiro,
2008. (Mimeo).
SOLLA, J.J.S.P. Avanços e limites da descentralização no SUS e o
Pacto de Gestão. Revista Baiana de Saúde Pública, Salvador, v.
30, n. 2, p. 332-348, jul./dez. 2006.
9
A partir de outubro de 1987 organizou-se o grupo "Centrão" na ANC (Constituinte), constituindo uma força de oposição às propostas mais progressistas encaminhadas em
plenário. O Centrão reunia 35% dos parlamentares, compondo um grupo forte e ultraconservador (p. 46). [...] conseguiu reverter o encaminhamento de diversas propostas
encaminhadas na primeira fase de trabalho da Constituinte, dentre elas a proposta aprovada para a política de saúde. (p. 40) [...] algumas propostas do texto da saúde
implicaram em algumas perdas, tais como: a participação da iniciativa privada como forma complementar ao SUS, a não definição de um percentual de recursos para a
saúde, a não explicitação dos mecanismos de viabilização da descentralização e de unificação do sistema, dentre outras [...] Mais uma vez chegava-se a um grande
consenso que não definia pactos substantivos, criando uma situação de total instabilidade para o setor e suas propostas reformistas (p. 41). (BAPTISTA, 1996).
10
Para Oliveira e Teixeira (1986), o PNS, de 1968, propõe o regime de livre escolha, sendo os honorários médicos pagos parcialmente pelo Estado através dos recursos
previdenciários e parcialmente pelo cliente, ou seja, ele paga duas vezes. A atualização desse conceito resulta no seguinte: o usuário de planos de saúde, além de pagar as
contribuições previdenciárias, paga seu plano de saúde, parcial (patrocínio empregador) ou integralmente. Ele paga duas vezes.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
47
Resenha
Política de Segurança Pública:
como avaliar?
ROBSON SÁVIO REIS SOUZA*
Uma das consequências das rápidas transformações
sociais dos últimos anos é que as agências encarregadas pela
aplicação da lei (especialmente do sistema de justiça criminal) não se prepararam para os impactos com relação ao incremento da violência e especificamente com o recrudescimento da criminalidade urbana. Com este quadro de insegurança vivido pela população, as pessoas e instituições foram
obrigadas a tomar medidas de proteção individuais como construção de muros altos nas residências, instalação de câmeras de vídeo, de detectores de metal e a contratação de segurança particular, na ilusão de estarem se prevenindo da
violência. Os cidadãos trouxeram para o âmbito privado um
problema notadamente público.
Algumas pesquisas mostram que as medidas individuais como estas não resolvem os problemas de violência e da
segurança pública e trazem sérias consequências sociais,
como, por exemplo, o aumento do individualismo, o imobilismo frente ao incremento da violência, a inibição da participação no espaço público, deixando as pessoas ainda mais vulneráveis. Isso se deve à diminuição dos mecanismos de coesão social provocados pelo medo e pela insegurança crescentes, transformando todos os cidadãos em potenciais suspeitos ou até mesmo em potenciais infratores.
No Brasil, porém, o aumento significativo da criminalidade, principalmente urbana, não é um problema localizado,
mas nacional. Nas décadas de 1980 e 1990, presenciamos
um vertiginoso aumento dos crimes nas maiores cidades brasileiras. Relatório divulgado em outubro de 2004 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, aponta que "em 2003, no Brasil, foram registradas pelas
Polícias Civis 40.630 ocorrências de homicídios dolosos, propiciando uma taxa de 23 ocorrências de homicídio doloso por
100 mil habitantes. Desse total, 33,7% concentram-se nas
capitais das Unidades da Federação" (BRASIL, Senasp 2004).
Ainda segundo essa fonte, houve um crescimento de 17%
nas taxas de ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio, entre 2001 e 2003, sendo que as ocorrências de roubo aumentaram no período 17% e as ocorrências de furto
tiveram um incremento de 24,5%. Esses dados, certamente,
não indicam a realidade, dado que muitos eventos criminosos são altamente sub-notificados, conforme atestam pesquisas de vitimização nacionais e internacionais.
Pesquisas recentes têm demonstrado que em alguns
municípios, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, gastam-se cerca de 5% do Produto Interno Bruto com
o combate à criminalidade. O Rio de Janeiro é o município
que, proporcionalmente, mais gasta com violência: em 1995,
foram R$2,5 bilhões. São Paulo gastou, em 1999, R$9,4 bilhões e Belo Horizonte, R$900 milhões.
Segundo projeção de estudiosos e especialistas, o Brasil
aplica cerca de R$70 bilhões por ano combatendo a criminali*
dade; Minas Gerais, cerca de três bilhões e os gastos na capital mineira já giram em torno de um bilhão de reais por ano.
Os cálculos dos custos da criminalidade levam em conta
o que se perde com a morte prematura de pessoas, longos
tratamentos de saúde, gastos com segurança pública e privada e os gastos privados com seguros, além das perdas
diretas. Não se contabilizam, geralmente, as perdas simbólicas que podem ser muito maiores. Por exemplo, o que as
pessoas deixam de gastar em compras, lazer e turismo ao
não saírem de suas casas com medo de serem vitimizadas; a
sensação de insegurança que produz fobias e longos tratamentos de saúde e a desconfiança crescente que fragiliza os
órgãos do sistema de justiça criminal.
Desde o início do século XX, pesquisadores das áreas
do Direito, da Sociologia, da Política e da Antropologia começaram a produzir estudos sobre violência, criminalidade e,
em menor escala, sobre segurança pública no Brasil. Rápida
revisão bibliográfica aponta para pesquisas sobre a precariedade das técnicas de investigação policial e a inserção das
polícias no sistema de justiça criminal e sobre o perfil burocrático do sistema de justiça criminal. Outros estudos apontam que as mediações burocráticas são responsáveis pela
lentidão nos processos desse sistema, sendo que uma modernização institucional com novos arranjos estruturais torna-se imprescindível com o incremento da criminalidade, atualmente. E, ainda, que as organizações policiais funcionam
como no século XIX, mas enfrentam os complexos problemas do século XXI.
O que se verifica é que há pouca produção acadêmica
sobre importantes enfoques, como, por exemplo, a gestão da
segurança pública e a avaliação de políticas públicas de segurança.
A Editora UFMG e o Centro de Estudos de Criminalidade
e Segurança Pública (Crisp) se associaram para a produção
da coleção "Segurança e Espaços Urbanos". Esta coleção
tem por objetivos, entre outros, discutir aspectos práticos na
implementação de políticas, programas e projetos em segurança pública. Segundo seu organizador, o coordenador do
Crisp, Cláudio Beato, "existe uma crença de que muito se
sabe sobre a matéria, basta apenas colocar em prática esse
conhecimento. Isso não é verdadeiro. Sabemos pouco e menos ainda sobre as diversas facetas das políticas públicas
em segurança, das estratégias mais eficazes e das maneiras
mais viáveis de obter resultados".
A coleção se baseará na análise de projetos, programas
e políticas a partir de uma perspectiva empírica. Ou seja, os
autores dos textos, além de sólida base teórica, têm algum
tipo de envolvimento prático nos temas que serão abordados. "Mais que um enfoque ensaístico, deve-se partir da robustez e da qualidade da base empírica a sustentar diferentes possibilidades de decisão nessa área. Isso é importante,
Pesquisador do Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública (UFMG); pesquisador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos (PUC Minas) e coordenador do
Núcleo de Direitos Humanos (PUC Minas).
48 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
pois, no Brasil, a segurança pública e seus projetos têm se
pautado por forte componente impressionístico de conteúdo
frequentemente ideológico. Necessitamos de um enfoque mais
pragmático que, contudo, não obscureça a necessidade de
as discussões apresentadas serem amparadas por forte base
teórica e conceitual a dar-lhes sustentação", pondera o coordenador do Crisp, ao explicar, na introdução do primeiro livro,
esse tipo de opção editorial.
O primeiro livro da coleção, Compreendendo e Avaliando Projetos de Segurança Pública pretende suprir uma grave lacuna nos estudos sobre a segurança no Brasil: a carência de instrumentos de avaliação e monitoramento, bem
como de diagnósticos abrangentes e úteis para fins de planejamento e implementação de programas e projetos de
segurança pública. Os textos apresentados no livro dedicamse justamente a diferentes aspectos relevantes da organização da informação e da avaliação de programas de segurança pública.
A obra apresenta quatro textos: o primeiro trata do uso
de mapas para o planejamento e avaliação. "A utilização
de mapas tem possibilitado verdadeiras revoluções gerenciais no âmbito das polícias brasileiras, da mesma forma
como ocorreu em outros países. Mas não basta apenas
que existam. É crucial que sejam utilizados como ferramentas de planejamento de atividades operacionais e como
componentes para a implementação de projetos de prevenção social em áreas de risco. Daí eles terem impulsionado a criação de unidades de analistas de crime e de setores estatísticos que dêem suporte à atividade operacio-
nal das polícias e ao desenvolvimento de projetos e programas sociais".
"Avaliação econômica de programas de prevenção e
controle da criminalidade no Brasil", o segundo texto do livro,
apresenta algumas análises de custo-benefício de programas
de prevenção que, infelizmente, são raríssimas no universo
das políticas públicas de segurança no Brasil. "Ao contrário
do que ocorre em muitos outros setores da administração
pública, decisões são tomadas sem levar em conta as consequências econômicas e o custo para a sociedade".
O texto seguinte apresenta uma discussão crítica das
estratégias de prevenção aplicadas aos homicídios no Brasil
e em outros países. Analisando alguns programas de prevenção à criminalidade, o texto aponta que, ao contrário do que
muitos acreditam, esses projetos não se compõem "apenas
de boas intenções e voluntarismo, mas de estratégias intensivas e conhecimento aplicado a cada situação na qual ocorrem os incidentes".
Por fim, o último texto do livro tem como escopo "buscar
nas raízes e na forma de atuação das polícias uma orientação sobre as diferentes possibilidades de reforma e de sua
viabilidade política. Extrai-se do texto que o peso e a importância que as polícias têm na discussão sobre segurança
pública no Brasil sugerem fortemente que esse é um tema
que não deve ser destinado apenas a policiais - é de interesse de toda a sociedade brasileira".
O livro Compreendendo e Avaliando Projetos de Segurança Pública está à venda nas lojas da Editora UFMG ou no
site: www.editora.ufmg.br
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
49
Instruções para colaboradores
A revista PENSAR BH/POLÍTICA
SOCIAL é uma publicação da Câmara
Intersetorial da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Com periodicidade trimestral, a publicação pretende, além de
informar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela PBH no âmbito
das diversas áreas temáticas sociais
(Abastecimento, Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Direitos de Cidadania e Saúde), criar um espaço de
reflexão sobre estas ações, em qualquer
âmbito.
Os trabalhos oferecidos para serem
publicados, sempre que o editor geral
julgar necessário, serão submetidos à
apreciação de dois membros do Conselho Consultivo, constituído por representantes da comunidade acadêmica de
belo-horizontina, nacional e internacional, notoriamente reconhecidos como
especialistas nas supra citadas áreas.
A estes será dado o direito de recusar algumas colaborações, explicitando os critérios utilizados na avaliação, ou fazer
sugestões quanto à estruturação e redação dos mesmos para tornar mais prática a publicação e manter a uniformidade editorial. No caso de artigos
reenviados, a decisão final subre sua
publicação cabaerá ao editor geral.
A publicação é constituída por:
1- Artigo: revisão crítica sobre tema
pertinente à política social com o máximo de 10 páginas, em corpo 12, espaço
1/2, fonte Times New Roman, entregue
em CD, disquete ou enviado por e:mail.
2- Opinião: opinião qualificada sobre tema específico da política social, a
convite dos responsáveis pela publicação (máximo de cinco páginas, espaço
1/2, em corpo 12, fonte Times New
Roman, entregue em disquete, CD ou enviado por e:mail).
3- Debate: artigo teórico que se faz
acompanhar de respostas a questões
apresentadas por representantes de distintos setores ou correntes de opinião
relacionados ao assunto em pauta, convidados pelo editore e/ou sugeridos pelos integrantes do Conselho Consultivo.
O texto principal deverá conter no máximo sete páginas, com espaço 1/2, corpo 12, fonte Times New Roman, a ser
enviado por e-mai l ou entregue em
disquete ou CD.
4- Tese: resumo de tese ou dissertação de interesse da política social, defendida no último ano (máximo de 10
páginas, espaço 1/2, em corpo 12, fonte
Times New Roman, entregue em CD,
disquete ou enviado por e:mail).
Obs: todas as colaborações devem
utilizar em programas compatíveis com
DOS ou Windows.
Artigos, Opinião e Tese
Nas colaborações na forma de Artigo, Opinião ou resumo de Tese devem
constar os títulos, podendo o editor-geral solicitar alterações sempre que houver duplicidade ou semelhança com os
títulos de outros textos entregues anteriormente pelos respectivos autores.
Todos os trabalhos devem ser assinados, com referência explícita à principal função, título ou cargo ocupado pelo
autor.
Ilustrações
O espaço destinado às Tabelas e/
ou Figuras (gráficos, mapas, desenhos
etc.) não será acrescido ao do texto, conforme as indicações anteriores. O editor-geral poderá, contudo, solicitar a redução do número de ilustrações em função do espaço total (texto + ilustrações)
destinado ao artigo e que não deverá
ultrapassar a sete páginas da revista. As
tabelas, gráficos, mapas, desenhos etc.
deverão ser entregues em separado, devendo constar no texto apenas a indicação do local onde devem ser inseridas.
No caso das ilustrações serem entregues já digitalizadas, os arquivos deverão ser salvos em formato Tiff, EPS,
JPEG ou versão compatível com o Corel
Draw. Cada ilustração deve ter um título
e a fonte de onde foi extraída. Cabeçalhos e legendas devem ser suficientemente claros e compreensíveis sem necessidade de consulta ao texto. As referências às ilustrações no texto deverão
ser mencionadas entre parênteses, indicando a categoria e número da tabela
na figura. Ex: (Tabela 1).
Fotos
As fotos poderão ser coloridas ou em
preto-e-branco, ficando a critério do editor avaliar sua qualidade estética e de reprodução. Estas deverão vir acompanhadas de autorização do autor, abrindo mão
dos direitos autorais. À exceção das fotos adquiridas para a composição de
acervos e arquivos, a todas elas será
dado crédito de autoria.
Notas de Rodapé
Na utilização das notas de rodapé e
referências bibliográficas serão observadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), abaixo sintetizadas.
As notas de rodapé têm por objetivo
fornecer ao leitor uma explicação ou esclarecimento que não deve ser incluído
no corpo do texto para não interromper
sua seqüência lógica. As chamadas das
notas de rodapé devem ser feitas usando-se algarismos arábicos na entrelinha
superior, sem parênteses. No caso das
notas de rodapé do tipo bibliográfico, estas devem conter (pela ordem) o nome
do autor (ou autores), título da obra e
página consultada, de acordo com o
exemplo abaixo.
Ex: BORJA, Jordi. Descentralización
y Gobierno Democrático: critérios para la
acción, p.22.
Referências Bibliográficas
- As Referências devem ser
formatadas em ordem alfabética.
- Os termos essenciais devem obedecer a seguinte ordem de entrada: o
50 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
nome do autor (ver especificações abaixo), o título da obra (que deverá vir em
destaque, itálico), a edição (que só é colocada a partir da segunda e sempre
será indicada por algarismos arábicos.
Ex: 4.ed., o local da publicação e a editora, cujo nome não é acompanhado por
termos que indiquem a natureza jurídica da empresa (Cia., S.A., Filho, Ltda.).
A palavra editora só é usada no caso de
editoras com nomes de cidades ou países. Ex: Editora Belo Horizonte, e o ano
da publicação, sempre indicado em algarismos arábicos, sem ponto dividindo
as unidades.
- São considerados dados complementares a coordenação, a organização, o subtítulo, a tradução. O nome do
coordenador ou organizador deve aparecer na ordem indireta com sua função
indicada de forma abreviada entre parênteses. O subtítulo da obra não recebe nenhum tipo de destaque e é antecedido por dois pontos. No caso de tradução, o nome do tradutor figura logo
após o título do trabalho.
• Pontuação: o sobrenome e o prenome do autor são separados por vírgula. Para separar o título do subtítulo
de uma obra deve-se usar dois pontos,
que também são usados para separar o
local da editora.
• O nome do autor deve ser grafado
o último sobrenome seguido pelos prenomes.
Ex: MARQUES, Gabriel García.
• Se o sobrenome for composto,
deve ser referenciado a partir do penúltimo sobrenome.
Ex: SILVA NETO, João Batista.
• Em uma obra escrita por até três
autores, todos devem ser citados, usando-se ponto-e-vírgula para separá-los
entre si. Se forem mais de três autores,
são mencionados os três primeiros seguidos da expressão et al. (e outros).
• Entidades coletivas: os órgãos governamentais, empresas e entidades públicas devem ser referenciadas pelo título.
Ex: BRASIL. Constituição Federal.
Brasília: Senado Federal, 1988.
• Local e editora: o local deve ser
transcrito na forma que se encontra na
publicação. Se houver homônimos,
acrescenta-se o Estado ou País.
• O nome da coleção deve vir após
o ano da publicação, entre parênteses.
• O nome do tradutor é citado após o
nome da obra.
• Quando houver mais de uma obra
de um mesmo autor, deve-se colocá-las
em ordem alfabética do título ou por ordem cronológica. O nome do autor repetido é substituído por um traço.
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010
51
PENSAR BH/POLÍTICA SOCIAL
é uma publicação da Câmara Intersetorial de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dos responsáveis pela edição da revista. Não
é permitida a reprodução de textos ou fotos sem autorização dos autores.
52 PENSAR/BH POLÍTICA SOCIAL - MARÇO DE 2010