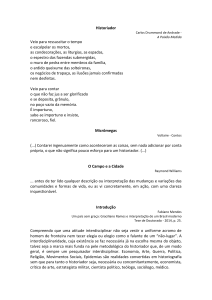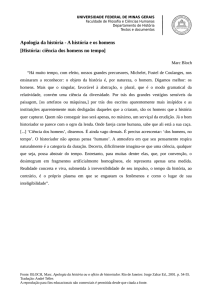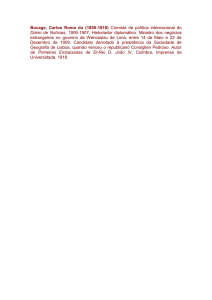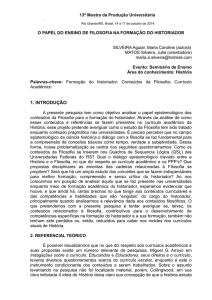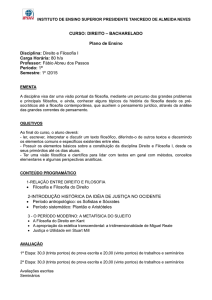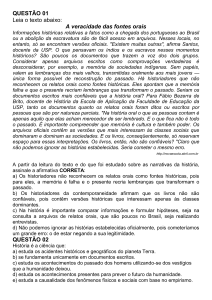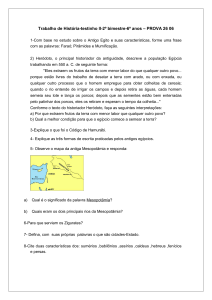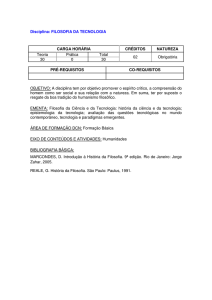GESTÃO DO CONHECIMENTO E
HISTORIOGRAFIA, NA PERSPECTIVA
NEOKANTIANA – MARROU E OS
CULTURALISTAS BRASILEIROS
RICARDO VÉLEZ RODRÍGUEZ
Coordenador do Centro de Pesquisas Estratégicas “Paulino Soares de
Sousa”, da UFJF.
[email protected]
Este trabalho tem como finalidade apresentar a forma em que os neokantianos
formularam, no século XX, as bases gnoseológicas da pesquisa histórica. Desenvolverei,
em primeiro lugar, os aspectos fundamentais da epistemologia do conhecimento histórico
segundo Henri-Irénée Marrou (1904-1977), na sua clássica obra intitulada Do
conhecimento histórico [tradução de Ruy Belo, Lisboa: Aster, sem data]. Em segundo
lugar, analisarei a maneira em que os culturalistas brasileiros (Miguel Reale e Antônio
Paim), entendem as bases epistémicas da pesquisa histórica, no terreno da História das
idéias.
Marrou representa, nos arraiais do neokantismo, o mais importante pensador que
aplicou a perspectiva transcendental aos estudos históricos. Algo paralelo ao que Rickert e
Weber fizeram nas ciências sociais. O pensador francês busca fazer uma introdução
filosófica ao estudo da história, de forma a responder às seguintes questões: Qual é a
verdade da história? Quais são os graus e limites dessa verdade? Quais são as suas
condições de elaboração? Qual é o comportamento correto da razão em relação à história?
Numa obra de caráter geral como Do conhecimento histórico, não é possível ir
além dos princípios universais que fundamentam a pesquisa histórica. Para explicitá-los,
Marrou considera necessário se despojar da inspiração positivista que menospreza a
indagação filosófica. Sem fazer isso, seria impossível examinar os problemas de ordem
lógica e gnoseológica colocados ao historiador pelo processo da pesquisa que ele realiza.
A inflação dos valores históricos e a exagerada exaltação do historiador ao longo do
século XIX, conduziram a uma forte reação contra o dogmatismo da historiografia, reação
que se personifica, por exemplo, em Nietzsche e em Tolstoi, e que chega ao seu auge com a
descrença na História que se observa no século XX, causada pela deformação da verdade
histórica, efetivada tanto por parte dos regimes totalitários, quanto por parte das
democracias ocidentais. (Sem ir muito longe, o caso Watergate constituiu um claro atentado
do Executivo norte-americano contra a veracidade histórica, para não falarmos da censura à
imprensa e de outras mazelas que o século que acaba de terminar apresenta aos montes).
Essa crise da História é acompanhada por uma busca crescente de um sentido para a
mesma. É assim como, ao longo do último século, renovou-se consideravelmente o
interesse pela filosofia e pela teologia da História. Mas nessa busca é necessário fugir do
dogmatismo de inspiração hegeliana que penetrou profundamente na mentalidade
contemporânea, especialmente sob a forma do marxismo. Sem desconhecer a grandeza
filosófica de Hegel, devemos levar em consideração que é um filósofo com afã de concluir
e dogmatizar, para quem somente possui valor uma História "filosófica", cujos materiais
não se dá ao trabalho de verificar.
Capa da edição inglesa de uma das obras do filósofo da história Henri-Irénée Marrou (1904-1977)
Diante da crise da historiografia e em face das tentativas dogmáticas em prol da sua
revalorização, situa-se a elaboração de uma filosofia crítica da História, cujo iniciador foi
Wilhelm Dilthey (1833-1911), que pretendeu realizar uma Crítica da Razão Histórica
como equivalente transposto da Crítica da Razão Pura de Kant, sem que por isso Dilthey
possa ser reduzido ao contexto do neokantismo. Apesar de se situar num plano diferente, a
Fenomenologia contribuiu também (com Husserl, Jaspers e notadamente Heidegger), à
profundização da problemática do conhecimento histórico. Na linha iniciada por Dilthey
situam-se, também, Rickert e Weber, sendo Raymond Aron quem consegue integrar ao
contexto da tradição francesa a tentativa diltheiana de elaborar uma filosofia crítica da
História. A Grã Bretanha apresenta, de outro lado, toda uma linha de pensadores ligados a
esse problema; o seu longínquo precursor é David Hume, cuja influência seria continuada
pelos Anglicanos Liberais, no período compreendido entre 1830 e 1850, para chegar, já no
século XX, a Michael Oakeshott e notadamente a R. G. Collingwood, que sofreu também a
influência de Croce. Através de todas as contribuições indicadas, frisa Marrou, chegou-se à
formulação de uma filosofia crítica da História, cuja exposição ele pretende realizar,
completando-a com a sua contribuição pessoal. Essa tentativa insere-se na atual filosofia
das ciências.
O filósofo da história alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911), autor da famosa obra Crítica da Razão Histórica.
A História como conhecimento, segundo Marrou
A filosofia crítica da História deve seguir o método da filosofia das ciências, que
consiste em partir de um dado (que é determinada disciplina já constituída) e se dedicar a
analisar o comportamento racional de seus especialistas, para apurar assim a estrutura
lógica do seu método. Marrou considera que o dado do qual deve-se partir é a prática
reconhecida como válida pelos especialistas competentes, a ordem dos historiadores, que
goza de uma tradição metodológica vigorosa no Ocidente desde Herodoto e Tucidides,
chegando até os nossos dias. Isso é valido mesmo admitindo que a História
verdadeiramente científica constituiu-se no século XIX e que há variedade na forma de
fazer História, abarcando desde análises detalhadas até amplas sínteses.
Para Marrou, a "História é o conhecimento do passado humano". Esse conhecimento
não é pura narração ou obra literária, simples estudo ou pesquisa, pois o que importa é o
resultado atingido a partir desta última, ou seja, a verdade que a pesquisa elabora. O que
interessa é "o conhecimento cientificamente elaborado do passado", entendendo ciência
como τεχνη, ou seja, conhecimento elaborado em função de um método sistemático e
rigoroso. Conhecimento do passado humano, sem preconceitos em relação ao que este
tenha sido. Marrou previne-nos contra as imposições dogmáticas dos filósofos da História.
Trata-se do passado do homem enquanto homem. É o conhecimento dos homens de outrora
pelo homem de depois, que é o historiador. A História é assim, para o autor, a relação
estabelecida, por iniciativa do historiador, entre dois planos da humanidade: o passado
vivido pelos homens de ontem e o presente em que se desenvolve o esforço de recuperação
desse passado, para beneficiar ao próprio homem. A História pretende atingir o passado
realmente vivido pela humanidade. Mas o passado apreendido pela História é diferente
desse mesmo passado quando era real para os homens que o viveram.
O filósofo neokantiano alemão Heinrich Rickert (1863-1936), que deitou as bases epistemológicas para a compreensão das
Ciências Humanas.
A respeito, o autor tira três conseqüências: a) Em lugar de se tornar contemporâneo
de seu objeto, o historiador apreende-o como passado; ou seja, como tendo-sido-umpresente e junto com a distância que dele nos separa. b) O historiador capta os frutos
produzidos pelos acontecimentos que estuda. c) O passado objeto da História, quando era
presente, tinha as características de multiformidade e confusão com que se impõe a nós o
presente que vivemos agora. E o trabalho do historiador consiste, precisamente, em resgatar
esse passado da confusão que o rodeia, e faze-lo pensável mediante a compreensão dos
efeitos produzidos pelas múltiplas forças que intervieram na dinâmica dos acontecimentos
estudados.
A História é inseparável do historiador
O positivismo conduziu os historiadores a pensarem uma falsa objetividade da
História, consistente numa pretensa reconstrução objetiva dos fatos humanos, os quais
encontrar-se-iam plasmados nos documentos das diferentes épocas. O trabalho dos
historiadores seria muito fácil nesse contexto: consistiria em reconstruir esses fatos a partir
da documentação dada. Entre as múltiplas ciladas em que de fato cai o positivismo
histórico, acho que podem ser mencionadas duas: de um lado, há a simplificação de
pressupor um ponto de vista impessoal e universalmente válido para todos os historiadores.
De outro lado, há a simplificação de formular ao passado, em termos gerais, uma série
esquemática de perguntas, que visam a reconstruí-lo nos seus aspectos puramente facticopolíticos. Chegou-se, assim, ao tipo de história de grandes fatos políticos, a "história de
batalhas". Além do mais, a pretensão de fazer da História uma reconstrução absolutamente
fiel de todo o passado, ou em outros termos, o ideal da objetividade absoluta, que no fundo
inspira aos espíritos positivistas, leva implícita a suposição de que o historiador deve pesar
o valor de todos os atos humanos que constituem esse passado, suposição que somente é
cabível em Deus, Espírito Perfeitíssimo. Colocar o historiador nessa missão é jogá-lo num
beco sem saída.
O filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952).
No trabalho de fazer História, é válida esta equação: H = P + p (onde H é a
História, P o passado que é estudado e p o presente a partir do qual o historiador apreende
esse passado, abarcando esse presente o universo cultural e humano do historiador mesmo).
Surge assim a mediação do presente do historiador na apreensão do passado humano. Todo
esforço por fazer História está condicionado, necessariamente, pelo ponto de vista pessoal
de quem a faz, e será tanto mais fecundo quanto essa mediação for mais adequada. Em
outras palavras, o historiador procede formulando perguntas ao passado, levantando
hipóteses que vai confirmando no seu trabalho, e essa confirmação é o que constitui
propriamente a História. No processo de formulação de hipóteses, é necessário levar em
consideração o caráter progressivo do conhecimento histórico. O historiador, efetivamente,
não formula as suas perguntas a partir de zero, mas ao seu trabalho de perguntar ao passado
precedeu uma elaboração histórica, que deve ser levada em consideração ao fazer História.
Esse caráter de progresso é indissociável do afazer do historiador. Não há, pois, uma
absoluta identificação entre passado e História. "A História, frisa V. H. Galbraith, é o
passado na medida em que nós o podemos conhecer".
A História se faz com documentos
Uma vez que o historiador interrogou ao passado, a resposta vem mediatizada
através dos documentos. O historiador deve interpretá-los: nisso consiste a heurística. O
documento pode ser muito variado: não necessariamente é um texto escrito (embora esse
tipo de documento é assaz apreciado), mas pode ser também um objeto achado numa
escavação, um quadro ou mesmo uma paisagem. Tudo vai depender da forma em que o
historiador utilize o documento que encontrou. Para fazer bom uso do documento, o
historiador deve, em primeiro lugar, delimitar o objeto de seu interesse no estudo que
realiza. Uma vez delimitado o objeto, deve buscar os documentos com ele relacionados.
Nesse trabalho de busca deve utilizar a documentação auxiliar, como bibliografias, por
exemplo. A potencialidade comunicativa do documento escolhido depende de dois fatores:
o conteúdo mesmo (a entidade) do documento e os aspectos sob os quais o historiador o
interpreta. O documento selecionado pode-me dar múltiplas revelações acerca do que eu
procuro, dependendo do ângulo a partir do qual eu o focalize. Assim, um texto literário
pode ser para o historiador das idéias não simplesmente um poema, mas também pode ser
prova da concepção filosófica da época.
A heurística, como trabalho de interpretação, penetra na dinâmica da comunicação
humana. O trabalho do historiador que interpreta documentos supõe o fato da comunicação
interpessoal e nele se baseia, posto que em última instância a utilização de um documento é
a interpretação de um signo produzido pelo homem e é a ele a quem primordialmente
significa. A fundamentação filosófica da comunicação interpessoal é básica para justificar o
trabalho do historiador.
Método para abordar os documentos históricos
Os documentos são os mediadores entre o passado (chamado por Marrou de
"devenir noumenal da humanidade") e o historiador. Paradoxalmente, o método assinalado
por ele consiste em não tê-lo. É necessário, antes de mais nada, deixar o documento falar,
nos despindo dos nossos preconceitos ou aplicando à nossa mente uma saneadora epokhé,
que lhe possibilite se aproximar do testemunho do passado sem pretender deformá-lo à sua
própria imagem. Sem dúvida que não podemos nos dar o luxo da pura objetividade. Tratase, melhor, de assumir uma atitude de simpatia com o documento que temos na nossa frente
e de interrogá-lo respeitando a sua própria entidade. Esse processo consiste numa
interrogação ampla, que o deixe falar. Marrou critica nesse ponto, novamente, a
metodologia criada pelo positivismo para abordar os documentos históricos: tanto a crítica
externa (crítica de autenticidade e de proveniência), como a crítica interna (crítica de
interpretação e de credibilidade). Essas duas críticas podem ter um valor limitado no caso
de documentos textuais, cujo conteúdo queremos apurar. Mas ambas resultam falhas
quando as adotamos como atitudes do espírito prévias à abordagem de qualquer
documento. A relação documento-historiador é análoga à que existe no plano interpessoal.
E nada de mais alheio à comunicação do que abordar o outro partido de um esquema que
formalize as nossas dúvidas em relação a ele.
O filósofo e sociólogo alemão Max Weber (1864-1920).
As ciências auxiliares da História são definidas pelo autor de modo genérico como
"todas aquelas disciplinas cujo conhecimento revela-se útil ao historiador". Elas lhe
prestam uma ajuda insubstituível no que tange à interpretação dos documentos, do ponto de
vista dos princípios e leis gerais que elas estabelecem. Mas não dispensam a necessidade de
um esforço interpretativo particular de parte do historiador, em relação ao documento
analisado, tendo como pano de fundo o conjunto de experiências por ele vividas no seu
trabalho e na sua vida. Assim como uma pessoa pode ser compreendida -- parcialmente -através das ciências, sem que isso invalide o conhecimento geral que dela pode-se ter
mediante o trato pessoal, de forma semelhante o documento histórico (que constitui uma
irrupção ôntica do passado humano no presente do historiador) exige, também, uma
interpretação vivencial e humana.
Quanto à certeza histórica, Marrou é claro: seguindo as pegadas de Raymond Aron,
frisa que "a modalidade dos juízos históricos é a probabilidade. Mas essa probabilidade é
aqui praticamente infinita". Não podemos aspirar, em História, a uma certeza matemática.
Podemos aspirar, sim, a um tipo de certeza peculiar ao conhecimento do passado humano.
"A certeza histórica é sempre apenas uma verossimilhança que não parece razoável colocar
em dúvida na falta de razão suficiente para isso". Trata-se, falando em linguagem
pragmática, de a practical satisfactoriness.
Do documento ao passado
O historiador conhece o passado humano através dos documentos. Deve estar
atento, como já foi assinalado, para "escutar" o documento que tem diante de si, a fim de
interpretá-lo em todas as suas potencialidades de significação. Deve considerá-lo de
diferentes ângulos. Ora, podemos indagar aqui quais são as principais formas de mediação
entre o documento e o passado. Marrou reconhece quatro formas de mediação: a) A
primeira aparece quando o objeto do conhecimento histórico não difere do próprio ser do
documento estudado. Tal caso acontece, geralmente, quando realizamos um estudo da
História das idéias, acudindo então à sistematização feita por determinado autor acerca do
seu próprio pensamento; a história da filosofia apresenta muitos exemplos desse tipo. b) A
segunda forma de mediação acontece quando procuramos indagar, a partir do documento, o
que o seu autor (ou os seus autores) quiseram dizer nele. Já não ficamos na análise acerca
do que o documento diz em si mesmo. c) A terceira forma de mediação ocorre quando o
historiador espera extrair do documento não um testemunho sobre o que foi o passado em
relação a ele, mas sobre o passado que era o seu próprio presente. d) A quarta forma de
mediação, a mais generalizada, ocorre quando através do documento formulamos ao
passado perguntas de fato: são ou não reais os acontecimentos acerca dos quais ele dá
testemunho? Nesse terreno é onde mais estragos têm sido feitos pela metodologia
positivista, com a sua vã pretensão de chegar a uma certeza científica.
O filósofo e sociólogo francês Raymond Aron (1905-1983), um dos principais formuladores contemporâneos da Teoria da
História.
Não é raro que a inspiração positivista conduza a essa espécie de anarquia mental
em que consiste a hipercrítica, verdadeira doença epistemológica. Porque o documento
somente pode produzir apenas um testemunho que chega a um grau de certeza provável,
não absoluto, como já foi indicado. No fundo, a aceitação da veracidade de um documento,
mesmo depois das mais detidas análises, corresponde a uma anuência existencial que
Marrou caracteriza como fé. A análise crítica, por muito que progrida, não ultrapassará
jamais os limites do exame dos motivos da credibilidade, nem poderá concluir em prol da
realidade do passado, se não intervém a vontade de acreditar no testemunho dos
documentos. A respeito, conclui o autor: "O conhecimento histórico, que repousa sobre a
noção de testemunho, é finalmente uma experiência mediata do real, em virtude de haver
uma personagem interposta (o documento) e não é, portanto, suscetível de demonstração,
não é propriamente uma ciência, mas um conhecimento de fé".
O uso do conceito, segundo Marrou
A representação do passado que vamos construindo a partir dos documentos que
consultamos ao fazermos história, deve-se concretizar em conceitos que o nosso
entendimento elabora. Não de outra forma poderíamos comunicar essa representação aos
nossos semelhantes. Por isso Marrou centra a sua atenção no estudo das principais classes
de conceitos que o historiador utiliza no seu afazer, e reconhece cinco delas:
a) conceitos de abrangência universal que podem provir das ciências da natureza
(corpo, massa, aceleração, etc.), das ciências do homem (esquizofrenia, complexo, classe
social) ou do meio cultural (por exemplo, os conceitos relacionados com a ideologia social
à qual pertence o historiador). É importante levar em consideração duas coisas em relação a
esses conceitos de abrangência universal: a sua validade, ao considerá-los em si mesmos,
depende da fundamentação que deles se faça no terreno de onde provêm. Em segundo
lugar, a sua validade, considerando-os em relação à História, depende do discernimento do
historiador na utilização deles, de forma que traduzam fielmente essa parte do passado que
pretende esclarecer. Torna-se aqui evidente a necessidade de uma formação lógica da parte
do historiador, bem como de um espírito de abertura (interdisciplinar, diria eu) que o
projete sobre as outras disciplinas científicas.
b) O segundo tipo de conceitos que o historiador pode utilizar é constituído pelos
provenientes do uso analógico ou metafórico de uma imagem singular (por exemplo, o
conceito de "barroco", tomado em sentido amplo). É necessária muita precaução na
utilização desses conceitos, que devem ser sempre mantidos no seu plano de simples
instrumentos, para não cair em reificações.
c) Os conceitos técnicos cuja validade é limitada ao espaço e ao tempo, em virtude
de que ela é relativa a um meio cultural determinado (por exemplo, os termos especiais que
se referem a instituições, instrumentos, utensílios, maneiras de agir, sentir ou pensar; em
síntese, os termos que exprimem fatos de cultura).
d) Os tipos ideais caracterizados por Weber, conceitos que exprimem um ambiente
histórico (por exemplo, o conceito de cidade antiga em Fustel de Coulanges), que se
alicerça sobre relações estruturais extraídas da análise de casos singulares. É necessário
aqui ter também muita precaução, pois na medida em que um tipo ideal distingue-se de um
simples conceito geral abstrato, tende a se tornar arbitrário. O historiador deve ter sempre
presente o caráter nominalista daquele.
e) Por último, temos conceitos que, expressados em termos singulares não
suscetíveis de uma definição exaustiva, denotam a totalidade do que conseguimos conhecer
acerca de um complexo período do passado humano (como por exemplo os conceitos de
antigüidade clássica, Atenas, Roma, etc.). Estes são conceitos menos definidos que os tipos
ideais mas que, como eles, são altamente nominalistas. Subsiste ainda o perigo de
hipostasiar essas idéias.
A explicação histórica e os seus limites
Ao procurar apreender o seu objeto da maneira mais precisa e mais completa
possível, a História preocupa-se em torná-lo compreensível e em dar dele (no contexto de
determinados limites), uma explicação. Mas nesse processo o historiador deve respeitar a
singularidade e a complexidade humanas dos fatos históricos. Efetivamente, o homem,
como principal intérprete do passado que trata de reconstruir a História, é uma realidade
que não se pode reduzir, cem por cento, a uma estrutura lógica ou a um esquema
preconcebido. No momento em que pretendemos ter sintetizado a essência humana, ela
esvai-se. O homem é profundamente original e irredutível. E o historiador deve levar em
consideração essa originalidade. Portanto, na busca das explicações históricas que tornem
compreensível o passado, a principal exigência é que elas atendam à singularidade e
complexidade humanas.
No contexto dessas tentativas para elucidar do modo mais geral o passado humano
ao longo dos últimos 50 anos, Marrou destaca como mais válido o método seguido por
Sorokin, que em muitos pontos coincide também com o de Raymond Aron. Para Sorokin,
não há homogeneidade nos elementos que constituem os fatos da civilização. Eles podem
se apresentar sob diferentes formas: a) em estado separado; b) em justaposição, de maneira
totalmente empírica, como espécies de montículos de neve arrebanhados ao acaso pelo
vento; c) em forma de sistemas (com uma estrutura verdadeiramente orgânica. O autor cita
a respeito o exemplo das diversas técnicas. A arquitetura do templo clássico grego
constituiria um sistema); d) em forma de sínteses (ou combinação de sistemas. Por
exemplo, as grandes religiões); e) em forma de um super-sistema ideológico, que
pretenderia abarcar toda uma civilização (como, por exemplo, a cidade antiga, a
cristandade medieval ocidental, etc.).
Mas devemos reconhecer com Sorokin que, neste caso, "trata-se apenas de um
limite, que pode ter existido sob a forma de ideal na consciência dos homens, mas que
nunca encarnou-se cem por cento em nenhuma civilização". Devemos reconhecer,
outrossim, que os elementos da civilização, nas suas diferentes formas de apresentação,
podem-se relacionar de três formas "que se dão alternadamente": integração, antagonismo e
neutralidade. Não há, pois, para Sorokin, um princípio que integre e explique univocamente
a História humana. Raymond Aron situa-se na mesma linha: a complexidade e a natureza
dos seres humanos e, consequentemente, da realidade histórica, tornam-na praticamente
inesgotável perante o esforço de descoberta e compreensão. "A realidade histórica é, ao
mesmo tempo, inesgotável e equívoca". Conseqüente com esse modo de pensar, Marrou diz
que devemos reformular, para a História, o conceito de causa. Efetivamente, jamais
poderemos observar no devir humano um fato que seja perfeitamente assimilável a outro e
que nos permita, consequentemente, falar estritamente em causas históricas. Da mesma
forma, Não podemos formular nesse terreno leis propriamente tais. O historiador deve
elaborar as suas explicações, procurando mais os antecedentes e os conseqüentes dos fatos
estudados, considerando-os sempre nas suas múltiplas ligações e implicações.
A partir das idéias expostas, Marrou critica as explicações "integralistas" dos
teóricos organicistas como Spengler e Toynbee que pretendem acomodar, de forma
idealista, a civilização humana a um esquema lógico preconcebido. Da mesma forma,
rejeita as explicações reducionistas (como as dos historiadores marxistas, por exemplo),
que pretendem organizar o material histórico simplificando-o, a partir de um elemento
escolhido previamente como fundamental. Marrou mostra-se contrário, por último, às
"filosofias da história" (como a hegeliana), para as quais a singularidade do acontecimento
humano fica em segundo lugar, ou é manipulada em função de uma idéia.
O pensador russo Pitirim Sorokin (1889-1968), criador da Faculdade de Sociologia da Universidade de São Petersburgo, bem
como do Departamento de Sociologia da Universidade de Harvard.
Uma crítica semelhante ao dogmatismo histórico foi apresentada, de forma
absolutamente pioneira, por Alexis de Tocqueville, quando, na sua Democracia na
América, criticava a historiografia que é escrita nos séculos democráticos, como sendo uma
abstração ao redor de alguns princípios gerais. O resultado desse tipo de historiografia,
considerava Tocqueville, seria a escravização dos espíritos por um dogmatismo paralisante.
A respeito, escrevia: "Se essa doutrina da fatalidade, que tem tantos atrativos para aqueles
que escrevem a história nos tempos democráticos, passando dos escritores a seus leitores,
penetrasse assim em toda a massa de cidadãos e se apoderasse do espírito público, pode-se
prever que logo paralisaria o movimento das sociedades novas e reduziria os cristãos a
turcos. Direi mais: que semelhante doutrina é particularmente perigosa à época em que nos
encontramos; nossos contemporâneos acham-se muitíssimo inclinados a duvidar do livrearbítrio, porque cada um deles sente-se limitado por todos os lados pela sua fraqueza, mas
ainda atribuem de boa vontade força e independência aos homens reunidos em corpo social.
É necessário que nos guardemos de obscurecer essa idéia, pois se trata de restabelecer a
dignidade das almas e não de completar a sua destruição" [Tocqueville, 1977: 377].
O pensador francês Alexis de Tocqueville (1805-1859).
O existencial na História
Escrever História implica condicionantes existenciais. Esse é um fato que entra
diretamente em atrito com a pretensa objetividade do positivismo. Heidegger afirma que a
redescoberta do passado supõe a existência do historiador. Essa historicidade funda
existencialmente a História como ciência. Esse condicionamento subjetivo manifesta-se,
por exemplo, na escolha do assunto e na forma em que delimitamos, norteamos,
compreendemos e realizamos o nosso trabalho de reconstrução do passado. Aí encontramos
atuantes as nossas inclinações naturais, a formação que recebemos, as nossas preocupações
existenciais (ou seja, tudo quanto diz relação ao sentido da nossa vida e dos nossos
compromissos).
No entanto, frisa Marrou, não devemos exagerar o papel do existencial na História,
embora seja certo que não o possamos ignorar. É necessária uma ascese pessoal, uma
prática da epokhé que permita ao historiador se libertar dos interesses imediatistas (a
conveniência política, por exemplo, ponto tão exagerado pelos historiadores marxistas) e se
lançar livremente na busca da verdade. "Procurarei a ajuda de toda a tradição humanista -frisa Marrou --, da sabedoria clássica e dos seus conselhos acerca dos perigos da paixão,
fonte de cegueira para a razão. Acolher-me-ei à apologia, feita pela tradição clássica, de
virtudes (tão antigas e ao mesmo tempo tão cristãs) como a temperança e a prudência.
Moderação em tudo, justo equilíbrio, arte de preparar uma mistura bem dosada com todos
os elementos necessários".
A verdade na História, no entender de Marrou
O pensador francês destaca, como temos analisado ao longo destas páginas, a
natureza da objetividade da História, proveniente do caráter específico do passado humano,
não traduzível em fórmulas exatas. No entanto, não devemos exagerar essa singularidade,
de forma a estabelecermos uma contraposição irredutível entre a objetividade da História e
a das ciências naturais. Há muitos pontos de contato entre uma e outras. Afinal, são duas
manifestações do mesmo saber humano. Efetivamente, tanto as ciências da natureza quanto
a História não podem chegar ao ideal da objetividade absoluta; em todas elas interfere a
mediação do sujeito. Nelas medeia, como elemento que garante a continuação do saber de
geração em geração, o testemunho humano, com a fé natural que o acompanha. Isso não
impede que permaneça em pé uma diferença fundamental entre uma e outras: enquanto que
as ciências da natureza chegam a se expressar em fórmulas com precisão matemática, o
resultado da pesquisa histórica é comunicado numa linguagem mais próxima da fala
cotidiana, mais maleável, se quisermos, do ângulo da comunicação das vivências e das
realidades humanas.
A solução do problema da verdade histórica deve ser formulada, segundo Marrou, à
luz de todos os elementos analisados nas páginas anteriores: "nem objetivismo puro, nem
subjetivismo radical; a História é ao mesmo tempo apreensão do objeto e aventura
espiritual do sujeito cognoscente". A História é verdadeira na medida em que o historiador
tenha razões válidas para acreditar naquilo que achou nos documentos pesquisados. O caso
da verdade histórica deve ser entendido no contexto da experiência e do conhecimento do
outro. "O encontro do passado -- frisa Marrou -- e o encontro do homem na experiência
vivida, impõem-se a nós com o mesmo valor de algo real".
Qual é a atitude que deve assumir o historiador em face do caráter peculiar da
verdade histórica? O pensador francês considera que é necessária uma dupla atitude: em
primeiro lugar, de honestidade científica para com os seus interlocutores. Em segundo
lugar, de humildade. A primeira atitude pressupõe que o historiador realize o que
poderíamos denominar com Sartre de uma "psicanálise existencial" em relação à sua obra.
Dada a peculiaridade da objetividade histórica, na qual medeiam fundamentalmente a
orientação do pensamento, os postulados e o itinerário interior do autor, é necessário que o
historiador explicite tudo isso ao comunicar os resultados da sua pesquisa. Se a História é
um diálogo interpessoal, essa exigência é evidente. O historiador deve, outrossim, ser
humilde, ou seja, reconhecer a limitação do seu entendimento, que lhe impede conhecer a
totalidade do passado de um ângulo omni-compreensivo (como se contemplasse a História
desde fora), e que lhe exige a utilização de instrumentos lógicos e técnicos, no árduo
trabalho de reconstrução do passado através do testemunho dos documentos.
A utilidade da História, segundo Marrou
O papel que a História deve desempenhar na cultura humana é duplo: de um lado,
fornecer à consciência do homem abundantes materiais que constituem o prolongamento da
sua própria experiência, a fim de que possa nortear de forma adequada a sua ação. Dentre
esses aspectos que a História deve dar ao homem, o mais importante é o relacionado ao
conhecimento do homem mesmo (já vimos como a História é um encontro com o Outro). O
segundo papel que a História deve desempenhar consiste em nos permitir uma tomada de
consciência histórica, que produza no nosso espírito uma catarse do inconsciente
sociológico, semelhante à que no plano psicológico produz a psicanálise. Marrou analisa a
repercussão dessa catarse na consciência do filósofo (afastando-o da vã pretensão de
manipular a história para expor o seu próprio pensamento), bem como na consciência do
teólogo (lhe mostrando o contexto humano em que ocorre a vivência religiosa), do artista
(lhe dando um material de muito valor para sua inspiração, pois de fato são muito
numerosas as obras de arte inspiradas no passado humano) e do esteta (situando-o no
contexto humano em que surgiram as obras artísticas do passado).
Marrou traça, ao longo da sua obra Do conhecimento histórico, uma clara imagem
do historiador no que diz relação às condições epistemológicas do seu trabalho. A resposta
dada pelo autor às questões formuladas no início do seu estudo, baseia-se numa concepção
transcendental da História, seguindo os princípios norteadores de Kant na sua Crítica da
Razão Pura, bem como as idéias de Dilthey, Weber, Sorokin e Raymond Aron, no que
tange à metodologia específica da pesquisa histórica. Marrou consegue, destarte, sintetizar
os princípios fundamentais de uma filosofia crítica da História.
O filósofo da história britânico Michael Oakeshott (1901-1990).
A epistemologia da História das idéias, segundo os culturalistas brasileiros
A problemática da originalidade constitui, hoje, uma das questões fundamentais da
filosofia brasileira, bem como, num contexto mais largo, da meditação filosófica no âmbito
ibero-americano. Representa esta algo de novo no seio da filosofia ocidental? Diante dessa
pergunta, surgem duas respostas radicais: não há qualquer originalidade, ou, ao contrário, é
possível uma originalidade total.
Exemplo da primeira alternativa é a opinião do jusfilósofo brasileiro Clóvis
Bevilacqua, para quem “a especulação filosófica pressupõe uma larga e profunda base de
meditação nos vários domínios do saber humano, aparecendo ela como uma flor misteriosa
(...) dessa vegetação mental, assim como a poesia é a flor da emotividade” [Bevilacqua,
1899: 16]. Ora, frisa Bevilacqua, se bem a poesia floresce no Brasil, em decorrência do fato
de se enraizar no sentimento, não ocorre isso, no entanto, com a filosofia, terreno no qual os
brasileiros limitam-se a copiar o pensamento dos europeus, sem que exista uma escola
própria, ou um conceito original de vulto.
Opinião igualmente radical é sustentada pelo pensador colombiano Fernando
González Ochoa, para quem é impossível falar em filosofia latino-americana, em
decorrência do fato de termos um espírito de colonizados. “Quem é colônia por dentro -escreve González Ochoa [1986: 76] -- concebe a liberdade como câmbio de dono”.
Exemplo da segunda alternativa é a opinião do brasileiro Roberto Gomes, para
quem seria possível a elaboração de um pensamento latino-americano cem por cento
original, surgido da meditação sobre a própria realidade e do esquecimento da filosofia
européia, que virou apenas cultura ornamental na América Latina. A respeito, conclui o
mencionado autor: “do ponto de vista de um pensar brasileiro, Noel Rosa (compositor
popular) tem mais a nos ensinar que o senhor Immanuel Kant, uma vez que a filosofia,
como o samba, não se aprende no colégio” [Gomes, 1980: 107].
Opinião semelhante é sustentada pelo peruano Alberto Palacios quem, na sua
“Mensagem à juventude universitária de Ibero-América”, considera que até agora a cultura
filosófica latino-americana foi caudatária do pensamento europeu. Essa circunstância muda
a partir da Primeira Guerra Mundial, que revelou a decadência da Europa. A América
Latina, no sentir de Palacios, sente-se na iminência de dar à luz uma nova filosofia,
perfeitamente original. Na trilha dessa absoluta novidade, a revista peruana Valoraciones
chegou a propor o seguinte: “Liquidemos contas com os tópicos em uso, expressões
agônicas da alma decrépita da Europa” [apud Mariátegui, J. C., 1986: 62]. O fundamento
ontológico dessa renovação é a raça-síntese que vingou na América Latina. A respeito,
escreve Palacios: “Somos povos nascentes, livres de amarras e atavismos, com imensas
possibilidades e amplos horizontes diante de nós. O cruzamento de raças deu-nos uma alma
nova. No interior das nossas fronteiras acampa a humanidade. Nós e os nossos filhos somos
síntese de raças” [apud Mariátegui, 1986: 64].
O filósofo e historiador britânico Robin George Collingwood (1889-1943).
Superando as posições extremadas que acabam de ser esboçadas, os culturalistas
brasileiros Miguel Reale [1949, 1977] e Antônio Paim [1984, 1986], herdeiros do neokantismo, formularam a metodologia crítica que permite à meditação filosófica lusobrasileira e ibero-americana caracterizar a sua originalidade, sem contudo cair no extremo
de uma originalidade total, desvinculada da tradição filosófica ocidental. Posição
equilibrada semelhante, embora alicerçada em diferentes bases filosóficas, é defendida por
outros pensadores brasileiros e ibero-americanos, como Alcides Bezerra [1936], Luís
Washington Vita [1964, 1969a e 1969b], Augusto Salazar Bondy [1968], Alejandro Korn
[1940], José Vasconcelos [1926, 1986], José Carlos Mariátegui [1978, 1986], Francisco
Romero [1944, 1952, 1986], Ernesto Mayz Vallenilla [1959, 1986], Francisco Miró
Quesada [1974, 1986], Germán Marquínez Argote [1986], Leopoldo Zea [1974, 1976,
1986], etc.
Miguel Reale parte do fato de que a criação filosófica contemporânea ocorre
preferencialmente sob a forma de meditação sobre problemas e não como formulação das
grandes perspectivas transcendente e transcendental (que já foram fixadas por Platão e por
Kant, respectivamente), ou como construção de sistemas (modalidade adotada pela
meditação filosófica ocidental até o final do século passado). A partir daí, este autor
formula um método que permite a análise da meditação filosófica brasileira e latinoamericana como discussão de problemas, superando o vício do engajamento apologético,
que condena ou hiper-valoriza autores, de acordo com as preferências axiológicas do
estudioso e vencendo, de outro lado, a atitude puramente analítica, que reduz a filosofia ao
estudo dos clássicos, sem contudo reconhecer aos pensadores brasileiros e latinoamericanos a capacidade de meditar sobre a própria realidade.
O filósofo e jurista brasileiro Miguel Reale (1910-2006).
No seu ensaio intitulado “A doutrina de Kant no Brasil” [1949] o filósofo brasileiro
já tinha destacado o fato de o pensamento kantiano ter tido no Brasil um desenvolvimento
criativo, em estreita relação com a reflexão dos nossos pensadores sobre as circunstâncias
particulares da história brasileira. O criticismo kantiano, observa Reale no mencionado
ensaio, não entrou no Brasil simplesmente como cópia das idéias do filósofo de Königsberg
(hipótese que Clóvis Bevilacqua [1929: 5-14] tentou provar no seu trabalho dedicado à saga
da doutrina kantiana em terras brasileiras), mas penetrou de forma viva e criativa. A
respeito, escreve Miguel Reale [1949: 55]: “A doutrina de Kant, no que ela possui de
perenemente vital, não se presta a essas recepções fáceis nem pode ser convertida em um
conjunto cerrado de princípios. O criticismo é antes um método, uma atitude ou posição
espiritual. É um ponto de partida para a pesquisa criadora; mais uma forma de inquietação e
de crise estimativa do que de plenitude e suficiência. Daí poder-se dizer que a presença de
Kant, ao menos como motivo de filosofar, constitui um sinal de densidade cultural, como
certas roupagens vegetais assinalam as terras ricas de húmus. A compreensão de Kant não
permite, em verdade, uma atitude ou forma cômoda de filosofar sem excessiva filosofia,
sem serem empenhadas a fundo as nossas mais subtis capacidades de inteligência em um
trabalho perseverante e metódico”.
A filosofia clássica é portanto, para o pensador brasileiro, não uma muralha que
impede o vôo do espírito, mas antes uma trilha aberta, que nos convida a caminhar por ela,
iluminando a problemática que vivemos com os seus ensinamentos. Em relação a esse
posicionamento, Antônio Paim assume posição semelhante à de Reale. Se referindo à
questão da filosofia como problema, Paim [1981: 92] escreveu: “A filosofia é certamente
um saber especulativo, que se volta para uma problemática que, embora renovada através
do tempo, se tem revelado perene em contraposição à alternância dos sistemas. Esses
problemas, contudo, têm sempre a ver com a circunstância cultural. De sorte que o caráter
especulativo da filosofia não pode ser arrolado como simples diletantismo, como se a
filosofia não tivesse nenhum compromisso com a temporalidade e as angústias de
determinado momento da cultura de um povo”.
Em relação à metodologia formulada por Miguel Reale para possibilitar a pesquisa
da História das idéias filosóficas, Antônio Paim [1981: 92] escreveu: “O método sugerido
por Miguel Reale para a investigação da filosofia brasileira compõe-se dos seguintes
elementos: 1) identificar o problema (ou os problemas) que tinha pela frente o pensador,
prescindindo da busca de filiações a correntes que lhes são contemporâneas no exterior; 2)
abandonar o empenho de averiguar se o pensador brasileiro interpretou adequadamente as
idéias de determinado autor estrangeiro, mais expressamente, renunciar ao confronto de
interpretações e, portanto, ao cotejo da interpretação do pensador brasileiro estudado com
outras interpretações possíveis, para eleger entre uma ou outra; e 3) ocupar-se
preferentemente da identificação de elos e derivações que permitem apreender as linhas de
continuidade real de nossa meditação”.
Convém indagar, a esta altura, como fundamenta Reale a metodologia apontada. Ao
meu entender, o autor concebe a história das idéias como um desdobramento da “reflexão
crítico-histórica” por ele analisada em Experiência e Cultura [Reale, 1977: 126 seg.].
No contexto da original interpretação que o pensador paulista realiza da
fenomenologia husserliana, à luz da herança transcendental kantiano-hegeliana, ele destaca
a correlação in fieri do subjetivo e do objetivo na subjetividade concreta. “Em verdade -frisa a respeito Miguel Reale [1977: 27] -- se a consciência intencional se dirige sempre
para algo, visando à conversão de algo em objeto, e se este, enquanto objeto, não se
distingue daquilo que se oferece à consciência, não se pode considerar ‘puramente
subjetivo’ o momento culminante do processo eidético. Parece-me, ao contrário, que a
‘reflexão fenomenológica’ é necessária e intrinsecamente subjetivo-objetiva, isto é,
ontognoseológica, consoante terminologia que julgo mais adequada para indicar o âmbito
em que se dão todos os atos cognoscitivos e as volições do homem em sua perene e
dinâmica relação com a natureza, assim como na trama de seus próprios conhecimentos e
volições e do percebido e querido por ‘um eu’ e ‘outro eu’ .Na subjetividade transcendental
já está, por assim dizer, in nuce, a experiência ontognoseológica, o processo de
significações ou ‘intencionalidades objetivadas’ que são a realidade da ‘cultura’.
Consciência intencional ou temporalidade ou historicidade, longe de serem antitéticas, são,
pois, expressões que se exigem e se complementam (...)”.
Ora, se consciência intencional e historicidade são expressões dialéticas e
complementares, a “reflexão crítico-histórica” é, para Miguel Reale, o momento culminante
do processo ontognoseológico, que é, essencialmente, “reflexão ambivalente”, no seio da
qual “quanto mais se desvelam as fontes da subjetividade mais se capta o sentido da
objetividade” [Reale, 1977: 129]. Somente assim, considera o nosso autor, é possível
salvaguardar os dois aspectos básicos destacados pela fenomenologia na dinâmica do
conhecimento: o da subjetividade e o da objetividade (ou “mundo do viver comum”, ou
“mundo da originariedade natural”).
É conhecida a forma clara e contundente com que o pensador brasileiro aplica o
conceito de “reflexão crítico-histórica” ao filosofar, quando reflete sobre a doutrina da
Lebenswelt husserliana. Para Miguel Reale é claro que “nenhum conhecimento ou nenhuma
Filosofia tem sentido fora do diálogo da história, ou sem consciência da historicidade do
homem e de suas idéias, de sorte que o desconhecimento do valor da História equivale a
abdicar da Filosofia, da cultura e do sentido da própria vida” [Reale, 1977: 130-131]. Esta
concepção insurge-se contra a denominada por Husserl “Filosofia da decadência”
(Verfallphilosophie), que pratica a “retirada do mundo” e que “espelha um fenômeno de
massa” ao olvidar o “espírito de responsabilidade pessoal e radical inerente ao ethos da
autêntica Filosofia” [Reale, 1977: 131]. O pensador já pressentia, sem dúvida, há vinte anos
atrás, quando escrevia estas palavras em Experiência e Cultura, o fenômeno de alienação
protagonizado hodiernamente pela moda analítica que se pratica nas corporações autistas e
pseudo filosofantes, em que infelizmente se converteram não poucos departamentos de
filosofia das Universidades brasileiras.
À luz da “reflexão crítico-histórica” proposta por Miguel Reale, o filosofar
brasileiro teria, basicamente, duas tarefas: identificar os temas-chave da filosofia ocidental
e, em segundo lugar, refletir, à luz desse legado, sobre a própria problemática histórica.
Valeria aqui lembrar rapidamente a forma em que Hegel [1981: 41 seg.] entendia o estudo
da filosofia, pois o autor brasileiro aproxima-se neste ponto do filósofo alemão. Se, por um
lado, a análise das filosofias nacionais e dos sistemas deve ser objeto de estudo da história
da filosofia, no sentir de Hegel, a inquirição contudo não pára aí. Momento fundamental da
dialética da razão é constituído, também, pela busca da identidade dela consigo mesma, ao
que só se pode chegar mediante a integração das várias filosofias nacionais e dos sistemas
numa visão de conjunto que, revelando as diferenças históricas, explicite também, o fundo
comum que as une, a força e a lógica do espírito humano na busca da sua identidade. Para
utilizar o belo símil colocado pelo ilustre pensador português Antônio Braz Teixeira, o fato
de ter pernas que repousam sobre a terra, não tira à ave a capacidade de voar até os céus.
Ora, Reale tem realizado ambas as tarefas com indiscutível originalidade. Como
lembra com propriedade Roque Spencer Maciel de Barros [1994], “Miguel Reale
desempenhou e desempenha entre nós, e creio que também hoje, em Portugal, um papel
semelhante ao que Ortega y Gasset desempenhou em Espanha e no mundo ibérico em
geral. Diríamos que Reale se põe diante de cada autor estudado compreendendo que cada
um há de ser examinado não segundo padrões abstratos, mas com as ‘suas circunstâncias’.
‘Tu es tu e a tua circunstância’, parece dizer a cada um o filósofo brasileiro, disposto a
situar-se diante dos problemas que o autor em exame enfrentou, com as ferramentas de que
dispunha e, se critica as suas obras, fá-lo ‘de dentro’, da perspectiva do pensador estudado,
com generosa serenidade e simpatia, que combina com o rigor crítico”.
No seu trabalho de diálogo filosófico com os autores, Reale faz da tolerância e do
pluralismo o clima de trabalho, que soube comunicar ao Instituto Brasileiro de Filosofia
criado por ele em 1949 e ao seu órgão, a Revista Brasileira de Filosofia. Os que “amam a
verdade alimentada pelo livre sopro das idéias, -- frisa Reale [1994: 23] numa das suas
últimas obras -- mister é que fortaleçam a sua posição pela seriedade das pesquisas, pela
meditação serena que é o âmago, a ‘intimidade’ da filosofia (...). É claro que do diálogo
filosófico não se exclui a veemência, nem a paixão pela verdade, mas os caminhos da
filosofia são os das convicções livremente elaboradas e transmitidas, não se justificando a
polêmica convertida em razão do filosofar.”
Ao enxergar a magna obra de Miguel Reale e Antônio Paim no terreno da História
das idéias, à luz da qual se formaram as duas gerações que, nos últimos cinqüenta anos têm
desenvolvido de forma sistemática o estudo do pensamento filosófico brasileiro, bem como
o diálogo deste com o pensamento português, podemos concluir que a corrente culturalista
é a que mais influência tem tido, no Brasil particularmente e em Ibero-América, de modo
geral, no que tange à tarefa de fundamentar filosoficamente a pesquisa no terreno da
História das idéias. Paim e Reale desempenham, nesse terreno, em Ibero-américa, papel
semelhante ao que desempenharam Marrou e Aron na França, no ambiente mais largo da
fundamentação crítica do método de pesquisa em História.
BIBLIOGRAFIA
BARROS, R. S. Maciel de. [1994]. “Lições sobre o diálogo filosófico”, in: Jornal da Tarde, São
Paulo, 25/06/94, Caderno Livros.
BEVILACQUA, C [1899]. Esboços e fragmentos. Rio de Janeiro: Laemmert.
BEVILACQUA, C. [1929]. “A doutrina de Kant no Brasil”, in: Revista da Academia Brasileira de
Letras, no. 93, pgs. 5-14.
BEZERRA, A [1936]. Achegas à história da filosofia. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional.
GOMES, R. [1980]. Crítica da razão tupiniquim. 4a. edição, São Paulo: Cortez.
GONZÁLEZ Ochoa, F. [1986]. “Filosofía colombiana?” In: G. Marquínez Argote (org.), Qué es eso
de filosofía latinoamericana? Bogotá: El Buho, pgs. 75-76.
HEGEL, W. F. [1981]. Textos escolhidos. (Seleção e organização de R. Corbusier). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira.
KORN, A [1940]. Obras. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
MARIÁTEGUI, J. C. [1978].Obras completas. 5a. edição. Lima: Amauta, vol. 12.
MARIÁTEGUI, J. C. [1986]. “Existe un pensamiento hispanoamericano?” In: G. Marquínez Argote
(org.). Qué es eso de filosofía latinoamericana? Bogotá: El Buho, pgs. 60-65.
MARQUÍNEZ Argote, G. [1986]. (org.). Qué es eso de filosofía latinoamericana? Bogotá: El Buho.
MARROU, H. I. [sem data]. Do conhecimento histórico. (Tradução de Ruy Belo). Lisboa: Aster.
MAYZ Vallenilla, E. [1959]. El problema de América. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
MAYZ Vallenilla, E. [1986]. “Programa de una filosofía original”. In: G. Marquínez Argote
(org.).Qué es eso de filosofía latinoamericana? Bogotá: El Buho, pgs. 77-83.
MIRÓ Quesada, F. [1974]. Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano. México: Fondo de
Cultura Económica.
MIRÓ Quesada, F. [1986]. “El proyecto latinoamericano de filosofar como decisión de hacer
filosofía auténtica”, in: G. Marquínez Argote (org.), Qué es eso de filosofía latinoamericana? Bogotá: El
Buho, pgs. 95-115.
PAIM, A [1981]. “Miguel Reale e a filosofia brasileira”, in: J. C. Azevedo (org.), Miguel Reale na
Universidade de Brasília. Brasília: Universidade de Brasília, pgs. 91-100.
PAIM, A [1984]. História das idéias filosóficas no Brasil. 3a. Edição. São Paulo: Convivio;
Brasília: INL/Fundação Pró-Memória.
PAIM, A [1986].O estudo do pensamento filosófico brasileiro. 2a. edição. São Paulo: Convivio.
REALE, M. [1949]. “A doutrina de Kant no Brasil (notas à margem de um estudo de Clóvis
Bevilacqua)”., in: Revista dos Tribunais, São Paulo, pgs. 51-96.
REALE, M. [1977]. Experiência e cultura: para a fundação de uma teoria geral da experiência.
São Paulo: Grijalbo/Edusp.
REALE, M. [1989]. Introdução à filosofia. 2a. edição, São Paulo: Saraiva.
REALE, M. [1994]. Estudos de filosofia brasileira. Lisboa: Instituto de Filosofia Luso-Brasileira.
(Coleção Razão Atlântica).
ROMERO, F. [1944]. Filosofía de la persona y otros ensayos de filosofía. Buenos Aires: Losada.
ROMERO, F. [1952]. Sobre la filosofía en América. Buenos Aires: Raigal.
ROMERO, F. [1986]. “Sobre la filosofía en Iberoamérica”, in: G. Marquínez Argote (org.), Qué es
eso de filosofía latinoamericana? Buenos Aires: El Buho, pgs. 66-74.
SALAZAR Bondy, A [1968]. Existe una filosofía de nuestra América? México: Siglo XXI.
TOCQUEVILLE, A. de [1977]. A Democracia na América. (Tradução, introdução e notas de Neil
Ribeiro da Silva). 2a. edição. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp.
VASCONCELOS, J. [1926]. Indología: una interpretación de la cultura iberoamericana.
Barcelona: Ariel
VASCONCELOS, J. [1986]. “El pensamiento iberoamericano”. In: G. Marquínez Argote (org). Qué
es eso de filosofía latinoamericana? Bogotá: El Buho, pgs. 49-59.
VITA, L. W. [1964]. Escorço da filosofia no Brasil. Coimbra: Atlântida.
VITA, L. W. [1969a]. A filosofia contemporânea em São Paulo. São Paulo: Instituto Brasileiro de
Filosofia/Grijalbo.
VITA, L. W. [1969b]. Panorama da filosofia no brasil. Porto Alegre: Globo.
ZEA, L. [1974]. La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. 2a. edição. México: Siglo
XXI.
ZEA, L. [1976]. El pensamiento latinoamericano. Barcelona: Ariel.
ZEA, L. [1986]. “La historia de la filosofía latinoamericana”, in: G. Marquínez Argote (org.). Qué es
eso de filosofía latinoamericana? Bogotá: El Buho, pgs. 116-128.
_______________________________________________